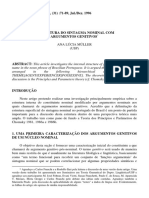Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Religiao Sob o PV Filosofico PDF
Religiao Sob o PV Filosofico PDF
Enviado por
Acassio LucasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Religiao Sob o PV Filosofico PDF
Religiao Sob o PV Filosofico PDF
Enviado por
Acassio LucasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A RELIGIO SOB O PONTO DE VISTA FILOSFICO
FRANCISCO VIEIRA JORDO
A Religio , enquanto forma de comportamento cujas regras se afastam
das que regulam a vida diria, assenta numa dicotomia introduzida no
mundo das referncias humanas, que se traduz num duplo nvel de
realidade - o sagrado e o profano . Diferentemente de qualquer outro gnero
da actividade humana , a Religio tem a sua gnese na convico de que
existe uma realidade ( poder ou mistrio ) que est acima da realidade do
nosso contacto dirio, com a qual o homem pretende comunicar e da qual
deseja participar 1
O primeiro problema que se coloca perante o fenmeno religioso,
o de saber se se trata de algo adventcio , isto , surgido na Histria ou
na vida dum indivduo por razes estranhas ao mesmo fenmeno enquanto
tal, ou se se trata de um fenmeno autnomo e inerente ao facto de ser
homem.
Os que defendem a origem adventcia e a dependncia externa do
fenmeno religioso consideram - no como algo que pode ser objecto de
estudo em paridade com qualquer outro fenmeno e sujeito s mesmas
leis de qualquer outro gnero de actividade humana. De entre estes
defensores da religio como uma actividade ocasional e na dependncia
de circunstncias de vria ordem, destacam-se os que vem a sua origem
na influncia da sociedade , os que a ligam necessidade de contornar as
foras indomveis da natureza e os que a fazem depender do dinamismo
incontrolvel do psiquismo humano.
O primeiro teorizador da origem social da religio foi Emile
Durkheim. Para este autor, "a sociedade contm todos os ingredientes para
fazer despertar nos seus membros o sentido do divino". A sociedade
um "grande pai", que impe a sua vontade a todos os "filhos" e tudo
1 J.Martn Velasco, "Fenomenologia de Ia Religin", in J.Gmez Caffarena e J.Martn
Velasco, Filosofia de la Religin, Rev. de Occidente, Madrid, 1973, I Parte, ps.73-124.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 4 - vol . 2 (1993 ) pp. 295-311
296 Francisco V. Jordo
dirige para manter a sua autoridade sobre a vontade dos indivduos. Com
base na predisposio para a obedincia, assim gerada entre os seus
membros, a sociedade tudo faz para canalizar este estado de esprito em
proveito da sua estabilidade. Os homens, porm, uma vez impregnados
pela sensao dum poder que os transcende e do qual no conseguem
libertar-se, facilmente se convencem da existncia dum ser soberano a
quem todos devem obedecer. A sensao dum tal poder, embora gerada
pela sociedade, no surge aos indivduos como tendo uma tal origem.
Razo pela qual eles se dedicam a venerar ou prestar culto a Deus. Daqui
o aparecimento da Religio 2.
O primeiro teorizador da origem naturalista e inslita da religio foi
Epicuro. Para este autor, o facto de o homem no conhecer devidamente
a natureza nem conseguir controlar um grande nmero de fenmenos
naturais, leva-o a acreditar na existncia de seres que tudo sabem e tudo
podem fazer em seu prprio proveito. Dominados por esta convico, os
homens procuram fazer tudo o que lhes parece ser agradvel aos senhores
da natureza, para conseguirem alcanar os seus favores e a sua proteco
contra a adversidade dos elementos naturais. Na sua essncia, a religio
ser, para todos os epicuristas, apenas uma "arte de captar os favores dos
deuses e a sua proteco contra todo o gnero de perigos com que se
sentem ameaados" 3.
Existe ainda um segundo grupo de naturalistas, que consideram a
Religio como um sucedneo natural da magia. Quando os homens sabem
que a natureza est submetida a leis que possvel desvendar, procuram
descobri-las para alcanarem o domnio da mesma natureza: a atitude
cientfica; quando supem que a natureza est penetrada por foras
ocultas, usam os mais disparatados artifcios, com o objectivo de as captar
e colocar a seu favor: a atitude mgica. A religio j no pura magia,
pois no considera os poderes ocultos na natureza como prprios dela mas
como dependentes de um ou vrios seres superiores e no procura captar
as suas foras ocultas de forma catica mas por meio de prticas reguladas
e tidas como ditadas pelos poderes superiores. Contudo, ainda no uma
cincia, pois no pro cura o domnio da natureza atravs do conhecimento
das suas leis, mas pela invocao dum poder que actua no seu interior,
embora esteja totalmente acima dela. O principal representante desta
posio G.Frazer 4.
2 Emile Durkheim, Les formes lmentaires de Ia vie religieuse, Paris, F.Alcan, 1912.
3 Epicurus, Sententiae Selectae 10-13; Hermann
Usener, Epicurea, Fragmenta 219,
221, 227.
4 J.G.Frazer, The Golden Bough, Londres, 1890. Trad. cast. La rama dorada,
Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1969.
pp. 295-311 Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol. 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 297
O primeiro teorizador da origem psicolgica da religio foi Sigmund
Freud. Para este autor, a religio nasce do facto de o homem no
conseguir dominar a imensa complexidade de foras contrastantes que
actuam dentro de si mesmo e naturalmente levado a convencer-se da
existncia de um ser todo poderoso, cujo poder se faz sentir dentro de si
mesmo, para que se coloque em tudo na sua dependncia. Desconhecedor
dos mecanismos que actuam no seu inconsciente e, ora acorrentado a
foras invencveis ora possuido por ideais inacessveis, que de forma
nenhuma consegue descobrir como obra sua, o homem imagina que tem
de existir um ser que tudo governa e que exige inteira obedincia.
O fenmeno religioso ser, para os psicologistas, o avolumar duma iluso,
em que considerado fora e acima de tudo, o que no passa de simples
produto das foras incontroladas do inconsciente humano 5.
Para todos estes autores, o fenmeno religioso tema sua gnese em
algo que pode ser perfeitamente identificado ao nvel da realidade natu-
ral e, tal como esta, pode ser estudado cientificamente nas suas causas,
atravs das suas manifestaes. A religio , portanto, apenas um produto
cultural, cuja origem no tempo e respectiva evoluo podero ser estabe-
becidas pelo estudo histrico, a sua caracterizao pode ser feita pela
Sociologia e a penetrao no seu mago, pela Psicologia. Daqui a impor-
tncia que hoje assumem entre os estudiosos, a Histria das Religies, a
Sociologia e a Psicologia da Religio. Estes estudos, porm, tm encon-
trado srias dificuldades na determinao da origem histrica e no gnero
de evoluo, se progressiva se regressiva, do fenmeno religioso. Por isso,
mais do que a sua origem ou evoluo, as cincias da religio voltaram-
se para a descoberta do tipo de exigncias especificamente humanas que
determinam o fenmeno religioso e encaminham-se para a concluso de
que tal fenmeno tende a desaparecer em proveito de outras formas de
actividade mais adequadas para conseguir os, mesmos objectivos.
Outros pensadores, porm, consideram a Religio como um fenmeno
humano, que no redutvel a qualquer outro, mas goza de autonomia
prpria e inerente ao facto de ser homem. O problema que naturalmente
surge, no contexto desta concepo, o de saber se se trata dum fen-
meno, cuja ori gem e dimenso simplesmente humana, ou se a sua
origem sobre-humana e o seu campo se estende para alm do domnio
da actividade vulgar do ser humano.
Como defensores da Religio como uma reflexo natural e espontneo
da natureza humana, sem em nada a transcender, esto Feuerbach e
Nietzsche.
5 Hans Zirker, "La religin deducida dei despliegue de unas necessidades psquicas,
Sigmund Freud (1856-1939)", in Crtica de la Religin, Herder, 1985, ps. 169-205.
Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol. 2 (1993) pp. 295-311
298 Francisco V. Jordo
Segundo Feuerbach, a religio no mais do que uma manifestao
do homem enquanto tal, cuja dimenso e poder ultrapassam em muito as
dimenses concretas e capacidades prprias de cada indivduo em par-
ticular. Cada ser humano sente em si mesmo um poder e uma fora de
expanso para l de todos os limites a que ele normalmente se v
confinado na sua existncia e, no sabendo que se trata duma mani-
festao do poder ilimitado da natureza humana de que ele participa, julga
que deve existir um ser diferente dele, com um poder infinito, e dedi-
ca-se a prestar-lhe culto como se de um outro completamente diferente
se tratasse. Porque ignora o que a essncia humana, os seus atributos e
capacidades, toma as manifestaes da sua ilimitada potncia como sinais
da existncia de um Deus, distante e cioso dos seus direitosprojecta-se
para fora de si e aliena-se, isto , imagina como prprio de outro o que
ele essencialmente 6.
Segundo Nietzsche, a religio uma expresso natural e intrnseca
ao homem, reflexo dum "poder de ser", que o habita e ultrapassa tudo
quanto na sua existncia, pelas prticas habituais, posto em aco.
A religio situa-se ao nvel duma experincia do incomensurvel, que
penetra o mais profundo do ser humano. A "experincia do divino" no
mais do que uma expresso gerada na "alegria criadora" que inunda o
interior do homem, um "sentimento de excesso de poder" que nele tende
a concretizar-se. A religio, pura e genuna, no mais do que "uma
forma espontnea de gratido" pela grandeza do que ser homem, que
ultrapassa em muito os estreitos limites a que cada homem em particu-
lar v reduzida a sua normal existncia. E uma forma de gratido pelo
que o homem em si mesmo e por todos os mltiplos e contrastantes
aspectos da realidade que o envolve. Quando pronuncia o nome de Deus,
o homem no faz mais do que dar o seu sim sem reservas vida e tecer
um hino ao que ela tem de amigvel e cruel, de maravilhoso e terrvel,
de criador e destrutivo 7.
Para Nietzsche, o significado objectivo da palavra Deus no mais
do que o poder sem limites, que trespassa o homem, o signo por exce-
lncia da "vontade de poder" a que urge dar voz e satisfao. Para
Feuerbach, a palavra Deus corresponde "essncia humana nas suas
6 L.Feuerbach, Das Wesen des Christentums, W.Bolin -Fr.Jodl, Stuttgart, 1960 (2).
Trad, cast. La essencia del cristianismo, Int. de Marcel Xhauflaire, Sgueme, 1975.
H.Zirker, "La reduccin de lo divino a predicados humanos, Ludwig Feuerbach (1804-
-1972)" , in o.c., pp. 78-107.
7 F.Guibal, "Un divin pluriel? Monothesme et polithesme chez Nietzsche", in
J.L.Vieillard Baron e Francis Kaplan, Introduction a Ia Philosophie de Ia Religion, Les
d. du Cerf, 1989, ps.217-238.
pp. 295-311 Revista Filosfica de Coimbra - n. 4 - vol. 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 299
inumerveis e indelimitveis potencialidades". Por isso, estes dois pensa-
dores defendem que, quando o homem pratica a religio convencido de
que cumpre o dever de adorao a um ser soberano, totalmente distinto
e acima dele, para obter o favor da sua proteco, o fenmeno religioso
pertence ao domnio da pura iluso. Mas se pronuncia o nome de Deus
e o venera como expresso dum sim sem reservas vida, vontade, ao
amor, emoo, espontaneidade dos seus sentimentos, segundo Nie-
tzsche, ou como expresso da essncia humana como matriz do desejo
de superao de cada homem para o homem em plenitude, segundo
Feuerbach, a religio pode tornar-se num campo de luz, numa aurora dos
novos tempos e na forja do "homem novo".
Este foi o grito que, no sculo passado, comeou a ecoar nos mais
variados domnios da actividade humana e que, na primeira metade deste
sculo, acabou por revigorar e orientar o movimento de secularizao,
iniciado h quatro sculos por activistas dispersos, mas que agora tomou
foros de soberania no campo da cultura.
Entretanto, algo de novo se passou que fez abalar os alicerces da
elevao do homem ao lugar de Deus. Os estruturalistas franceses, sobre-
tudo os de conotao psicanalista, vieram dizer que a viso empolgante
do humanismo no passava de um sonho como compensao para a triste
realidade da fraqueza, pequenez, insegurana e misria do homem, sim-
ples coisa arrastada num turbilho de foras, contra as quais se sentia
completamente impotente. J no somente Deus, enquanto ser soberano
e transcendente, era fruto duma iluso. O prprio homem, tal como era
concebido no seio do movimento humanista, no passava duma inveno
sem consistncia e, por isso, sem qualquer poder para interferir com xito
no rumo dos acontecimentos ou para resistir ao sem nmero de ameaas
com que se via rodeado. Para os estruturalistas, o homem exaltado pelos
humanistas no passava, tal como o Deus da Religio, de um fantasma,
que tanto podia revestir a forma dum consolador como a de um aterro-
rizador, gerado nas guas turvas e revoltas do psiquismo humano e
erguido para alimentar a ingenuidade dos crentes. O Deus da Religio e
o "homem novo" sem qualquer freio na sua "vontade de poder" ou nas
suas incomensurveis potencialidades no eram mais do que "a imagem
fantasmagrica do pai dominador" ou duma "sociedade me de quem tudo
se espera", um mito esconjurador da "pesada carga das normas morais
que a tradio tem colocado aos ombros dos indivduos" e de velhos tabs
ou barreiras interiores inviolveis por qualquer vontade humana S.
S F.Dosse, Histoire du Structuralisme, I. Le champ du signe, 1945-1966, Paris, d.la
Dcouverte , 1991, ps . 121-153.
Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol. 2 (1993) pp. 295-311
300 Francisco V. Jordo
Apesar disso , no se advogava a eliminao pura e simples da
Religio. Ela podia servir ainda como lenitivo para os amargos da vida,
junto dos que no tinham capacidade para melhor compreenso . Os seus
contedos imaginrios poderiam ajudar a preencher o vazio criado pela
falta de tudo aquilo que permite ao homem uma vida mais tranquila.
Trata - se duma etapa , em que a Religio considerada como coisa ultra-
passada , mas que , enquanto no chega um salvavidas para os nufragos
do mar da existncia , ela pode servir de bia ou de jangada capaz de
manter a esperana de chegar a um porto seguro . No entanto, devem
procurar - se outros meios para ir em socorro dos que lutam contra a tem-
pestade: grupos recreativos, associaes culturais e artsticas , movimentos
ecolgicos , formas de contra - poder ou organizaes polticas podem ir
preparando o advento de um Estado que proteja os indivduos e lhe acres.
cente a fora e a coragem de que precisam para suportar a sua real
condio.
Estamos no fim duma longa caminhada , cuja ponta final vem colocar,
de novo, em relevo a organizao social.
De facto, o fenmeno religioso no se apresenta normalmente como
algo pertencente apenas ao mundo estreito da intimidade humana, mas
assume sempre um modo de expresso externa em obedincia a leis de
carcter social e com implicaes na sociedade . O que importa saber
se tal caracterstica se deve sua estrutura interna e a uma dinmica
prpria , ou se, pura e simplesmente , como qualquer facto cultural, a
Religio indissocivel da sociedade, no sentido de estar totalmente
dependente dela e de ser simplesmente uma forma de nela intervir.
Para uma parte dos socilogos , a Religio no mais do que a expres-
so espontnea da vivncia social dum povo, antes da tirania da ordem
jurdica criada pelos guardies da autoridade social e do complexo de nor-
mas que a normal estratificao social e as relaes profissionais exigem.
J Giordano Bruno e Maquiavel defendiam que a Religio em si
mesma representa a forma espontnea de vida em sociedade por parte do
povo simples e consitui a mais ldima expresso do seu desejo de justia,
do seu amor liberdade e da sua adeso espontnea aos bons cos-
tumes 9.
Maquiavel dos primeiros autores a introduzir a distino entre
Religio e igrejas. O fenmeno religioso , de facto, eminentemente
social , no sentido de expresso espontnea da sociabilidade humana. Mas
a sua organizao em instituio externa, ou igreja, j sofre do artifcio
9 G. Bruno, Lo spaccio della bestia trionfante , Milo, Marzorati , 1971. N.
Maquiavel,
" Discorsi sopra Ia prima deca de Tito Lvio", in Tutti le Opere, Florena, Sansoni, 1970.
pp. 295 - 311 Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol . 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 301
humano com o objectivo de promover o domnio dos que nesta assumem
lugares de poder ou como forma de fortalecer a autoridade dos que
exercem o poder na sociedade.
Com o objectivo de entravar este desiderato dos senhores do poder,
vai j para quatro sculos que se gerou um movimento no sentido de
separar totalmento o religioso do social , arvorando a sociedade civil em
nica forma de expresso da dinmica social da existncia humana com
base na vontade das maiorias e relegando o religioso para o domnio
exclusivo das convices interiores e da vida particular dos cidados.
Com as suas primeiras manifestaes em sectores dissidentes no interior
do movimento da reforma protestante no sculo dezasseis , este processo
de secularizao foi largamente teorizado , no sculo dezanove, pelos
filsofos positivistas e atingiu a sua mxima expresso com os defensores
das sociedades colectivistas e ateias.
Na primeira metade deste sculo, no prprio campo da manifestao
religiosa e especulao teolgica, gerou - se um movimento de secula-
rizao, que mais tarde se manifestou como teologia da libertao, que
consistia , no em limitar a actividade religiosa ao domnio do puramente
individual , mas em orientar a vivncia religiosa no sentido de a traduzir
em aces de interveno social em favor dos que nela apenas sofriam
as consequncias do autoritarismo e da ambio dos que detinham a
fortuna e o poder 10.
Socilogos, filsofos positivistas e telogos da libertao tm de
comum a convico de que o fenmeno religioso, mesmo quando mani-
festativo espontneo de sociabilidade , no portador , em si mesmo, duma
dinmica que exija a sua traduo em instituio externa , isto , a sua
estrutura interior no de molde a exigir um suporte externo de natureza
social ou uma igreja. Por isso , esvaziadas da sua funo social em favor
da instituio poltica, reduzido o campo da sua actuao externa e per-
dido o sentido da sua existncia como organizaes paralelas ao Estado,
as igrejas tendem a perder o sentido de instituio social autnoma e
mesmo a desaparecer.
Para poder tomar qualquer posio frente a este modo de ver o
fenmeno religioso , importa consider-lo nas suas manisfestaes
histricas mais recuadas de que temos dados.
As mais remotas manifestaes da religiosidade humana remontam ao
quarto milnio antes de Cristo e vm- nos da Mesopotmia 11. Os pri-
10 Thomas Altizer e William Hamilton , Radical Theology and The Death of God, The
Bobbs-Merrill Company, New York - Kansas City, 1966.
11 J. Bottero, "Un polithesme systematique : Ia Mesopotamie ancienne ", in J.L.
Vieillard Baron e Francis Kaplan, o .c., pp.167-186.
Revista Filosfica de Coimbra - n. 4 - vol . 2 (1993 ) pp. 295-311
302 Francisco V. Jordo
meiros indcios do fenmeno religioso apontam para uma concepo do
transcendente, ou do sagrado, como um mundo habitado por uma comu-
nidade de seres superiores, organizados na dependncia uns dos outros e
sob o poder de um, colocado acima de todos os restantes. Esta concepo
tinha a sua expresso externa nos aglomerados populacionais, cuja orga-
nizao procurava corresponder ao modo de organizao que concebiam
como vigente no mundo dos seres superiores. Cada aglomerado popula-
cional adoptava como smbolo o Deus que presidia aos deuses da sua
prpria concepo do mundo e do sagrado, que variava de um aglomerado
para outro, e o chefe mximo em cada grupo humano era sempre consi-
derado como expresso visvel e detentor, entre os homens, do poder que
o deus principal detinha entre os outros deuses protectores da sua
comunidade.
A necessidade de congregar um vasto conjunto de aglomerados
populacionais mais prximos para conseguir realizar empreendimentos de
interesse comum, como a construo de diques e canais de irrigao,
levou uma grande parte dos povos que habitavam a Mesopotmia a
congregarem- se sob a autoridade do chefe que se havia imposto sobre
os restantes grupos. o incio da formao dos Estados, cujo smbolo
passar a ser o deus principal da concepo do sagrado vigente na cidade
dominadora, representado pelo chefe desta. detentor de um poder acima
do de todos os restantes chefes.
Mais difcil do que conseguir subalternizar os chefes das vrias
cidades ao chefe da cidade principal, era geralmente a subalternizao dos
deuses principais das vrias cidades ao deus da que detinha o comando.
Foi por isso que, j nos finais do terceiro milnio e incios do segundo,
quando j o Estado como aglomerado de povos e de regies sob um poder
central era uma realidade, aparece uma concepo do mundo trans-
cendente em que se procura determinar o lugar e a funo de cada deus
principal das concepes prprias de cada povo, e estabelecer a respectiva
hierarquia de competncias e de funes entre eles. Porm, nunca foi
aceite o princpio da dependncia de todos os Deuses principais dos vrios
povos em relao ao Deus principal do povo ou cidade que detinha o
domnio sobre os outros. O mundo dos deuses, tal como era concebido
por cada aglomerado populacional, continuava a ser o nico modelo da
sua prpria organizao, e o Deus principal da sua comunidade de deuses,
era ainda o seu nico smbolo, mesmo quando impedidos de ter um chefe
terreno que exercesse o poder em nome do seu Deus.
Para contornar esta dificuldade, surge, ao longo do segundo milnio,
uma concepo do mundo transcendente de pendor muito mais terico e
especulativo que qualquer das anteriores. Era o incio da Teologia.
O mundo dos seres sobrenaturais deixou de ser colocado na dependncia
pp. 295-311 Revista Filo.rj'tca de Coimbra - n. 4 - vol . 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 303
de um deus em paridade com qualquer dos deuses principais das vrias
cidades, mas na dependncia duma comunidade divina, concebida como
nica fonte de ser no mundo dos deuses. No topo da divindade estava,
portanto, no "um s", mas uma Trade, formada de Pensamento, de
Vontade e de Aco. Neste contexto, o deus da cidade dominadora perdeu
o seu privilgio de senhor de todos os deuses e passou a ser considerado
como o "Filho Predilecto" do Pensamento divino.
A primeira cidade a alcanar um domnio sobre a grande maioria das
cidades da Mesopotmia e mesmo de outras regies foi Babilnia.
Marduck, o seu Deus principal, foi proclamado diante de todos como o
"Filho mais amado da Inteligncia".
Esta nova teorizao da divindade gera uma concepo de mundo
transcendente que se vai afastando cada vez mais do mundo dos homens,
at concepo de Deus como o que "est totalmente acima de tudo o
que natural e humano" - o totalmente outro. Cortada a directa corres-
pondncia entre a comunidade dos deuses e a dos homens, perde-se o
cariz fundamentalmente social do fenmeno religioso e, em sua subs-
tituio, comea a aparecer um fenmeno novo, a partir do ano 1500 AC:
em vez da preocupao de imitar o mundo dos deuses, to distante e
abstracto, eleva-se o soberano dos estados categoria de deus. Trata-se
duma forma de tornear a dificuldade de traduzir no Estado a organizao
do mundo sagrado, em si to complexa e etrea: se os deuses se afastam
tanto dos homens, porque que estes no ho-de poder criar deuses mais
prximos?
A organizao externa da Religio como simples forma de aumentar
o domnio dos poderosos nos Estados teve, portanto, a sua primeira
manifestao na elevao do soberano a categoria de ser divino e foi
motivada precisamente pelo facto de se ter descuidado a primitiva viso
do mundo dos deuses como modelo do mundo dos homens ou da natureza
eminentemente social do fenmeno religioso.
Quando a divindade comea a ser concebida como o que est para l
de toda a realidade natural e humana, como algo cujo ser, nico no que
e vrio no como , no pode ter qualquer imitao terrena, a divinizao
do soberano comea a ser uma tentao em que os crentes facilmente
caem, na medida em que isso vem lanar uma ponte sobre o abismo
cavado entre o mundo dos homens e o "totalmente diferente".
A mais notria excepo a esta tendncia vem-nos da tribo de Abrao,
onde vingou o modelo da unicidade do divino e da sua impossibilidade
de ser cabalmente conhecido e representado de forma visvel: o nosso
Deus nico e est acima de todos os deuses; que ningum ouse repro-
duzi-Lo em imagem; a nica imagem que temos do nosso Deus o seu
nome, para sempre bendito. Pela aco de Moiss, o Deus distante e cioso
Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol. 2 (1993) pp. 295-311
304 Francisco V. Jordo
do seu poder, disposto indignao pelos desvios aos seus decretos, volta
a possuir um representante directo do seu poder ou um chefe visvel que
age em seu nome. Com a pregao dos Profetas de Israel, sobretudo
Isaas, o correspondente da palavra Deus comea a ser algo puramente
pensvel. At que Flon, o filsofo judeu de Alexandria, acaba por
defender que deus totalmente inacessivel inteligncia humana - um
ser que est para l de toda a possibilidade de ser conhecido 12.
Com o Cristianismo, Deus retomou o convvio dos homens. Sem
deixar de ser concebido como "puro pensamento", considerado como
um "pensamento gerador", que se projecta para fora de si na expresso
de "amor" e se torna visvel em imagem perfeita de si mesmo na pessoa
do "filho bem amado". Deus faz-se homem, ou forma uma imagem de
si mesmo em carne humana, e o homem sobe ao nvel da divindade -
torna-se imagem por excelncia do dovino. No existe modelo mais
adequado para representar o ncleo essencial do que denominamos
Religio: re-ligao do homem ao que nele excesso ou presena
incomensurvel.
No Cristianismo impossvel dizer Deus com a excluso do homem
e impossvel conceber a divindade como uma monarquia absoluta: Deus
em si mesmo comunidade e habita com o homem em unio de amor,
que vai at suspenso numa cruz.
As razes do pensamento que veio a constituir o substracto da teologia
crist so comuns s das outras trs grandes religies profticas - o
Judasmo, o Mazdasmo e o Islamismo - e mergulham nas terras da
Mesopotmea em tempos que remotam ao terceiro milnio antes de
Cristo: o tempo da sistematizao do divino como objecto de pura
especulao. Mas estas mesmas razes trazem consigo uma ambivalncia
latente na concepo da divindade: Deus nunca algum o viu; Deus habita
entre os homens. A dificuldade de dissolver esta ambivalncia torna
igualmente difcil a conciliao entre a sistematizao terica e a traduo
prtica do fenmeno religioso. Quando se acentua a concepo da unidade
em Deus e a sua distncia - nico, indizvel e sem qualquer imagem de
si mesmo - a essncia comunitria do fenmeno religioso tende a encon-
trar um substituto visvel da realidade divina ou do mundo sagrado na
comunidade dos homens ou no Estado. E daqui, um determinado modo
de organizao de um povo, uma determinada nao ou Estado se apre-
sentarem como a expresso mais perfeita do saber e do querer divinos.
12 J. Martn Velasco, l.c., pp.187-270. George Fohrer, Geschichte der Israelitischen
Religion , Walter de Gruyter & Co., Berlim, 1969. Trad. port. de Josu Xavier, Histria
da Religio de Israel, Ed. Paulistas, So Paulo, 1983.
pp. 295-311 Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol. 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 305
o que se passa sobretudo com o Judasmo e o Islamismo. Quando se
acentua demasiado a concepo comunitria de Deus e a sua presena em
imagem entre os homens - vrio, observvel e possvel de ser traduzido
em imagem - tende-se para a formao duma comunidade humana, onde
o divino e o humano se fundam num s e onde o poder, fora do mbito
religioso, concebido como um poder por delegao. Foi o que sucedeu
na Igreja crist, entre os sculos dcimo e dcimo sexto, em que se imps
a concepo da divindade como um reino de hierarquias, a "corte celeste",
que se procurou imitar do modo mais arrojado na cidade que assumiu a
posio de cabea da cristandade, e se defendia o chefe mximo do poder
na Igreja como o nico verdadeiro detentor do poder divino e, por isso,
o nico que podia delegar poder tanto ao nvel do religioso como ao nvel
do profano. Em vez de traduzir a dinmica interior do cristianismo para
elevar todo o homem dignidade divina segundo a imagem perfeita de
Deus - Jesus Cristo - o modelo temporal de comunidade humana, que a
Igreja pretendeu traduzir, interps-se como nica imagem perfeita da
divindade junto dos homens 13.
Desde o protesto dos reformadores at hoje , tm sido inmeras as
tentativas de dar ao fenmeno religioso uma forma de expresso que
salvaguarde em Deus o seu rosto humano , e no homem, a sua dimenso
divina. Mas persiste o "fantasma" da confuso entre o religioso e o
poltico, porque uns pretendem, para a Igreja, um modelo de organizao
imagem de um Estado e outros pretendem um Estado aberto
interveno da Igreja, mesmo no campo legislativo. Em contraposio,
surgem os que defendem que o Estado pode cumprir cabalmente as fun-
es sociais da Igreja e intervir activamente na sua actividade externa.
Uns e outros laboram numa confuso radical: a de que a expresso comu-
nitria do fenmeno religioso est essencialmente dependente da sua
forma de organizao externa, exige um determinado regime poltico ou
tem necessariamente de interferir com qualquer forma de governo.
As confuses do gnero, acima referidas, persistiro sempre que o
fenmeno religioso for abordado sem um srio esforo para o compreen-
der naquilo que ele enquanto tal: uma forma de actividade subtrada s
normas da actividade humana em geral. Requere-se um esforo de
interpretao no sentido de encontrar uma definio de Religio, que
atenda ao gnero de inteno que especifica subjectivamente esse campo
de actividade e aos elementos comuns nas suas variadssimas mani-
festaes ao longo dos tempos e do espao; que tenha em conta que a
13 L.Kolakowski, Chrtiens sans glise . La conscience religieuse et le lien
confessionel au XVII sicle, Paris, Gallimard, 1969.
Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol . 2 (1993 ) pp. 295-311
306 Francisco V. Jordo
Religio uma actividade presente na histria da humanidade por meio
de uma srie de manifestaes que constituem um sector importante da
mesma -a Histria das Religies; que ela no somente um facto
humano, mas um facto em princpio, especfico, diferente e irredutvel a
qualquer outro gnero de factos humanos; que possui uma interna
estrutura significativa e obedece a leis prrias no seu desenvolvimento e
formas de manifestao.
Neste esforo de elaborao de uma teoria interpretativa do fenmeno
religioso, muito contribuiram autores como Geo Windengren e Mircea
Eliade 14.
Sabemos que o homem desenvolve a sua normal actividade, ao nvel
do profano ou das coisas do seu contacto dirio, como uma luta constante
pela sua continuidade na existncia de forma o menos gravosa possvel.
Mas tambm um facto que ele se sente atingido interiormente por uma
superabundncia de ser, que tende a traduzir-se em actos, destacados do
normal agir humano e situados a um outro nvel de realidade, geralmente
denominado por Sagrado e tido como origem primeira do seu ser, com a
qual pretende retomar a ligao, enfraquecida com a sua prpria singula-
ridade. Daqui o termo "religio": reatamento da ligao originria ao
fundamento do ser humano.
Autores como Nietzsche e Feuerbach, embora radicalmente crticos
da Religio, quando esta elevada a instituio externa e a sistema
teolgico a sobrepor-se espontaneidade interior do ser humano, so
unnimes em referir, como nota expressiva do fenmeno religioso, a expe-
rincia de um "excesso", que emana do mais recndito da interioridade
humana. A Religio tem, assim, a sua base na presena de um "excesso",
no sentido de experincia interior duma superabundncia de ser, que no
cabe na dimenso do simples questionar filosfico nem pode conter-se
nos limites do normal agir humano.
Na sua essncia, a Religio um sinal de abertura do homem para
alm dos limites deprimentes em que se desenrola a sua existncia e a
traduo do seu contnuo esforo para viver ao abrigo da presena
reconfortante dum poder sem restries; a atitude religiosa o "esforo
de o homem se transcender" para l dos limites naturais das suas aspi-
raes e para o que se oferece como "fonte originria de todo o ser",
determinante do ser-se homem e elo de unio profunda entre todos os
homens.
14 G.Windengren,
Religionsphnomenologie , Berlim , Walter de Gruyter, 1969. Mircea
Eliade, Trait d'Histoire des Religions, Paris, Payot, 1948.
pp. 295- 311 Revista Filosfica de Coimbra - n . 4 - vol. 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 307
O ncleo central da adorao religiosa sempre concebido como um
ser insondvel mas fascinante , um poder inacessvel mas que inspira
temor e respeito, uma realidade sublime que desconcerta mas ao mesmo
tempo maravilha e uma percepo de virtude e de santidade que o enleva
mas lhe traz a conscincia da sua indignidade.
Este mesmo objecto de adorao, cujo mundo o da pura trans-
cendncia , sendo "o totalmente outro", sempre concebido como activa-
mente presente no mundo dos homens, onde estabelece uma ordem
irrevogvel e em vista do melhor.
O termo mais adequado para se referir ao ncleo central da adorao
religiosa , o de Mistrio ou Deus, que, embora indizvel e inabarcvel,
tem sido configurado de inmeras modos e tem tido inmeras expresses
da sua presena concreta no mundo visvel.
As configuraes do divino, designadas por "hierofanias ", podem ir
de simples objectos profanos com especial poder simblico, como um
astro, qualquer dos quatro elementos, um lugar, um animal , etc., sua
apario na Histria sob figura humana, como a de Jesus Cristo, passando
por objectos especialmente trabalhados pela mo do homem para reme-
terem para algo que os transcende , como a generalidade das represen-
taes de arte religiosa, ou pela assumpo da histria de um determinado
povo como expresso visvel do poder divino, como o caso do Ju-
dasmo.
Embora transcendente e distinto , o Mistrio ou Deus tem sido um
referente marcante de toda a actividade humana, quer de natureza terica,
quer prtica, quer emocional.
Sob o aspecto terico , o homem tende a transcender- se por meio duma
linguagem e duma conceptologia capazes de levar o pensamento a elevar-
- se para l dos objectos normais da linguagem no seu uso vulgar.
Um exemplo do esforo de o homem se transcender ao nvel terico,
o recurso frequente ao smbolo : frmulas, gestos , ritos, ordenados a
provocar a experincia da presena objectiva duma realidade inobjectiva.
Um smbolo sempre uma coisa natural e mesmo vulgar , mas que a
interveno ou simples inteno do homem tornou num objecto capaz de
sugerir como presente o que ele de modo nenhum pode conter quando
considerado em si mesmo.
Outro exemplo a criao do mito : uma narrao , que no pretende
dizer o que pode ser directamente entendido segundo o uso normal das
palavras usadas nem pretende traduzir uma verdade que possa ser
constatada , mas apenas despertar a mente para um sentido, apreensvel a
partir do contexto global da mesma narrao , e tornar a sua apreenso
de algum modo eficaz no leitor e ouvinte , ao nvel das convices e do
Revista Filosfica de Coimbra - n. 4 - vol . 2 (1993 ) pp. 295-311
308 Francisco V. Jordo
seu agir. Embora no verdadeira, a histria do mito pretende transmitir
uma certa verdade.
Outro exemplo a quase universal aceitao de textos sagrados:
compilaes de narraes, de formulrios, de poemas, de exposies
tericas , de discursos morais, de modelos de virtude , de elementos biogr-
ficos de homens excepcionais, de exemplos a seguir ou a evitar , ... tudo
orientado no sentido de fazer concentrar o pensamento em Deus e, em
sintonia com quem escreveu tudo aquilo ou quem primeiramente o tomou
como sagrado, o aceitar como vindo de Deus, proclam-Lo e reveren-
ci-Lo como autntico bem e fim ltimo do homem. Um texto sagrado
sempre um repositrio de dons do esprito ou de produtos da actividade
espiritual, surgidos no tempo com sinais de eternidade , entregue
considerao e guarda dos crentes que a ele aderiram.
Prolongamento natural do texto sagrado, tudo quanto resulta do
esforo de penetrao em todo o seu contedo e de captao da verdade
que ele encerra, esforo especfico do que designamos por Teologia.
O objectivo desta traduzir em linguagem comum e em conceitos bem
definidos um conhecimento, cujo objecto transcende a normal capacidade
de compreenso humana e no traduzvel cabalmente pela linguagem
humana vulgar.
Sob o ponto de vista prtico, o homem tende a transcender-se por
meio de formas de um comportamento em ruptura com o modo comum
de agir. O ser humano no tem apenas um corpo como simples instru-
mento de actuao, ele esprito num corpo e, no seu esforo de se
transcender, precisa das atitudes corporais. A atitude religiosa sempre
de natureza espiritual, mas com traduo concreta em expresses corpo-
rais. Na traduo prtica da atitude religiosa podemos distinguir duas
reas: a do culto e a da moral.
O culto religioso consiste num conjunto de actos, que, em si mesmos,
nada tm a ver com as exigncias normais da existncia humana e esto
mesmo em ruptura com ela . Na sua expresso mais genuna , o culto est
associado a um lugar e a um tempo tambm em ruptura com o espao e
o tempo comuns. O lugar mais adequado para o culto o templo, que
delimita um espao que rompe com a normalidade do espao circundante.
Um templo um espao orientado para que nele se execute e por meio
dele se exprima uma transposio para o totalmente diferente; um lugar
privilegiado para a concentrao do esprito na transcendncia. O tempo
dado ao culto um tempo de actos qualitativamente diferenciados dos
actos comuns: um corte com a experincia normal para permitir a
experincia do divino. A Religio est de tal forma ligada sua expresso
cultual que, na generalidade, se confunde culto com Religio; o culto, de
tal modo ligado ao templo, que o simples transpor da porta de um templo
pp. 295-311 Revista Filosfica de Coimbra - n. 4 - vol . 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 309
pode constituir um acto de culto e determinar um tempo qualitativamente
diferente do tempo vulgar.
A moral o campo da actividade humana em que, de entre vrias
formas de agir possveis, se exige a escolha do que se oferece como bom:
a actividade exercida com base na exigncia do dever. Mais do que
ditada pela atitude religiosa, esta que irrompe do campo de actividade
humana ditada pelo dever , cuja raiz se liga ao transcendente e cuja
possibilidade depende da conscincia de abertura do homem transcen-
dncia. Fora do campo de actividade moral impossvel haver Religio.
Mas sem Religio, dificilmente se adere ideia de um dever sem reservas.
O homem tende a transcender-se ainda ao nvel da emoo, pela
tentativa de encontrar eco para o mundo dos seus sentimentos. O ser
humano no esgota o campo da sua actividade ao nvel da faculdade
intelectiva e ao da deciso voluntariosa. Alm de inteligncia e vontade,
ele sentimento , emoo, e tende a dar satisfao a esta dimenso da
sua vida interior . O entusiasmo pelo que nobre e empolgante , a alegria
da festa, a atraco pelo que belo, a gratido pelos dons inerentes vida
so igualmente modos de o homem se transcender para alm de si mesmo,
so uma expresso do contgio emocional com o que ultrapassa o mundo
limitado da sua individualidade. Das manifestaes festivas expresso
musical, dos cortejos na via pblica ao aprumo do vesturio, das concen-
traes de massas s reunies familiares, do respeito pelos mortos e
engalanamento dos cemitrios ao pranto pblico e trajes de luto, pres-
sente-se a existncia duma constante ao nvel da vida sentimental: a
exigncia de ultrapassar o trivial e a monotonia para o reino do invulgar
e da surpresa . Se em muitas expresses desta natureza parece estar total-
mente ausente o sentir religioso, no deixa de ser verdade que tambm
nelas se pode ver um expresso de abertura ao nvel do emocional. E tal
como a vivncia religiosa, muitas manifestaes pertencentes ao domnio
da espontaneidade brotam dum contgio emocional com o que rompe a
estreiteza do dia a dia e tendem sempre a gerar uma dinmica de carcter
social 15.
Dum modo sucinto, podemos destacar na vivncia religiosa uma
expresso de natureza terica, que se traduz em mltiplas criaes do
pensamento religioso ordenadas a dizer o indizvel e a formular um
conhecimento sobre o incognoscvel; uma expresso de carcter prtico,
que se traduz em mltiplas aces externas ordenadas a dar forma visvel
15. C.Geffr, "La crise de Ia raison mtaphysique et les dplacements actueis de Ia
Thologie", in J.L. Vieillard Baron e Francis Kaplan, o.c., pp.465-483. J.Martn Velasco,
o.c., pp.125-186.
Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol . 2 (1993 ) pp. 295-311
310 Francisco V. Jordo
ao que de todo invisvel; uma expresso de natureza emocional, que se
traduz em mltiplas formas de dar satisfao riqueza incontrolvel do
mundo dos sentimentos. E todas estas expresses so geradas pela
dinmica de um excesso que atinge o homem e o leva a transcender-se
para alm de si mesmo e a dar expresso sua dimenso comunitria.
O ser humano radica numa comunidade de ser e tende a superar a
estreiteza do seu pequeno mundo individual na vivncia comunitria.
A Religio , portanto , enquanto actividade radicada no campo mais vasto
da actividade humana em geral , penetra esta em todos os seus domnios
e imprime - lhe uma orientao eminentemente comunitria, fora da qual
os indivduos dificilmente atingem uma autntica humanizao . Fora da
dimenso comunitria da atitude religiosa no era possvel compreender
as suas vrias formas de expresso. De facto, a criao de smbolos, de
mitos, a transmisso de textos sagrados , a vida moral , o culto, os templos,
a festa, so indissociveis da vida em comunidade.
O que importa, antes de mais, precisar muito bem a natureza ntima
e as formas de concretizao externa da dinmica comunitria da Religio.
O carcter comunitrio da atitude religiosa expressa-se, primeira-
mente, por um modo especfico de viver em comunidade, baseado no
princpio de que o ser humano no comunitrio por escolha ou deciso
sua, mas por estar radicalmente ligado mesma fonte originria de ser.
Nenhuma vida humana vem ao mundo isoladamente; ningum pode
subsistir entregue apenas a si mesmo; o homem no atinge a sua reali-
zao como homem sem o contributo de outros homens. A conscincia
desta radical situao tende naturalmente para a convico de que todos
esto em p de igualdade perante o que radicalmente os faz ser. Desta
convico resulta a exigncia de viver em colaborao, cuja expresso
mxima se atinge na unio de amor mtuo. isto que especifica o
carcter comunitrio da vivncia religiosa: encontrar formas de orga-
nizao comunitria animadas por um elo de coeso, cuja gnese est
muito para l de todos os circunstancialismos epocais e consideraes
imediatistas.
Para alm do que naturalmente se exige na instituio poltica, a vida
comunitria em pleno exige o reconhecimento e respeito da dignidade de
cada um, exige a reconciliao mtua, a gratido pelo "excesso" de ser
que atinge interiormente o ser humano, a intercomunicao do indivduo
com a comunidade e desta com o indivduo, e tudo isto como exigncia
que nenhuma norma externa e nenhuma deciso humana podem
contrariar. Este nvel de vivncia comunitria, porm, no pode ser
atingido fora da atitude religiosa. Sem Deus, o homem tende sempre a
tornar-se o Deus de si mesmo e naturalmente a arvorar-se em senhor da
vontade alheia.
pp. 295-311 Revista Filosfica de Coimbra - n." 4 - vol. 2 (1993)
A Religio sobre o ponto de vista filosfico 311
A comunidade poltica, no entanto, no tem estes intentos como objec-
tivo primordial da sua actuao. Precisa de se dedicar aos mecanismos
externos da sua permanncia e criar as condies indispensveis para a
subsistncia dos seus membros e prepar-los para as tarefas normais da
sua existncia. Requere-se, por isso, que em toda a comunidade poltica
haja espao para uma vivncia comunitria que, embora se no deva
instituir como modelo nem simples imitao da comunidade poltica,
se institua como modo de preparao das mentes e das vontades para o
sentir verdadeiramente comunitrio e como indispensvel complemento
para a vivncia de um ser que corpo e esprito.
A comunidade religiosa tem o seu ncleo de apoio na atitude orante.
A orao o acto de dar voz, pela palavra, transcendncia; a aceitao
do transcendente, que se oferece e se comunica como fundamento da
unio comum. A mxima expresso da atitude orante reside no acto sacri-
ficial, cuja designao, no catolicismo, se cristalizou no termo Missa.
O Sacrifcio o acto de tornar divino o que profano - "sacrum facere" -
num lugar e num tempo especiais, onde o crente procura fortalecer a sua
relao com o transcendente por um acto de entrega, expresso em ddivas
do seu labor, procura reconhecer o seu distanciamento da virtude e da
santidade divinas pela expiao, traduzida em actos de pedir e de con-
ceder o perdo, e procura fundamentar a unio de todos com base no
princpio da igualdade, expressa pela comparticipao da mesma mesa.
No se concretiza a expresso comunitria da vivncia religiosa
levando a instituio poltica a amoldar-se comunidade religiosa,
instituindo esta segundo os moldes de uma instituio poltica, fazendo
que aquela substitua esta ou vice-versa, mas promovendo uma actividade
religiosa, ordenada a tornar viva nos crentes a presena do divino e a
proporcionar-lhes a aprendizagem da vivncia comunitria que dimana da
sua estrutura ntima: uma actividade voltada essencialmente para que a
dimenso humana de excesso ou de abertura ao transcendente, que toca
interiormente os homens, tenha efeitos visveis na sua forma de existir
ou de estar no mundo.
Revista Filo sfica de Coimbra - n. 4 - vol. 2 (1993) pp. 295-311
Você também pode gostar
- Inovação MatemáticaDocumento8 páginasInovação MatemáticaEvandro SouzaAinda não há avaliações
- Banco Do Brasil - Escriturário Agente de Tecnologia by Nova ConcursosDocumento343 páginasBanco Do Brasil - Escriturário Agente de Tecnologia by Nova ConcursosVanessa Diniz100% (1)
- Livro KimbunduDocumento86 páginasLivro KimbunduTracy Johnson77% (13)
- Fichamento de Livro PDFDocumento7 páginasFichamento de Livro PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Mais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MDocumento75 páginasMais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- A Serpente Na Biblia SagradaDocumento2 páginasA Serpente Na Biblia SagradaCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Mais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MDocumento75 páginasMais LONGO CAPA COMUM CONTOS DE MACUMBA E ASSOMBRAÇÃO KDP AMAZON MCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- 2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFDocumento292 páginas2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- 3582 10158 1 PB PDFDocumento9 páginas3582 10158 1 PB PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- 2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFDocumento292 páginas2014 LuanaAntunesCosta VCorr PDFCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- O Conceito de Trickster Na Teoria Do Folclore Par Entender o Coiote o Macaco Exu KrishnaDocumento3 páginasO Conceito de Trickster Na Teoria Do Folclore Par Entender o Coiote o Macaco Exu KrishnaCharles Odevan XavierAinda não há avaliações
- Aula de PortuguêsDocumento2 páginasAula de Portuguêscia doscartuchosAinda não há avaliações
- Atividades Da Semana 4 (01 A 08 de Março) - Infantil 5 ManhãDocumento6 páginasAtividades Da Semana 4 (01 A 08 de Março) - Infantil 5 ManhãMarina ValentimAinda não há avaliações
- Exercício MorfologiaDocumento19 páginasExercício Morfologialouyse silvaAinda não há avaliações
- Curso Grátis de PNL Aplicado Na Sedução de MulheresDocumento20 páginasCurso Grátis de PNL Aplicado Na Sedução de MulheresLoic Nicolas PinillaAinda não há avaliações
- Curso - Ed-Especial - Alternativas-Metodologicas-Aluno SurdoDocumento48 páginasCurso - Ed-Especial - Alternativas-Metodologicas-Aluno SurdoEmerson MonteiroAinda não há avaliações
- SanskritDocumento14 páginasSanskritAlex RegisAinda não há avaliações
- Os RatosDocumento124 páginasOs RatosTo EstudandoAinda não há avaliações
- Unidade V - Psicologia Sócio-HistóricaDocumento24 páginasUnidade V - Psicologia Sócio-Históricatatiyix865Ainda não há avaliações
- Cod. 01 - Assistente Social - Tipo 2Documento18 páginasCod. 01 - Assistente Social - Tipo 2RedHarlowAinda não há avaliações
- Slide - Neuro, Lobos Frontais e LinguagemDocumento41 páginasSlide - Neuro, Lobos Frontais e LinguagemKatharina PinheiroAinda não há avaliações
- Daniel Isaac SlobinDocumento1 páginaDaniel Isaac SlobinLizania Xavier100% (1)
- Gary Zukav - The Seat of The SoulDocumento148 páginasGary Zukav - The Seat of The SoulLuis GustavoAinda não há avaliações
- Resenha: Gêneros Do Discurso - Prática Puramente SocialDocumento4 páginasResenha: Gêneros Do Discurso - Prática Puramente SocialGabriela AiolfiAinda não há avaliações
- Coreano - Gramatica - IntroduçãoDocumento3 páginasCoreano - Gramatica - IntroduçãoSui ohjazzis100% (4)
- DUMAS Alexandra Nomear É DominarDocumento21 páginasDUMAS Alexandra Nomear É DominarANNA BHEATRIZ FERNANDES SEGOVIAAinda não há avaliações
- Unidade 1 de Morfologia 1 DEADDocumento10 páginasUnidade 1 de Morfologia 1 DEADDebora Thais Alves de AlmeidaAinda não há avaliações
- A Interpretação Das Vogais NasaisDocumento5 páginasA Interpretação Das Vogais NasaisLuan Figueiredo100% (1)
- Ficha de Plano 3º Ano - Fev A DezDocumento34 páginasFicha de Plano 3º Ano - Fev A DezNAIANA100% (2)
- Curr Culo Santista Ef LiDocumento26 páginasCurr Culo Santista Ef LiCamila MacedoAinda não há avaliações
- Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico-Exercícios de Fixação - Módulo IDocumento6 páginasConhecendo o Novo Acordo Ortográfico-Exercícios de Fixação - Módulo ILeonardo JoseAinda não há avaliações
- Caderno Experiencias Assim Se Faz Arte PDFDocumento35 páginasCaderno Experiencias Assim Se Faz Arte PDFAnaAinda não há avaliações
- Morfologia 04Documento3 páginasMorfologia 04Wilian AlmeidaAinda não há avaliações
- Teoria e Metodol. Literarias Aguiar e SilvaDocumento35 páginasTeoria e Metodol. Literarias Aguiar e SilvaLauro Roberto FigueiraAinda não há avaliações
- p1g1 Analista Infr e Adm 1Documento16 páginasp1g1 Analista Infr e Adm 1Alice D'AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Sistema de Transcrição de LibrasDocumento2 páginasSistema de Transcrição de LibrasA, V,100% (1)
- Figuras de LinguagemDocumento52 páginasFiguras de Linguagemluiz filhoAinda não há avaliações
- A Estrutura Do SN Com Argumento GenitivoDocumento19 páginasA Estrutura Do SN Com Argumento GenitivoRonaldo NogueiraAinda não há avaliações