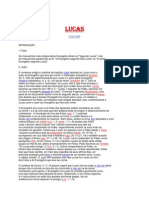Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pretérito Mais Que Perfeito
Pretérito Mais Que Perfeito
Enviado por
Sergio Teixeira de Carvalho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações2 páginasCrônicas Imaginadas
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoCrônicas Imaginadas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações2 páginasPretérito Mais Que Perfeito
Pretérito Mais Que Perfeito
Enviado por
Sergio Teixeira de CarvalhoCrônicas Imaginadas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 2
Pretérito Mais Que Perfeito
A tristeza comove tanto quanto a alegria. Porém a tristeza é mais frequentemente
associada à beleza. São bonitos textos tristes. São engraçados textos alegres. Um poeta
até disse que não há poesia sem dor.
Numa sociedade que se comove, isto é, que se move pelo sentimento conjunto, são
protagonistas, pelo menos nos textos, aqueles que se movem com mais contraste entre
categorias bem distintas, por exemplo, passa de rico a pobre, de bandido a herói, ou
vice-versa. São coadjuvantes aqueles que, mesmo categoricamente imóveis, para o
outro tipo são imprescindíveis: o empregado fiel, um terceiro funcional - também têm
papel na história.
Mas pouco se fala daqueles que sempre se anunciam como protagonistas e tornam-se
esquecidos durante seus nada fazer de notável. Esses não imprimem marca mais perene
na sociedade em que vivem. Alguns ficam relevantes após seu fim. Aí, após a morte
nesse mundo das categorias, tornam-se importantes no mundo da homenagem. Mas é
outra personagem, a do mundo que deveria ter sido. Em todos os casos, tornamo-nos
participantes da riqueza de episódios do mundo da imaginação, do que poderia ter sido
e, mesmo não sendo, ilustram a graça do passado que valoriza o presente.
Existe uma microtrama na história, aquela comum, da pessoa das ruas, que pode ser
repleta de glórias efêmeras que se esvaem após os momentos de homenagem, são
levadas pelo sopro do tempo.
Tomemos um momento de Ademilde Fonseca. Imortalizada pelo registro fonográfico,
pela cambiante crítica escrita, uma vez que não o poderia ser pela própria memória
daqueles que a ouviram ao vivo, pois esses também morreram ou morrerão. Foquemos
na personagem anônima em seu velório, uma fã, em cujas lembranças de vida ecoam,
entre alegrias melancólicas, um chorinho bem cantado. Ressoam pequenos episódios de
um século vertedor de intensas mudanças, fugidias na história, mas grandiosas em uma
vida pessoal. Pois essa senhora ainda outro dia relembrava sua casa onde vivera seus
anos bem casados. Esposo, filhos e filhas, almoços em domingos. E na frieza
cronológica, nem foram tantos anos assim, mas significaram muito para aqueles que
ainda hoje povoam sua intimidade, diluída entre netos, viuvez, novos objetos, novas
formas de ver. Houve dificuldades sim, a doença do mais novo, também aquele
momento de penúria que graças a deus e muito esforço superaram. Há, quintessencial,
saudades meio avergonhadas dos bailes da juventude. E aquele encontro com Ademilde,
bem contado nos natais em família, com lisonja, pela senhora que conta.
A música muda e os olhares da história podem se voltar para a criada da senhora. Hoje
com dificuldades para andar, arcada pelo peso macio de anos de dedicação. Conhecera
bailes sim, mas preferia os carnavais de rua. Até certo ponto. Depois que o marido se foi
para um dia ser motorista de um tal Doutor Horácio, o dono de um Diário Carioca, lá no
Rio, claro, e nunca mais voltou, criou sozinha seu único filho.
O filho pacato da criada morreu em sua casinha, própria, comprada com trabalho
honesto. Foi um bom auxiliar no escritório onde se aposentara. Viveu aquela injustiça
que muitos falam, mas ele mesmo não tocava no assunto. Não, não bebia não. Era
invenção. Na sala do velório ao lado, jazia sozinha Dona Eulália. Lá, uma carpideira
ensaiou entrar, mas não havia quem pudesse assisti-la chorar. Só a pesada solidão do
recinto e um cadáver que emanava lembranças de tempos que são de todos, os que já
nasceram e os que ainda não.
Dona Eulália fora leal à sua comadre, sempre presente. Costumava contar sobre outra
amiga, já ida, sobrinha de Duque de Caxias e também que vira a construção do Cristo
Redentor no Corcovado. Odiada por alguns sobrinhos, era mesmo pirracenta. Diabética,
tinha manias. Sobrou-lhe aquele apartamentinho em Copacabana, bairro palco de tantos
acontecimentos, mais contados que vividos. Dona Eulália era fofoqueira. Execrava o
rock’n’roll e toda essa música que não era música, coisa dos jovens. Amava as valsas,
divertia-se com as polcas e conta-se, à boca miúda, que chorava ao ouvir secretamente
os sambas-canções. Nunca casou. Viajava para os lugares da moda, seja Acapulco, seja
Águas da Prata, e só usava maiôs Catalina. Flertava com a alta-sociedade e guardava, no
armário ao lado da vitrola, envelhecidos recortes do Ibrahim Sued e do Tavares de
Miranda. Esteve presente em muitos acontecimentos importantes do século. Detestava
Juscelino, mas estava em Brasília só para acompanhar a comadre na posse de Jânio.
Um dia foi socorrida pelo vizinho do 402 ao sentir-se mal no elevador. Por sorte
encontraram com a faxineira já no térreo, enquanto esperavam a ambulância. A
faxineira a acompanhou e o vizinho prometera visita-la no hospital. Queria mesmo
visita-la, mas deixava sempre para outro momento. Talvez a faxineira trouxesse
notícias. Esta, ele nunca mais viu.
Somos imortalizados quando deixamos de herança, coletiva ou individual, pedaços de
nossa história de tamanhos variantes. De tamanhos variantes são as perdurações de
nossos feitos, as sensibilidades de quem conosco comove e as capacidades de nossas
lembranças. Lembranças que morrem e lembranças que ficam impressas no mundo.
Para a história, mesmo a não contada, somos sempre, bem mais ou bem menos,
imortais.
Dona Eulália na enfermaria sentia-se bem. Estava em transe, quase esquecida de seu
corpo que já não mais funcionava. Começou a ver lembranças que passavam como
paisagens pela janela. Estava no trem que ia, quando bem criança, à fazenda dos avós
em Pindamonhangaba. Via vultos passantes, chapéus, malas. Todos tiveram suas
histórias, que passaram incontáveis como os dormentes dos trilhos. Ouvia conversas
vagas, sobre café, república... o relógio cuco... Brincava na fazenda com Titi, o
cachorrinho que sempre a esperava. Ele mordeu Cacá, seu amiguinho colono que
roubara sua boneca. Bem feito! Passou desde a infância sem nem lembrar, nem querer
saber daquele tempo.
Passou agora duas semanas no hospital. Até o último dia, só as enfermeiras a visitaram.
Talvez agora reencontre Cacá.
Você também pode gostar
- Prova Impressionismo 2. A CorDocumento2 páginasProva Impressionismo 2. A Cordenisecompasso92% (121)
- Cordéis para Os Pais - Bráulio BessaDocumento3 páginasCordéis para Os Pais - Bráulio BessaThathawanna Aires100% (4)
- Entrevista InicialDocumento18 páginasEntrevista InicialTeo SilvaAinda não há avaliações
- Texto Poético: Educação LiteráriaDocumento15 páginasTexto Poético: Educação LiterárialenaprvieiraAinda não há avaliações
- Livro Resumo Famecos PDFDocumento220 páginasLivro Resumo Famecos PDFMarta CafeoAinda não há avaliações
- Guia Estruturacao Relatorio Estagio FACOM-UFUDocumento15 páginasGuia Estruturacao Relatorio Estagio FACOM-UFUDiego TimoteoAinda não há avaliações
- Neoclassicismo e Pre-RomantismoDocumento33 páginasNeoclassicismo e Pre-RomantismoAnonymous MRV4jkhP5Ainda não há avaliações
- Ebook Oficial em PDF Guia PregadorDocumento5 páginasEbook Oficial em PDF Guia PregadorMizael GommesAinda não há avaliações
- Recursos EstilísticosDocumento64 páginasRecursos EstilísticosLuís Bastos100% (2)
- Apostila - Área GeralDocumento337 páginasApostila - Área GeralLuca Soncin100% (1)
- Jean Cocteau - Os Meninos Diabólicos PDFDocumento240 páginasJean Cocteau - Os Meninos Diabólicos PDFPedro Peixoto100% (1)
- Aula Os Retirantes Cândido PortinariDocumento2 páginasAula Os Retirantes Cândido Portinarimarilza_fuentesAinda não há avaliações
- A PublicidadeDocumento8 páginasA PublicidadeBiblioteca da Benjamim100% (20)
- APOSTILA 5ºano - 3 - Semana PDFDocumento20 páginasAPOSTILA 5ºano - 3 - Semana PDFLUZIA TRAVASSOAinda não há avaliações
- Sete Passos Na Caminhada Do Discípulo Com Seu MestreDocumento2 páginasSete Passos Na Caminhada Do Discípulo Com Seu MestreSonia Pereira100% (1)
- 42 LucasDocumento408 páginas42 LucasBetoKGAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira Na BBMDocumento10 páginasLiteratura Brasileira Na BBMmariana mauxAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa - 03 de Dezembro de 2023.Documento3 páginasLíngua Portuguesa - 03 de Dezembro de 2023.Temísia LeãoAinda não há avaliações
- Aventura 1 D&D 5NEXT FORGOTTEN REALMSDocumento2 páginasAventura 1 D&D 5NEXT FORGOTTEN REALMSEdpo AmorimAinda não há avaliações
- A Máscara, Do Bufão Ao Clown - Joice AglaeDocumento13 páginasA Máscara, Do Bufão Ao Clown - Joice AglaeDaniel AlbertiAinda não há avaliações
- TrabalindooDocumento11 páginasTrabalindooGrazielle brisacAinda não há avaliações
- 5 Princípios Bíblicos Sobre Finanças Que Todo Cristão Deve PraticarDocumento2 páginas5 Princípios Bíblicos Sobre Finanças Que Todo Cristão Deve PraticarLuziana MenezesAinda não há avaliações
- Vamos Pensar Um Pouquinho Sobre Nós Mesmos I Proj VidaDocumento3 páginasVamos Pensar Um Pouquinho Sobre Nós Mesmos I Proj VidaEliana MaquidoneAinda não há avaliações
- A PREFIXAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO - Dissertacao de Mestrado - Versao Definitiva - Tomos I e II UnificadosDocumento946 páginasA PREFIXAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PORTUGUÊS ARCAICO - Dissertacao de Mestrado - Versao Definitiva - Tomos I e II UnificadosAlessandra de Paula100% (1)
- Grupo de Recrutamento 620 - EDUCAÇÃO FÍSICADocumento23 páginasGrupo de Recrutamento 620 - EDUCAÇÃO FÍSICAJoão BasAinda não há avaliações
- Competencia LeitoraDocumento11 páginasCompetencia Leitoraprofessora AlineAinda não há avaliações
- Ordem de CultoDocumento1 páginaOrdem de CultoAnderson BarretoAinda não há avaliações
- TrovadorismoDocumento4 páginasTrovadorismoKamyla CostaAinda não há avaliações
- Apresentação Sobre EliotDocumento2 páginasApresentação Sobre EliotAnastasia MaladetAinda não há avaliações
- SLU JornalismoDocumento6 páginasSLU JornalismoArthur Eduardo DanczuraAinda não há avaliações