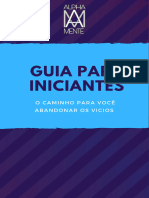Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Barbos 1 PDF
Barbos 1 PDF
Enviado por
Gustavo DucaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Barbos 1 PDF
Barbos 1 PDF
Enviado por
Gustavo DucaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
XXIV Encontro Nac. de Eng.
de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004
Os desafios da lida do técnico de segurança frente
à organização do trabalho como fator de risco:
uma abordagem ergonômica em uma instituição bancária
Vânia Maria Barbosa (UFMG) vaniapsychologue@bol.com.br
Eliza Helena de Oliveira Echternacht (UFMG) eliza@dep.ufmg.br
Resumo
Este artigo pretendeu contribuir para a compreensão da atuação do profissional de
segurança do trabalho no setor financeiro. Para tanto, foi realizada uma pesquisa em um
banco, com enfoque na atuação do técnico de segurança, na lida com as queixas dos
trabalhadores, sobretudo as relacionadas à organização do trabalho. Os resultados
apontaram para alguns aspectos desfavoráveis tais como a ambivalência em relação ao seu
objeto de trabalho: atender os normativos indicando adequações do meio físico e cuidar da
prevenção da saúde do trabalhador em relação às condições de produção. Em
contrapartida, revelou-se o compromisso do técnico de segurança, quando adota estratégias
para compatibilizar demandas e possibilidades de resposta. No entanto, essa resposta fica
limitada por falta de condições institucionais de interpretação e restituição dos dados
levantados. A exclusão de informações e a falta de respostas são elementos reveladores das
dificuldades do trabalho desse profissional.
Palavras-chave: Técnico de segurança do trabalho, Organização do trabalho bancário
1. Alguns aspectos quanto às práticas da segurança do trabalho
As transformações das exigências de produção trazem em seu bojo novas formas de adoecer e
é condição para sua prevenção, o estabelecimento de relações entre o adoecimento no trabalho
e os fatores subjacentes a essa realidade. Para tanto, torna-se fundamental um estudo que
aponte as dificuldades encontradas pelos profissionais envolvidos com as práticas da
segurança do trabalho na lida com essas novas formas de organização da produção.
As formas tradicionais de compreender e prevenir acidentes e doenças do trabalho, na prática
da segurança, adotam modelos hegemônicos que privilegiam a investigação do meio físico.
Historicamente adotam a responsabilização e culpabilização da vítima. A interpretação da
legislação e sua implantação nas instituições têm privilegiado o aspecto legalista e burocrático
da prevenção.
No entanto, apesar desses equívocos, entender as novas formas de produção e as estruturas
formais da prevenção são fundamentais para a compreensão do adoecimento do trabalhador.
Garrigou et al., (1999) contesta o modelo de homem e de risco presente nas organizações e
nas políticas de segurança fixadas em dimensão física ou fisiológica, em que as exposições
são consideradas quando visíveis e apenas quando a integridade corporal é atingida. Outros
riscos que ele denominou “virtuais” são pouco considerados.
Peeters et al., (2003) retoma o leque de atividades exercidas pelos profissionais de segurança
descritas por Garrigou (1999) em seu estudo sobre o trabalho do serviço de segurança na
França, e inicia um estudo comparativo em uma pesquisa franco-brasileira, no qual descreve:
ENEGEP 2004 ABEPRO 2593
XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004
“[...] pouco se diz sobre o trabalho dos profissionais que labutam no serviço de Segurança do
Trabalho. Como é sua prática? Que situações eles são levados a tratar? Quais são as principais
dificuldades e contradições? Quais as estratégias individuais e coletivas postas em prática?
Que modelos teóricos são mobilizados? Que ferramentas são utilizadas? Como sua
responsabilidade (penal, moral...) é vivida? [...]. As referências bibliográficas e pesquisas
realizadas mostram um paradoxo: estes profissionais são responsáveis por cada vez mais
tarefas, quando na verdade, dispõem de poucas informações sobre sua atividade de trabalho e
a formação adequada” (PEETERS et al., 2003, p. 1).
Llory (1999), aborda o tema da prevenção e do silêncio influente na prática de segurança e na
gênese dos acidentes nas organizações, bem como apresenta indagações sobre as dificuldades
dos profissionais em fazer seu trabalho, levantando questões como: a necessidade de garantias
ao fazer afirmações; não poder sustentar uma posição crítica ou diferente do ponto de vista
tradicional; o temor da reação ou de ser questionado por superiores hierárquicos; a quebra da
rigidez nas exigências e prescrições do trabalho o temor e mal-estar de ter de enfrentar
problemas concretos, que o remeteria às suas próprias dificuldades e mesmo contradições. O
autor utiliza afirmativas, como: “a segurança que pode se revelar muda”, “informações que
não circulam ou circulam com dificuldade” e “documentos que não aparecem”. Comenta que
é o trabalho dos profissionais de segurança que precisa ser conhecido e analisado.
O profissional de segurança, frente a essas injunções, busca saídas que lhe permitam
contemporizar, isto é, atender a um lado, os prescritores – que interpretam a legislação – sem
deixar de dar atenção ao outro lado: demanda dos empregados. Os conflitos gerados por essa
posição são muitos, e por maiores que sejam os seus esforços no sentido de uma “saída
honrosa”, fica sempre um resto: uma vez que não há canais institucionais por onde
encaminha-los. O que fazer com as indagações às quais não se pode responder? Qual o
destino possível dessas demandas, a não ser reabsorvê-las, convertê-las e ressignifica-las?
2. O caminho da pesquisa
O ponto de partida da pesquisa realizada foi o pedido de diagnóstico formulado pelo gerente
da Unidade de Saúde de um banco frente aos indicativos da falta de integração entre os
programas do SESMT.
A abordagem Ergonômica foi escolhida como aporte metodológico por oferecer sustentação
para a investigação focada na observação do profissional em atividade.
A pesquisa teve início em julho de 2002, com levantamentos de dados no Banco e em especial
do SESMT como: população trabalhadora, índices de adoecimento, normativos, atribuições,
programas implementados e ferramentas utilizadas. O Banco é considerado de risco 2
(conforme Norma Regulamentadora – NR-4 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e do
Emprego) e atende ao dimensionamento com um total de 9 profissionais: 5 técnicos de
segurança, 1 engenheiro de segurança no trabalho, 1 auxiliar de enfermagem no trabalho, 1
enfermeiro do trabalho e 1 médico de trabalho. Foram realizadas entrevistas semi-dirigidas
individuais e em dupla com os profissionais do SESMT, para a compreensão do
funcionamento da prevenção no Banco e clarear a demanda. Os profissionais manifestaram
surpresa por serem objeto de estudo, uma vez que eles sempre estudam outros trabalhadores.
Relatam insatisfação em vários aspectos, principalmente a falta de reconhecimento da
Instituição em relação a seu trabalho. Os técnicos de segurança verbalizaram: “O risco em
nossa empresa é diferente de uma fábrica em que há risco de morte” .“ Aqui, a questão de
ENEGEP 2004 ABEPRO 2594
XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004
risco não é vista, portanto não interessa solução nem prevenção”. “A empresa só mantém o
serviço porque a lei determina”.
Após esta fase da pesquisa, optamos por focar a atuação do técnico de segurança durante suas
visitas, sobretudo, por ser ele um profissional privilegiado no Banco, por ter entre suas
atribuições a ida até o local que o bancário está executando suas atividades e o observar em
situação cotidiana. Naquele momento as observações foram separadas em três fases do
trabalho do técnico de segurança: preparo, visita e registro de dados. Observar um trabalhador
que observa outro, faz entrevistas, orienta e decide traz dificuldades que foram resolvidas, na
pesquisa, com observações seguidas de verbalizações consecutivas e autoconfrontação.
Acompanhando o técnico de segurança em suas visitas às diversas agências do Banco, pôde-
se perceber os subterfúgios utilizados por eles diante da fragilidade da definição de seu objeto
frente as queixas dos bancários: estratégias de defesa (evitação, negação e fuga); a escuta; o
calar como resposta (ação, adiamento e exclusão) e as possibilidades de restituição dos
levantamentos aos bancários. Os técnicos escutam e falam sobre as queixas dos bancários:
“Eram 15:00 horas e ninguém tinha almoçado, ele disse... ‘autentico a comida’ ”. Fazendo
referência a forma como o bancário lida com a alimentação e comentam sobre outros temas
relevantes. “É a grande angústia, vender produto que ele não acredita”. “Pedem para o
cliente comprar por amizade. É uma humilhação!”. “Mudam e não conversam com quem
faz”. “ O treinamento é na raça” .“Tem um lugar que o empregado abre a agência, atende o
público, faz pagamentos, controla terceirizados, representa a unidade fora, controla correio
eletrônico, e muito mais ao mesmo tempo”.
A forma como Guérin et al., (2001, p.64) se refere ao trabalho do ergonomista, mostra ser
esse um trabalho que ocupa um lugar semelhante ao do técnico de segurança em termos de
escuta do trabalhador. “Com freqüência, são os sofrimentos relatados pelos operadores que
alertam o ergonomista e o levam a procurar suas causas nas características do próprio
trabalho”.
No decurso da pesquisa, a distinção entre o objeto da pesquisa e o objeto do profissional de
segurança, como sujeito da ação, foi decisivo. A delimitação de objeto, aquele do profissional
de segurança, no caso a saúde do trabalhador e a produção e o objeto da pesquisa, a lida do
técnico de segurança, como as queixas dos bancários.
A particularidade da validação dos resultados da pesquisa, além de ratificar os dados já
obtidos, acrescentou e lançou um olhar sobre a atuação dos técnicos de segurança como
categoria dentro do Banco, como disponíveis, rápidos e interessados. Surpreendeu a
pesquisadora que todos questionários encaminhados foram respondidos por completo e
devolvidos antes do prazo determinado.
3. Elementos de discussão e analise
A grande distância (abismo) entre o trabalho prescrito e o trabalho real do profissional do
SESMT foi revelada como um dos grandes problemas do trabalho de segurança.
Embora as Normas Regulamentadoras (NR) prescrevam a integração entre os programas, a
própria estrutura do SESMT não contempla as recomendações. Na prática, os programas são
totalmente desarticulados em qualquer de suas fases. A falta de integração é revelada na
forma como os programas são estruturados, uma vez que cada um deles tem cronograma,
periodicidade, metas, instrumentos, sistema de contratação de terceirizados e resultados
distintos. A falta de articulação entre os programas desenvolvidos pelo SESMT é reconhecida
ENEGEP 2004 ABEPRO 2595
XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004
por todos os profissionais que nele trabalham. Não existe interface para os lançamentos de
dados em sistemas nem para consultas sistematizadas
As formas de cobranças da gestão vertical, revelada em todas as fases da implementação dos
programas, constituem mais um fator dificultador da integração. As metas são estabelecidas
pela Instituição, por programas, e os resultados são exigidos na forma de dados estatísticos.
Os dados levantados pelo SESMT não são transformados em informações, pois os
instrumentos disponíveis não possibilitam o seu adequado tratamento. Assim, são arquivados
para efeito de cumprimento da legislação, e as recomendações e prescrições são repassadas,
separadamente, para as unidades operacionais de acordo com cada programa.
Os indicativos de adoecimento do bancário passam principalmente por questões relacionadas
à esfera do sofrimento psíquico, conforme pesquisas realizadas no Brasil por, Silveira (org)
(1993) Seligmann Silva et al., (1995) e Lima et al., (1997) .
As dificuldades de mensuração dos riscos presentes nas atividades bancárias – informar,
encaminhar, atender a um público heterogêneo – que estão diretamente relacionadas à tensão
temporal, às frustrações, à capacidade de autocontrole, à capacidade de comunicação, ressalta
que os modelos utilizados não conseguem dar respostas satisfatórias. Podemos tomar a
afirmativa de Wisner (1994, p. 11) como uma necessidade nos modelos de prevenção atuais.
“[...] deve ser realizada uma análise precisa das atividades mentais no trabalho (percepção,
identificação, decisão, memória de curta duração, programa de ação). Esta análise deve ser
vinculada, não ao que os trabalhadores supostamente fazem, e sim ao que eles realmente
fazem para responderem às exigências do sistema”.
A compatibilização do cumprimento dos normativos com a realidade traz recomendações
impossíveis e/ou contraditórias, como exemplifica um técnico de segurança sobre a exigência
de pausa no trabalho do caixa executivo: “Falar em pausa a cada cinqüenta minutos se tem
uma fila de clientes e somente um atendente!”
O profissional de segurança precisa superar seus próprios temores diante da decisão de escutar
o trabalhador. Vygotsky (1999, p. 87) traz uma importante contribuição: “[...] a complexidade
da tarefa é idêntica à complexidade da resposta interna do sujeito”.
Na realização da atividade, inicialmente, o técnico de segurança vai escutar o bancário no
momento da visita. Posteriormente, quando retoma a fala do trabalhador para lançar os dados,
o técnico de segurança escuta a si mesmo, em uma segunda escuta, e necessariamente faz
alguma coisa com o que escutou, seja diretamente em relação ao trabalhador, seja em relação
a si mesmo, para que o conteúdo da escuta não fique à deriva. Comenta Clot (2000, p.25). “A
ação abandonada não parou de agir. Ela deu, inclusive, seu sentido à ação ‘vitoriosa’”.
Quando o técnico de segurança se cala, ele o faz de várias maneiras.
• calar-se como decisão consciente, o que pode ser considerado uma resposta, uma
ação;
• calar-se por não ter com quem falar ou como demonstrar. Nesse sentido, calar é uma
ação praticada por todos os empregados da Instituição em que o técnico de
segurança fica como “um ouvido amigo”;
• calar-se por dúvida, pela falta de possibilidade de comprovação, procura não expor a
empresa e nem o empregado;
• calar-se como estagnação de conteúdo, em que as queixas ficam retidas.
Isso pode ter no mínimo duas conseqüências: para aquele que calou-se – a retenção de um
conteúdo sobre o qual ele não pode atuar gera mal-estar – e para a Instituição, por não ter
recebido o conteúdo, o fato de poder ignorá-lo.
ENEGEP 2004 ABEPRO 2596
XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004
Retomamos Clot ( 2000, p.120). “A atividade retirada, oculta ou reprimida, nem por isto está
ausente. A inatividade imposta tem todo o seu peso na atividade presente. Pretender não
considerá-la na análise do trabalho é o mesmo que extrair artificialmente aqueles que
trabalham dos conflitos vitais dos quais eles mesmo buscam liberar-se no real”.
Um técnico de segurança, sobre sua convicção da necessidade de restituição, fala:
“Só dele saber, já pode ser uma ajuda”, mostra a possibilidade de restituição como
resignificação da função prevenção. Retomando Guérin et al., (2001, p. 192) “[...] os
departamentos de segurança levantam questões que ultrapassam o quadro regulamentar e
normativo das condições de trabalho. Os técnicos passam a observar e dialogar com os
operadores antes de fazer escolhas técnicas e organizacionais, [...]”.
A confrontação com a realidade faz diferença. O ato de escutar o outro evitando o papel de
fiscalizador, (muito comum nos serviços de segurança), o cuidado na lida com as queixas, a
vontade e a responsabilidade de responder, o compromisso com a comprovação dos fatos
independente das pressões administrativas ou oriundas dos trabalhadores, mostram a conduta
do técnico de segurança e sedimentam sua postura profissional, que se rende diante da
realidade que exige coerência.
4. Considerações sobre o resultado da pesquisa
Ficou confirmada a falta de integração entre os programas e entre os profissionais de
prevenção, evidenciada pela estrutura do serviço e pelo sistema de cobranças de resultados.
Demonstrou-se a atuação do técnico de segurança entremeada por constrangimentos causados
pela incoerência entre as prescrições e as possibilidades reais de realização do trabalho.
Constatou-se o fator revelador da atuação do técnico de segurança: seu comprometimento
com o trabalho.
Apontou-se a ausência de encaminhamentos pela instituição das informações coletadas pelo
técnico de segurança como outro grande dificultador.
Evidenciou-se o ponto crítico do trabalho do técnico de segurança como a falta de respostas e
as exclusões de informações, demonstrando que, quanto maior a possibilidade de restituição
ao bancários, menor o conteúdo retido ou excluído pelo técnico de segurança.
A pesquisa ainda evidenciou o procedimento ético ao procurar a fidedignidade dos fatos, a
supervalorização da resposta – confirmada na prontidão e completude das informações
quando da validação da pesquisa – e seu ideal de ajudador, comum à categoria, no Banco
pesquisado.
E finalmente, conhecer uma faceta do trabalho de prevenção, sob o ponto de vista do técnico
de segurança, consideramos ser um bom início para reverem os posicionamentos e ensejar
uma atuação prática mais efetiva. Uma vez melhorada a investigação do trabalho, ampliam-se
as possibilidades de resposta do profissional de prevenção, de modo a permitir-lhe atingir os
resultados conforme sua missão, como o que este estudo pretendeu contribuir.
Referências
CLOT, Y. La fonction psychologique du travail. 2ª. Ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2000.
CODO & ALMEIDA. Sofrimento psíquico nas organizações. Petrópolis: Vozes, 1995.
CODO et. al., Indivíduo, trabalho e sofrimento. Petrópolis: Vozes, 1993.
ENEGEP 2004 ABEPRO 2597
XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004
GARRIGOU, A., FASSINA. A .W., BRUN, J,P.,SIX, F., CHESNAIS, M., CRU, D., As atividades dos
profissionais de segurança: uma problemática desconhecida. Artigo apresentado na Abergo, 1999.
GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. São Paulo: Editora
Edgard Blücher LTDA, 2001.
LIMA,M.E.A. , ARAUJO, J. N. G., LIMA. F. P. A . L.E.R - lesões por esforços repetitivos: dimensões
ergonômicas no trabalho. Belo Horizonte: Health, 1997.
LLORY, M. Acidentes industriais: o custo do silêncio. Editora MultiMais 1999.
MANUAL de Legislação Atlas – Segurança e Medicina do Trabalho. 47 Ed. Lei 6.514 de 22 de dezembro de
1977. São Paulo: Editora Atlas S. A. 2000.
PEETERS, S. , DUARTE, F.J.C.M., GARRIGOU, A., COTTENAZ, G.P., CHABUT, F., LELLES, S.,
Segurança organization do Trabalho: que trabalho é esse? Artigo apresentado no XXIII ENEGEP. Ouro Preto:
2003
SILVEIRA, A. M.(Org.) A saúde no trabalho bancário. São Paulo: Gráfica do Sindicato dos Bancários, 1993.
SILVA, E. Seligmann; SATO, L. e DÉLIA, A. Trabalho e Saúde Mental do Bancário. Pesquisa. São Paulo:
DIESAT, 1995.(Apostila mimeo).
VYGOSTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
WISNER, A. Por dentro do trabalho. ergonomia: método e técnica. São Paulo: Ed. Oboré, 1987.
ENEGEP 2004 ABEPRO 2598
Você também pode gostar
- Entendendo o Aprendizado Canino - 2 Ed Diagramação Max Set 019Documento40 páginasEntendendo o Aprendizado Canino - 2 Ed Diagramação Max Set 019Alexsander Silva100% (1)
- Apostila+anbioapropriada ArturvasconcelosDocumento43 páginasApostila+anbioapropriada ArturvasconcelosEliane ArantesAinda não há avaliações
- Plano de Aula 05.06.2019Documento2 páginasPlano de Aula 05.06.2019IsaacBiologo0% (1)
- Laudo Teste de CargaDocumento67 páginasLaudo Teste de CargaPatrick SilvaAinda não há avaliações
- AMPHIBIADocumento83 páginasAMPHIBIAPaula RiosAinda não há avaliações
- DODF 234 16-12-2021 INTEGRA-páginas-52-53Documento2 páginasDODF 234 16-12-2021 INTEGRA-páginas-52-53Marc ArnoldiAinda não há avaliações
- Ritual Do HemafroditoDocumento8 páginasRitual Do HemafroditoluiztigrefreitasAinda não há avaliações
- TudoGostoso - Bolo de Liquidificador - Imprimir ReceitaDocumento1 páginaTudoGostoso - Bolo de Liquidificador - Imprimir ReceitaWillian AfonsoAinda não há avaliações
- FT Lub Ind Turbinas Lubrax Turbina PlusDocumento1 páginaFT Lub Ind Turbinas Lubrax Turbina PlusJose agustinhoAinda não há avaliações
- Simulado 5 (Port. 5º Ano - Blog Do Prof. Warles)Documento4 páginasSimulado 5 (Port. 5º Ano - Blog Do Prof. Warles)Fagner Chiafarelli100% (1)
- Lista Sites Porno Duro DurinhoDocumento6 páginasLista Sites Porno Duro Durinhobano1501Ainda não há avaliações
- Phat #1Documento5 páginasPhat #1igor100% (1)
- Síndrome de Hunter Ou Mucopolissacaridose Tipo IDocumento3 páginasSíndrome de Hunter Ou Mucopolissacaridose Tipo IEdeilza FerreiraAinda não há avaliações
- Fffcmpa Fisica 2006Documento5 páginasFffcmpa Fisica 2006lalaw24Ainda não há avaliações
- Alerta Acidente Afastamento Manobra DPDocumento2 páginasAlerta Acidente Afastamento Manobra DPFelipe MarinhoAinda não há avaliações
- CerebeloDocumento32 páginasCerebeloCAMYLINHAAinda não há avaliações
- PenielDocumento5 páginasPenielJean DantasAinda não há avaliações
- Gabarito Digitador FACETDocumento1 páginaGabarito Digitador FACETᎡꪖ¡'ᥢAinda não há avaliações
- UntitledDocumento817 páginasUntitledMayara AzevedoAinda não há avaliações
- Familia EscolaDocumento14 páginasFamilia Escolamspeth_1Ainda não há avaliações
- PDF Nofap GrátisDocumento20 páginasPDF Nofap GrátislucasdevergennesAinda não há avaliações
- Salamandra. Figo - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaSalamandra. Figo - Pesquisa Googleivai vinutoAinda não há avaliações
- PTS I PDFDocumento11 páginasPTS I PDFseraphamael1114Ainda não há avaliações
- Laudo de Segurança Contra Incendio ARXXDocumento12 páginasLaudo de Segurança Contra Incendio ARXXCaio Cedraz PrinzAinda não há avaliações
- Cloridrato de Hidroxilamina-FispqDocumento3 páginasCloridrato de Hidroxilamina-FispqpmarcelopontesAinda não há avaliações
- Atividade 2Documento6 páginasAtividade 2evertonsilva244824Ainda não há avaliações
- Abuso Intrafamiliar Contra Crianças e AdolescentesDocumento24 páginasAbuso Intrafamiliar Contra Crianças e AdolescentesDanielle LemeAinda não há avaliações
- EletrodepcobreDocumento10 páginasEletrodepcobreprimomaschio100% (1)
- Coca Cola Curiosidades PlanilhaDocumento29 páginasCoca Cola Curiosidades Planilhaparaujomouraalves38Ainda não há avaliações
- Analise de Risco Do PolicorteDocumento3 páginasAnalise de Risco Do PolicortePeterson Silva100% (1)