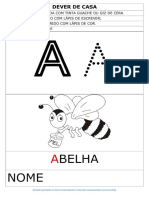Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Do Mini Que
Do Mini Que
Enviado por
rafael_netof0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações3 páginasDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações3 páginasDo Mini Que
Do Mini Que
Enviado por
rafael_netofDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
INCLUSÃO DIGITAL
Chico Science já dizia que os computadores fazem arte. Os especialistas
concordam e acrescentam: também fazem cidadania.
O que é inclusão digital? O termo é tão popular na mídia que já se tornou um
jargão. É comum ver empresas e governos falando em democratização do acesso para cá
e inclusão digital para lá, sem prestar atenção se a tal inclusão promove os efeitos
desejados. O problema é que virou moda falar do assunto, ainda mais no Brasil, com
tantas dificuldades – impostos, burocracia, educação – para facilitar o acesso aos
computadores. É que inclusão digital significa, antes de tudo, melhorar as condições de
vida de uma determinada região ou comunidade com ajuda da tecnologia.
A expressão “inclusão digital” nasceu do termo “digital divide”, que em inglês
significa algo como “divisória digital”. Hoje, a depender do contexto, é comum ler
expressões similares como democratização da informação, universalização da
tecnologia e outras variantes parecidas e politicamente corretas. Em termos concretos,
incluir digitalmente não é apenas “alfabetizar” a pessoa em Informática, mas também
melhorar os quadros sociais a partir do manuseio dos computadores.
O erro de interpretação é comum, porque muita gente acha que incluir
digitalmente é colocar computadores na frente das pessoas e apenas ensiná-las a usar
Windows e pacotes de escritório. A analogia errônea tende a irritar os especialistas e
ajuda a propagar cenários surreais da chamada inclusão digital, como é o caso de
comunidades ou escolas que recebem computadores novinhos em folha, mas que nunca
são utilizados porque não há telefone para conectar à Internet ou porque faltam
professores qualificados para repassar o conhecimento necessário.
Desde a década de 90, acadêmicos e especialistas em Tecnologia da Informação
(TI) deram início a uma série de debates sobre um quadro preocupante e que pouco
mudou: os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, sobretudo os mais pobres,
estão perdendo o bonde da informação. Sem os meios necessários (computadores e
laboratórios) e recursos apropriados (Internet rápida, telecomunicações), esses países
deixam para trás um amplo leque de opções para aquecer a economia e melhorar os
baixos índices sociais.
Somente colocar um computador na mão das pessoas ou vendê-lo a um
preço menor não é, definitivamente, inclusão digital. É preciso ensiná-las a utilizá-
lo em benefício próprio e coletivo.
Pensadores como Manuel Castells, um dos ícones nos estudos sociais a partir de
novas tecnologias, pondera que a sociedade está passando por uma revolução
informacional que pode ser comparada às grandes guinadas da História. Na clássica
trilogia “A Era da Informação”, o autor é enfático em mesclar economia, cultura e
informação a partir de uma inclusão digital de verdade. Muitos imaginam que, em
países pobres, não se deveria nem falar em inclusão digital enquanto há pessoas com
fome e desempregadas na rua. O problema é que são as nações pobres as quais,
justamente, costumam se beneficiar melhor das ações includentes.
Mark Warschauer, professor na Universidade da Califórnia e integrante do
Centro de Estudos em TI e Organizações (CRITO, do inglês), descreve que em países
como o Brasil, a inclusão digital precisa ser acentuada com mais prática e menos teoria.
O pensamento é compartilhado por William Mitchell, autor do livro E-Topia, que
também se dedica a estudar o impacto social via inclusão digital. “Comunidades de
baixa renda tendem a atrair menos investimentos em infra-estruturas de
telecomunicações e tecnologias, gerando menos motivação de empresas e governos. Em
lugares assim, há um risco óbvio de diminuir ainda mais as ofertas de bons empregos e
serviços para todos daquela comunidade,” enfatiza Mitchell, em um cenário bastante
conhecido no Brasil.
O professor Adilson Cabral, doutorando em Comunicação Social e estudioso do
tema, considera até impreciso utilizar o termo inclusão digital atualmente, porque não
mostra à sociedade o contexto social envolvido na questão. “Preferimos a idéia de
apropriação social das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), cuja relação
direta é a tomada de consciência e cidadania nas comunidades”, explica. Ele critica a
atuação de muitos laboratórios públicos de informática, alguns chamados de
“telecentros”, porque muitas vezes os próprios organizadores não têm noção de
objetivos e propósitos na hora de ensinar pessoas a usar o computador.
“Não adianta apenas oferecer acesso à Internet e editor de textos. A gente precisa
transformar a perspectiva de vida das pessoas, buscar soluções práticas que melhorem a
vida desses novos usuários”, sugere Cabral. A crítica é compartilhada por Warschauer,
que durante a última visita ao Brasil, ficou espantado com a falta de objetivos claros dos
inúmeros telecentros instalados pelos governos nas cidades, especialmente em São
Paulo, embora tenha elogiado bastante as atividades do CDI.
O acesso às mídias digitais não é uma exclusividade da elite. Há vários
caminhos de melhorar o cenário atual de exclusão, com relações custo-benefício
razoáveis. A instalação de computadores nas escolas, por exemplo, é uma das
alternativas que se mostraram mundialmente eficientes nos países em desenvolvimento
— desde que seja levada a sério, com instrutores, equipamentos funcionando e diretrizes
claras. São essas as grandes dificuldades. Em geral, o pessoal envia os computadores,
discursa, sai no jornal e pronto. Cada um que se vire. Com diretrizes sérias, o aluno não
apenas aprende o que tem que aprender na sala de aula, mas também sai da escola com
um ofício. A longo prazo, é notória a inclusão social que ações assim podem gerar.
O que sãoCIDs?
Os Centros de Inclusão Digital ou CIDs são laboratórios de informática criados
para as comunidades carentes, com o objetivo de promover a inclusão digital de suas
populações e estimular a responsabilidade social, o empreendedorismo e ampliar as
noções de cidadania.
Cada CID funciona sob um conceito de auto-sustentabilidade com parcerias
locais de entidades sem fins lucrativos, empresas, universidades, órgãos públicos,
universidades, instituições, ONGs entre outros. Esses recursos visam a propiciar um
ambiente virtual e presencial à comunidade local e um espaço de aprendizagem onde os
alunos podem acessar os cursos da Escola Virtual e usufruir de recursos tecnológicos
aos quais, normalmente, não teriam acesso.
O projeto CIDs nasceu a partir das parcerias que desde 1997 a Fundação
Bradesco vem firmando com a secretaria de educação de Estado, empresas
multinacionais do setor de Tecnologia da Informação (Microsoft, Cisco, Intel) e
entidades internacionais como o MIT-Media Lab e o Museu da Ciências, de Boston.
Essas parcerias contemplam o desenvolvimento de atividades pedagógicas e a formação
de alunos-monitores que prestam serviços voluntários nos laboratórios de informática
das escolas da Fundação. Recentemente os CIDs passaram a fazer parte de um projeto
maior, que é o das Redes de Inclusão Social. A Fundação Bradesco está fomentando
ações de responsabilidade social executadas por esses parceiros, utilizando a estrutura
dos CIDs como centro de organização e apoio.
Você também pode gostar
- Ed 2021 B Caderno Aluno - TaynaraDocumento8 páginasEd 2021 B Caderno Aluno - TaynaraTaynara BissAinda não há avaliações
- Apostila Alfabeto PARA BAIXARDocumento27 páginasApostila Alfabeto PARA BAIXAROsvaldo Portela Oliveira100% (2)
- Modelo de Negócios CanvasDocumento17 páginasModelo de Negócios CanvasLuis Felipe Carvalho100% (2)
- Google Privacy Policy PT-BRDocumento29 páginasGoogle Privacy Policy PT-BRKaroline RochaAinda não há avaliações
- TCC Crimes DigitaisDocumento43 páginasTCC Crimes DigitaisGiulianoMacarrão100% (1)
- Gestão de Transportes - Unidade 7 PDFDocumento14 páginasGestão de Transportes - Unidade 7 PDFBruna BonatoAinda não há avaliações
- SOBRAL Live 179 Base A Diferenc A Entre Aqueles Que Escalam e Os Que Ficam PequenosDocumento14 páginasSOBRAL Live 179 Base A Diferenc A Entre Aqueles Que Escalam e Os Que Ficam PequenosMothership AgenciaAinda não há avaliações
- Guia Básico Ensino HíbridoDocumento46 páginasGuia Básico Ensino HíbridoMary S.A.Ainda não há avaliações
- Curso 223678 Aula 01 849e CompletoDocumento147 páginasCurso 223678 Aula 01 849e Completoeduardo neto100% (2)
- Centro de Formação Cajimoto DDocumento11 páginasCentro de Formação Cajimoto DjoaoAinda não há avaliações
- Arquitetura de SoftwareDocumento4 páginasArquitetura de SoftwareMauricio AraujoAinda não há avaliações
- 03 - Resumo de Informática - Saneago Novo - OkDocumento64 páginas03 - Resumo de Informática - Saneago Novo - OkHumberto JulioAinda não há avaliações
- 2022 TCC GmdeazevedonetoDocumento79 páginas2022 TCC GmdeazevedonetoAvelino Vagner Da SilvaAinda não há avaliações
- ProvaDocumento13 páginasProvaGustavo FariaAinda não há avaliações
- Documento de Requisitos - Imobiliaria Ilha GrandeDocumento79 páginasDocumento de Requisitos - Imobiliaria Ilha GrandeFabio MonfardiniAinda não há avaliações
- Redes de ComputadoresDocumento12 páginasRedes de ComputadoresIvanise Leite AlvesAinda não há avaliações
- Histã Ria 2⺠Ano - Atividade 10 19-04-21Documento4 páginasHistã Ria 2⺠Ano - Atividade 10 19-04-21Eduarda Medeiros100% (1)
- Trader EsportivoDocumento56 páginasTrader EsportivoAleksanderBrandaoAinda não há avaliações
- Monografia UCSALDocumento52 páginasMonografia UCSALDécio MalhoAinda não há avaliações
- Aula 01Documento85 páginasAula 01Genival CarrijoAinda não há avaliações
- Ebook Guia Pratico Email Zimbra Hospedagem de Sites SECNETDocumento30 páginasEbook Guia Pratico Email Zimbra Hospedagem de Sites SECNETJunior SouzaAinda não há avaliações
- Rádio Web & Podcast. Conceitos e Aplicações No Ciberespaço EducativoDocumento9 páginasRádio Web & Podcast. Conceitos e Aplicações No Ciberespaço EducativoarquivoartesdesenhoAinda não há avaliações
- CiberculturaDocumento14 páginasCiberculturaMeg Maced100% (1)
- Quintao - Aula 10 - Redes de Computadores e Topicos RelacionadosDocumento153 páginasQuintao - Aula 10 - Redes de Computadores e Topicos Relacionadosedilsonlucena1993100% (1)
- Criando Um Formulário de Registro Com Validação Reativa Usando Alpine - Js e Tailwind CSSDocumento16 páginasCriando Um Formulário de Registro Com Validação Reativa Usando Alpine - Js e Tailwind CSSosvaldo paizaAinda não há avaliações
- Ng5 Tecnologias de Informao e Comunicao 1223816201167243 8Documento11 páginasNg5 Tecnologias de Informao e Comunicao 1223816201167243 8Tânia SantosAinda não há avaliações
- Lab-1 Rota Estática PDFDocumento20 páginasLab-1 Rota Estática PDFEndson SantosAinda não há avaliações
- Etapa 2 - Especificação Do Projecto Integrado - TsiDocumento6 páginasEtapa 2 - Especificação Do Projecto Integrado - TsiTiago Júnior100% (1)
- Edital Verticalizado PRF Focus ConcursosDocumento19 páginasEdital Verticalizado PRF Focus Concursos1234FlordeLotus1234Ainda não há avaliações
- AMARODocumento56 páginasAMAROnanapmeloAinda não há avaliações