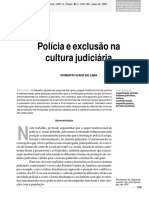Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
COSTA, S - Teoria Por Adição
COSTA, S - Teoria Por Adição
Enviado por
Antonio Santos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
48 visualizações28 páginasTítulo original
COSTA, S- Teoria Por Adição
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
48 visualizações28 páginasCOSTA, S - Teoria Por Adição
COSTA, S - Teoria Por Adição
Enviado por
Antonio SantosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 28
Teoria por Adigéo
Sérgio Costa”
Introdugao
A alusio no titulo deste artigo ao ensaio classico “Nacional por sub-
ttacdo”, do critico literétio Roberto Schwarz (1987), aptesenta um objetivo
duplo.
Oprtimeito é metodolégico. Trata-se de relembrar a tejei¢ao de Schwarz
4 critica recorrente desde o século XIX ao cardter postico, inauténtico da
cultura brasileira. Para Schwarz, a presuncio de que é possivel construir
uma cultura nacional original ope, erroneamente, nacional a estrangeiro,
esquecendo-se que as discusses sobre otiginalidade e a falta dela fazem
parte da propria dinamica cultural e das selagdes de poder ai implicadas.
‘Transportadas para a Sociologia, as reflexes de Schwatz servem como ponto
de fuga para uma teflexio sobre o sentido da producio teérica num contex-
to empirico ¢ académico diferente tanto daquele no qual a Sociologia nas-
ceu como daqueles nos quais as principais disputas pela hegemonia na disciplina
tém lugar hoje. Tanto como na cultura, Parece-me equivoca a aspiracgio de
uma teoria sociolégica particular adequada a suposta singularidade brasileira.
Mais promissor, sem diivida, € 0 projeto seguido em outras regides de
“desprovincializar a Sociologia”, qual seja, patticipar das discussées nucleares
da disciplina para mostrar que a teoria social cuja referéncia empitica anica e
exclusiva sio os padr6es de sociabilidade observaveis entre a pequena parte da
populacao mundial que vive nas regides mais ricas do globo nao tem sustenta-
G40 e muito menos futuro (Randeria, 2000; Chatterjee, 2008).'
*
Sérgio Costa & professor titular de Sociologia ¢ diretor do Instituto de Estudos Latino-
Americanos da Freie Universitit Berlin, Alemanha,
A expresstio desprovincializar a Sociologia se inspira em D. Chakrabarty (2000), que, sob
a divisa “provincializar a Europa”, busca radicalizar e tanscendero universalismo liberal,
‘mostrando que o racionalismo e a ciéncia, antes de serem marcas culturais europeias, sio
1
26 ‘SERGIo Costa,
‘A segunda intengao do titulo é caracterizar o movimento no ambito
da produgio tedrica na Sociologia brasileira que a presente contribuicio
pretende apontar. A tese central defendida aqui é a de que nao existe, hoje,
uma reflexao na Sociologia brasileira orientada, diretamente, para intervir
nos principais debates tedricos desenvolvidos no ambito da disciplina. Nao
obstante, muitos achados da investigagio sociolégica brasileira em curso
implicam a revisio de algumas das premissas sobre as quais assentam as
teotias aceitas como vilidas. A ideia de adigao alude, assim, a expectativa de
que a teoria vai sendo implicitamente revista 4 medida que se vo acumu-
lando interpretaces de fendmenos em curso € que desafiam as regularida-
des descritas nas teorias socioldgicas vigentes.
Este attigo se divide em trés sec6es, além de umas breves notas con-
clusivas. Primeiro, discute-se a dinamica da producio teérica e alguns axio-
mas teoricos largamente partilhados no ambito da Sociologia. A segunda
parte representa uma tentativa de sistematizar, usando como material de
referéncia attigos publicados na Revista Brasileira de Ciéncias Sociais (RBCS), a
maneira como a teoria socioldgica vem sendo discutida na Sociologia brasi-
eira. Por ultimo, na terceita segao, revinem-se evidéncias de que os resulta-
dos de pesquisa apresentados em artigos publicados na RBCS colocam em
questo alguns dos axiomas centrais da teoria sociolégica.
Geopolitica do conhecimento sociolégico
Com aexpressio geopolitica emprestada do vocabulitio bélico, o con-
junto de autores reunidos no Grupo Modernidad /Colonialidad buscou evi-
denciar, nos tiltimos anos, que a produgiio ea validagao de conhecimentos nas
sociedades modernas reproduzem formas coloniais de dominacio (ver, entre
outros, Dussel, 2000; Mignolo, 2000; Quijano, 2000; Walsh, 2007). A ins-
pitacio que anima esses autores sao seguramente os trabalhos pioneiros de
Foucault (entre outros, 1972 [1966]), os quais buscam romper o mito da
neutralidade do conhecimento cientifico 20 mostrar que esses se dio no con-
texto de relacdes assimétricas de dominagao € que a instituicao ciéncia nao
parte de uma historia global, no intetior da qual 0 monopolio “ocidental” na defini¢ao do
fodemo foi construido tanto com o auxilio do imperialismo europeu, como com a parti-
cipagio direta do mundo “no ocidental”. De forma correlata, desprovincializar a Sociolo-
gia implica romper com 0 eurocentrismo da disciplina, provendo-a de teorias e mérodos
aptos ao estudo da sociedade mundial em seu conjunto,
‘TEoRIA Por ADIGA 27
escapa as lutas de poder presentes em outras esferas da sociedade. A novidade
trazida pelas discussdes no Ambito do Grupo Modernidad/Colonialidad e
que € de crucial importancia para areflexio em torno da producio teérica na
Sociologia brasileira é a explicitagao dos lacos entre ciéncia, modernidade e
colonialidade.
Com efeito, fica evidente, nessas discuss6es, que a propria divisao de
trabalho estabelecida j4 no momento fundacional das Ciéncias Sociais mo-
dernas implica uma posicao subalterna 4 Sociologia ptoduzida fora da Euro-
pa. Afinal, no momento em que se define que disciplinas como Sociologia e
Cééncia Politica se especializariam no estudo das sociedades modernas, a saber,
as da Europa Ocidental e depois a norte-americana, enquanto disciplinas como
Antropologia e Etnologia se dedicariam as “demais” sociedades,institucionaliza-
se também uma hierarquia nos desenvolvimentos da disciplina nas diferentes
regides do mundo.
Nesse movimento, atribui-se 4 Sociologia europeia e depois norte-
americana 0 monopodlio de definir o que € moderno. Coube também as
academias das sociedades tratadas como modernas produzir teorias ¢ indica-
es para aplicacao das técnicas da investigagao sociologica. Nessa logica, as |
“outras” regiGes do mundo poderiam se tornar receptoras das teorias e méto-
dos sociol6gicos, depois de terem chegado, efetivamente, a modernidade,
condicao necessiria para que pudessem se tornar objeto de interesse da Socio-
logia (Boatca e Costa, 2010, p. 16; Hall, 1996; Wallerstein, 1996)2
A histéria de constituigdo da Sociologia como disciplina em seus vin-
culos com o padtio de modemidade europeu e norte-ameticano lega d inves-
tigacdo socioldgica certo partispris que distorce a andlise da sociedade mundial
moderna em suas miltiplas e distintas configuragGes regionais, Por sua
centralidade para a disciplina e pela importincia para o argumento desenvol-
vido neste texto, destacam-se e descrevem-se muito brevemente trés desses
axiomas problematicos da disciplina: a interpretacao eutocéntrica da moder-
nidade, a compreensio formalista da politica e do Estado modernos, a con-
cepgao essencialista do sujeito moderno.
Fabio Wanderley Reis (1991) mostra que essa légica colonial tem uma contrapartida
intemano Brasil, na medida em que se atribui ao centro-sul do pais o papel de desenvolver
areflexiio mais abstrata, enquanto as demais regides tratam de seus problemas regionais. O
autor isoniza essa pretensa divisio de trabalho coma frase: “Paris pensa o mundo, Sio Paulo
pensa o Brasil, Recife pensa o Nordeste”.
a Serato Cosra
Interpretagado eurocéntrica da modernidade
A convicgao de que a histéria moderna representa a continua ¢ heroica
ocidentalizacio do mundo, isto é, a expansao das instituicdes, das formas
culturais de vida e modelos de sociabilidade surgidos na Europa Ocidental a
partir do século XVIII para todas as regides do planeta acompanha a Sociolo-
gia desde o ber¢o. Dessa conviccao, deriva-se uma orientacio metodolégica
que persiste, de algam modo, ainda hoje, qual seja, assumir as normas sociais,
as estrututas ¢ os valores encontrados nas sociedades denominadas ocidentais
como 0 parametro universal que define 0 que so sociedades modernas. As-
sim, sob a lente da Sociologia, as especificidades das sociedades “nfo ociden-
tais” passama figurar como auséncia c incompletude em face do padrfio modemo,
depreendido exclusivamente das “sociedades ocidentais”.
Essa metodologia que compara implicitamente os desenvolvimentos
observados na Europae, depois, nos Estados Unidos, aceitos como padrio,
com as c6pias necessariamente imperfeitas da modernidade nas demais re-
gides do mundo, foi levada ao paroxismo pela teoria da modernizacio. Essa
corrente de pensamento surgida nos Estados Unidos no periodo pés-guer-
ra dominou o debate macrossociolégico das tiltimas seis décadas em todo 0
mundo. Conforme a esclarecedora sistematizacio de Knébl (2001, p. 32 ss),
os fundamentos basicos da teoria da modernizacao sao:
(1) Amodetnizacio se inicia na Europa com a Revolugio Industrial e
alcanga a partir dai todo o mundo.
(2) Ainda que a modernizacio scja tratada como um fendmeno glo-
bal, seus pressupostos estrutural-funcionalistas levam a escola da
modernizagao a estudar os processos modernizantes, exclusivamen-
te, no ambito das sociedades nacionais, tratadas como totalidades
fechadas. A modernizacao € vista, assim, como um processo
enddgeno, linear e uniforme, nao se levando em conta nem a in-
sergao global das sociedades nacionais, nem os distintos padres
de modernizacao observados nos diferentes paises?
O tratamento das sociedades nacionais como unidades de andlises fechadas é uma limita-
do propria nao apenas da teotia da modemizacio, mas das principais teotias sociologicas.
Em parte a cegueira para as interdependéncias entre desenvolvimentos nacionais e globais,
referida no debate contemporineo como nacionalisme metadoligio, se deve a0 proprio
processo de institucionalizacio das Ciéncias Sociais ocorrido prioritariamente no Ambito
nacional. Para uma abrangente reconstrucio desse debate, ver Chernillo (2010).
‘Teoria por ADICAO 2
(3) Amodetnizagio implicaa transicao entre dois polos tratados como
antitéticos: tradi¢ao e modernidade. A transi¢So da tradi¢o A mo-
dernidade é tratada também como um fendmeno que abrange os
diferentes campos da vida social, de sorte que a modemizagio eco-
nOmica (industrializagao, progresso tecnolégico etc.) se faz acom-
panhar da modernizagao social (secularizacio, individualizagao) ¢
politica (democratizagao).
Nas sociedades do chamado Terceiro Mundo imperam valores
patticulatistas e funcionalmente difusos que bloqueiam a moder-
nizagao. Nas sociedades da Europa Central e América do Norte,
por contraste, vigoram valores universalistas, seculares e orienta-
dos a produtividade e 4 competicao, favorecendo o desenvolvi-
mento. fi
Desde os anos 1960, alguns pressupostos da teoria da modernizacio
passaram a ser colocados em questao. Assim, a ilusio do desenvolvimento
endégeno, observado e analisado no ambito de uma tinica sociedade, €
desautorizada pela teoria da dependéncia (Cardoso e Faletto, 1969) que
mostra de maneira itrefutavel que o bem-estar de algumas sociedades e a
pobreza de outras sao fendmenos que se condicionam mutuamente. Nao
obstante, as outtas premissas que constituem o nticleo metodolégico da
teoria da modernizacio, qual seja, a compreensio de que o padrio moderno
€ 0 europeue, depois, o norte-americano, sio reproduzidas irrefletidamente
pela teoria da dependéncia e, mais tarde, pelo grosso das teotias sociais mais
populares sobre a globalizacao como a teoria da modernizacio reflexiva de
Giddens (1991) e Beck (1997) eas reflexes sobre a constelacio pés-nacional
de Habermas (1998) — para uma critica ver Costa (2006a).
A partir de meados dos anos 1990, a interpretacio eurocéntrica da mo-
demnidade prdpriaas teorias macrossociolégicas dominantes vem sendo criticada
de forma contundente e consistente segundo, principalmente, duas perspectivas
distintas: 0 enfoque das modernidades miiltiplas ¢ os estudos pés-coloniais.
Pelo enfoque das modernidades miiltiplas (Eisenstadt, 2000), a modernizacio
nao é um processo linear e uniforme, mas diverso, isto é,a modetnizacio segue
cursos diferentes no ambito dos distintos eixos civilizatdrios nos quais a moder-
nidade global se desenvolve. Mesmo admitindo que a Europa constituio berco
do nticleo cultural que define a modernidade, Eisenstadt e seus seguidores mos-
tram que o programa cultural moderno pode assumir formas sociais e politicas
30 ‘SéRcio Costa
completamente diversas, dependendo de sua materializagao concreta nos dife-
rentes contextos regionais.*
De forma ainda mais radical e definitiva, os estudos pés-coloniais, com
© conceito de modernidade entrelacada (entangled modemit)), mostram que
fenémenos como o colonialismo e a escravidio modema acoplaram, de ma-
neira iniludivel e inseparavel, as diferentes regides do mundo desde os
ptimordios da Era Moderna. Nesse contexto, a presuncao da precedéncia
europeia na experimentacio da modernidade é ela mesma parte da historia
da construgo das relacdes de poder assimétricas que marcam a modernida-
de. Os estudos pés-coloniais mostram que a modernidade, diferentemente
da forma como é representada na historiografia, nas Ciéncias Sociais e nos
relatos politicos, nao é fendmeno nacional ou regional, mas sim, desde sua
origem, um fendmeno global (ver, entre outros, Conrad e Randeria, 2002;
‘Therborn, 2003; Bhambra, 2010).
Compreensao formalista da politica e do Estado modernos
A concepgio do Estado e da politica propriamente sociolégica, por-
tanto distinta das definicGes filos6ficas precedentes, foi cunhada original-
mente por Weber (1922) no livro clissico Economia e sociedade. De acordo
com seu conceito, o Estado se define pelo monopdlio do uso legitimo da
violéncia em determinado tertitorio. A politica, por sua vez, é definida se-
gundo a perspectiva estatal, uma vez que compreende, fundamentalmente,
as disputas das elites por cargos e fungGes no ambito do Estado.
Outro importante legado de Weber a Sociologia Politica é sua distin-
ao dos tipos de dominagio politica, a saber, a dominacao racional ou legal,
a dominagio tradicional e a carismatica. A dominagio legitimada racional ou
legalmente € tomada como a forma moderna por exceléncia de governo e
enfoque das modernidades miiltiplas vem inspirando importantes estudos no campo
da Sociologia histérico-comparativa (p. ex., Kndbl, 2007). Nao obstante, esse enfoque
vem também merecendo criticas por nao abandonar a primazia cronolégica e ontol6gica
da Europa na definicio do programa moderno (Spohn, 2006).
Com algumas variagdes, a critica & interpretagio eurocéntrica da modemidade elaborada
no ambito dos estudos pés-coloniais aparece refletida, na América Latina e Estados Uni-
dos, no trabalho do grupo Modernidad/Colonialidad referido anteriormente. Essas con-
tribuicdes so mencionadas comumente como estudos decoloniais (ver Kult, 2009; para
‘uma critica importante aos estudos decoloniais, ver Domingues, 2009).
‘Teoria Por ADICAO 21
encontra desenvolvimentos nas teorias sociolégicas subsequentes. Trata-se aqui
de analisat as condi¢des para que se forme, no Ambito do tertitétio controla-
do por um Estado nacional detetminado, uma comunidade politica integra
da por lacos impessoais de solidariedade e habilitada a escolhet e sustentar um
governo legal e legitimo (Brunkhorst, 2002).
A imagem weberiana de um Estado definido pelo monopélio do uso
legitimo da violéncia em determinado tetrit6rio é reproduzida sem grandes
variagGes na América Latina no ambito das teorias da transicio e, depois, da
consolidagaio democratica, as quais influenciam diretamente a produgao soci-
ol6gica sobre a democratizacao na tegiao. As teorias da transi¢ao democritica
definem a democracia como o momento em que as regras do jogo politico
tém poder imperativo sobre a vontade dos atores individuais de sorte a
teinstaurar a incerteza dos resultados das disputas politicas (O’Donnel,
Whitehead e Schmitter, 1986). Ao perceberem que, a despeito do restabeleci-
mento das instituicGes e regras democtaticas, as relacdes politicas na América
Latina continuavam regidas pelo autoritarismo, os tedricos da transicio bus-
caram, no dimbito das teorias da consolidacfo democritica (Mendez, O’Donnell
€ Pinheiro, 2000; O'Donnell, 2007), cortigir sua perspectiva. A énfase nesse
momento se volta para as deficiéncias do Estado de diteito, buscando-se res-
saltar as fragilidades do Estado na América Latina para fazer valer alei e garan-
tir plenos direitos a todos seus cidadios. Nesse contexto, surgem conceitos
como democracias defeituosas, Estados fracassados e cidadania truncada, su-
getindo, implicitamente, a referéncia a um tipo-ideal de Estado e politica no
Ambito dos quais nao haja fissuras entre as leis e a vida social.
A partir dos debates contempordneos no campo da Sociologia Politica
internacional, podem ser apontados problemas variados nessa maneira de in-
terpretar a democratizacao. Inicialmente, cabe destacar que as teorias da teoria
da transicao e da consolidacio, seguindo o legado da teoria da modernizagio,
sio matcadas pelo endogenismo, isto é, tratam as transformacées da politica e
do Estado nacionais sem levar em conta as constri¢ées e possibilidades impos-
tas pelas disputas de poder no ambito da politica mundial, quais sejam, o
papel das organizacGes multilaterais, a pressao de atores transnacionais, seja no
campo econdémico, seja no ambito da sociedade civil etc. Levando em conta
tais fatores, mais adequado parece ser se referir nado a Estados falidos, mas,
como sugere Shalini Randeria (2003) para o caso do Estado indiano, a Esta-
dos astutos (canning states), os quais se mostram capazes de reagit 4s presses
externas privilegiando setores da populacio ¢ penalizando outros.
IAM
SeRGIo Costa
Um problema adicional é 0 elitismo dessas teorias. Inspiradas nos pro-
cessos de constituicao da sociedade civil europeus, elas supunham que a de-
mocratiza¢ao implicava, sobretudo, a alternancia das elites estabelecidas,
Pretensas portadoras de valores democriticos, n0 poder. Nao dispdem, assim,
de instrumentos para explicar a importincia de novos atores sociais, como as
associacées de vizinhos, grupos indigenas ou afrodescendentes no processo de
democratizacao (Boatca e Costa, 2010, p. 22).
Concepgao essencialista do sujeito moderno
Em distingZo ao sujeito cartesiano definido por uma identidade
autocentrada e constitufda pela razio, proprio as concep¢6es iluministas
anteriores 4 Sociologia, o conceito de sujeito que se torna canénico na So-
ciologia é, conforme Stuart Hall (1992, p. 275), aquele que define 0 sujeito
moderno como constituido em suas relacdes com
[--] “outros com significacio”, os quais transmitem ao sujeito valores,
significados e simbolos — a cultura — dos mundos que ela/ele habita,
[4] © sujeito continua tendo uma esséncia interna nuclear, qual seja,
um “eu verdadeito”, mas fotmado e modificado em continuo diflogo
com mundos culturais “externos” e com as identidades que tais mun-
dos oferecem,
G. H. Mead, C. H. Cooley ¢ os interacionistas simbélicos foram as
figuras centrais no desenvolvimento dos contornos de um sujeito que se
constitui a partir de suas relagdes com o mundo social (Hall, 1992). Essa
concepcao é ainda hegeménica na Sociologia e esta no centro de obras
importantes, de ampla circulacao internacional e que sio a base da formagao
em teoria sociolégica oferecida das universidades no apenas no Brasil —
ver, por exemplo, Habermas (1981, 1996), Giddens (1984, 1991), ‘Touraine
(1995). Dessa concep¢ao detivam-se também categorias-chave para ramos
diversos da Sociologia como os conceitos de identidade cultural, identidade
coletiva, os quais igualmente supdem um sujeito (individual ou coletivo)
que, mesmo desempenhando papéis diversos na sociedade, preserva algo
como um micleo ontolégico estavel que confere consisténcia e coeréncia a
esse sujeito.
IRIA POR ADICAO. 33
Para a caractetizacio do sujeito moderno conta também uma distin-
que se torna paradigmatica para a Sociologia, entre as marcas pessoais
coletivas que sio adquiridas (achieved), como a identidade profissional ou
Inutal e aquelas que sfio adscritas (adseribed) como sexo ouraca. Conforme
distingao,
[.] 0 ser humano moderno adquire ¢ escolhe ativamente sua identida:
de pessoal enquanto seu predecessor nas sociedades supostamente
tradicionais nem mesmo conhece a problemitica da formagio
identitiria jé que ele seria socialmente determinado. (Wagner, 1999, p,
58; tradugao minha)
Alguns desenvolvimentos teéricos observados, sobretudo, a partir
s anos 1970 desafiam essa concepgio de sujeito da Sociologia. Trata-se
i, sobretudo, das discussdes estabelecidas no campo do pés-estruturalis-
10 € que mostram que a ideia de um sujeito duradouro e anterior aos nexos
iscursivos de produgao de sentido é equivoca. Para os pés-estruturalistas, a
sa¢io de que possuimos uma identidade unificada que nos acompanha
: toda a vida nos é provida por uma “narrativa do se”, por meio da qual
‘se ressignifica o conjunto de nossas experiéncias a partir de um fio de coe-
réncia e continuidade (Hall, 1992).
As interpretacGes pds-estruturalistas descartam qualquer possibilida-
de de um sujeito, seja individual, seja coletivo, anterior a politica. Por isso,
€m contraposi¢ao as construgées identitdrias homogeneizadoras, preferem
tratar da ideia da diferenca, articulada, contextualmente, nas lacunas de sen-
tido entre as fronteiras culturais. Ou seja, a diferenca é construfda no pro-
‘cesso mesmo de sua manifestacao, ela nao é uma entidade ou expressio de
um estoque cultural acumulado, é um fluxo de representagées, atticuladas
ad hoc, nas entrelinhas das identidades externas totalizantes e essencialistas —
anacao, a classe operaria, os negtos, os migrantes etc. (Costa, 2009).
‘Também aquela distingZo central entre marcas adquiridas ¢ marcas
adsctitas, as primeiras supostamente tipicas das sociedades ¢ dos sujeitos
modernos, as tltimas préptias as sociedades pré-modernas, foi posta em
questo pelas pesquisas nos campos do género, da etnicidade, da imigragio
edo racismo. Esses estudos mostram que nio ha nenhum tipo de evolugio
linear das sociedades que leve ao paulatino desaparecimento das adscticdes
na época moderna. Essas continuam sempre relevantes e so menos ou mais
determinantes conforme o lugar que ocupem nos conflitos politicos em cur-
34 ‘SeRcio Costa
so. Nesse contexto, adscricées raciais ou étnicas ou relativas a género nao sao
residuos de épocas nao modetnas, mas sim marcas permanentemente
ressignificadas, performatizadas e reinterpretadas a partir de seus nexos com
posicgGes e interesses em disputa. A presente viruléncia dos conflitos
etnonacionalistas na Europa contemporanea exemplifica de maneira lapi-
dar como é falaciosa a crenca de que adscrigdes so préprias a sociedades
pré-modernas (ver, por exemplo, Haritaworn, 2010).
Debate tedrico na Revista Brasileira de Ciéncias Sociais
Antes de entrar na andlise do tema desta secao, cabe responder a uma
pergunta até agora adiada: o que se entende propriamente porteoria social?
A resposta nfo é simples, uma vez que a propria definicio do que € teoria
divide os partidarios das distintas correntes tedricas. Nao obstante, é neces-
sario que exista algum denominador comum entre essas varias posicdes que
nos permita afirmar que diferentes /eorias conformam a teoria social classica
ou contemporanea. Em busca desse denominador comum, Joas e Knébl
(2004, p. 37) constataram que no nticleo das teorias sociais em diferentes
épocas est a tentativa de responder a trés questdes centrais:
(1), Que € 0 agit social?
(2) Que éa ordem social?
(3) O que define a mudanea social?
As respostas a essas trés perguntas sao, obviamente, inteiramente di-
vetsas quando se compara, por exemplo, as solugdes oferecidas por
Durkheim, Habermas, Bourdieu ou pelos tedricos da escolha racional. Con-
tudo, o fato de todas essas correntes tedricas buscarem uma formulagio
generalizavel e fundamentada de acordo com os cnones da disciplina para
as trés perguntas anteriores permite classifica-las como teoria social.
Essas trés perguntas possibilitam, ademais, distinguir, pelo menos
conceitualmente, teoria social de diagnéstico de época. A primeira refere-se
ao tratamento de temas especificos em uma época determinada, sem a pre-
tensio de estabelecer postulados gerais. Parte-se de evidéncias que nfo de-
correm necessariamente de investigagdes empiricas, segundo os métodos
cientificos. A elaboragao de uma teotia social, por sua vez, requer 0 uso sis-
Feitas essas consideracdes, podemos Passar 4 anilise da relacio entre a
iologia ea Teoria Social no Brasil.
Um estudo detalhado da maneira como se dia formacio e 0 uso de
tas na Sociologia brasileira exigiria, seguramente, um Ptojeto de investiga-
Primeito, buscow-se ter uma imagem geral sobre quem sao os ted;
cos da Sociologia mais lidos pelos cientistas Sociais brasileitos recentemen-
te. Para tanto, Computou-se o ntimero de titulos de diferentes autores citados
A concentragio do levantamento em uma tinica revista representa uma iniludivel limita-
sao da amostra selecionada. Nao obstante, se se leva ext conta que a RBCS é, muito
Fipvavelmente, o espaco de publicacio mais competitvo das Giéncias Sociais brasileiras e,
hh
INNA
THT Temenos
36 SeRcio Costa
A Tabela 1 mostra os representantes da teoria sociolégica mais citados
pelos cientistas sociais brasileiros.’ Chamam a atencao a baixa frequéncia de _
autores brasileiros entre os dez mais citados—apenas dois — ea forte influéncia
de Pierre Bourdieu, que mereceu mais mengdes que dois dos fundadores da
Sociologia — Weber e Durkheim —em conjunto. Quando se observa 0 com-
portamento das mengées ao longo do tempo nota-se que, descontadas as
vatiagdes minimas, o quadro € bastante estavel pata os doze anos considera-
dos, isto é, 0 ntimero de menc6es a todos os autores se distribui de maneira
bastante regular ao longo de todo o tempo.
“Tabela | - Niimero de referéncias bibliogréfcas por autores maiscitadosmna
RBCS, 1998-2009*
Numero de referéncias bibliogriificas por autores mais citados na RBCS, 1998-2009*
Kno 2009 | 2008 2007 2006 | 2005 D004] 2003 2002 | 2001 2000 1999] 1998 Total
‘Autor
Beck
Bourdiea
Durkh dm
Elias
Fernandes
Foucault
Freyre
Giddens
“Haber mas
‘Weber
is
5
i
is
17
2a
14
24
36
39,
* Form considerados niimeros de ttulos de trabalhos citados nas respectivas bibliografias de todas as segies da
evista, incluindo-se tesenhas ¢ eventuais secdes especiais. Como ne tabela aparecem os dez autores mais citados,
autores centrais da Sociologia, como Simmel (13 mendes), Parsons (10 mendes), Mauss (10 mengGes), Marx (7
‘mengdes), Luhmann (7 menges) ¢ outros como Latour (11 mengGes), F. H. Cardoso (11 mengdes) e Bauman (11
citagées) nfo foram istados. O levantamento foi feito por Fernando dos Santos Baldraia Souza, aluno do Master
Estudos Latino-Americanos Interdisciplinares da Freie Universitat Berlin.
‘A anilise dos artigos, de algum modo vinculados a discussao tedrica,
publicados nas 72 edigdes da revista, revela dimensdes importantes dos vincu-
Jos da Sociologia brasileira com 0 debate tedrico. A primeira constatacao impor-
Seguramente cabe discussio se todos os autores listados na tabela sio mesmo teéricos da
Sociologia. Os trabalhos de U. Beck, por exemplo, sio frequentemente considerados um
diagnéstico da modernidade tardia, por no apresentarem o rigor de uma teoria nem
buscarem responder diretamente as trés questdes sugeridas por Joas e Knibl, conforme
discutido anteriormente (ver Costa 2006a, p. 50). Também no caso dos autores brasileiros
listados, Gilberto Freyre e Florestan Femandes, cabe naturalmente perguntar se as inter-
pretagdes da sociedade brasileira que apresentam tém efetivamente o sta#urde teoria social
‘ousse se trata de interpretagdes de uma Sociedade particular. Na forma como sfio menciona-
das e utilizadas nos attipos da RBCS examinados, as teses tanto de Beck comode Fernandes
¢ Freyre sio tratadas, de maneira geral, como postulados tedticos. Dai a mengo dos trés
somes na tabela.
A POR ADICAO 37
diz respeito a frequéncia com que trabalhos teoricos sio publicados na
- Em praticamente todas as edi¢Ges encontram-se um ou mais artigos
icados a discussao tedrica. Junte-se a isso nimeto considerivel de dossiés
los a correntes ouautotes especificos. Igualmente destacavel é a phuralidade
Orica. Histo representados em artigos da revista basicamente todos os auto-
e correntes relevantes da Sociologia, como a lista a seguir, que nao é exaus-
mas ilustrativa, evidencia:
i) teoria critica (ntimeros 1, 29, 35);
it) neofuncionalismo (nimeros 4, 33);
iil) marxismo (ntimeros 63, 71);
iv) escolha racional (ntimero 6, 45, 11,12, 45);
y) E, Durkheim (ntimeros 6, 57);
vi) M. Weber (niimeros 6, 37, 38, 57, 65, 68);
vilT. Parsons (ntimeros 6,22);
vii) etmometodologia¢ interacionismo simbélico (ntimetos 11, 15, 68);
ix) pés-modernismo (ntimeros 25, 32);
x) G, Simmel (ntimeros 27, 38);
xi) feminismo (ntimetos 62, 67);
xii) N, Luhmann (ntimero 38);
xiii) P. Bourdieu (nimero 56);
xiv) pés-colonialismo (numeros 60, 71);
xv) neo-hegelianos (mtimeros 60, 70);
xvi) A. Gramsci (ntimeto 62);
xvii) modernidades miltiplas (nimero 59);
xviii) antiutilitarismo (ntimero 66).
As contribuig6es relacionadas com a teoria social publicadas na revista
correspondem, em parte, a tradugao de artigos expressivos de tedticos estran-
geiros (ver, entre outros, Przeworski, 1988; Elster, 1990; Featherstone, 1994;
Wagner, 1996; Alexander, 1997; Eder, 2003). Entre os trabalhos de autores
brasileiros publicados, identificam-se basicamente trés formas de apresenta-
ho da discussao testica. A primeira e mais frequente sio contribuicdes que
comentam uma dimensio ou aspecto especifico da obra de um tedtico clissi-
38 Sércio Costa
co ou contemporineo (p. ex.: Paixfio, 1989; Ortiz, 1989; Reis, 1989;
Waizbort, 1995; Martins, 2004; Oliveira, 2006; Pierucci, 2008).
A segunda forma de relacao com a teoria sociolégica, sobretudo con-
temporfnea, encontrada nos artigos da revista, sio estudos bibliograficos da
literatura disponivel num campo teérico especifico (p. ex.: Springer de Freitas,
1990; Costa, 2006b; Martins, 2008; Hamlin, 2008) ou sobre determinado
conceito Oliveira, 1997; Santos, 1998; Domingues, 2002).
Por tiltimo, cabe destacat 0 esforco de muitos autores em discutir a
teoria sociolégica disponivel com vistas a construit um matco analitico para
estudar questdes empiricas relacionadas com o Brasil ou a América Latina
@eato Filho, 1991; Sales, 1994; Reis, 1995; Souza, 1998; Guimaraes, 2002;
Schneider, 2003; Tavolaro, 2005; Feres Junior, 2006) *
Os artigos publicados so, como era esperado, contribuigdes de exce-
lente qualidade cientifica e tém papel fundamental ao, de um lado, difundir
o debate internacional no Brasil, de outro, ajustar e traduzir teorias as con-
digdes € aos termos da sociedade brasileira. Nao obstante, nao é dificil cons-
tatar que nenhum dos trabalhos remete a uma teoria social propria, na
medida em que 0s artigos nfo se inserem num corpo de enunciados
generalizaveis que apresentem respostas proprias ¢ originais as trés pergun-
tas a teoria ja referidas” Igualmente, parece-me possivel afirmar que ne-
nhum dos trabalhos publicados fornece uma contribuigao genuina as correntes
te6ricas nas quais se inserem, entendendo-se como tal 0 acréscimo oua corre-
cio de um postulado importante de tais teorias que seja, ademais, reconheci-
do pelos pares, internacionalmente.
5 Artigos importantes publicados na revista por cientistas sociais brasileiros de diferentes
disciplinas apresentam uma reflexio original e importante sobre a globalizacio (Leis, 1995;
Cardoso de Oliveira, 2000; Ortiz, 2001). Se se parte dos critétios desctitos anteriormente
pata distinguir teoria de diagnéstico de época, fica evidente que essas contribuigdes sio
diagnésticos de época sem apresentar nem o estatuto e, parece, nem a pretensio de set
teotia social.
Podet-se-ia objetar que o problema é de extensio, ou seja, a constatagio nfo surpreende, na
medida em que uma teoria social no cabe em um artigo. O ponto que se levanta aqui,
contudo, é outro. Em nenhum dos artigos tedricos da revista péde ser identificada a
refeténcia a uma teoria prépria, sob as lentes da qual um problema especifico é tratado.
‘Apenas para efeito de compatagio, ver os artigos mencionados de Elster (1990) ou Alexander
(1997), que claramente se inserem no corpo de uma teoria propria maior.
TEoRIA Por ADICAO 39
Formagao da teoria nas franjas da pesquisa empirica?
A constatagao com a qual se encerrou a se¢io anterior confirma, a prin-
cipio, os termos da geopolitica do conhecimento sociolégico descritos na |
primeira seco deste artigo: a Sociologia brasileira é consumidora de teorias
que sao produzidas na Europa ou na América do Norte sem levar em contaa
dinamica da modernidade nas demais regides do mundo. Nao obstante, o |)
exame do conjunto da producao brasileira refletida nos trabalhos publicados |
na RBCS deixa entrever outros desenvolvimentos que petmitem matizar a |
imagem unilateral da Sociologia brasileira como consumidota de teorias pou: |
co aplicaveis a tealidade do pais. Conforme a hipotese que orienta a Ppfesente
contribuic¢do, trata-se de um conjunto de trabalhos que, mesmo que nao
desafiem, explicitamente, as teorias hegeménicas, oferecem resultados que
imp6em a revisio de algumas das categorias estruturantes da teoria sociolégi-
acontempordnea, revelando como é estreita a base de observacao empirica
sobre a qual esto fundadas. Essa reconstrucio da teoria sociologica nao vem
se dando, prioritariamente, no ambito de uma discussio especializada em
teoria, mas a partir de varios subcampos da Sociologia, cujos novos achados
impOem uma revisio profunda das premissas tedricas estabelecidas,
Outra constatacao importante diz respeito ao fato de que os trabalhos
fecentes nao sao orientados pela busca de uma singularidade brasileira; articu-
Jam-se com pesquisas similares desenvolvidas em diferentes partes do mundo. |
Permitam-me demonstrat essa hipotese através de exemplos de artigos
publicados na RBCS, que, de algum modo, colocam em xeque aqueles trés
axiomas ainda hegeménicos na teoria social j4 desctitos: a interpretagio
eurocéntrica da modernidade; a compreensio formalista da politica e do
Estado modetnos;a concepgio essencialista do sujeito moderno.
Exemplos de trabalhos publicados na RBCS que refutam a interpreta
40 eurocéntrica da modernidade encontrados sio um ensaio da antropéloga
Paula Montero (1994) sobre magia, um artigo sobre negtitude (Pinho, 2005)
€um debate com o pensamento social brasileiro (Tavolaro, 2005). Esses
trabalhos mostram, por diferentes vias, que a visio dual que opée tradigao €
modernidade ¢ vincula a precedéncia de cada um dos polos da dicotomia a
diferentes regiGes do mundo ignora que a disputa entre esses dois termos é, ela
*° O artigo de Maia (2009) dialoga também, a partir dos estudos pés-coloniais, com autores
¢ teses centrais no campo do pensamento social brasileiro, Seus argumentos contra uma
leitura eurocéntrica da modernidade brasileira so, contudo, menos elaborados que os de
Tavolaro,
40 ‘SERGIO Costa
mesma, um ttaco central da hist6ria e da politica modernas. Isso fica evidente
na maneira como Montero trata a magia. A autora mostra que opor magia e
modernidade é ignorar que a magia, como pratica cultural, é significada e
ressignificada nos contextos sociais em que ela esta presente. Afinal
[.] 0s elementos culturais no sio, neles mesmos, pelas suas caracteris-
ticas prdprias, nem arcaicos nem modernos, nem puramente racionais
nem puramente mfgicos. Seu sentido depende do contexto especifico
em que estio inseridos. Isto € tanto mais verdade quanto me parece ser
possivel demonstrar que, na conjuntura contemporinea da sociedade
brasileira, a magia se tomou “modem”. (Montero, 1994, p. 82)
Tavolaro, por sua vez, dialoga com autores classicos e contempora-
neos do pensamento social brasileiro para mostrat que tanto a atribuicao ao
Brasil de uma modernidade singular, como prefetia Florestan Fernandes,
quanto a ideia de semimodernidade ou modernidade perifética, ainda em
uso pela nova geracao de socidlogos brasileitos, sao equivocas. Segundo ele,
as formas de sociabilidade encontradas no Brasil ptecisam set, todas elas,
interpretadas como expresso de uma
] modernidade entendida como um tipo de sociabilidade muttfacetada, consti-
tuida ao longo de disputas comtingentes entre projetos, interesses e visbes
de mando num contexto erecentemente globalizada, (Tavolaro, 2005, p. 18;
gtifos no original)
O trabalho de Patricia Pinho, ao discutir as relag6es entre a cons-
truco da negritude nos Estados Unidos e no Brasil, chamaaatengao para
0 evolucionismo que marca muitos dos estudos sobre antirracismo, Para a
autora, nao faz sentido acreditar que as formas como se atticula a identi-
dade negra nos Estados Unidos sao mais avancadas que as brasileiras pelo
fato de que a sociedade norte-ameticana é supostamente mais moderna
que a brasileira. Para ela, o que se chama de cultura negra é uma constru-
cao global que nao tem um centro Unico. A autora mostra, assim, que a
modernidade tem formas diversas de materializacao nos distintos contex-
tos, fato que tem
[. dissociado modernidade de ocidentalizacio, rejeitando 0 mono-
polio ocidental sobre a modernidade e retirando o programa cultu-
EORIA POR ADIGAO a
ral ocidental do posto de epitome da modernidade. Da mesma ma-
neira, é possivel dissociat a modernidade ou, n0 nosso caso, a
negritude moderna, do monopélio estadunidense sobre a negritude.
@inho, 2005, p. 44)
Esses exemplos revelam que, mesmo que nao se apresentem como
disputas no campo do debate macrossociolégico contemporaneo, contri-
buicgdes de autores brasileitos jogam por terra algumas de suas premissas
nucleares, como a dicotomia tradicional/moderno, 0 nacionalismo
metodolégico ea atribuicio 4 Europa e aos Estados Unidos da precedéncia
‘ontolégica sobre o moderno.
No que concerne ao segundo ponto, qual seja, a ruptura com a visio
formalista do Estado, cabe destacar artigo de Duarte et.al. (1993). Mesmo
Feconrendo ao conceito equivocado de modemidacls petifeticas, os autores pat-
tem da critica foucaultiana ao Estado liberal-disciplinador pata mostrar que 0
modelo de construgio e andlise da cidadania, tomado das experiénciaseuropeias
€ dos Estados Unidos, no pode set transportado sem mediagées para socie-
dades como a brasileira. A contribuicio analisa a expetiéncia de um projeto
social no Morro da Coroa, Rio de Janeiro, mostrando que a difusio dos
Valores liberais por meio da institucionalidade estatal e também da sociedade
civil gera dinfimicas locais de “conversio” que retraduzem os projetos
universalistas. Rompem, assim, com a imagem formalista do Estado e da
cidadania para mostrar que as fronteiras entre Estado e sociedade sio negoci-
adas cotidianamente e que a cidadania niio corresponde (apenas) a uma for-
mula juridica, mas a um campo de disputas sociais € politicas.
Outros artigos impdem também uma revisio da distingao dualista
entte legalidade e ilegalidade, bem como ilustram uma iniludivel ampliacio
do espaco da politica contemporineo. Lopes Jtinior (2009), por exemplo,
estuda o crime organizado, partindo de referéncias teéricas ligadas 4 nova
Sociologia Econémica ¢ 4 anilise de redes, e mostra que:
[..] a melhor apreensio do ctime organizado € aquela que o tome
como um processo situado em um continuum que vai da atividade
legal até o evento delituoso [e nfo como] [.] um monstro monolitico,
como se ele fosse sempre a expressio do oposto daquilo que se realiza
nas transagSes sociais cotidianas. (Lopes Jiniot, 2009, p. 54)
42 Sercio Costa
O artigo € ilustrativo para a area dos estudos sobre a violéncia, que
constituem campo privilegiado para mostrar que a concep¢ao de um Estado
formalista definido a partit do monopédlio do uso legitimo da violéncia nao
se aplica ao caso brasileiro. Aqui, o uso da violencia € objeto de permanentes
negociagdes com atores diversos (ver Adorno, 2002).
‘A investigagiio de Oro (2003, p. 58) sobre a relacio entre a Igreja Uni-
versal do Reino de Deus ¢ a politica partidaria, por sua vez, mostra que um.
dos pontos de partida elementares da Sociologia Politica desde Weber, qual
seja, a premissa de que os processos de secularizacao e diferenciagio modernos
Jevam inevitavelmente & separacio entre as esferas da politica, da moral e da
religio, perde, nesse caso, seu sentido. O exercicio do voto pelos seguidores
da Igteja é a um s6 tempo um ato moral, religioso € politico:
O gesto de votar adquire o sentido de um rechaco do mau presente na
politica € sua substituicio pelo bem, ou seja, por pessoas convertidas
20 evangelho, por “verdadeitos cristios”, por “homens de Deus”. (Oro,
2003, p. 58)
Em outras areas de estudo, indica-se, ademais, que aquela visio
endogenista e elitista da politica, segundo a qual as disputas politicas envol-
vem as elites estabelecidas e tm como alvo o Estado nacional, precisa ser
revista. No campo da Sociologia do Meio Ambiente, por exemplo, Viola
(2002) mostra que, quando se trata de questdes do clima, a unidade de
anilise politica relevante nao € o Estado nacional, mas 0 regime mundial do
clima. Os estudos nas areas dos movimentos sociais (Cardoso, 1987); Costa,
1997; Debert e Gregori, 2008), por sua vez, indicam a emergéncia de uma,
pluralidade de atores politicos que nao disputam, simplesmente, os recursos
do Estado. Eles buscam definir a compreensiio mesma do que € a politica €
qual deve set a natureza da regulacao estatal. Nesse campo, as antropdlogas
Debert ¢ Gregori (2008) estudam as relagdes entre os movimentos de mu-
Ihetes € a legislaco penal relativa a agressfio doméstica ¢ chegam a
constatacdes que pata nossos objetivos aqui sao particularmente relevantes.
Primeiro, mostram que é idealizada a imagem recorrente na literatura de
que, nas sociedades curopeias e norte-americanas, 0 Estado de direito ga-
rante igualdade plena. Indicam também que, no caso brasileiro, mesmo um.
campo formalizado e pesadamente institucionalizado como o sistema juti-
dico representa um espago de negociacao entre 0 Estado e os movimentos
sociais. Nesse contexto, os movimentos sociais influenctam, 4s vezes mais, as
Teor por ADICKO 43
vezes menos, a natureza da aco estatal. As autoras indicam, assim, que o
proprio objeto de regulacao da a¢ao do Estado, no caso estudado, € objeto
de disputas de interpretacio entre os diferentes agentes envolvidos. A regulagio
Pelalei, portanto, nao é um processo formal de aplicagao de normas escritas
‘como acteditam os tedricos da consolidacio democratica, mas resultado de
uum conflito de interpretacdes e justificacio do qual participam atores estatais
‘endo estatais:
Estamos chamando atengio nfo s6 para o fato de que a igualdade
perante a lei jamais foi alcangada por alguma nagio, como também
que a propria definigio de igualdade e de acesso a justica constitui
Proceso aberto as disputas € aos poderes diferenciais entre os atores
sociais. (Debert e Gregori, 2008, p. 176)
Por fim, gostaria de nomear dois exemplos de artigos publicados na
RBCS que refutam a nocio essencialista de sujeito cristalizada na Sociologia. O
primeiro deles (Piscitelli, 2007) estuda mulheres brasileiras vinculadas ao “mer-
cado do sexo” em diferentes paises europeus. A pesquisa revela que a distingao
centre caracteristicas pessoais ou coletivas adscritas e adqpitidas no fazem aquio
menor sentido. Mostra também que é inadequado imaginar que se trata de
Sujeitos reflexivos com uma identidade estavel sob a qual tém controle e domi-
‘io. Sujeitos e identidades se formam e se transformam, nesse caso, permanen-
femente, conforme as expectativas do mercado erético e as imagens e fantasias
(tacializadas) sobre a suposta sexualidade brasileira que circulam nos diversos
paises europeus. Nesse contexto, formam-se “identidades” que variam confor-
me a destinac&o das mulheres na Europa:
Nos processos migratotios de nativas que supostamente corporificam
a “sexualidade tropical” para os paises do Norte, porém, as imagens
corporais € as priticas sexuais envolvidas no consumo sexual nao se
mantém estiveis. Nesse deslocamento de contextos, as convengdes
que permeiam a corpotalidade sio re-significadas, atingindo de diver-
sas maneiras as brasileiras que se inserem no mercado do sexo na
Europa, em paises cujas relagdes histéricas com o Brasil sio diferen-
tes, (Piscitelli, 2007, p. 23)
Um segundo e ultimo exemplo bastante ilustrativo da ruptura com as
concepcoes de sujeito individual € coletivo, caracterizado na Sociologia
44 ‘SeRGIo Costa
comumente como portador de uma identidade estavele continua ao longo
do tempo, é oferecido pelo artigo de Franga (2006). Influenciada pelos estu-
dos de géneto pés-estruturalistas, a autora estuda as tensdes € aliangas no inte-
tior do movimento e dos contextos de interagio entre gays, lésbicas, bissexuais
€ transgéneros em Sio Paulo e mostra que as formas de apresentagio dos
diferentes atores se modificam conforme as constrigSes ¢ possibilidades ofere-
cidas por um contexto especifico. Com relagio as formas de organizaciio po-
litica do movimento, a autora constata:
‘A emergéncia de novos atores reivindicando-se como constituintes do
sujeito politico do movimento — como atesta a recente organizacio de
travestis, transexuais e bissexuais ~ evidencia a fragilidade de perspec-
tivas teéticas que lidam com as identidades coletivas como elementos
estiveis e internamente homogeneos. Esses processos, fornecidos pelo
movimento em geral ¢ pelo mercado segmentado, devem set compre-
endidos como parte de um contexto mais amplo, exigindo uma abor-
dagem dos arranjos de poder que dé conta do dinamismo com que se
alternam posigdes de “superioridade” ¢ “infetioridade” € da possibili-
dade de que um mesmo ator social protagonize telagdes em que apa-
rece simultaneamente como “dominante” ou “subordinado”, a
depender do referencial adotado. (Franca, 2006, p. 105)
Dessa maneira, os estudos destacados imp6em a necessidade de rever as
concepgées de sujeito centrado e reflexivo, assim como de identidades estaveis
€ coetentes, que, conforme ja se mostrou, correspondem ainda ao nticleo da
nogiio sociolégica de sujeito. Os sujeitos nos exemplos destacados se configu-
ram em contextos de sentido especifico. Nao apresentam uma existéncia como
sujeito anterior a tais contextos, mas se constituem com esses.
Consideragées finais
O exame dos artigos de natureza tedrica publicados na RBCS em
| suas 72 edicdes, de junho de 1986 a fevereiro de 2010, leva a um balango
| peculiar da produgio tedrica brasileira, Entre os artigos pesquisados no se
| encontrou um tinico trabalho de cientista social brasileiro que fosse orienta-
| do por uma teoria propria ou que buscasse modificar ou ampliar parte
|| significativa das teorias As quais se referem. Trata-se de revises da biblio-
| grafia internacional e/ou de esforcos de discutir tal bibliografia a luz. dos pto-
' cessos de informacio observados no Brasil.
RIA POR ADICKO
5
Se se considera que as publicagdes da revista so uma amostra tepresen- |
da produgao da Sociologia brasileira nos tiltimos anos, pode-se afirmar
-s2¢ 0 socislogos brasileitos assumem resignadamente uma Posicao subordi- |
‘Pada na geopolitica mundial do conhecimento sociolégico, limitando-se a
licar teorias ¢ técnicas de investigacio surgidas na Europa e Estados Unies |
Essa autoimposta abstinéncia tedrica prtovoca inquietacdes, sobretudo
‘quando se leva em conta que as teorias aplicadas no Brasil apresentam pressu-
Postos pouco compativeis com at tidade brasileira. Caberia, segura-
mente, perguntat as tazes pelas quais nao surgiram, ainda, no pais uma critica
contundente ao eurocentrismo das Ciéncias Sociais, a exemplo do que fize-
fam os estudos subalternos na india ou o grupo Modernidad/Colonialidad
=m outras regiGes da América Latina, A busca de fesposta aessa questo nos
levaria, certamente, a reconstruir 0 proceso de institucionalizacio e profissio-
naliza¢ao das Ciéncias Sociais no pais ocorrido durante o regime militar. Nes-
Se momento, por boas e més razdes, estabeleceuse um Consenso
epistemoldgico que desautorizou qualquer tipo de esforco de elaboracio ted-
fica que pudesse parecer especulativa ou no fundada diretamente em tesulta-
dos empiticos.
O interesse da presente contribuicio, contudo, nao esteve voltado
para buscar uma resposta a essa pergunta. Optou-se aqui por outra visada
sobre as relagdes entre a Sociologia brasileira e a teoria social, qual seja,
avaliar em que medida as interpretacdes de fendmenos estudados em dife-
Tentes subareas pdem em questiio Premissas sobre as quais se assentam a
Sociologia contemporinea. Dessa avaliagao depreende-se a tese central des-
te artigo: nas franjas da Pesquisa empitica, a Sociologia brasileita vem prto-
duzindo avangos tedricos importantes — pelo menos potencialmente.
Destaque-se que trabalhos provindos da 4rea da antropologia tm também
aptesentado uma contribuicio significativa Pata esses avancos tedricos. Pela
propria natureza muito especializada da Sociologia brasileira ¢ pela baixa
legitimidade institucional da reflexao tedrica no pais, nao é dese esperar que
esses avan¢os fragmentérios, em algum momento, sejam rearticulados num
matco tedrico geral que pudesse ser estendido a outras tegides do mundo e
viessem a integrar 0 corpo das teorias sociolégicas aceitas,
Mais provavel é que esses achados serio, como jAest&o sendo, acumu-
lados e retransmitidos no interior dos diversos campos de investigagao e até
mesmo na comunicacio entre as varias areas, consolidando Pperspectivas
novas para entender velhos € novos problemas. Seguramente serio encon-
Pe Sexcio Costa
tradas formas mais precisas para designar esse tipo de producio teética, nas
franjas da pesquisa empitica. Enquanto nao apatece nome melhor, serve 0
(quase) Obvio: teoria por adigéio.
Referéncias bibliograficas
ADORNO, Sérgio. Monopélio estatal da violéncia na sociedade brasileira contempo-
tinea. In: MICELI, Sérgio (Org). O que ler na ciéncia social brasileira (1970-2002). Sio
Paulo: Ed. Sumaré; Anpocs; Capes, 2002. v: 4, p. 267-310.
ALEXANDER Jeffeey.
“Agpectos nao-civis da sociedade: espaco, tempo ¢ fungao. RBCS
= Revista Brasileira de
éncias Sociais, Si0 Paulo, v. 12, n. 33, p. 169-179, 1997.
AVRITZER, Leonardo. Cultura politica, atores sociais e democtatizagio: uma critica
as teorias da transic¢ao para a democracia. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais,
Sto Paulo, v. 10, n, 28, p.109-122, 1995.
BEATO FILHO, Claudio Chaves. Médicos, suicidas ¢ senso pratico. RBCS — Revista
Brasileira de Ciéncias Sociais, Sao Paulo, v. 6, n. 15, p. 53-63, 1991,
BECK, Ulrich. Was ist Globalisierung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
BHAMBRA, Gurminder K. Sociology after postcolonialism: provincialised
cosmopolitanism and connected sociologies. In: GUTIERREZ-RODRIGUEZ, E.5
BOATCA, M.; COSTA, S. (Org). Decolonising exropean sociology. Trans-disciplinary
approaches, Farnham: Ashgate, 2010. p. 33-48.
BOATCA, Manuela; COSTA, Sérgio. “Postcolonial sociology: a research agenda”. In:
GUTiERREZ-RODRIGUEZ, E.; BOATCA, M.; COSTA, S. (Org). Decolonising
european sociology. "Trans-disciplinary approaches. Farnham: Ashgate, 2010. p. 13-32.
BRUNKHORST, Hauke. So/idaritét. Von der Birgerfreundschaft zur globalen
Rechtsgenossenschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2002.
CARDOSO, Fernando H.; FALETTO, Enzo. Dependencia y desarrollo en América Latina.
Buenos Aires; México: Siglo XX1, 1969.
CARDOSO, Ruth C. L. Movimentos sociais na América Latina. RBCS — Revista Brasi-
keira de Citncias Sociais, v. 2, 0. 3, v. 1., p. 27-37, 1987.
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Os (des)caminhos da identidade. RBCS — Revista
Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 15, n. 42, p. 7-21, 2000.
CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe: postcolonial thought and historical
difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.
CHATTERJEE, Partha. La nacién en tiempo heterogéneo y otros estudios subalter-
nos. Buenos Aires; México: Siglo XXI; Clacso, 2008.
CHERNILO, Daniel. Nacionalismo y cosmopolitisme. ensayos sociol6gicos. Santiago: Ed.
Universidad Diego Portales, 2010.
PoR ADICAO 47
AD, Sebastian; RANDERIA, Shalina (Org,). Jenseits des Eurozentrismus.
oloniale Perspektiven in den Geschichst und Kulturwissenschaften. Frankfurt aM:
pus, 2002.
"A, Sérgio. Movimentos sociais, democratizacio ¢ a construgio de esferas publicas
RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sao Paulo, v. 12, n. 35, p. 121-134,
. Dois Atlanticos. Teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte:
UFMG, 2006a.
Desprovincializando a sociologia: a contribuigao pés-colonial. RBCS — Revista
ira de Ciéncias Sociais, S20 Paulo, v. 21, n. 60, p. 117-134,2006b>
Diferenga ¢ identidade: a ctitica pés-estruturalista ao multiculturalismo. In:
A, Liszt (Ed.). Identidade ¢ globalizagéo. Rio de Janeiro: Paz ¢ Terra, 2009.
ERT, Guita Grin; GREGORI, Maria Filomena. Violéncia e género: novas pro-
, velhos dilemas. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Soriais: Sto Paulo, v. 66, n.
p. 165-18, 2008.
OMINGUES J. Mauricio. Reflexividade, individualismo e modernidade. RBCS — Revista
sileira de Ciéncias Sociais, Si Paulo, v. 17, n. 49, p. 55-70, 2002.
- Global modernization, “coloniality” and a critical sociology for contemporary
tin America. Theory, Culture &> Society, v. 26, 0. 1, p. 112-133, 2009.
ARTE, Luiz F. D. et al. Vicissitudes € limites da conversio a cidadania nas classes
lares brasileiras. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 8, n. 22,
5-31, 1993.
DUSSEL, Enrique. Europa, modernidad y eurocentrismo. In: LANDER, Edgardo
Org). La colonialidad del saber. eurocentzismo y ciencias sociales. Caracas: Unesco;
UCY, p. 59-78, 2000.
-EDER, Klaus. Identidades coletivas ¢ mobilizacio de identidades. RBCS — Revista Bra-
tira de Citncias Sociais, Sao Paulo, v. 18, 0.53, p. 5-18, 2003.
EISENSTADT, Shmuel. Multiple modernities. Daedalus, n. 129, p. 1-29, 2000.
EISTER, Jon. Racionalidade e normas sociais. RBCS — Revista Brasileira de Citncias
Sociais, Sio Paulo, v. 5, 0.12, p. 55-69, 1990.
FEATHERSTONE, Mike, Para uma sociologia da cultura pos-moderna. RBCS — Revista
Brasileira de Ciéncias Sociais, Sao Paulo, v. 9, n. 25, p. 5-25, 1994.
FERES JUNIOR, Joo. Aspectos seminticos da discriminagio racial no Brasil: para
além da teoria da modernidade. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sic Paulo,
x 21, n. 61, p. 163-176, 2006.
FOUCAULT, Michel. Die Ordnung der Dinge. Frankfurt a.M.: Subrkamp, 1972. forig:
Les mots et les choses.., 1966; trad. brasileira: As palavras ¢ as coisas... 2. ed. Si0 Paulo:
Martins Fontes, 1981]
i
48 Serco Cosra
FRANCA, Isadora Lins. “Cada macaco no seu galho?”: poder, identidade ¢ segmentagio
de mercado no movimento homossexual. RBCS — Revista Brasileira de Gitneias Sociais,
Sao Paulo, v. 21, n. 60, p. 104-115, 2006.
GIDDENS, Anthony. The constitution of society. Outline of the theory of structutation.
Cambridge: Polity Press, 1984.
- The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Modernity and selfidentity. Self and society in the late modern age. Cambridge:
Polity Press, 1991.
GUIMARAES, Nadya A. Por uma sociologia do desemprego: contextos societais, cons-
trugdes normativas e experiéncias subjetivas. RBCS — Revista Brasileira de Citncias Soci-
ais, Sa0 Paulo, v. 17, n. 50, p. 103-122, 2002,
HABERMAS, Jiirgen. Theorie des Kommunikativen Handelns. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981,
. Die Einbexiehung des Anderen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996.
. Die postnationale Konstellation, Politische Essays. Frankfurt a.
: Suhrkamp,
1998,
HALL, Stuart. “The question of cultural, identity”. In: HALL, Stuart; HELD, David;
MCGREW, Tony (Org). Modernity and its futures. Cambridge: Polity Press, 1992. p. 273.
325.
- “The West and the rest: discourse and power”. In: HALL, Stuart et al. (Org).
In: Modernity. introduction to the modern societies. Oxford: Blackwell, 1996. p. 184-
228.
HAMLIN, Cynthia Lins. Ontology and gender; critical realism and the method of
Contrastive explanation. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sto Paulo, v. 23, n.
67, p. 71-81, 2008.
HARITAWORN, Jin. Decolonizing wounded subjects: sexual exceptionalism and the
moral panic on ‘migrant homophobia’ in Germany”. In: RODR{GUEZ-GUTIERREZ,
E BOATCA, M.; COSTA, S. (Org). Decolonizing european sociolwy. Interdisciplinary
approaches. Surrey: Ashgate, 2010. p. 135-152.
JOAS, Hans; KNOBL, Wolfgang. Sozialheonie. Zwanzig einfithrende Vorlesungen, Frank-
furt/Main: Suhrkamp Verlag, 2004.
KNOBL, Wolfgang. Spie/rdume der ‘Modernisierung. Das Ende det Eindeutigkeit,
Weilerswist: Velbriick Verlag, 2001.
« Kontingenz, der Moderne, Wege in Buropa, Asien und Amerika. Frankfurt/Main:
Suhrkamp, 2007.
KULT. Epistemologies of transformations: the Latin Ametican decolonial option and
its ramifications. Roskilde: Roskilde University, Special Issue, outono 2009.
LEIS, Héctor Ricardo .Globalizagao e democracia: necessidade e oportunidade de um
espaco publico transnacional. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, So Paulo, v.
10, n. 28, p. 55-69, 1995.
ORIA POR ADICAO. 49
OPES JUNIOR, Edmilson. As redes sociais do crime organizado: a petspectiva da nova
logia econdmica. RBCS ~ Revista Brasileira de Ciéndas Sociais, Sio Paulo, v. 24, n.
9, p. 53-68, 2009.
CHADO, Maria das Dores C.; MARIZ, Cecilia L. Mulheres e pritica religiosa nas
ses populares: uma comparagio entre as Igrejas pentecostais, as Comunidades
elesiais de Base ¢ os grupos catismaticos. RBCS — Revista Brasil de Ciéncias Sociait,
© Paulo, v. 12, n. 34, p. 71-87, 1997.
-HADO, Paula Sandrine. Intersexualidade e o “Consenso de Chicago”. As vicissitu-
es da nomenclatura ¢ suas implicacdes regulatérias. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias
dais, Sio Paulo, v. 23, n. 68, p. 109-123, 2008.
A, Jodo M. Pensamento brasileiro ¢ teoria social: notas para uma agenda de pesquisa.
LBC — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sao Paulo, v. 24, n. 71, p. 155-168, 2009.
RTINS, Mauricio Vieira. Bourdieu e 0 fendmeno estético: ganhos ¢ limites de seu
eaceito de campo literdtio. RBCS — Revista Brasileira Ciéncias Sociais, Sto Paulo, v. 19,
56, p. 63-74, 2004.
RTINS, Paulo Henrique. De Lévi-Strauss a M.A.USS. — Movimento antiutilitatista
ciéncias sociais: itineratios do dom. RBCS — Revista Brasileira Ciéncias Sociais, Sio
», v. 23, n. 66, p. 105-130, 2008.
=NDEZ, Juan E.; O'DONNELL, Guillermo; PINHEIRO, Paulo S. (Org) Demo-
sia, violéncia ¢ injustica, 0 nao-Estado de direito na América Latina, Sio Paulo: Paz ¢
ferra, 2000.
HGNOLO, Walter. Local histories/ global designs: coloniality, subaltern knowledges, and
sder thinking, Princeton: Princeton University Press, 2000.
ONTERO, Paula. Magia, racionalidade e sujeitos politicos. RBCS — Revista Brasileira
Gincias Sociais, Sao Paulo, v. 9, . 26, p. 72-89, 1994,
O'DONNELL, Guillermo A. Disonancias. criticas democriticas a la democracia, Buenos
Aires: Prometeo Libros, 2007.
O'DONNELL, Guillermo; WHITEHEAD, Laurence; SCHMITTER, Philipp (Org).
Transitions from authoritarian rules. Baltimoxe: John Hopkins University Press, 1986. 5v.
IRA, Isabel de Assis Ribeiro de. © mal-estar contemporineo na perspectiva de
Charles Taylor. RBCS — Revista Brasileira Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 21, n. 60, p. 135-
145, 2006.
OLIVEIRA, Luciano. Os excluidos “existem”? Notas sobre a elaboragio de um novo
“conceito. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 12, n. 33, p. 49-61,
1997.
‘ORO, Ari Pedro, A politica da Igreja Universal do Reino de Deus € seus reflexos nos
campos seligioso ¢ politico brasileiros. RBCS ~ Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Si0
Paulo, v. 18, n. 53, p. 53-69, 2003.
ORTIZ, Renato. Durkheinr. arquiteto e herdi fundador. RBCS — Revista Brasileira de
Gincias Sociais, Sto Paulo, v. 4, n. 11, p. 5-22, 1989.
50 ‘SERGIO Costa
« Anotagdes sobre teligiio © globalizacio. RBCS — Revista Brasileira de Ciencias
Sociais, Sto Paulo, v. 16, n. 47, p. 59-74, 2001.
PATXAO, Anténio Luiz. A teoria geral da aco ¢ a arte da controvérsia. RBCS — Revista
Brasileira de Citncias Sociais, Sic Paulo, v. 4, 0. 11, p. 34-59, 1989,
PIERUCCI, Anténio Flivio. Economia ¢ sociedade: iltimos achados sobre a “grande
obra” de Max Weber. RBCS ~ Revista Brasileira de Ciéndias Socais, Sio Paulo, %. 23, n.
68, p. 41-51, 2008.
PINHO, Patricia de S, Descentrando os Estados Unidos nos estudos sobre negtitude no
Brasil. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 20, n. 59, p.37-50,
2005.
PISCITELLI, Adriana. Corporalidade em confronto: brasileiras na indistria do sexo na
Espanha. RBCS — Renista Brasileira de Ciéncias Soriais, Sio Paulo, v. 22, n. 64, p. 17-32, 2007.
PRZEWORSKI, Adam. Marxismo e escolha racional. RBCS — Revista Brasileira de Cién-
das Sociais, Sto Paulo, v. 3, n. 6, p. 5-25, 1988.
QUIJANO, Anibal. Coloniality of power and eurocentrism in Latin Ametica, International
Sociology, v.15, n. 2, p. 217-234, 2000.
RANDERIA, Shalini. “Jenseits von Soziologie und soziokultureller Anthropologie: zur
Ortsbestimmung der nichtwestlichen Welt in einer zukiinftigen Sozialtheorie”, Tn:
BECK, Ulsich; KIESERLING, Andzé (Ed.). Ortshestimmung der Soziolagie: wie die
kommenden Generation Gesellschaftswissenschaften betreiben will. Baden-Baden:
Nomos, 2000. p. 41-50.
- Cunning states and unaccountable international institutions: legal plurality,
social movements and rights of local communities to common property resources.
European Journal of Sociology, w. 44, n. 1, p. 27-60, 2003.
REIS, Elisa P. Reflexdes sobre o Homo sociologicus. RBCS — Revista Brasileira de Cién-
Gias Sociais, Sio Paulo, v. 4, n. 11, p. 23-33, 1989.
. Desigualdade ¢ solidariedade — Uma releitura do “familismo amoral” de
Banfield. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 10, n. 29, p. 35-48,
1995,
REIS, Fabio Wanderley. Identidade, politica e a teoria da escolha racional. RBCS —
Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 3, n. 6, p. 26-38, 1988,
. O tabelio e a lupa: teoria, método generalizante e idiografia no contexto
brasileiro. Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Si0 Paulo, ¥. 6, n. 16, p. 27-42, 1991
SALES, Teresa, Rafzes da desigualdade social na cultura politica brasileira, RBCS —
Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sto Paulo, v. 9, n. 25, p. 26-37, 1994.
SANTOS, Myrian Sepulveda dos. Sobre a autonomia das novas identidades coletivas:
alguns problemas tedricos. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sao Paulo, v. 13,
n. 38, p.70-85, 1998,
SCHNEIDER, Sérgio. Teoria social, agricultura familiar ¢ pluriatividade. Revista Brasi-
keira de Citncias Sociais, Si0 Paulo, v. 18, 0. 51, p. 99-122, 2003.
RIA POR ADICAO. st
IWARZ, Roberto. “Nacional por subtragao”. In: SCHWARZ, R. Que horas sito? Sio
lo: Cia. das Letras, 1987 [1986].
UZA, Jessé. A ética protestante e a ideologia do atraso brasileiro. RBCS — Revista
ilira de Citncias Sociais, Sio Paulo, v. 13, n. 38, p. 98-116, 1998.
‘OHN, Wilfried. Multiple, entangled, fragmented and other modernities, Reflections
comparative sociological research on Europe, Notth- and Latin América. In: COSTA,
= DOMINGUES, J. Ms KNOBL, W; SILVA, J. P. (Org). The plurality of modernity.
centring sociology. Munique; Mering: Hampp, 2006. p. 11-22.
SPRINGER DE FREITAS, Renan. A margem de légicas transcendentes:
stnometodologia e teorias de decisdes judiciarias. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias
Sociais, Sio Paulo, v. 5, n. 12, p. 70-90, 1990.
TAVOLARO Sergio B. F. Existe uma modernidade brasileira? Reflex6es em torno de um
dilema sociolégico brasileiro. RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v.
20, n. 59, p. 5-22, 2005.
THERBORN, Géran. Entangled modernities. European Journal of Social Theory, p. 293-
305, 2003.
TOURAINE, Alain. Critica da modernidade. Petrpolis: Vozes, 1995.
VIOLA, Eduardo J. O tegime internacional de mudanca climatica e o Brasil. RBCS —
Revista Brasileira de Giéncias Sociais, Sa0 Paulo, v. 17, n. 50, p. 25-46, 2002.
WAGNER, Peter, Crises da modernidade: a sociologia politica no contexto histérico.
RBCS — Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, Sio Paulo, v. 11, n. 31, p. 29-43, 1996.
- Fest-Stellungen. Beobachtungen zur sozialwissenschaftlichen Diskussion iiber
Identitit. In: ASSMANN, Aleida; FRIESE, Heidrun (Org,). Identitaten. Brinnerung,
Geschichte, Identitét 3. Frankfurt: Suhrkamp, p. 44-72, 1999.
WAIZBORT, Leopoldo. Georg Simmel e o judaismo — Entre a emancipagio e a assi-
milagio. RBCS ~ Revista Brasileira de Ciéncias Sociais, S40 Paulo, v. 10, n. 27, p. 73-92,
1995.
WALLERSTEIN, Immanuel M. Open the social sciences. Report of the Gulbenkian
Commission on the restructuring of the social sciences. Stanford: Stanford University
Press, 1996.
WALSH, Catherine. Shifting the geopolitics of critical knowledge. Decolonial thought
and cultural studies “others” in the Andes. Cultural Studies, v. 21, n. 2/3, p. 224-239,
2007.
WEBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft, Tébingen: Mohr, 1922.
FVVTTOTTNTY NYY UYVOVTEN VEY TOV TTY TTVETNy Vy TaWTey7 cay TTT TTT TOETTTITT Try ear RST eens
Ue
Copyright © ANPOCS, 2010
Nenhuma parte desta publicagio pode ser gravada,
armazenada em sistemas eletronicos, fotocopiada,
Teproduzida por meios mecanicos ou outros quaisquer
sem a autorizagao prévia da editora
Projet editorial: ANPOCS
Diagramacdo: Walquir da Silva ~ Mtb n. 28.841
Capa: Fernanda Garrido
Impressio e Acabamento:
Neograf Grafica e Editora Ltda.
Catalogagao da Publicagao
Servigo de Biblioteca e Documentagtio
Faculdade de Filosofia, Letras ¢ Ciéncias Humanas da Universidade de Sto Paulo
H811 Horizontes das ciéncias sociais no Brasil: sociologia / Coordenador geral Carlos
Benedito Martins; Coordenador de ‘rea Heloisa Helena T, de Souza Martins. ~
‘Sto Paulo : ANPOCS, 2010.
496 p.
Coletinea co-editada pelo Instituto Ciéncia Hoje, Editora Barcarolla e Discurso
Editorial.
Outros volumes que compGem esta coletinea: Antropologia e Cincia poitica
ISBN 978-85-98233-55-0 (Barcarolla)
1. Ciéncias sociais ~ Brasil. 2. Sociologia ~ Teoria, 3. Sociologia ~ Brasil
1, Martins, Carlos Benedito. II. Martins, Heloisa Helena T. de Souza,
21+. cop 300
301
: L BARCARGLLA
isaursedieccial Editora Barcarolla Ltda
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 (sala 11) ‘Av Bodroon dle Miowaes/631 11° andlor
(05508-010 - Sio Faulo - SP
Telefone: (11) 3814-5383 (05419-000 — Sto Paulo - SP
Telex: (11) 3034-2733 Tel: 11-3814-4600
e-mail: discurso@ usp.br ‘www editorabarcarolla.com.br
‘www discurso.com.br
‘e-mail: editorabarcarolla @editorabarcarolla.com.br
Você também pode gostar
- Trocando As Lentes PDFDocumento161 páginasTrocando As Lentes PDFRoberta MoraesAinda não há avaliações
- Livro 18 de Jul. de 2022Documento10 páginasLivro 18 de Jul. de 2022Antonio SantosAinda não há avaliações
- Livro 18 de Jul. de 2022Documento11 páginasLivro 18 de Jul. de 2022Antonio SantosAinda não há avaliações
- GOODY, J - O Roubo Da História - Cap - 9 - Humanismo, Democracia, IndividualismoDocumento15 páginasGOODY, J - O Roubo Da História - Cap - 9 - Humanismo, Democracia, IndividualismoAntonio SantosAinda não há avaliações
- Portaria Escolas 2022 Procon Se 031Documento10 páginasPortaria Escolas 2022 Procon Se 031Antonio SantosAinda não há avaliações
- Spinoza Paradigma FisicaDocumento352 páginasSpinoza Paradigma Fisicajocaferreira24Ainda não há avaliações
- Edital FIC EaD 2023.1 Aracaju e Lagarto 1Documento6 páginasEdital FIC EaD 2023.1 Aracaju e Lagarto 1Antonio SantosAinda não há avaliações
- (Texto) TODOROV, Tzvetan. O Projeto. In. O Espirito Das LuzesDocumento13 páginas(Texto) TODOROV, Tzvetan. O Projeto. In. O Espirito Das LuzesAntonio SantosAinda não há avaliações
- HOBSBAWM, Eric J. A Era Dos Extremos PDFDocumento283 páginasHOBSBAWM, Eric J. A Era Dos Extremos PDFAntonio SantosAinda não há avaliações
- (Livro) LEDERACH, John Paul. Transformação de ConflitosDocumento47 páginas(Livro) LEDERACH, John Paul. Transformação de ConflitosAntonio Santos100% (5)
- (Artigo) LIMA, Roberto Kant De. Polícia e Exclusão Na Cultura Judiciária PDFDocumento15 páginas(Artigo) LIMA, Roberto Kant De. Polícia e Exclusão Na Cultura Judiciária PDFAntonio SantosAinda não há avaliações