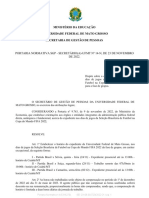Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ROMÃO, J. E. Avaliação Dialógica
ROMÃO, J. E. Avaliação Dialógica
Enviado por
Douglas Candido frança0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
27 visualizações17 páginasTítulo original
ROMÃO, J. E. Avaliação dialógica
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
27 visualizações17 páginasROMÃO, J. E. Avaliação Dialógica
ROMÃO, J. E. Avaliação Dialógica
Enviado por
Douglas Candido françaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
AVALIAGAO DIALOGICA: desafios e perspectivas
José Eustiquio Roméo
Capa: DAC
Preparagao dos originas: Elisabeth Samo
‘Revisdo: Maria de Lourdes de Almeida, Agnaldo A. Olivera
‘Composigao: Dany Bditora Lida.
Coordenagéo editorial: Danilo A. Q. Morales
[Nenhuma parte desta obra pode Ser reproduzida ou duplicada sem autorizagao expressa do
Autor © dos editores.
© 1998 by Autor
Dircitos para esta edigio
‘CORTEZ. EDITORA Instiuto Paulo Frere
Rua Batra, 317 — Perdizes Rua Certo Cord, 580 - Cj. 22 - 2° andar
103009000 — Sa Pauio-SP 05061-100 — Si Paulo-SP - Brasil
“Tels (IN) 3864-0111 Fax: (11) 3864-4290 Tel. (S5-11) 3021-5536 - Fax: (55-11) 3021-5589
email: contez@cortezeditoracomin _E-mal:ipf@paulfreire org
‘wor corteeditara com br Home Page: www-paulofieire.org
Impresso no Brasil — margo de 2003
SUMARIO
Inrodugio.... 62...
1. Citncia e ideotogia . . .
1. Cigncia e ideologia na perspectiva positivista
2. Ciéncia e ideologia na perspectiva dialética
_ 2. Educasio e ideotogi
3, Avaliagio e ideologi
“Parte II — Avaliaglo da aprendizagem
4, O que é avaliaglo ....
1. A escola e as concepgies de avaliagio .
5. Medida © avs
1. Medida.. .
2. Avaliagio .
| Parte I — Avaliagio dialégica .
|Concepgio da avaliagdo dialégica
DAs virwdes do “ero”
Parte 1 — A ideologia na educagio e na avaliagio
n
15
25
27
28
7
B
3
55
6
a
80
85
7
1
6
CONCEPCAO DA AVALIACAO
DIALOGICA
‘Se temos uma concepeio autoritéria e “bancéria” de educagio,
como dizia Paulo Freire, forgamos o aluno a se transformar num
depositério do “tesouro do saber”, que jé “descobrimos” no perfodo
de nossa formagio profissional e nos momentos em que preparamos
as aulas. Por isso mesmo, ndo hi necessidade de ele refazer 0 itinerdtio
de descoberta das “verdades” que vamos Ihes transmitir, tendo 4 mao
‘© mapa da “mina” — plano de curso, geralmente elaborado sem
nnenhuma participagio do aluno ¢ a ele apresentado como um caminho
‘Obrigatério, sem altemnativas. =
Em lugar de comunicar-se, 0 educador faz “comunicados” ¢
depésitos que os educandos, meras incidéncias, recebem pacientemente,
‘memorizam € repetem. Eis af a concepeio “banedria” da educacao, em
que a tnica margem de agio que se oferece aos educandos é a de
receberem depdsitos, guardé-los ¢ arquivé-los.
(.) [Os alunos tém de se dotar de} uma conseiéncia continente
‘ receber permanentemente os depésitos que o mundo Ihe faz, e que
se vio transformando em scus contesidos (Fieite, 1981; 66 ¢ 71),
Essa concepgio de educagio desemboca, fatalmente, numa con-
cepeio de avaliagdo que vai se preocupar apenas com a verificagio
dos “conhecimentos depositados” pelo professor no aluno, desconhe-
cendo os procedimentos, instrumentos e estratégias utilizados pelo
87
educando para absorgio ou rejeigo desses “conhecimentos” — cotejo
desses “conhecimentos” com os. construfdos por ele proprio no des-
vendamento do mundo. Alids, para a concepedo autoritéria da educagio
este cotejo é impossivel, porque seria inimagindvel permitir ao discente
(© questionamento dos contetidos ¢ as respectivas formas com que Ihe
sio transmitidos pelo professor.
‘Com uma concepgio educacional “bancéria” desenvolvemos uma
avaliagdo “bancéria” da aprendizagem, numa espécie de capitalismo
as avessas, pois fazemos um depésito de “conhecimentos” e os exigimos
de volta, sem juros € sem corregiio monetéria, uma vez que o aluno
nilo pode a ele acrescentar nada de sua propria elaboracio gnoseoldgica,
mas apenas repetir 0 que the foi transmitido. Desenvolvemos a “pe-
dagogia especular”, na qual os alunos devem se limitar a expelir
pilidos reflexos do que ¢ 0 professor enquanto sujeito epistemolégico.
Em suma, na educagio e na avaliagio “bancérias” os alunos se
transformam em meros arquivos especulares das “verdades” descobertas
previamente pelos professores na sua formacio e na preparagiio de
suas aulas. E entes especulares nio praticam ato cognoscente, ja
que sua tarefa se resume ao registro e a0 reflexo (repeti¢ao) do
depésito que The foi confiado. Ai a avaliagio se torna um mero ato
de cobranga, e néio uma atividade cognoscitiva, na qual educador e
educando discutem e refazem 0 conhecimento.
Ao contrétio, a escola cidada, na qual se desenvolve uma educagio
libertadora, 0 conhecimento nio é uma estrutura gnoseol6gica estitica,
mas um proceso de descoberta coletiva, mediatizada pelo dilogo
entre educador_e educando.
io é sujito cognoscente em um, e sujeito narrador do contetido
conhecido em outro.
sempre um sujeito cognoscente, quer quando se prepara, quer
quando se encontra dialogicamente com os educandos
© objeto cognoscivel, de que o educador bancétio se apropra
deixa de ser, para ele, uma propriedade sua, para ser a incidéncia da
reflexio sua e dos educandos
este modo, © educador_problematizador (e-faz) constantemente,
sou ato cognoscente na eognoseibilidade dos edueandos (Id. ib.: 79-80)
Na educagio libertadora, a avaliagio deixa de ser um processo
de cobranga para se transformar em mais um momento de aprendizagem,
tanto para_o aluno quanto para o professor — mormente para este,
Se estiver atento aos processos e mecanismos de conhecimento ativados
88.
pelo aluno, mesmo no caso de “erros”, no sentido de revere refazer
seus procedimentos de educador.
A educagio e a avaliagao positivistas enfatizam a permanéncia,
a estrutura, 0 estitico, 0 existente e 0 produto; as construtivistas
reforcam a mudanga, a mutagdo, a dindmica, 0 desejado e 0 processo.
A educagio ¢ a avaliagdo cidadas devem levar em consideragio os
dois pélos, pois no hi mudanga sem a conscigncia da permanéncia;
AO hi processo de estruturagdo-desestruturagao-reestruturagdio sem do-
ininio te6rico das estruturas — a reflexio exige “fixidades” provisérias
para se desenvolver; nio hé percepgdo da dindmica sem consciéncia
critica da estitica; 0 desejado, 0 sonho e a utopia s6 comegam a ser
construidos a partir da apreensio critica ¢ dominio do existente, e 0
Proceso nio pode desconhecer o produto para nao condenar seus
rotagonistas ao ativismo sem fim e sem rumo.
© Ponto de partida deste movimento esté nos homens mesmos,
Mas, como no hi homens sem mundo, sem realidade, 0 movimento
parte das relagées homens-mundo. Daf que este porto de partida esteja
sempre nos homens no seu agui © no seu agora que constituem a
situagdo em que se encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados,
Somente a partir desta situagdo, que thes determina a propria
Percepgiio que dela estio tendo, € que podem mover-se
E, para fazé-lo, autenticamente, & necessétio, inclusive, que a
situago em que estdo no Ihe aparega como algo fatal e intransponivel,
‘mas como uma situagio desafiadora, que apenas os limita (Id. ib.
84-5),
Fica claro neste texto de Paulo Freire 0 cariter dialético da
superagio da realidade existente © que a avaliagio, com vistas 3
promogio, pode ser um sério obstéculo ao avango transformador. De
fato, no sistema promocional, o aluno se submete as avaliagées para
“passar” ou “ser reprovado”. A reprovagio tende a ser interpretada
muito mais como uma derrota que impossibilita os avangos do que
‘como um desafio que provoca as tentativas de superagio.
Como ser incompleto que é, destaca ainda Paulo Freire, o homem
86 inicia 0 processo de plenificagdo da sua humanidade no momento
ia de sua incompletude. O processo de desa-
ja-se com a consciéncia dos proprios ‘limites ow com a
ica da prépria realidade alienada.
Somente no pensamento conservador se dicotomiza a liberdade
€ a necessidade histérica, 0 contingente e o necessirio, 0 sujeito e 0
89,
‘objeto, o presente e o futuro, a realidade © a utopia, Para os que se
inserem no uniyerso dialético, a liberdade comega, isto é 0 homem
se toma sujeito de sua propria histéria, no momento em que lé 0
mundo e reconhece a correlagio de forgas politicas. Assim, a liberdade
nlo nega a necessidade hist6rica, mas constr6i-se a partir de seu
reconhecimento. O contingente nio é a negagio do necessério, mas
‘com ele se imbrica na percepgio critica do mundo; o futuro nao é a
anulagdo do presente, mas a arquitetura que 0 toma como base: a
realidade no € obsticulo da utopia, porém seu suporte inicial.
Conforme destacamos antes, cabem, nesta altura deste trabalho,
algumas consideragdes sobre o “erro” nas verificagdes da aprendizagem
predominantes no sistema educacional brasileiro.
C
AS VIRTUDES DO “ERRO”
Luckesi analisou, com propriedade, a questio do erro na pritica
escolar. Por isso, esta parte do trabalho estar, toda ela, referenciada
em um artigo que ele publicou’’, ainda que possamos acrescentar
‘outros Jngulos de andlise e outras possibilidades de sua exploragio
pedagégica.
Curiosamente, embora a pritica escolar se identifique, de forma
discursiva, com a “preservagio e criagdo do saber”, ela dé um sentido
completamente diferente ao atribuido pelos pesquisadores aos resultados
niio-esperados de um processo de conhecimento, Sendo vejamos: quando
um_pesquisador_chega_a_um resultado diferente das hipéteses_que
evantou previamente 3 tealizagio da pesquisa, nao se 5
@ abandona_o projeto em questo. Pelo conirario, regis
como um novo conhecimento nio-vislumbrado nas hipdteses e continua
sua busca do produto (de conhecimento) inicialmente projetado, Ou
seja, em vez. de considerar como um “erro” o proceso de investigagio
© seu resultado, indaga sobre 0 que ocorreu durante a pesquisa, seja
Para verificar © equivoco da hipétese inicial, seja para constatar
36, "Pritica escolar: do ero como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude”,
inserido no liv js citado (1995: 48-59), no qual esgoou a possibildade de consideragies
sobre o tema, No entanto, retomamo-1o agui, tanto pela importincia de sua reiteraga0
cnfitica, quanto pela possibilidade de explrar aspectos que, embora estejam conti
Potencalmente nas consideragdes de Luckesi, pensamas devam ser mais explctados,
o1
‘mudangas provocadas pela interveniéncia de fatores ndo-previstos
nfo-controlados. Para tornar mais claro o que pretendemos dizer,
Yejamos o exemplo do que ocoreu numa pesquisa concreta, ao final
da qual os seus responsiveis tiveram a tentago de considerar que
“tudo dera errado”.
Na década de 70, alarmados com a “evasio” dos alunos do
segundo segmento do 1° grau na escola notuma em que trabalhévamos,
resolvemos pesquisar as causas do fendmeno. Na preparacio do projeto
de pesquisa, levantamos as mais sofisticadas hipoteses. Ao aplicarmos
(68 questiondrios nos “evadidos”, percebemos que a maioria das razSes
que 0s moviam ao abandono da escola poderia ser classificada como
“fitil” se comparadas com as hipéteses levantadas — quase todas
enquadradas no universo do “sociologismo” e do “psicologismo social”
entio em voga: “Nao estou mais a fim..”; “A escola € muito chata.”;
“Um professor chamou minha atengio.”. A decepcdo na tabulagao e
anilise dos dados levantados acabou sendo substitulda, com muito
entusiasmo, por uma descoberta importante: quanto mais fiteis fossem
as razBes do abandono dos bancos escolares pelos alunos dos cursos
imos, mais clara ficava a “desimportincia” da escola na Teitura
“desses alunos. De fato, se trocavam os estudos por qualquer outra
atividade, se 08 abandonavam por qualquer razo, havia em sua atitude
uma clara condenagio da escola, na medida em que 0 que ela Ihes
oferecia pouco tinha a ver com seu projeto de vida e, facilmente, a
trocavam por qualquer coisa, inclusive, pelo “ficar & toa” & noite. A
pesquisa acabou por se transformar num importante indicador das
mudangas que deveriam ser introduzidas nos cursos noturnos de 5* a
8" série daquele estabelecimento de ensino, a fim de que os alunos
voltassem a perceber a importincia dos estudos fundamentais para a
realizagio de seus projetos pessoais ¢ coletivos”.
Ora, se na pesquisa cientifica um equivoco de previsio pode ser
revelador de aspectos e nuances nio-previstos ou ndo-percebidos
cialmente, mais ainda no processo educacional, as respostas compor-
tamentais e a performance dos alunos sio reveladoras das formas
discentes de processamento do conhecimento, ou, no minimo, esclarecem
sobre as raz6es da resisténcia ou indiferenga dos alunos aquilo que a
escola Ihes oferece. Em ambos 0s casos, sio fundamentais para a
elaboragao conjunta de novos procedimentos didético-pedagégicos. Sem
37. Ainda que muito interessante, especialmente pelos resultados alcangados, a descrigao
de tais modificagbes mio cabe nos limites deste wabalho.
92
exageros, pode-se dizer que os “erros” dos alunos consti
matéria-prima do replanejamento das atividades cu
fungio precipua da escola nada mais é do que a transformag
cultura primeira, a partir dela mesma, a passagem da conse!
agénua para a consciéncia critica. A percepgio da consciéncia in
86 se dard através de sua avaliagio, que deverd indicar os rumos
sua “transubstanciagio” em consciéncia critica. _
Se a “visio culposa do erro, na prética escolar” (Luckesi, 1999)
48) continuar sendo predominante, no havers como encaré-lo come
fonte de conhecimento pedagdgico ¢ a avaliagio prosseguird na sill
trajet6ria de instrumento de selecio, discriminagio, meritocracia @
exclusio, Nesta perspectiva, a verificagdo da aprendizagem deixa de
ser verificagao da aprendizagem, para se transformar em exposiciio de
“quem no sabe”. Na maioria das vezes, as provas aplicadas no Ensino
Fundamental no visam verificar 0 que os alunos sabem, mas o que
eles no sabem — ¢, o que € pior, através de um viés moralista que
considera a resposta diferente da esperada no “gabarito” como um
erro que deve ser castigado. Luckesi, no artigo citado, faz. a reconstituigiio
dos castigos escolares, que evolufram de formas mais rudes — expli-
citamente fisicos — até as mais sofisticadas formas de violencia
simbélica, hoje predominantes, que forgam a introjegio do fracasso
pelo/no préprio aluno.
A partir do erro, na pritica escolar, desenvolve-se ¢ reforga-se
no educando uma compreensio culposa da. vide, pois, além de ser
castigado por outros, muitas vezes ele softe ainda a autopunigdo. Ao
ser reiteradamente lembrado da culpa, 0 educando no apenas sofre os
castigos impostos de fora, mas também aprende mecanismos de auto-
unio. por sponos ex qu abu as} mesmo (Locks op
Com essa prétca docente, crite, na escola uma stmosfera de
igo", onde © medo impede que ela se transforme numa
Sates Nera queria Georges Snyders". =
A. concepgio moralista do “erro” Grai)uma visio de mundo
autoritéria, porque ela tem como pressuposto bisico a apropriagio ©
imposigtio de padrocs considerados como veidaues absulutas, pré-cons-
trufdos ou incorporados pelo avaliador, aos quais serio comparados
0s desempenhos dos alunos. A minima discrepancia entre esses de-
38. Em A alegria na escola (1988) ¢ Alunor felizes (1996).
93
sempenhos © aqueles padres gera um verdadeiro arsenal de punig6es,
cujo efeito mais maléfico é 0 desgaste da vontade de aprender, da
rmotivagio e, no limite, 0 assassinato da auto-estima do avaliado. Nessa
concepeio, 08 instrumentos de avaliagio se tornam. “instrumentos
inquisitérios", que consideram as respostas e os desempenhos como
“uma espécie de pagamento ¢ as notas como “recibos” que, por sua
vez, na maioria das verificagdes, no correspondem ao “pagamento
efetuado™”.
‘A concepgio culposa da vida tem raizes mais profundas, como
destacou Luckesi, no processo de evolugio da chamada “Civilizagio
Ocidental Crista”, na qual 0 pecado é a centralidade referencial dos
comportamentos, que acaba por tomé-los sadomasoquistas, uma vez
que nos punimes e “castigamos_os outros a'pantr ¢-projecio de
nossos sentimentos de culpa’ (Luckesi, op. cit: 53). Porém, mais do
que a “ideologia do pecado”, desenvolveu-se ¢ tomou-se dominante
nas formagbes sociais do Ocidente — nas quais se insere a formagio
social brasileira — a ideologia burguesa, consubstanciada ¢ instrumenta-
lizada no/pelo Estado Burgués. Analisemos um pouco mais esta questio,
{if que a escola & um dos aparelhos ideol6gicos mais eficientes do Estado,
E pobre a historiografia ¢ a literatura sociolégica e politolbgica
brasileira sobre a questio do Estado no pais. Conforme destacou Décio
Saes, em um estudo primoroso sobre a formagio do Estado Burgués
no Brasil (1985), os primeiros analistas que se debrugaram mais
seriamente sobre a questio, trataram o Estado de “modo puramente
negativo, ou seja, como 0 contririo do poder privado” (Saes, 1985:
17). Raymundo Faoro, com seu j4 também classico Os donos do
poder (1975), ainda que com uma interpretagio weberiana, d& um
salto qualitativo na abordagem da questio, desenvolvendo 0s conceitos
de “Estado Patrimonial”, “Estado Estamental Puro” e “Estado Moderno”.
Faoro influenciou e continua influenciando boa parte da intelectualidade
brasileira com suas percucientes anilises, embora destile um enorme
pessimismo, que chega as raias da amargura, nos seus artigos em um
periédico semanal de grande circulagio no Brasil".
39. Conforme jé destacamos anteriormente, a subjtvidade de quem comige nem
sempre leva em consideracdo outras formas coretas de respostas ao que foi indakado.
'40, Como é 0 caso de Nestor Duarte, com seu ensaio A ordem privada e a organizagdo
poltica nacional (1966) e, na sua esteita, Vietor Nunes Leal, com sua jf clissca obra
Coronelixmo, ensada e voto (1975), ¢ Mavia Tsaura Pereira de Queioz, com © mandonismo
local na vida politica Brasileira (1976).
441. No momento em que escrevemes esta parte do abalho, Faore mantém uma
coluna na revista stb.
94
Seri preciso esperar os trabalhos de Octavio Tani, Estado e
capitalismo e Estado ¢ planejamento econdmico no Brasil (1930-1970),
ara termos uma anilise mais consistente do Estado Brasileiro, porque
elaborada numa visio dialética da trajet6ria histérica nacional. lanni,
como outros pensadores marxistas, retarda a instalagio do Estado
Burgués no Brasil para o pés-1930, subestimando a passagem do
trabalho escravo para o trabalho livre no pais, que ocorrera cerca de
mais de trés décadas antes, com a conseqiiente “reconversio” do Estado
Escravista Moderno, no periodo que vai do processo abolicionista até
a consolidagio da Repiiblica, Mas em que consiste o Estado Burgués?
Qual sua natureza, que transformagées ele sofreu até os nossos dias,
que significado sua versio mais contemporinea pode ter nas relagdes
pedagogicas e, mais especificamente, nas que dizem respeito aos
processos avaliativos? Responder a todas estas questdes exigiria reflexdes
‘do expandidas que ultrapassariam os limites deste trabalho. No entanto,
ara entendermos com mais profundidade a “visio culposa” da avaliagio
— diriamos, antes, classificatério-discriminatério-seletivo-excludente —
hid podemos escapar, nem que seja sumariamente, da formulacio de
algumas consideragdes sobre o Estado Burgués brasileiro ¢ suas im-
osigdes nas relagdes sociais de um modo geral e, particularmente,
nas pedagdgicas.
(..) © Estado, em todas as sociedades divididas em classes
(eseravista feudal ou capitalista) € a propria organizagio da dominagio
de classe; ou, dito de outra forma, 0 conjunto das instituigdes (mais
‘ou menos diferenciadas, e mais ou menos especializadas) que conservam
a dominagio de uma classe por outra (Saes, op. cit 23).
E, a0 cumprir sua missio organizadora da dominagio e da
reproducio da dominagio, 0 Estado no opera sempre do mesmo
modo, mas 0 faz de acordo com a dominagio real estabelecida nas
relages de produgdo (escravistas, feudais ou capitalistas). Assim, a
cada modo de produgio dominante em uma formagio social corresponde
uum tipo de Estado, z
Transformadas as relagdes escravistas em capitalistas no Brasil,
no final do século passado e inicio do século atual, ocorreu, simul-
taneamente, a “reconversiio” do Estado Bscravista Moderno em Estado
Burgués,
Mas em que consiste o Estado Burgués? Quais as diferengas
significativas de sua estrutura e funcionamento, em relagio aos Estados
pré-burgueses? Temos de relembrar que o Estado, enquanto categoria
95
politica, caracteriza-se por um direito (conjunto de normas institucio-
nalizadas de comportamento individual social e instrumentos, meca-
nnismos e formas de sua aplicagio) © uma organizacdo institucional
(aparelhos coletores ¢ repressores).
O direito burgués diferencia-se essencialmente do direito pré-bur-
gués ao igualar os desiguais, isto é, considerar como iguais, perante
4 lei, todas as pessoas, independentemente de suas diferengas étnicas,
econémicas, politicas e culturais. Enguanto 0 direito das
sociedades pré-burguesas considerava os desiguais como juridicamente
desiguais, 0 direito burgués, reproduzindo homologamente a estruturacio
social das rélagdes individualizadas ¢ ilusoriamente equalizadas (“ilusio
mercantil”) no contrato de trabalho, “igualiza todos os agentes de
produgio, convertendo-os em sujeitos individuais; isto é, em individuos
capazes de praticar atos de vontade™ (Saes, op. cit: 38).
cia, podemos destacar
Dentre os tragos earacteristicos da buroc
) 4) separagio entre 0 piblico e 0 privado;
») acesso universal aos aparelhos de Estado;
| c) hicrarquizagdo rigida das funcdes estatai:
Cada um desses tragos merece um ligeiro comentétio.
A separagiio entre © piblico e o privado é fundamental para que
no ocorra a apropriagio, pelos segmentos de classe nio-dominante,
dos bens estatais, j4 que 0 acesso aos aparelhos de Estado é universal
Portanto, a separagio das duas esferas, além de reproduzir, homolo-
‘gamente, a iniciativa burguesa de distanciamento do produtor direto
fem relagdo aos meios de produgio, evita a socializagio de todo 0
poder com os dominados que ocupam cargos ¢ empregos nos aparelhos
estatais. De fato, 0 acesso a esses aparelhos niio se baseia em outros
critérios que o da competéncia individual, medida através dos processos
seletivos (concurso piblico etc.). Porém, a rigida hierarquizagio das
fungdes “corrige” a socializagao universal do poder, permitindo apenas
aos escaldes superiores 0 acesso a todas as informagdes ¢ a todos os
processos decis6rios. Por isso, os escaldes superiores nfio constituem
vVagas a serem preenchidas por concurso, mas “cargos comissionados”
1 serem preenchidos por “nomeagio de confianga”, sendo seus detentores
demissiveis ad nutum, isto €, exonerados quando nio “mais gozam da
confianga” do governante, que € um membro da classe dominante ou
seu preposto. As relagdes rigidamente hierarquizadas entre o “chefe”
€ seus subaltemnos se dio por uma individualizagao extremada no que
diz. respeito a0 processo de tomada de decisdes ¢ sua implementagio.
96
De fato, 0 subalterno nunca pode dar a palavra final sem o aval do
“chefe maior", que mantém relagdes individualizadas com todos os
“subaltemos imediatos” e, por intermédio destes, com cada “agente
estatal de carreira”. Estes sltimos se limitam as “decisoes técnicas”,
uma vez. que as decisdes finais sio sempre “politicas” e dependem
dos escaldes superiores do Governo. Como da para perceber, assim
‘como as relagdes capitalistas de producto (contratuais) individualizam
as “partes contratantes”, para melhor facilitar a dominagio, também
as relagdes no interior dos aparelhos de Estado sio individualizadas
Contudo, a complexidade crescente, tanto do sistema produtive como
do sistema politico, exige, cada vez mais, processos coletivos de
trabalho, o que pode (e tem) gerado solidariedade de classes dominadas.
Neste caso, 0 Estado Burgués opera uma desqualificagio e uma
descaracterizagio desta solidariedade, substituindo-a por outras: nacio-
nalismo ¢ bem piblico. O nacionalismo igualiza todos os membros
de todas as classes de uma mesma formagio social, ao inseri-los num
coletivo que, embora artificial, apresenta grande appeal politico”. O
“bem piblico” — na realidade, bem privado das classes dominantes
— opera um tréfico ideol6gico semelhante, na medida em que todos
0 agentes governamentais, ainda que no pertengam ao universo dos
{que efetivamente decidem e gozam das benesses estatais, sentem-se
Fesponsdveis por um “patriménio de todos”. Ora, tais concepgdes s6
resistem se nos apegarmos ainda & visio ingénua que concebe o Estado
Burgués como mediagiio nos conflitos de classe e como instrumento
equalizador das diferengas sociais”.
42, Freud, em “O futuro de uma ilusSo", analisou os mecanismos psiol6gicos que
presidem a elaboraga0 simbolica individaal © coletiva das classes dominadas, no senido
4e se Senirem partcipes de todos os benefcios de uma formagio social caracterizaa pela
ddominagdo de uma classe sobre as outras: “A satisfago narcsist, extraida do ideal cull,
€ um dos poderes que com maior Exito atuam contra a hosildade adversa & cvilizagio,
dentro de cada setor civilizado. Nio 36 as classes favorecidas que gozam dos beneficios
4a eivilizagio. contespondente, mas também as oprimidas, panicipam de tal satsfaio,
‘enquanio dreto de desprezar os que nfo pertencemt & sua civilizagdo, compensando-os da
imitagbes que ela Ihes impse. Caio € um misero plebeu explorado pelos tributos e pelas
Drestagdes de servgos pessoas, mas também é um romano e participa como tal da magna
‘empresa de dominar outras nagdes ¢ imporIhes leis, Esta ideniicagio dos oprimidos com
4 classe que 05 oprime e os explora nao ¢, cantado, mais que um fragmento, de una
{oualidade mais ampla, pos, além disso, os oprimidos podem sents efetivamente ligados
‘0s opressores, e, apesar de sua hostilidade, ver em seus amos, seu ideal” (Freud, 1948,
1: 1259),
43. Nesta altura da argumentao, muitos poderiam car no nilismo ertico,concluindo
‘que “eno, nlo hit salvagio" e que a Gnica saida estar no desmantclamento do Estado
”
> porque opera uma espécie de “naturalizagio” dos processos hist6ri
© que o Estado Burgués, com suas caracteristicas estruturais ©
funcionamento especifico, tem a ver com a avaliagao levada a efeito
nas escolas burguesas? Ora, conforme jé destacamos antes, a escola
burguesa constitui um dos aparethos privilegiados desse tipo de Estado,
08,
Pelo viés “cientificista”, ela tenta convencer 05 alunos de que as coisas
So do jeito que sio porque assim deveriam ser, ja que 0 positivismo
que as perpassa trata 0 curriculo — elaborado pelos segmentos do-
minantes — como verdade absoluta. Além disso, nos seus mecanismos
intemnos, particularmente na avaliagio da aprendizagem, ela reproduz,
homologamente, os processos de estruturagao da dominagao que ocorrem
nas relagdes de produgio e nas relagdes sociais mais gerais. Sendo
vejamos:
1°) Os procedimentos escolares transformam as relagdes profes-
sor/aluno em verdadeiras relagdes contratuais. Os desempenhos dos
discentes sio transformados individualmente em valores de troca. Nio
€ sintomético que as expresses dos resultados da avaliagao tenham
‘a mesma denominagdo que os simbolos do valor de troca nas relagées
Brecon
2°) O sistema simbélico, 0 conjunto das verdades e valores a0
qual deveré ser comparado 0 desempenho dos ahinos, & apresentado
como “naturalmente” valido e, portanto, indiscutivel, constituindo um.
coletivo simbélico artificial que de: ca ai
‘qualquer coletivo simbético diferente, alternative ou antagénico. Con-
tudo, relativamente ao proceso educacional, 0 maior estrago dessa
Bian’ s 1 acdietd' no dal db conde «Aa cine ition
Beet ae vhaas VE chal ha elisaae, earn Tak
possibilidade de avango da ciéncia, do conhecimento, da educagao ¢
da liberdade. Nessa concepedo, a cidadania ndo se inscreve no horizonte
das possibilidades e & banida do universo ut6pico.
De um modo geral, na pesquisa, as respostas € os desempenhos
no sio encarados como erros, mas como acontecimentos, dos quais,
Burguts, atuando, revolucionaiamente, fora dele. Neste caso, nem teria sentido trabalhar
numa escola esta. pois. se temos compromisso com a democratizacto efeiva, deverfamos
nos colocar na resisténcia, fora de qualquer aparelho estal. Penso que esta discussio
lambs escapa aos limites deste trabalho, mas no cusa lembrar que a tealidade € dialética
‘© que, portanio, nem sempre a coisas funcionam parti da intencionalidade dos agentes
‘dominadores. Além disso, o desmantclamento do Estado Burgués pode ser feito de dent
para fora, uma vex que, conforme atestam os processos histricos, uma classe ascendente
Pode Se tornar governante antes de ser dominante
98.
se podem tirar ligBes. Se visualizados como erros, teriam como
pressuposto a existéncia de um preconcebido padrdo correto, que
impediria 0 avango cientifico, pois todo 0 conhecimento ji estaria
previamente estabelecido em padres congéneres.
Sem_padrio, no hi erro. O que pode existir (e existe) € uma
ago insatisfatéria, no sentido de que ela nao atinge um determinado
objetivo que se est buscando. Ao investirmos esforgos na busca de
uum objetivo qualquer, podemos ser bem ou malsucedidos. Af niio hd
ferro, mas sucesso ou insucesso nos resultados de nossa ago (Luckesi,
op. cit: 54).
Um alerta, como Luckesi, devemos registrar: ndo se pode fazer
“apologia do erro © do insucesso como fontes necessarias do cresci
mento” (id. ib.: $8). O que se pretende, numa avaliagio cidada, € 0
registro_e_a_andlise dos insueessos como foite de apreensio dos
mecanismos de raciocinio que a eles presidiu, com vistas & reprogra-
‘magio curricular — aqui entendido em seu sentido amplo. Se o
equivoco e 0 insucesso deixam de ser fonte de julgamento e punigao,
€ porque a visio de mundo de quem os aborda considera-os como
“contingéncias necessétias” no processo de construgdo do saber. No
se trata de buscar 0 erro para que se possa construir o conhecimento,
mas encaré-lo como fonte de outros saberes — no caso da avaliagio
— diditico-pedagégicos. Além disso, nem todo “insucesso” é na
verdade insucesso, porque o é, na maioria das vezes, se nos colocamos
na perspectiva do conhecimento que se pretende hegemdnico. O
Pensamento conservador 1é 0 mundo no vigs do “certo/errado” —
‘evidentemente considerando-se como monopolizador da primeira parte
da dicotomia — porque tal “maniqueistizag2o” Ihe permite desideologizar
seus proprios interesses. E esta sectarizacio do conhecimento nio pode
ter como contrapartida a valorizagao absoluta do outro pélo da dicotomia.
A sectarizagio, porque mitica e irracional, transforma a realidade
‘numa falsa realidade, que, assim, nfio pode ser mudada
Parta de quem parta, a sectarizagio & um obstéculo & emancipagio
dos homens (Freire, 1981: 22).
Jé destacamos anteriormente a tendéncia que apresentam certas,
correntes de pensamento de dividir 0 mundo, a realidade ¢ qualquer
reflexdo sobre eles em dois semi-universos antagnicos ¢ inconcilifveis,
de modo que um negue 0 outro e seja a expressio da verdade, do
bem e do belo, enquanto 0 outro é 0 reflexo da mentira, do mal ¢
do horrivel. De modo geral, essas correntes se inscrevem no universo
do positivismo — tomado no_sentido que Ihe emprestamos neste
trabalho. Ora, toda tendéncia @noseolégicd positivista apresenta, nem
{que seja implicitamente, uma aspiragio hegeménica, uma vez que a
preocupagio e a busca de verdades absolutas visam 2 negagio de
afirmagoes alternativas, diferentes ou antag6nicas. J4 afirmamos também
que, infelizmente, a orientagio predominant nas escolas de ensino
fundamental brasileiras € positivista, na medida em que os professores
colocam-se diante dos alunos como detentores de verdades indiscutiveis,
‘que tém de ser por eles absorvidas e devolvidas nas avaliagdes, sem
Variagdes que insinuem nem sequer uma flexibilizagio do “depésito
reflexivo docente”. O ensino brasileiro é marcado, profundamente, por
esse viés maniquefsta, no qual a realidade-objeto do saber é apresentada
sob a forma de “certo/errado”, “bem/mal”, “belo/feio” e, por via de
conseqléncia, a avaliago se transforma num julgamento moralista,
porque se baseia numa visio ideoldgica “desideologizada” da Histéra.
Dada a ligacdo intima enire 6 maniqueismo, a(Weltanschawung culposa,
© positivismo e a pretensio hegemdnica desideologizada, nio dé para
estabelecer a ordem de determinagio de um sobre 0 outro. Evidente-
‘mente, se quisermos buscar a determinagio em Gitima instancia, iremos
encontri-la nas relagdes de produgdo de cada sociedade e em cada
‘momento ou contexto histérico especifico dessa mesma sociedade, na
qual os engenhos da superestrutura se constroem, por homologia, em
cima dos mecanismos de dominagao econdmico-social.
“44 Temos usado reteradamenteo concito de homologia, por oposig ao de “analog”.
0s processos anélogos se do por reflexo das estruturapGes referenciadas em relagio aos
refetencais, enquanto os homdlogos se consrcem por reproduglo congénere e imbricata
nos rfereac
100
nem sem os outros”, jé escrevia Paulo Frei
8
ETAPAS DA AVALIACAO DIALOGICA
“Simplesmente, no posso pensar pelos outros nem para os outros,
(1981: 119). Da mesma
forma, no podemos avaliar pelos alunos, nem para os alunos, nem
sem_os alunos. Aplica-se também a avaliagio da aprendizagem no
Ensino Fundamental o que Paulo Freire refletia mais genericamente
sobre a relagdo entre 0 pesquisador popular e 0 povo:,
(..) se 0 seu pensar é magico ou ingénuo, seré pensando [avaliando} /
(0 seu pensar, na ago, que ele mesmo se superaré. E a superagio no
se faz.no ato de consumir idéias, mas no de produzi-las e de transformé-las
nna ago € na comunicagio (Id. ib.)
A_avaliagio da_aprendizagem é um tipo de investigagio e 6,
também, um ee fe _conscientizagio ey primeira”
do_educando, com suas potencialidades, seus limites, seus tragos ¢
‘Seus_ritmos especificos. Ao mesmo tempo, ela propicia ao educador
io_de seus procedimentos ¢ até mesmo o questionamento de
‘sua propria maneira de analisar a ciéncia e encarar 0 mundo, Ocorre,
‘heste caso, um processo de miiua educagao.
Paulo Freire, tratando do levantamenta e da pesquisa da temética
geradora nos processos de alfabetizacio libertadora, assim se exprimiu:
Quanto mais investigo © pensar do povo com ele, tanto mais nos
feducamos juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos
investigando.
101
Jo € investigagio temitica, na concepgio problematizadora
4a educagio, se tornam momentos de um mesmo processo
()
AA tarefa do educador dialégico &, trabalhando em equipe inter-
disciplinar este universo temético, ecolhido na investigagio, devolvé-lo,
como problema, no como dissertagio, aos homens de quem resebeu
—" Freire, op. cit: 120),
Ou seja, realizada a avaliagio da aprendizagem, com o aluno,
‘8 resultados niio devem constituir uma monografia ou uma dissertagio
do professor sobre os avangos e recuos do aluuno, nem muito menos
uma prelegio corretiva dos “erros cometidos”, mas uma teflexio
problematizadora coletiva, a ser devolvida ao aluno para que ele, com
“0 professor, retome o processo de aprendizagem. Neste sentido, a sala
de aula se transforma em um verdadeiro “circulo de investigagao” do
conhecimento e dos processos de abordagem do conhecimento.
Na perspectiva dessa concepeao, podemos vislumbrar os seguintes
passos necessérios da avaliagio:
1°) identificagio do que vai ser avaliado;
2) constituigdo, negociago e estabelecimento de padrée:
3°) construgio dos instrumentos de medida € de avaliaga«
4°) procedimento da medida e da avaliagio;
5°) anilise dos resultados € tomada de decisio quanto aos passos
seguintes no processo de aprendizagem.
‘Cada um desses passos merece um comentétio.
(A) Identificagio do que vai ser avaliado
Aqui j4 se inicia um grande problema. Na maioria das escolas
brasileiras, os objetivos dos “planos de curso” sio estabelecidos antes
do inicio do ano letivo, contam apenas com a participagio dos
professores ¢ “especialistas” e visam atender antes as exigéncias
burocriticas do que ao trabalho a ser desenvolvido em sala de aula.
Salvo as honrosas excegdes que confirmam a regra geral, os “planos
de curso” estabelecem, artificial e discricionariamente, os objetivos a
serem aleangados pelos alunos, os procedimentos a serem adotados ¢
as formas, a periodicidade e os instrumentos de avaliagio. Alids, a
periodicidade do registro dos resultados dos desempenhos dos discentes
€ determinada pelo sistema (bimestral), desconhecendo a natureza e
102
as dimensées das unidades em que sio divididos os campos do
conhecimento organizados em “disciplinas”. Como 0 “plano” seri
esquecido numa gaveta da burocracia, os professores os elaboram nas
J famosas “semanas de planejamento”, no se preocupando muito
com seu contetido, mas com sua forma — geralmente enquadrada em
lum formulirio fornecido pelos érgios centrais. Como também o
professor raramente voltard a usar 0 “plano” depois de entregi-lo a0
sistema, no se preocupa muito com uma definigio clara dos objetivos
4 serem alcangados. Na maioria dos casos, tais objetivos sio formulados
de modo genérico, difuso, sem uma delimitagao de fronteiras, ja que
no sio referenciadas nem nas fases de competéncia cognoscitiva do
aluno. E quando se leva em consideragio as fases da psicologia
evolutiva, o aluno & considerado em abstrato, descontextualizado, Dat
iculdade, nos momentos das avaliagdes periddicas, de se estabelecer
© mais exatamente possivel o que se quer avaliar, tanto em termos
das competéncias discentes quanto em relagio aos “depésitos” de
contetido.
Na avaliagio cidada, a primeira preocupagio € com 0 verdadeiro
Planejamento que, na escola bisica brasileira, tem de superar, dentre
‘outros, dois. problemas:
) a discriminagdo_dos pais ¢ alunos _na sua formulagio, em
nome de uma “incompeténcia profissional
») a des-historizagio positivista dos componentes curriculares por
-considerar_o “aluno em geral” © niio os sujeitos
SL especificos de cada_contexto histérico-soci
Nao 6 possivel estabelecer com relativa precistio 0 que se pretende
avaliar, se_nfo_se determina, com a mesma preciso, 0 que se quer
atingir_ com o planejamento. E claro que esta “precisio” é relativa,
pois o plano nio € uma camisa-de-forca, mas um roteiro de metas,
Objetivos e procedimentos, com um minimo de flexibilidade, para
Permitir ajustes ao longo da aprendizagem, em fungio das alteracGes
contextuais exigidas em todo ¢ qualquer processo de relacionamento
humano. O plano de curso é um instrumento importante, que deveri
estar_na mio dos professores e dos alunos, como uma espécie de
mapa da mina do tesouro do saber, por meio do qual se vio rastreando
as pistas e 0s caminhos que permitem a descoberta do conhecimento.
Por isso, sua elaboragao niio_pode preceder © inicio das_atividades
Jetivas, mas delas deve fazer parte, na interagio de especialistas, corpo
ide_servidor escola, pais e alunos. No primeito
‘er um intenso proceso de planejamento,
no qual todos os membros da comunidade escolar se engajem numa
103
fervilhante atividade de previsio das metas, objetivos, estratégias,
Liticas, instrumentos e procedimentos didético-pedagdgicos, recursos
humanos, materiais e financeiros existentes ou que devam ser buscados
nas fontes proprias, além da definigao dos papéis especificos. Simul-
taneamente, nas “aulas”, pode-se aproveitar o tempo para a verificacio
da identidade sociocultural dos alunos, isto é, fazer a sondagem de
sua “cultura primeira”, de suas potencialidades e dificuldades, de suas
aspiragées, projegées © ideais, de sua expectativa ou resisténcia em
relagio a escola, ¢ até mesmo dos pré-requisitos em termos de contetido,
habilidades e posturas necessirios ao enfrentamento do grau objeto do
planejamento do ano.
Certamente a investigagio da “cultura primeira” da comunidade
e dos alunos implicard mais tempo e demandaré outros instrumentos,
‘bem como procedimentos mais sisteméticos de pesquisa. Por isso, essa
interagio investigativa com/da cultura da comunidade deverd preceder
© periodo escolar. Paulo Freire refere-se a uma “unidade epocal” ao
“universo temético” de uma época, que deve ser identificado, pois &
dele que deverto ser destacados 0s “temas geradores” do planejamento
€ das atividades curriculares (Freire, 1981: 91 e seguintes)*. Entretanto,
este universo temitico hist6rico & percebido de modo diferente pelas
diversas classes sociais e segmentos de classe, de acordo com sua
posigdo especifica nas relagées de produgio, Em outras palavras, cada
grupo social, conforme sua consciéncia_real_e/ou_sua_conscigncia
‘possivel, captard os diversos temas significativos de sua época. E sua
‘Visio de mundo — ingénua ou alienada, consciente ou libertadora —
que determinard a significagio maior ou menor dos diversos temas.
Certamente, nos dias que correm, os fenmenos da reconversiio tec-
nolégica do sistema produtivo e a globalizaco sio temas significativos
para todos os homens. Contudo, se para a consciéncia burguesa a
terceirizagio e o globalismo sZo temas relevantes, para os produtores
diretos o tema do emprego se tora fundamental
© levantamento dos temas geradores facilita a recuperagio. da
totalidade da ciéncia, na medida em que enseja a interdisciplinaridade
ea transdisciplinaridade, a0 mesmo tempo que revela as “situagdes-
limites”, 0s trificos ideolégicos e os “inéditos visv
as
vit
45. Ainda que limitando tai reflexdes a0 processo de alfabetizagio de adultos, Paulo
eina pista preciosas para a formulag3o do planejamento e “processualizagio” da edueasi0
cm geal
+46. “Situagio-liite” ¢ “inédito vivel” so dois concetos fundamentais desenvolvidos
por Paulo Freite na Pedagogia do oprimid (p. 110 e segs). O primeio diz respeto &
104
No caso do Ensino Fundamental, a pesquisa a
s justia tanto quano na edicagio de edutos, com deulkeamenton
linguisticos, semanticos e ideol6gicos. Para ajudar a ordenagdo seqilencial
de sua complexidade — nao se pode esquecer, na educagao de eriangas,
das fases da psicologia evolutiva — nio devemos desprezar a classi.
ficagio que Benjamim Bloom e equipe propuseram para os mecanismos
do raciocinio humano, em qualquer campo do saber (“disciplinas”), A
taxionomia de Bloom, mesmo que abstraindo as especificidades sécio-
hist6ricas de cada aluno em particular, ajuda-nos a perceber com mais
clareza as ordenaydes seqlienciais dos objetivos do dominio cognitive
€ afetivo e, conseqilentemente, implicagées pré-requisitais de qualquer
exigéncia em termos de conteido. A titulo de colaboragio, elaboramos
lum quadro sinéptico do que este autor desenvolveu ao longo do
primeiro volume de sua obra, versando sobre 0 “dominio cognitivo”
(1972), que apresentamos a seguir". Os exemplos dados a respeito de
‘cada objetivo visam apenas construir referéncias para que o professor
com sua experiéncia do dia-adia, construa os seus proprios, ou coteje
com os que estio em seu plano de curso, para estabelecer uma
seqiiéncia de complexidade crescente mais adequada e de acordo com
© nivel em que se encontram seus alunos.
real aruda © dominagio, enquanto 0 segundo insere-s¢ no universo da conscientizayi,
‘consciéncia maxima possivel ¢ libertagio, Inclusive, a releitura da Pedagogia do oprimido
‘mas mio esti fora de nossas cogitages em préxima publicasao. {
amente porque nesta parte da obra (volume 2) nlo nos convenceu a possbilidade. Je uma
Scipio cotatomo pano dr ob ue oo en’ ur esto wl Se
Deena pe poco morse Se oe
oR ete noses plagogos: a ons vm © pam com 2 mesa clade de i
105
Você também pode gostar
- Ilovepdf MergedDocumento13 páginasIlovepdf MergedDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- VASCONCELLOS, Celso Dos S. em Busca de Algumas AlternativasDocumento18 páginasVASCONCELLOS, Celso Dos S. em Busca de Algumas AlternativasDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- HOFFMANN, Jussara. Uma Visão Construtivista Do Erro e Por Que Corrigir, ProfessorDocumento24 páginasHOFFMANN, Jussara. Uma Visão Construtivista Do Erro e Por Que Corrigir, ProfessorDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- Vasconcellos III Análise Do Problema e IV Finalidade Da AvaliaçãoDocumento15 páginasVasconcellos III Análise Do Problema e IV Finalidade Da AvaliaçãoDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- 7 - O Arrebatamento IIDocumento2 páginas7 - O Arrebatamento IIDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- Formação Ministerial Teológica DescriçãoDocumento4 páginasFormação Ministerial Teológica DescriçãoDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- Carta de Agradecimento - EBDDocumento2 páginasCarta de Agradecimento - EBDDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- Histórico Douglas Pedro Candido FrancaDocumento3 páginasHistórico Douglas Pedro Candido FrancaDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- 1 - O Eterno Passado de DeusDocumento2 páginas1 - O Eterno Passado de DeusDouglas Candido françaAinda não há avaliações
- PDF 23108.002720 - 2022-21 - Portaria - 5322826 - SEI - 5316270 - Portaria - Normativa - 14 - 1Documento2 páginasPDF 23108.002720 - 2022-21 - Portaria - 5322826 - SEI - 5316270 - Portaria - Normativa - 14 - 1Douglas Candido françaAinda não há avaliações