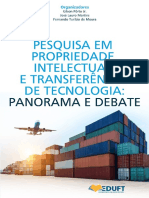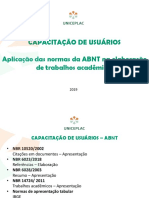Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rocha 2013 Magia Do Circo
Rocha 2013 Magia Do Circo
Enviado por
Rafaela Goncalves0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
23 visualizações306 páginasTítulo original
Rocha 2013 magia do circo
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
23 visualizações306 páginasRocha 2013 Magia Do Circo
Rocha 2013 Magia Do Circo
Enviado por
Rafaela GoncalvesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 306
Gilmar Rocha
Fert Cree ON eee are ce ke eee)
“novo circo”, que no Brasil tem como exemplo o Grande Circo Popular do Brasil
Oo RenteRs ey Mie see ne Le TS ae
eee eee ies es Meo nT eu cue ao
em eventos de projecao nacional. Mas nao é sem conflitos que essa proposta tem
Pe ee me eee tee A ke ken onc)
Rp Rtresrmse see Cc eka erie Un iS
Pn Cre R ISK nk (eee ol ek Re ee estrutural. Sem
Pease rare ion Te ccuremet ir eR CORA cc SCCM oa ac
Pere ere Che eu Ce Ren eee cue
um significado especial na estrutura, no funcionamento e na organizacao social
Perens eee Sek ek keene kee Ro
Pee eC eet Ce Ne Se in ke uiceu)
tempo que, de outro, Ihe é exigido um processo constante de “metamorfose”
Pee ere eae tom Ru ao ee Rak
significando isso um duplo movimento do corpo circense. A mudanga de uma
Perr enrettee ne eRe wean OO uo eng
circo. A viagem, entio, se revela como 0 mecanismo estrutural de mediacao entre
Pea eer eete se eee Cen ecko On kor Lee
circo, 0 que é dramatizado nos bastidores torna-se tio importante quanto © que
6 performatizado no espetaculo. Dai, a categoria fazer adquirir uma importancia
See tek enn Cum ie a
Penna earn
rea ea Ree ee cco
Pen eer ee Cnet teeth ud
Pee Retin econ Cee Ric kc keke acc
principais de sua eficacia simbélica.
ee eee ee ken i
de Filosofia e Ciéncias Sociais da Universidade Federal do Ri
de Janciro, Dediea-se a estudos nas linhas de pesquisa em teori
Bees ete et eee eae
re eet ey eC as
ean ere eer te eu
Pee tet ee ce
ro Brasil. Participa dos seguintes grupos de pesquisa do CNPQ:
Penne tet
erect ey rere Re Rog
pene (ee er oe a
Estudos Culturais da UFF. Atualmente, é professor no curso de
Produgio Cultural, do Departamento de Artes ¢ Estudos Cultu-
Bay GONE Seance cer ie
een rey cel ree cece
(UFF). Além de artigos e capitulos de livros, publicou, entre
ee ee a ann
ene Ie ene ete tect ee
A Lamparina sugere
Aprendendo com filmes:
(O cinema como recurso didético para o ensino da geografia
eee cs
eco eu!
essen a
rea
Culturas escolares,formacao e sociablidades infants e juvenis
“Tania Dauster (organizacio)
Sr csGr rc)
ea ecCr a)
Te Red eda
Pee ee ee
ccc
CNT er
NO et
Vee)
Urea
cola, trabalho e moradia em territrios de precoriedades
Denise Cordeiro
a
Walter Omar Kohan (organizagio e traducio)
CMY (ice)
Dd
‘Walter Omar Kohan (organizagio e traducio)
Elvira Vigna (ilustragio)
ey aaa
Guidados, controles e pendlizagbes de jovens
‘Acicio Augusto
eed
Perspectivas culturais do ensino da leitura
Tania Dauster (organizacio)
PEON are corsa)
Sue
Ree ey ce ener)
Neva Vieira da Cunha (organizagio)
Gabriel de Santis Feltran (organizagao)
Sr
eee eee et
Carlos Augusto Nazareth
" PREFACIO
Meus primeiros passos em campo foram em direcio ao Gran Circo Inter-
nazionale D’Italia que, lamentavelmente, encerrou as atividades durante
sua temporada em Belo Horizonte (MG). Endo demorou muito para que
também o mais antigo circo brasileiro, o Circo Garcia, seguisse o mesmo
caminho em 2002.
Mas, na sua pesquisa de campo, conduzida num prolongado espaco de tempo,
Gilmar nao encontra somente as “evidéncias” da morte do circo. Ele encontra
também uma oposicio relevante no pensamento daqueles que integram o mundo
do circo: 0 “circo tradicional” e o “novo circo”. Uma oposi¢o que norteia, na atu-
alidade, o pensamento eas praticas dessas personagens e que nos ajuda a entender
muito dos seus conflitos e dilemas. Assim, ao mesmo tempo que encontrava circos
que encerravam as suas atividades, encontrou também aqueles que inauguravam
uma carreira sob a categoria “novo circo”. E 0 caso do Grande Circo Popular do
Brasil (GCPB), que veio a abrigar o trabalho de campo e a experiéncia etnografica
de Gilmar. Longe de ser um caso isolado, ele configura uma série de relagdes e me-
diagées que so perceptiveis em diversas outras iniciativas envolvendo atualmente
aarte circense: circos, escolas de circo, iniciativas sociais que incluem a participa-
io de circos etc. Depois de assistir a um espetaculo do GCPB, o etnégrafo, com
sensibilidade, admite:
Confesso que sai me perguntando se aquilo a que havia assistido naquele dia,
um fim de tarde de maio de 2000, era realmente um espetaculo de circo, a
julgar pela imagem que eu trazia do circo de infancia considerado “tradicio-
nal”. No entanto, isso nao foi suficiente para tirar a boa impressio que havia
tido do espetéculo de um dos principais representantes do chamado “novo
circo” no pats.
‘Ao acompanhar por quase dois anos as atividades e os deslocamentos do GCPB,
ele é levado a repensar a categoria “novo circo”, Nao exatamente como um
“tipo”, mas como um “movimento de renovagio”, como uma transformacao da
arte circense:
© “novo circo”, antes de ser um tipo especifico de circo, parece ser um mo-
vimento de renovacao da arte circense. Isso porque, paralelamente as ex-
periéncias de alguns circos que se definem como “novo circo”, ocorre uma
explosio de escolas, companhias e trupes de circo em todo mundo.
© convivio prolongado de Gilmar com 0 mundo do circo e a qualidade das suas
relagdes com as personagens desse mundo fazem com que ele se distancie de
uma visio do mesmo como uma forma em declinio. Ao observar e registrar esse
universo “do ponto de vista nativo”, revela-se uma categoria fundamental para o
seu entendimento: a viagem. Entre as categorias nativas, essa parece desempe-
nhar um papel central na autodefinigSo dos artistas circenses.
Nesse sentido, circo existe para os artistas enquanto deslocamentos per-
manentes, seja em termos verticais, seja em termos horizontais, ambos levando a
transformagées da experiéncia:
© circo confere as viagens um significado mais amplo quando vistas como
dois momentos ou movimentos: horizontal, quando se realiza nas estradas,
envolvendo perigos e riscos de vida, negoclagées com a policia etc; vertical,
quando faz a montagem da lona, o levantamento do mastro promovendo
O ETNOGRAFO E O CIRCO
“Uma batalha contra o enfeitigamento de nossa inteligéncia pela linguagem” —
assim Wittgenstein definia o seu trabalho como filésofo. Por sua vez, os etndgra-
fos sabem que nao ha boa etnografia sem o esforco constante para neutralizar 0
“enfeiticamento” que as palavras e as categorias da nossa propria lingua e cultura
exercem sobre a nossa percepcao. Nas suas pesquisas, ao se exporem as “catego-
rias nativas”, os etnégrafos, quando bem-sucedidos, desencadeiam uma desesta-
bilizagao de suas préprias categorias de pensamento e conseguem minimamente
se distanciar das palavras do seu idioma e do efeito limitador que estas podem
exercer sobre a anilise dos temas que eles se propéem a estudar. Nao é diferente
com a acertada experiéncia etnografica conduzida por Gilmar Rocha em A magia
do circo. Sua leitura nos leva a um terapéutico deslocamento dos nossos entendi-
mentos usuais em relacao a um fascinante modo de vida cultural.
As formas que as culturas populares assumem costumam ser percebidas
através de um olhar nostalgico, no qual esta presente um sentimento de perda
de algo original e auténtico, perda gerada pelos processos de modernizacao. A
exemplo destas, o circo exerce uma poderosa atracao sobre a nossa percep¢ao
cotidiana, que também afeta, quase incontrolavelmente, a percep¢ao daqueles que
pretendem descrever e analisar suas formas de existéncia. E curioso notar que
essa atracdo confunde-se, de certo modo, com a iminéncia de declinio e desapa-
recimento. Nas nossas interagdes cotidianas, ao nos referirmos as culturas popu-
lares, acrescentamos sempre o comentario: “pena que esta se perdendo”, “jd ndo
& mais a mesma”, “perdeu sua autenticidade”, “esta dominada pelo mercado”, e
assim por diante. Nessas expressdes se revela um modo de perceber as culturas
populares no qual estas aparece como formas perfeitas que, do fundo dos tem-
pos, chegariam alteradas, descaracterizadas e fragmentadas, até nds. Assim como
pode chegar até nés a luz de estrelas que ha bilhdes de anos se extinguiram.
Esse modo de entendimento mostra-se, de forma ostensiva ou insidiosa, em
muitas andlises das culturas populares. A partir desse ponto de vista, a descarac-
terizagio e a fragmentacao dessas culturas resultariam de um processo histdrico
que, inexoravelmente, levaria, num extremo, ao seu completo desaparecimento
8 sua substitui¢ao absoluta por formas de pensamento cientifico e modalidades
racionais e burocraticas de organizacao da vida. Essa narrativa tende, assim, a reco-
nhecer a existéncia das culturas populares como “sobrevivéncia” de um passado,
como persisténcia de uma tradiglo, mas ndo como forma contemporanea de vida.
No entanto, diante desse quadro, uma questo se impGe: como explicar
essa persisténcia? Ou trata-se de um simples acaso histérico?
Nas nossas conversas cotidianas, 0 circo aparece quase sempre como cen4-
rio idealizado de memérias individuais ou coletivas. O circo que conhecemos na
infancia; a visita do circo a uma cidade pequena. A literatura, o cinema, as artes
plasticas trazem exemplos numerosos. Aparentemente, sua existéncia esta encar-
cerada num passado biografico ou histérico. Por sua vez, os estudos sobre o tema
tendem a se deixar contaminar por essa mesma percep¢ao. Poderiamos dizer que
um fantasma ronda o circo: o fantasma de sua morte. Sua existéncia contempora-
nea parece desqualificada, como a vida real de um fantasma. Uma espécie de ser
em processo constante de desparecimento.
‘Ao expor neste livro os primeiros passos do seu trabalho de campo no
mundo do circo, Gilmar Rocha, significativamente, vé-se as voltas com esse fan-
tasma. Nas suas préprias palavras:
" PREFACIO.
Meus primeiros passos em campo foram em diregio ao Gran Circo Inter-
nazionale D’Itdlia que, lamentavelmente, encerrou as atividades durante
sua temporada em Belo Horizonte (MG). Endo demorou muito para que
também o mais antigo circo brasileiro, o Circo Garcia, seguisse o mesmo
caminho em 2002.
Mas, na sua pesquisa de campo, conduzida num prolongado espago de tempo,
Gilmar nao encontra somente as “evidéncias” da morte do circo. Ele encontra
também uma oposigio relevante no pensamento daqueles que integram o mundo
do circo: 0 “circo tradicional” e o “novo circo”. Uma oposi¢ao que norteia, na atu-
alidade, o pensamento eas praticas dessas personagens e que nos ajuda a entender
muito dos seus conflitos e dilemas. Assim, ao mesmo tempo que encontrava circos
que encerravam as suas atividades, encontrou também aqueles que inauguravam
uma carreira sob a categoria “novo circ”. E 0 caso do Grande Circo Popular do
Brasil (GCPB), que veio a abrigar o trabalho de campo e a experiéncia etnografica
de Gilmar. Longe de ser um caso isolado, ele configura uma série de relagdes e me-
diagdes que sao perceptiveis em diversas outras iniciativas envolvendo atualmente
aarte circense: circos, escolas de circo, iniciativas sociais que incluem a participa-
lo de circos etc. Depois de assistir a um espetaculo do GCPB, o etnégrafo, com
sensibilidade, admite:
Confesso que saf me perguntando se aquilo a que havia assistido naquele dia,
um fim de tarde de maio de 2000, era realmente um espetaculo de circo, a
julgar pela imagem que eu trazia do circo de infancia considerado “tradicio-
nal”. No entanto, isso nao foi suficiente para tirar a boa impressio que havia
tido do espeticulo de um dos principais representantes do chamado “novo
circo" no pals.
‘Ao acompanhar por quase dois anos as atividades e os deslocamentos do GCPB,
ele é levado a repensar a categoria “novo circo”, Nao exatamente como um
“tipo”, mas como um “movimento de renovagéo”, como uma transformacao da
arte circense:
© “novo circo”, antes de ser um tipo especifico de circo, parece ser um mo-
vimento de renovacdo da arte circense. Isso porque, paralelamente as ex-
periéncias de alguns circos que se definem como “novo circo”, ocorre uma
explosio de escolas, companhias e trupes de circo em todo mundo.
© convivio prolongado de Gilmar com 0 mundo do circo e a qualidade das suas
relagdes com as personagens desse mundo fazem com que ele se distancie de
uma visio do mesmo como uma forma em declinio. Ao observar e registrar esse
universo “do ponto de vista nativo”, revela-se uma categoria fundamental para 0
seu entendimento: a viagem. Entre as categorias nativas, essa parece desempe-
nhar um papel central na autodefinicao dos artistas circenses.
Nesse sentido, 0 circo existe para os artistas enquanto deslocamentos per-
manentes, seja em termos verticais, seja em termos horizontais, ambos levando a
transformagées da experiéncia:
O circo confere as viagens um significado mais amplo quando vistas como
dois momentos ou movimentos: horizontal, quando se realiza nas estradas,
envolvendo perigos e riscos de vida, negociaces com a policia etc; vertical,
quando faz a montagem da lona, o levantamento do mastro promovendo
m O ETNOGRAFO EO CIRCO
uma conex4o cosmolégica entre o céu ea terra ... Portanto, o circo em
movimento é um, quando estacionado e montado é um outro ...
Na perspectiva analitica do autor, inspirada em Marcel Mauss, 0 circo é entendido,
nas suas transformagées, como fato social total: “O circo é uma organizagio social
cuja estrutura e funcionamento devem ser vistos em miltiplos planos: ao mesmo
‘tempo empresa e diversio, arte e trabalho, viagem e moradia.” Em outras palavras,
nao ha claras distingdes entre essas formas de experiéncia, as quais existem num
processo permanente de transformacio. Mesmo que sofrendo o desaparecimen-
to de alguns dos seus tracos empiricos definidores (por exemplo, a presenca de
animais, trapézios e palhagos), o chamado “‘circo tradicional” parece conviver de
modo tenso e criativo com o “novo circo” — esse nao apenas substitui aquele numa
espécie de escala evolutiva.
‘Ao lermos A magia do circo, temos acesso 4 experiéncia cotidiana de traba-
tho e de deslocamentos de um circo, a0 que Gilmar chama os “bastidores” desse
espetaculo. Ao acompanharmos, do ponto de vista dos seus integrantes (artistas,
empresérios, administradores, técnicos, trabalhadores etc), os diferentes momen-
tos da existéncia diaria do GCPB, percebemos a notavel complexidade presente
na organizacao da viagem, na chegada a uma determinada cidade, nas negociagdes
com as autoridades locais, na escolha do local, na montagem da lona, na prepara~
do do espetdculo; tudo isso marcado por uma dimensio imponderavel, sem que
estejam assegurados nem o sucesso nem o fracasso.
Para Gilmar, a categoria do “fazer” é central para entender o envolvimento
dessas diversas personagens com 0 mundo do circo e as razGes pelas quais acio-
nam a nogio de “magia” para descrever esse universo:
Apesar de todo discurso de tradigao que envolve o circo, a categoria “fazer”
mostra que 0 circo esta em constante reelaboracio, 0 circo nao esta pronto
e acabado, ao contrario, parte de sua magia se explica pela sua capacidade de
adaptacZo no tempo e no espaco. O circo é magico porque sua arte & capaz
de produzir uma transformacio, por menor que seja e mesmo que seja tem-
pordria, porém nunca desprovida de consequéncias sobre o préprio circense
e sobre o piblico em geral.
Nada mais distante de uma forma de vida declinante e em de desaparecimento.
Para os circenses que emergem neste livro, o declinio e o desaparecimento sio
menos destinos do que desafios cotidianos. Se as viagens, que, segundo Gilmar,
definem estruturalmente o funcionamento dos circos, equivalem a transformagées
No espaco e no tempo assim como no corpo e na alma dos circenses e do seu pui-
blico, somos inevitavelmente levados a nos distanciar das concep¢ées usuais sobre
© circo. Este nao é uma esséncia, uma forma dada e fixa que deva ser preservada
contra as mudangas histéricas. Na verdade, ele existe como parte dessas mudan-
gas. Ao mesmo tempo que é uma forma cultural muito antiga, o circo, assim como
todas as modalidades de cultura popular, é uma atividade coletiva atual, um modo
de estar no mundo.
O livro presta um inestimavel servico a um entendimento mais sofisticado
do tema: sugere que pensemos 0 circo nao exatamente como um dado socio-
cultural e histérico, mas como uma forma de vida contemporanea em proceso
permanente de reconstrucao.
José Reginaldo Santos Gongalves
Professor do PPGSA/IFCS/UFR] e pesquisador do CNPQ
A MAGIA DO CIRCO
ETNOGRAFIA DE UMA CULTURA VIAJANTE
Gilmar Rocha
Para Isabel & Sofia
que chegaram com o circo
trazendo alegria
e magia a minha vida
“Respeitavel publico!”
15
Introdugdo 4 magia do circo
2
E
ORGANIZAGAO SOCIAL & MEDIAGAO CULTURAL
35
“Um circo diferente!”
O Grande Circo Popular do Brasil
(Marcos Frota Circo Show)
39
“Barco de ponta-cabeca”
Antropologia da viagem
90
INTERVALO
FOTOETNOGRAFIA CIRCENSE
129
PARTE 2
DOS BASTIDORES AO ESPETACULO
“Fazer a praca”
Arquitetura politica de um simbolo
165
A “anatomia do ritual”
Um espetaculo de corpo e alma
Conclusio
A viagem continua
279
Anexos
283
Referéncias
294
Este estudo nao teria sido possivel sem a contribuiggo de inimeras pessoas e
instituicgdes. E sabido o quanto nos tornamos devedores durante o tempo de pro-
ducao de um trabalho académico, ja que nunca se trata da obra de uma sé pessoa,
mas do resultado de um esforco coletivo. Afinal, sacrificamos a familia, incomo-
damos os amigos, invadimos a vida do “outro”, mas também contamos como
apoio e a colaboracio dos filhos e da esposa, de funcionérios e de profissionais
diversos, e, principalmente, dos “produtores da cultura” que partilham conosco
© seu tempo, o seu espaco, o seu saber, a sua confianca e generosidade.
Na impossibilidade de agradecer a todas as pessoas que dividiram comigo
as angistias e alegrias de um trabalho cujo valor e aprendizado extrapolam o sig-
nificado de um rito de passagem, primeiramente, deixo o meu registro da eterna
divida (e dadiva) para com os circenses do Grande Circo Popular do Brasil (Marcos
Frota Circo Show), cujos nomes, quando apresentados por mim no texto, $40
ficticios. E ao Marcos Frota que recebeu este estudo de bracos abertos.
‘Agradeco ainda a orientac3o do Prof Dr José Reginaldo Santos Goncalves,
de quem tive o privilégio e a honra de receber mais do que ensinamentos seguros
e inspiradores, mas também a amizade. Aos demais professores doutores, mem-
bros da banca, agradeco pela oportunidade de té-los como arguidores e pelas
sugestées feitas ao texto, cuja exceléncia estou longe de responder 4 altura. Marco
‘Anténio Goncalves foi uma rica fonte de inspiragao durante a minha passagem pelo
IFCS. Com a generosidade e a sabedoria que Ihe é peculiar, Maria Laura Viveiros
de Castro Cavalcanti contribuiu com observacées fecundas desde o processo de
qualificacao. Walter Sinder fez uma arguico dignificante, para nao dizer poética.
A Marcia Contins, pela leitura critica e profundamente enriquecedora. Aproveito
para agradecer, também, a Lenicio Siqueira, pelas belas fotografias que aparecem
a0 longo deste livro e, principalmente, pelo privilégio da amizade.
A todos os amigos do Rio de Janeiro, de Vassouras, de Belo Horizonte e es-
palhados por outros estados deste pais, por incentivarem, ajudarem e criticarem,
na hora certa, no momento certo, os meus dilemas pessoais e profissionais, assim
como intelectuais e afetivos.
Considero, de certa forma, todos coautores, embora nao sejam respons4-
veis pelas falhas contidas aqui.
Por mais incrivel que pareca, persiste até os nossos dias uma atmosfera de mis-
tério a envolver a gente de circo. Hé, também, uma curiosidade generalizada em
torno dos seus costumes, sua vida social, seus métodos de educagdo artistica,
sua filosofia de vida, seu cotidiano, enfim. Muitos adultos ainda conservam mal-
disfarcada impressdo de infancia de que, por trés daquela cortina, por onde en-
tram 0s artistas para o picadeiro, hé um mundo mégico, um mundo de fantasia,
um mundo irreal e que ali surgirdo pessoas capazes de realizar o impossivel, 0
inacreditavel e muitas vezes 0 absurdo, somente porque sao de circo e, portanto,
dotadas de estranhos poderes.
Jalio Amaral de Oliveira
Entdo, cabe perguntar: 0 que é o circo? O circo é a mais pura forma de espetéculo
€ ocupa um lugar privilegiado entre todas as expressdes cénicas, porque é emi-
nentemente visual — pois ndo sofre as barreiras da linguagem e, em consequéncia,
resulta universal — se dirige a qualquer publico, independentemente da idade,
cultura ou tradi¢ées. O circo é a arte da proeza e do espanto, da precisdo, da
magnificéncia dos corpos; 0 circulo da pista & um lugar médgico que retine o riso e
a surpresa, a habilidade, a inteligéncia, a elegdncia do gesto e o sonho: voar, viver
em harmonia com os animais; dominar a gravidade, a velocidade ou a matéria,
desafiar o perigo e as leis da fisica, sem truques, computadores, realidades virtuais
ou efeitos especiais ... O circo 6, finalmente, o lugar onde 0 insdlito € 0 imaginério
tornam-se uma aventura real, possivel, visivel, cotidiana.
Circo Atayde Hermanos, México, traducio livre
O circo é uma arte 4 flor da pele, espetdculo de uma sensualidade que mal escon-
de seu pudor. Para compreender a comunicacao do circo devemos usar a sensoria-
lidade mais do que a intelectualidade. Pois o circo se respira, se escuta, se toca, se
olha, se degusta. Estimula 0 espectador de todos os lugares, invadindo-o por todos
‘0s seus sentidos, por fim, a cambalhota, disposta e feliz. O circo & emogdo. Essen-
cialmente emogao. A emogao é a esséncia do circo.
Hugues Hotier, traducio livre
“RESPEITAVEL PUBLICO!”
Certamente ndo pode caber em mim um circo inteiro.
Ferreira Gullar
A principal motivagao para 0 trabalho de revisio e publicagao deste estudo, ori-
ginalmente tese de doutorado em Antropologia Cultural defendida junto ao Pro-
grama de Pés-graduago em Sociologia e Antropologia, do Instituto de Filosofia
e Ciéncias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deve-se a relevancia
do tema para o campo das ciéncias sociais e humanas. E curioso 0 fato de, mesmo.
jd tendo passado algum tempo desde a sua defesa em 2003, quando entio assis-
timos a uma vertiginosa projegio do circo na atualidade, o mesmo ainda nao ter
conquistado 0 mercado editorial brasileiro como acredito que seja merecedor.
Nesse sentido, esta publicagdo pretende ser mais do que um estudo inédito sobre
a “magia do circo”, senio o registro de um momento especial na histéria do circo
brasileiro. A verdade é que muitos dados e dilemas revelados naquele “presente
etnografico” continuam reverberando ainda hoje; o que justifica esta publicacao
nna integra posto que somente algumas poucas partes deste estudo foram dadas a
pblico até o momento (Rocha, 2009a, 2009 e 2012). Também alguns poucos
dados foram atualizados, sem que isso represente alteraco substancial no con-
tetdo do trabalho original. Portanto, para além do significado antropolégico de
um estudo datado, ouso dizer, este livro é portador de valor historico na medida
em que fixa o movimento de uma cultura em processo de transformacio.
E tudo comegou com uma preocupacao sobre o significado do corpo no
processo de construgio das identidades sociais. Apés um longo percurso e mui-
tos desvios, que nao cabe descrever aqui, cheguei ao objeto “circo” me pergun-
tando qual é a sua “magia”. A resposta a esse problema, na forma de hipdtese,
reside, em parte, nas performances corporais dos artistas circenses. Com isso em
mente, em fevereiro de 2000, empreendi os primeiros esforgos no sentido de
iniciar 0 trabalho de campo proposto no projeto de doutorado; embora esteja
consciente de que, a partir do momento que definimos 0 tema de uma pesquisa
€ passamos a investigar 0 assunto, fazendo o levantamento das fontes, ja estamos
trabalhando 0 campo.
Uma das grandes li¢des do “Ensaio sobre a dadiva”, de Marcel Mauss
(1974b), obra na qual aparece a nocio de fato social total, é a de que também o
sujeito da observacao forma uma totalidade com 0 objeto observado. Como nos
lembra Lévi-Strauss na sua “Introdugio a obra de Marcel Mauss”,
.-» para [se] compreender convenientemente um fato social, é preciso apre-
endé-lo totalmente, isto é, de fora, como uma coisa, mas como uma coisa
da qual, entretanto, é parte integrante a apreensao subjetiva (consciente e
inconsciente) que conseguimos se, inelutavelmente homens, vivéssemos 0
fato como indigena em vez de observa-lo como etndgrafo ...
(1974a, p.17)
A consciéncia de ter sido de certa forma contagiado pela “magia do circo” repre-
senta um ponto de partida para pensar a minha experiéncia etnogréfica junto ao
Grande Circo Popular do Brasil (Marcos Frota Circo Show), durante os meses
de maio a setembro de 2000 e de maio a outubro de 2001, percorrendo varias
cidades de Minas Gerais, Si0 Paulo e Rio de Janeiro.
‘Os meus primeiros passos em campo foram em dirego ao Gran Circo Inter-
16 AMAGIA DO CIRCO
nazionale D'ltalia que, lamentavelmente, encerrou as atividades durante a sua tem-
porada em Belo Horizonte (MG) ~e nao demorou muito para que também o mais
antigo circo brasileiro, o Circo Garcia, seguisse o mesmo caminho em 2002. Fatos
como esse aumentam a sensacao de inseguranga vivida pelo artista tradicional,
além de reforcar o imagindrio da “morte” do circo. Entio, canalizei os meus esfor-
608 realizando observagées sistematicas junto a Spasso Escola Popular de Circo, lo-
calizada em Belo Horizonte (MG), buscando comecar a conhecer o mundo da arte
circense. Nao por acaso, ja nas primeiras conversas com professores e alunos da-
quela escola, um ponto ganharia destaque, porém, somente mais tarde compreendi
de maneira profunda o seu significado sociolégico. Tratava-se, naquele momento,
da relagao bastante tensa existente entre o “circo tradicional” e as escolas de circo.
Era inicio de abril, quando o Grande Circo Popular do Brasil (GCPB) iniciou
‘a sua temporada em Belo Horizonte (MG). Feitos os contatos iniciais e autorizada
a minha entrada no circo como pesquisador, comecei a minha observacio partici-
pante. Assistir ao espetculo do GCPB foi impactante. Confesso que sai me per-
guntando se aquilo a que havia assistido naquele dia, um fim de tarde de maio de
2000, era realmente um espeticulo de circo, ajulgar pela imagem que eu trazia do
circo de infancia considerado “tradicional”. No entanto, isso nao foi suficiente para
tirar a boa impressao que havia tido do espetaculo de um dos principais represen-
tantes do chamado “novo circo” no pais.
A minha entrada no circo se deu a partir do contato com o pessoal da admi-
nistragio do GCPB. Se, por um lado, ficou-me uma forte impressao de que havia
a expectativa de que esse trabalho poderia resultar em algo positivo para o circo,
por outro lado, ndo me parece que isso tenha interferido nas minhas relacées
com os artistas tradicionais. Explico: 0 fato & que 0 conflito vivido, naquele mo-
mento, entre o circo e as escolas de circo, percebido ja na Spasso Escola Popular
de Circo, se traduz no espaco interno do GCPB, entre o pessoal administrativo,
originalmente nao circense, e os artistas das familias tradicionais. Com o tempo,
ficou claro que a aproximacao com um dos dois lados poderia gerar problemas.
Contudo, creio ter sido feliz no meu transito entre eles. Essa suspeita baseia-se,
evidentemente, na minha relagdo com os artistas e o pessoal da administracio du-
rante todo o tempo do trabalho de campo e na demonstracao de alegria quando
retornei ao circo, apés a defesa, para entregar dois exemplares da tese.
Inicialmente, um dos responsaveis pela administracao interna foi indicado
para me auxiliar nos primeiros movimentos nos bastidores, respondendo e ti-
rando as minhas dividas, fornecendo explicagdes e me apresentando algumas
pessoas. Apés as primeiras ligdes — porque na verdade se trata de um aprendizado
~, passei a ter uma visdo mais ampla e geral do circo e, aos poucos, fui me aproxi-
mando dos artistas e dos pedes. Durante o periodo em que 0 circo permaneceu
em Belo Horizonte, fiz observacées sobre as atividades dos pedes, os treinos de
alguns artistas, e passei a acompanhar os espetaculos realizados para as criangas
do chamado “projeto escola”, ou seja, espetéculos organizados tinica e exclu-
sivamente para as escolas publicas e privadas da periferia das grandes cidades.
Durante boa parte da primeira fase do trabalho de campo, limitei-me a observar
e fazer contatos, principalmente, com o pessoal de apoio e 0 administrativo. Nao
se entra nesse mundo sem autorizacio, preciso ser convidado. A confianca vai
sendo construida aos poucos, ao longo de muitas viagens.
‘Apés dois meses e meio de temporada em Belo Horizonte, e passado um
més de iniciado o trabalho de campo, 0 circo mudou-se para Uberaba, cidade do
Triéngulo Mineiro. Depois de assistir a parte do processo de desmontagem do
circo em Belo Horizonte, acompanhei, na cidade de Uberaba, todo o processo
de montagem, realizando um registro fotografico detalhado. Posteriormente, o
circo seguiu viagem para a vizinha cidade de Uberlandia. O alto custo das viagens,
7 “RESPEITAVEL PUBLIC
algumas vezes, representou um empecilho para o trabalho de campo, ao menos
no sentido que eu havia idealizado inicialmente. A cada nova cidade, eu o seguia,
permanecendo em hotéis préximos ao local da sua instalagdo. Mas era preciso ob-
ter uma forma mais econémica (barata e eficaz) de dar continuidade ao trabalho
de campo. A soluco ideal consistia em morar no circo. Acontece que, no circo,
habitam trés classes de pessoas: as familias dos artistas tradicionais que vivem nos
trailers; o pessoal administrativo e alguns artistas oriundos de escolas de circo que
permanecem, principalmente, em hotéis; e o pedo que, em geral, dorme nas carro-
cerias dos caminhées ou em casas alugadas durante a temporada. A determinada
altura do trabalho de campo, a tnica alternativa que parecia eficaz na superag3o do
problema de moradia no circo era a posse de um trailer. O que certamente nio era
a melhor solucio, por motivos financeiros e legais, na medida em que exigia a posse
de documentacao especial para transitar nas estradas.
‘As consequéncias foram duas: uma, apostando no meu projeto, um dos ad-
ministradores do circo sensibilizou-se com a minha angustia e se comprometeu a
me ajudar a encontrar um modo econémico de seguir o circo mais de perto, no
seu dia a dia. Essa solidariedade veio acompanhada de um “veredicto”, o de que eu
me encontrava em “observaco” até aquele momento, sendo a minha persisténcia
determinante para a “aprovacao”. A outra consequéncia, de ordem epistemoldgica,
levou-me a questionar, a partir de entio, a legitimidade dessa experiéncia; talvez
porque idealmente eu estivesse pensando em um modelo de trabalho de campo que
julgava “auténtico” e capaz de garantir a validade do conhecimento obtido. Em ou-
tras palavras, significava seguir, na pratica, o modelo malinowskiano da observacao
participante. Mas a tradicao antropolégica também nos ensina que a permanéncia
integral no campo nao nos livra de realizar interpretagdes equivocadas, ndo sendo
essa pratica uma garantia de que o conhecimento obtido é menos sujeito a questio-
namentos. Haja vista, por exemplo, a polémica entre Margaret Mead e Derek Free-
man. Elas so reconfortantes, pois ilustram os limites do trabalho de campo perfor-
matizado por alguns dos seus principais protagonistas do campo (Stocking Jr, 1996).
Asensacio de estar perto, porém distante, me acompanhou por um longo
tempo. Se nao dispunha dos meios para realizar um trabalho de campo ideal, era
preciso entao aprender a tirar proveito do que eu tinha em maos. Na verdade, essa
experiéncia aparentemente fragmentada de se ir ao encontro do circo a cada nova
cidade pode ser vista também como algo bastante positivo, pois a percep¢ao de que
a cada novo assentamento um novo circo se revelava aos meus olhos foi fundamen-
tal na continuidade da investigagao. Soma-se a isso 0 fato de que, em Batatais, cidade
do interior paulista, fui ao encontro do circo acompanhado da familia. O resultado
foi bastante positivo na medida em que funcionou como um “rito de passagem"
para ser aceito pelos artistas das familias tradicionais. Primeiro, porque significou,
para varios deles, que o trabalho que eu estava realizando era sério, na medida em
que reafirmava o meu compromisso de estudar o circo viajando por varias cidades
to distantes da minha cidade de residéncia; segundo, porque legitimava a minha
“pessoa” com a presenga dos meus familiares em um ambiente onde a “familia”
& considerada a base da cultura. As atitudes e maneiras de tratamento mudaram
sensivelmente a partir daquele momento. Na cidade de Ribeirao Preto, aluguei um
trailer de um circense que havia trocado de moradia, o que me permitiu vivenciar,
entio, de perto e de dentro, o cotidiano daquelas familias. Uma vez mais, as minhas
suspeitas de ter sido “aceito” se confirmariam, mesmo que isso nao significasse ter
superado a sensagao de estar vivendo uma “experiéncia liminar”. Afinal, por muito
‘tempo fui olhado com desconfianga. De um modo geral, era visto como alguém que
estava escrevendo um livro sobre 0 circo, mas nao era jornalista. Se para alguns sig-
nificava uma coisa boa, para outros representava a possibilidade de tirar proveito da
situagio.
18 AMAGIA DO CIRCO
Esse sentimento parece justificado quando se considera a tensAo entre 0 ar-
tista da familia tradicional e o pessoal administrativo do circo. Como ja disse, essa
tensdo é uma varia¢ao do conflito entre o circo considerado tradicional e a escola
de circo, representando uma tendéncia do chamado “novo circo”. Esses conceitos
ficariam mais claros durante a segunda fase do trabalho de campo, realizado nos
meses de maio a outubro de 2001.
Entre o intervalo da primeira fase (maio a setembro de 2000) € 0 inicio da
segunda fase do trabalho de campo, fiz dois contatos rapidos com o circo nas
cidades de Araruama e Cabo Frio, litoral fluminense. Posteriormente, reencon-
traria 0 circo no norte de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, quando da
inaugurago do primeiro nucleo da Universidade Livre do Circo (UNICIRCO),
projeto langado em Brasilia (DF). Embora quase todos os artistas estivessem vol-
tados para as oficinas e os seminarios de divulgagao do projeto, j4 nos primeiros
dias, as criticas a tal evento se faziam audiveis. Posteriormente, outras institui-
gdes, como escolas de circo e organizagées nao governamentais, engrossariam o
coro dos descontentes em relacdo ao apoio e as verbas obtidos pelo GCPB junto
a empresas e instituic6es federais.
Naquele momento, comecei a gravar entrevistas abertas, focalizando, prin-
cipalmente, as viagens, a organizacio, a familia, o espetaculo e 0 corpo. Ao fim de
todo 0 trabalho de campo — morando em trailer, hotéis e apartamentos alugados
pelos circenses, e acompanhando-os por nove cidades, do total de 18 no percurso
do circo ao longo de um ano -, gravei mais de 30 horas de entrevistas nas quais
seguia um roteiro semiestruturado e algumas outras mais, relativas as palestras
realizadas durante os seminarios da UNICIRCO, primeiro em Montes Claros e
depois em Belo Horizonte, quando foi criado um segundo nticleo no més de julho,
e do Primeiro Festival Mundial de Circo, realizado na cidade de Belo Horizonte
entre os dias 14 e 21 de setembro de 2001.
Depois de Montes Claros, 0 circo dirigiu-se para as cidades de Pirapora,
Curvelo e Sete Lagoas, retornando a Belo Horizonte. Chegou com uma novidade:
incorporado ao GCPB estava o recém-extinto Moca Festa, um circo patrocina-
do pela industria Nestlé. O objetivo era criar um “novo circo” em parceria com
Marcos Frota. A proposta visava seguir uma linha estética radical, contemporane-
amente encabecada pelo famoso Cirque du Soleil.
De resto, devo dizer que 0 acaso me reservou uma feliz surpresa. O GCPB
é, atualmente, na sua categoria, um dos mais importantes circos do pais. Surpre-
endeu-me nio sé pelo espetaculo, mas, sobretudo, porque representa uma nova
proposta em um momento em que muitos circenses anunciam uma profunda crise
do circo. Considerado “moderno”, o GCPB era formado por um grande numero
de artistas oriundos de familias circences tradicionais. A combinagao da tradi¢ao
com um projeto apregoado pelos administradores para modernizar a sua organi-
zacao constitui um desafio que se traduz em um conjunto de conflitos e estraté-
gias desenvolvidos no cotidiano do circo. Nao por acaso, o GCPB tornou-se um
‘objeto privilegiado na observa¢io de um conjunto de pequenos dramas sociais que
revelam as mudangas e permanéncias dessa cultura em transformacao.
Este estudo antropoldgico, entdo, pretende ser uma narrativa, no sentido
atribuido a este termo por Benjamin (1994) e Bruner (1986), na qual se apresenta
uma “histéria’, nao no sentido positivista do “fato passado”, mas enquanto “expe-
riéncia partilhada” pelas pessoas (antropélogo e nativos) que a esto contando.
A énfase no discurso circense, como podera ser observado ao longo do livro, visa
destacar a “interpretagdo em primeira mao do circense” da sua propria cultura.
Do ponto de vista metodoldgico, nao se trata de um estudo do circo, mas sim de
um estudo no circo, como sugere Geertz (1989). A propésito, 0 subtitulo do livro
ratifica a metodologia do estudo em foco: “Etnografia de uma cultura viajante”.
y
9 “RESPEITAVEL PUBLICO!”
Isso nao impede, contudo, que se tenha obtido uma viso mais ampla do circo, por
reunir e condensar multiplos sentidos e significados sociais para a compreensio
desse objeto e das suas transformacées culturais nos ultimos tempos. E, uma vez
mais, lango mao da ideia de “caso exemplar” para também caracterizar a relevancia
sociolégica do GCPB no contexto histérico brasileiro em que o estudo foi reali-
zado, a exemplo da pesquisa sobre o significado da honra e da valentia no universo
simbélico da malandragem no Rio de Janeiro da primeira metade do século XX
(Rocha, 2004a).
Por fim, vale lembrar, sendo o trabalho etnografico historicamente datado, o
objeto de pesquisa pode se modificar ao longo dos anos. Certamente muita coisa
mudou desde a realizacdo desta pesquisa. O GCPB mudou ao longo desses anos,
cresceu, renovou o espetaculo, conquistou novos espacos, investiu em novos pro-
gramas e, cada vez mais, tem se afirmado como um dos mais importantes da atua-
lidade no Brasil. Assim, coerente consigo, mudou com o objetivo de permanecer 0
mesmo, pois continua na estrada, viajando. Nesses termos, continua se fazendo a
cada novo dia, o que mostra ser esse um caminho possivel na interpretacao dessa
cultura viajante.
20 AMAGIA DO CIRCO
Preparagio do palhago (foto de Lenicio Siqueira)
n
INTRODUGAO A MAGIA DO CIRCO
Qualquer um pode trazer um fato novo; o problema é trazer uma nova ideia.
Evans-Pritchard
UMA CULTURA VIAJANTE
© antropélogo inglés Evans-Pritchard lembra 0 quanto © trabalho de campo pode
nos surpreender e exigir uma mudanga de orientacio do olhar:
.-. © antropélogo deve seguir o que encontra na sociedade que escolheu
estudar: a organiza¢io social, os valores e sentimentos do povo, e assim por
diante. Posso ilustrar esse ponto pelo que ocorreu comigo mesmo. Eu nao
tinha interesse por bruxaria quando fui para a terra Zande, mas os Azande
tinham; de forma que tive de me deixar guiar por eles. Nao me interessava
especialmente por vacas quando fui aos Nuer, mas os Nuer se interessavam,
entdo tive aos poucos que me interessar por gado ...
(1978a, p.300-301)
Se, inicialmente, a minha atengdo estava voltada para o simbolismo do corpo no
circo, os circenses do GCPB estavam mais interessados em falar sobre as con-
digées de trabalho, sobre os conflitos com a administragao, sobre as ameagas que
as escolas pareciam representar e sobre as viagens, do que sobre o significado do
corpo no mundo do circo. A percepgio do circense em relacio ao corpo, compa-
rada a sua percepcao em relacdo aos conflitos com a administracdo pareceu-me,
inicialmente, bastante limitada. O sentido dessa limitacao pode ser ilustrado com
um episédio no qual um circense devolveu-me as perguntas que eu Ihe fazia so-
bre o significado do corpo no circo. Foi quando tomou como parametro a minha
experiéncia profissional de professor e pediu que Ihe explicasse “como fazia para
dar aulas”, ou melhor, “como se aprendia a dar aulas”. Afinal, a minha pratica pro-
fissional Ihe era tio impenetravel quanto era para mim a execugio de uma “double
ou triplice volta” (salto acrobatico que consiste em girar sobre o préprio corpo
duas ou trés vezes). A verdade é que o aprendizado realizado desde crianga,
passado de pai para filho, ser artista para um circense de familia tradicional, parece
ser algo t4o natural quanto respirar, falar, andar, comer etc.
Os circenses apontavam como um dos principais motivos da crise vivida
pelo circo atualmente a “tradicao”, a““mesmice” e a “repeticio”, enfim, a “falta
de inovacao”. Aos olhos do circense, 6 tudo uma grande rotina, eterna repeti¢o;
mas, aos olhos de quem vem’de fora, a primeira vista, o dia a dia no circo parece
ser muito dindmico, ndo s6 pelo estilo de vida, mas também por causa das mu-
dangas répidas que vem sofrendo. Creio ter chegado ao circo em um momento
em que estavam em curso, e ainda estio, varias transformacées, cujas raizes re-
metem a um quadro histérico mais longo, que extrapola até mesmo a existéncia
do GCPB. A partir dos anos 1970, uma nova proposta de circo comecou a ser
desenvolvida em paises da Europa e América do Norte e culminou no chamado
“novo circo”, Por outro lado, nao se pode perder de vista que o circo traz embu-
tido na sua organizacao social certo “conflito estrutural”, se é que se pode classi-
ficar dessa forma os problemas e as estratégias desenvolvidas pelos circenses
‘em decorréncia da relevancia que a experiéncia da viagem assume na sua rotina
cultural.
Em outras palavras, demorei a perceber que os conflitos vividos no circo
n AMAGIA DO CIRCO
nao eram decorrentes apenas da conjuntura atual, em que se fala de um “novo
circo”, objetificado em escolas de circo, festivais internacionais e trupes circen-
ses, enquanto concorrente real e as vezes imagindrio do artista tradicional. Na
verdade, tais conflitos revelam uma natureza mais profunda, de ordem estrutural,
conferida pelas viagens. Trata-se de um conflito vivido externa e internamente
entre os “de dentro” e os “de fora”. Com isso nao descarto que a conjuntura atual
tenha agucado a percepgao do circense quanto a crise vivida pelo circo; mas, em
outros momentos histéricos, o circo também era perseguido pelos fantasmas das
ameagas, dos preconceitos, dos “penetras” e dos “aventureiros”.
Portanto, o tom das criticas entre circenses, administragio e pedes, 0 es-
tado de tensio experimentado por esses grupos no dia a dia do circo, enfim, os
conflitos vividos pelos “de dentro” e os “de fora” podem ser vistos como dramas
sociais que, como tais, néo sio acontecimentos eventuais ou meramente conjun-
turais. Na verdade, para Victor Turner, os dramas sociais enquanto “processos
desarménicos que surgem em situages de conflitos” permitem ver que os “as-
pectos fundamentais da sociedade, normalmente encobertos pelos costumes e
habitos do intercurso cotidiano, adquirem espantosa proeminéncia” (1994, p.37
e 35). Eles podem assim ser reveladores de aspectos estruturais de um sistema
social. O que se passa no interior do circo tem correspondéncia com o mundo
exterior e vice-versa. A relacao entre os “de dentro” “de fora”, dramatizada
No interior do circo pelos circenses, os pedes e o pessoal da administragao, tem
uma dimensio estrutural. O fato é que a compreensio desses dramas sociais aos
poucos adquiriu maior clareza e sentido na proporgdo em que a minha observacao
levou-me a perceber que as viagens constituem uma categoria dominante no
discurso e na pratica circense. Contudo, isso nao fez com que os interesses ini-
ciais desta pesquisa fossem abandonados; antes, levou-me a realizar um pequeno
desvio de percurso, mostrando a complexidade do assunto. Mediando a relacio
entre a “magia do circo” e as performances corporais que a legitimam durante
© espetaculo encontra-se a experiéncia da viagem. Nao tenho diividas de que a
percepcio da categoria viagem como um elemento estruturador na organizagio
social do circo deve-se, em parte, também a minha experiéncia de deslocamentos
constantes em torno do “objeto”. Mas, como Evans-Pritchard, descobri a duras
penas que as viagens impunham o ethos da cultura que havia escolhido estudar. Em
convergéncia com o discurso circense, aos poucos, a viagem se revelou estrutural
ha organizacio e no funcionamento do circo.
Frente a esse quadro de referéncias e ante 0 esforco de responder a per-
gunta “qual é a magia do circo?” foi que a viagem se revelou sociologicamente si
nificativa na compreensio desse mundo a parte que tem a sua propria estrutura
social, as suas regras morais convencionais, o seu ethos cultural especifico, enfim,
‘0 seu sistema de aes simbélicas. Portanto, a resposta ao problema da pesquisa,
‘ou seja, “qual é a magia do circo?”, deve ser ampliada e passa antes pela compre-
ensao do significado da viagem (e também pelo entendimento da organizacio
social, da produgao do espetaculo etc, da “totalidade"). Nesses termos, 0 circo
pode ser visto ento como uma cultura vigjante. Vejamos, em linhas gerais, como a
literatura sobre o circo no Brasil tem apreendido essa cultura viajante.
O “ESTADO DA ARTE” CIRCENSE
Em artigo “No comego era o picadeiro ...", o historiador Anthony Coxe (1988),
baseando-se no levantamento bibliogrifico de Raymond Toole Scott em Circus
and allied arts, reafirma a noticia da existéncia de mais de 16 mil titulos sobre o
circo. Por outro lado, adverte-nos a historiadora Erminia Silva que “no Brasil,
muito pouco se escreveu e se escreve sobre o circo” (1996, p.20). De fato, a julgar
2B INTRODUGAO A MAGIA DO CIRCO
0 “estado da arte” sobre o circo no Brasil, muito pouco tem sido divulgado ainda
hoje, haja vista a producdo académica a partir dos anos 1980 (Rocha, 2010).
A verdade é que, se comparadas as outras formas de manifestagées culturais
como 0 teatro, o cinema e a musica, a producao ea divulgacao cientifica sobre o
circo no Brasil ainda séo bastante limitadas. Entre as muitas raz6es que podem
ser apontadas, a principal delas é a marginalidade cultural 4 qual o circo esteve
submetido ao longo de décadas no Brasil. Comparando com a Russia (Litovski,
1975), a Franca (Hotier, 1995) e os Estados Unidos (Davis, 2002), no Brasil, 0 cir-
co nunca gozou de apoio e prestigio junto & politica oficial, embora despertasse a
atencdo das populacées locais por onde passava (Duarte, 1995). Soma-se a isso,
© fato de que, somente em anos recentes, com o desenvolvimento do campo de
estudos sobre patriménio cultural (material e imaterial), alguns temas ganharam
visibilidade como alvo de pesquisa entre os cientistas sociais, tornando-se objeto
privilegiado das politicas publicas de cultura e de educacao, garantindo, assim, a
elementos como 0 circo, outro status sociolégico na cultura brasileira contempo-
ranea (Rocha, 2009c e 2012a).
Com efeito, o contexto no qual se desenvolve a producao das ciéncias so-
ciais e humanas sobre o circo no Brasil sera marcado por discuss6es em torno da
cultura brasileira e da identidade nacional. No conjunto dessa producio, um tipo
de circo em particular, que ainda pode ser encontrado nas periferias das grandes
cidades e na regiéo Nordeste do pais, ganhou a atencao dos cientistas sociais: 0
circo-teatro. Considerado por muitos a versio nacional do circo, o circo-teatro
sofreu, a partir dos anos 1970, um processo de legitimaco junto ao discurso
cientifico-académico em meio a um conjunto de manifestagdes de ordem politica
e cultural tais como a Ditadura Militar, as experiéncias do cinema novo, do tropi-
calismo, da poesia marginal etc, que contribuiram para criar um clima de questio-
namentos e reflex6es em torno do sentido da cultura popular no Brasil. A publi-
cago de algumas memérias circenses a partir desse periodo, colocando 0 circo
em sintonia politica com a profusao de narrativas memorialisticas favorecidas pelo
ambiente (contra)cultural (Sussekind, 1985), pode ser vista como parte de um
processo mais amplo de patrimonializagao, que podemos chamar de “invencao do
circo” no Brasil, mas que ainda se encontra em curso, de acordo com a anilise de
Trajano Filho (2012). Sem perder de vista a especificidade cultural do circo e ou-
tros temas da cultura popular como a malandragem (Rocha, 2006a), era a propria
sociedade brasileira que estava na mira dos cientistas sociais. Assim, “ir ao circo
e estudar as ‘classes subalternas’ mar um pelo outro”, na avalia¢do de Erminia
Silva (1996, p.32) sé mostra a invisibilidade a que o circo ainda estava submetido
até aquele momento.
Mais importante do que saber por que se fala pouco sobre o circo no Brasil
& saber 0 que e como foi dito. Quando comparadas, as dissertagdes de mestrado,
as teses de doutorado e as pesquisas individuais e institucionais apresentam dife-
rencas significativas entre si, podendo-se destacar algumas pela sua abordagem his-
térica (Barriguelli, 1974; Duarte, 1995; Ruiz, 1987; Silva, 1996; Tinhorao; 2001; €
Torres, 1998); outras, pela sua relevncia socioantropolégica (Vargas, 198
tes, 1983; e Magnani, 1984). A diversidade de abordagens fica patente no:
das obras e nos enfoques do “objeto”: o marketing do circo (Costa, 1999; e Queru-
bim, 2003); a influéncia do circo no teatro de Oswald de Andrade (Fonseca, 1979)
ena obra de Avelino Féscolo (Malard, 1987); as experiéncias contemporaneas do
circo social (Matos, 2002; Teixeira & Anastacio, 2000; e Silveira, 2001); a impor-
tancia do palhago no mundo do circo (Dantas, 1980; Camargo, 1998; e Bolognesi,
2003); a arquitetura do circo (Novelli, 1980); e, enfim, a cultura do corpo no circo
(Daher, 1991; e Soares, 1998). Apesar da diversidade dos objetos e das abordagens
sobre o circo, podemos destacar ao menos dois ou trés pontos de significativa re-
mu AMAGIA DO CIRCO
levancia epistemolégica no conjunto dessa produgio cientifico-académica sobre o
assunto no Brasil.
Assim, desde os primeiros estudos nos idos de 1970, a questo da mediacio
cultural no circo se mostra central na compreensio dos conflitos dramatizados
entre a industria cultural urbana e a cultura popular rural. Nesse caso, prevalece
a interpretaao seminal de Barriguelli (1974) que viu no circo-teatro um modo de
cultura alienada e alienante, na medida em que funcionaria como um reprodutor
dos valores da indastria cultural urbana no meio rural. Posteriormente, a questo
da mediagao do circo e no circo ganharia uma conotagio positiva, sendo exemplar
© trabalho de José Guilherme Magnani para quem:
.-- 0 cireo, contudo, tal como existe hoje, nao se limita a repetir ou imitar
este ou aquele género, porque nao é nem uma nem outra coisa: 0 que faz
6 juntar, num mesmo espaco, e as vezes numa mesma representacio, ele-
mentos sérios e cémicos, produzindo assim um novo discurso que tem a
ver menos com o passado do que com o contexto no qual circula hoje.
(1984, p.174)
Expressio cultural dindmica, capaz de adaptar-se as exigéncias culturais e de mer-
cado impostas as classes trabalhadoras, o circo-teatro é tanto uma forma de lazer
e diversdo popular quanto um veiculo de critica cultural. Promovendo interagées
entre o circo e a cidade, o erudito e o popular, o rural eo urbano, o tradicional
0 moderno, o circo-teatro é, ele mesmo, a exata medida da mediaco. A sua
eficdcia simbélica reside no fato de as pegas do espetdculo (dramas ou comédias)
encenarem significados basicos do imagindrio familiar, promovendo um exercicio
de reflexividade no piblico, Nesse proceso, o palhaco adquire uma significagao
especial na medida em que é a prépria incorporacao da “alma do circo”, sendo ele
porta-voz e simbolo da mediagao. A mediacao tornou-se um indicativo da prépria
originalidade histérica e especificidade cultural do circo, como nos lembra Pete
Burke (1989). O circo-teatro é 0 “produto caracteristico do ‘jeitinho brasileiro
dirdo alguns pesquisadores. No entanto, isso nao impediu que outros vissem nessa
suposta criatividade e originalidade brasileira um fator de descaracterizacio e
ameaga a tradigo do circo — é o que pensam, por exemplo, o circense Antolim
Garcia (1976) e 0 palhaco Arrelia (1977).
No entanto, para além da relagio aparente do publico com o espetaculo
do circo-teatro, ou seja, 0 teatro (cémico e/ou dramatico) encenado, e das per-
formances corporais exibidas na primeira parte do show, o que se encontra nos
bastidores também adquire importancia na compreensio do mundo do circo.
Nesses termos, a familia assume valor estrutural na interpretaao de Erminia Silva
(1996). Sem pretender desqualificar esse trabalho que, sem duivida alguma, re-
Presenta uma contribuigao impar 4 compreensao do mundo do circo, sobretudo,
por destacar o “ponto de vista circense”; ao meu ver, o conceito de familia deve
ser problematizado e ampliado, pois, muitas vezes, no que diz respeito a minha
experiéncia de campo, a familia surgia mais como uma categoria de classificacao
e menos como uma “realidade” que pudesse ser pura e simplesmente definida
por relagdes de consanguinidade ou como instituicdo detentora de um saber
especifico. “Familia” servia para falar tanto de “relagées de sangue” quanto de
“relages de trabalho”. Em sentido ampliado, a historiadora defende a ideia de um
Você também pode gostar
- 4749 Demonstracao Do Resultado Do Exercicio Dre Fernando ApratoDocumento143 páginas4749 Demonstracao Do Resultado Do Exercicio Dre Fernando ApratoRafaela Goncalves100% (1)
- 1-PCP - Introdução-SLIDESDocumento57 páginas1-PCP - Introdução-SLIDESRafaela Goncalves100% (1)
- Planejamento Tatico Operacional-2Documento22 páginasPlanejamento Tatico Operacional-2Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Cunha - Projetos CulturaisDocumento13 páginasCunha - Projetos CulturaisRafaela Goncalves100% (1)
- Olivieri 2010 Producao Cultural BrasilDocumento188 páginasOlivieri 2010 Producao Cultural BrasilRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- PPTs - Capítulo 2Documento38 páginasPPTs - Capítulo 2Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Guia de Leitura Simplificada - Programa Funarte Retomada 2023Documento24 páginasGuia de Leitura Simplificada - Programa Funarte Retomada 2023Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Capítulo 23 - Gestão em Longo Prazo de Uma Organização de Marketing HolísticoDocumento29 páginasCapítulo 23 - Gestão em Longo Prazo de Uma Organização de Marketing HolísticoRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- 3 Aula 01 02 2022Documento18 páginas3 Aula 01 02 2022Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- CArtilha Canvas DetalhadaDocumento25 páginasCArtilha Canvas DetalhadaRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Roda Interativa Pace Saúde MentalDocumento6 páginasRoda Interativa Pace Saúde MentalRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- UntitledDocumento266 páginasUntitledRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Aula - Trabalho de Campo T.8316Documento17 páginasAula - Trabalho de Campo T.8316Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocumento125 páginasBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Significado Dos Símbolos Do Fluxograma de ProcessosDocumento8 páginasSignificado Dos Símbolos Do Fluxograma de ProcessosRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocumento125 páginasBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Segnini 2012 Travalho ArtisticoDocumento116 páginasSegnini 2012 Travalho ArtisticoRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Leitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1Documento344 páginasLeitao 2014 Cultura em Movimento Politicas Culturais e Gestao 1Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- 1669840814234e-Book A Experincia Digital Dos Clientes Dos Bancos No BrasilDocumento40 páginas1669840814234e-Book A Experincia Digital Dos Clientes Dos Bancos No BrasilRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Manual ABNTDocumento62 páginasManual ABNTRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Aula 1 EstrategiaDocumento5 páginasAula 1 EstrategiaRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Cbc,+IXCongresso Artigo 0332Documento18 páginasCbc,+IXCongresso Artigo 0332Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- 30399-Texto Do Artigo-119360-1-10-20190925Documento36 páginas30399-Texto Do Artigo-119360-1-10-20190925Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Antropologia - Do - Projeto BordieDocumento32 páginasAntropologia - Do - Projeto BordieRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Elali CriatividadeDocumento9 páginasElali CriatividadeRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Planejamento Mestre Da ProduçãoDocumento35 páginasPlanejamento Mestre Da ProduçãoRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Costa 2015Documento10 páginasCosta 2015Rafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- 529 1931 1 PBDocumento14 páginas529 1931 1 PBRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Uma Análise BibliométricaDocumento18 páginasUma Análise BibliométricaRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- Brant 2009 Poder Da CulturaDocumento125 páginasBrant 2009 Poder Da CulturaRafaela GoncalvesAinda não há avaliações