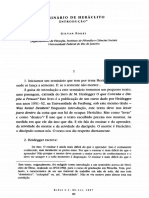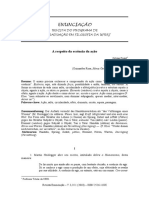Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Doutrina Da Felicidade Como Razao Encarn
Doutrina Da Felicidade Como Razao Encarn
Enviado por
Francisco Wiederwild0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações30 páginasTítulo original
Doutrina_da_Felicidade_como_razao_encarn(3)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações30 páginasDoutrina Da Felicidade Como Razao Encarn
Doutrina Da Felicidade Como Razao Encarn
Enviado por
Francisco WiederwildDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 30
Ditegio editorial: Agemir Bavaresco
Diagramagio: Editora Fundagio Fénix
Capa: Editora Fundacio Fénix by https:/ /pt.freeimages.com
© padeio ortognifico, o sistema de citagdes, as referéncias bibliogrificas © o
contetido de cada capitulo sto de inteira responsabilidade de seu tespectivo
autor.
Esta obra é licenciada sob uma licenga Creative Commons - Atribuigio
CC BY 40, sendo permitida a reprodugio parcial ou total desde que
mencionada a fonte.
Hiup:/ /cteativecommons org/licenses/by/4.0/deed pt_BR
&e ABEC
creative
‘commons 6B RASIL
aA Brasileira de Editores Ciemtificos
Esta obra contou com o fomento do CDEA ~ Centro de Estudos
Enropeus ¢ Alemies e da CAPES.
Sétie Filosofia - 03,
Dados Internacionais de Catalogagio na Publicagio (CIP)
LUFT, Eduardo; PIZZATTO, Rosana. (Orgs). Dialética Hoje: Filosofia
Sistematica, Vol 1 [recurso eletrénico) / LUFT, Eduardo; PIZZATTO, Rosana.
(Orgs), Porto Alegre, RS: Editora Fundacio Fénix, 2019.
204.
ISBN - 978-6581 10-02-4
Disponivel em: https://www.fundarfenix.com.br
CDD-100
ilosofia, 2 Filosofia Sistemética. 3. Dislética. 4 Hegel
indice para catélogo sistematico — Filosofia e disciplinas relacionadas — 100
2 Doutrina da Felicidade como razio encarnada na Filosofia Pratica de
Kant
Luciano Carlos Utteicht
Introdugio
Na elaboragio do principio objetivo do querer como principio valido a
todo ser racional, Kant tematizou na GMdS, a base do imperativo categorico, os
elementos que constituem a lei moral. A partir da distingfo entre vontade
natural humana e vontade racional, na qualificagio desta para gestora da
“constituigiio” subjetiva da primeira, pode se pontuar inicialmente 0 aspecto
antinatural da vontade racional pelo fato de a razéo assumir ou encarnar o
aspecto subjetivo da vontade humana para mostréla afim aos objetivos
racionais do pensamento como um todo. No contraste entre os aspectos
subjetivos da vontade humana e da vontade racional, Kant apresenta a
passagem ou encarnacao da racionalidade na vontade humana ao tematizar os
elementos que a tornam referéneia para todas as vontades, isto é, desde
prinefpios validos universalmente.
Configura-se aqui a proposta de conciliar os dois aspectos distintos dessa
faculdade: 0 da vontade humana que, submetida ao principio racional
subjetivamente vélido para todos, deixa sua “constituigéo” subjetiva ser
perpassada pelo prinefpio subjetivo da vontade racional (a natureza racional
como “fim em si mesmo”); e o da vontade humana que, em sua constituigao
subjetiva, resiste a atender 0 propésito de adotar para seus fins subjetivos
privados um principio subjetivo e dai promové-los a fins objetivoss por
+ Doutor em Filosofia pela PUCRS. (E-mail: lneautteich @terra.com.br).
2 Segundo Kant, “[..] dagui a diferenga entre fins subjetivos, que assentam em mobiles
(Triefedern) [principio subjetivo do desejar], ¢ [fins] objetivos, que dependem de motivos
(Bewegungsgrund) [principio objetivo do querer], validos para todo o ser racional” (FMC, p. 67,
GMGS, BA 64). Para as obras de Kant citamos ano de publicacio, pagina da edico portuguesa &
ano da publicagio; na edigio alema de Wilhelm Weischedel, a pagina da edigio alemi da
‘Academia, Abreviamos os titulos: Critica da razao pura (CRP) (Kr); Critica da razdo prética
(CRp) (KpV); Critica da faculdade do juizo (CFI) (KU); Fundamentagao da Metafisica dos
Costumes (FMC) (GMaS). Para as obras de Schopenhaver, citamos ano de publicacio, pagina da
edicdo em portugués ou espanhol; na edigao alema de Wolfgang Frht. von Léhneysen, citamos
‘ano/pagina da edigio alemi. Abreviamos: © Mundo como vontade ¢ representagio (MVR)
(WWV); Sobre o Fundamento da Moral (SFM) (UGM); Parerga e Paralipomena (PeP)(PuP).
5 Diz Kant: “Os principios priticos so formais, quando fazem abstragio de todos os fins
subjetivos; mas si [prinefpios] materiais quando se baseiam nestes fins subjetivos e portanto
em certos mébiles” FMC, p. 67; GMdS BA 64.
Dialética Hoje: Filosofia Sistemitica| 40
considerar esse principio subjetivo uma mera abstragdo @ priori, motivo pelo
qual nfo teria sentido & vontade humana se deixar submeter a ele.4
Para Kant 0 principio fundador do mbito das ages praticas ou por
liberdade tem infcio no principio subjetivo da vontade racional, segundo o qual
a vontade humana tem de contar com que “[...] a natureza racional existe como
um fim em si mesmo”.s Logo, para alcangar o estagio em que a razio pura
pratica se mostra, na condugéo da vontade, fundadora per se da moralidade,
tem de se buscar 0 dominio conceitual e pensar a faculdade da vontade como se
tornando racional e, por assim dizer, adquirindo racionalidade. Kant apresentou.
essa transi¢ao vinculada a finalidade de os seres racionais aleangarem a
felicidade®, pontuando, além disso, como consistindo isso uma tarefa insolivel”,
visto que, entre outras coisas®, a moralidade ndo pode constituir-se em
promessa direta de felicidade.» Pela exclusio da felicidade do dominio de
fundagéo da moralidade na GMdS, a questo passa a ser a de apresentar as
condigées pelas quais Kant volta a estabelecer, na KpV, a felicidade humana
como alcangavel.»°
4.Em Sobre o Fundamento da Moral (1830) Schopenhauer apelaré a essa dimensio empirica e
sensivel para amparar 0 que chama de fendmeno ético origindrio para fonte da verdadeira
virtude. Essa estratégia argumentativa schopentiaueriana contrastamos com o modelo kantiano
na segao conclusiva do texto,
5 FMC, p. 69; GMdS BA 67. Diz. Kant: "Se, pois, deve haver um prineipio pritico supremo e um
imperativo categ6rico no que respeita & vontade humana, entio tem de ser tal que, da
representagio daquilo que é necessariamente um fim para toda a gente, porque é um fim em si
‘mesmo, faga um principio objetivo da vontade, que possa, por conseguinte, servir de lei prética
universal. O fundamento deste principio é: A natureza racional existe como fim em si. & assim
que 0 homem se representa necessariamente a sua propria existéncia; e, reste sentido, este
principio é um principio subjetivo das agdes humanas” (grifo nosso).
© A saber, naquela felicidade “...] da qual se pode dizer que todos os seres racionais a perseguem
realmente [...]e, portanto, uma intenglo, que no s6 eles podem ter, mas de que se deve admitir
que a tém na sua generalidade por uma necessidade natural. Hsta finalidade & a felicidade”.
FMC, p. 51-2; GMdS BA 42-43.
> Segundo Kant, “[..] 0 problema de determinar certa ¢ universalmente que agio poder
assegurar a felicidade de um ser racional ¢ totalmente insokivel”. FMC, p. 55; GMdS BA 47.
® A respeito disso observa Zéller: “[...] Kant nio aliviou o 6nus da autoafirmagio que caira sobre
05 seres humanos com 0 advento do naturalismo cientifico, mas @ aumentou [..] a0 fazer da
razio ~ a razio humana, embora tomada como a soma total de principios e capicidades, @ nao
como alguma capacidade mental contingente — a origem ¢ juiz da conduta especifieamente
humana"; isto é, “[..] ao invés de redirecionar 0 ser humano’a uma ordem estabelecida, Kant
deixou-o — ou melhor, deixou a sua razio ~ com a formidavel incumbéncia dupla de gerar uma
fordem que valide sua existéncia e seu Ingar no mundo e de levar a eabo a eolocagao em pratica
dessa ordem ideal no mundo real” (2013, p. 265-6).
° CRP, p. 1473 KpV A 291: “Por si mesma a moralidade néo promete felicidade alguma”,
1 Diz Kant: “Nio é impossivel que a moralidade da disposigao (Gesinnung) tenha uma conexio
necessétia com a felicidade enquanto efeito no mundo sensivel [..}, como causa mediata, por
intermédio de um autor inteligivel da natureza” CRp, p. 134; KPV A 206-207.
41 |Luciano Carlos Utteich
© motivo principal de a felicidade ser excluida na GMdS esta em nao
haver nenhum imperativo “(...] que possa ordenar [...] que se faga aquilo que
nos torna felizes” (Kant, 1997, 55-56). Assim, a menos que nao se pretenda
uma fuga para buscar, como outra solugao, 0 apelo ao carétei meramente
empirico e sensivel da vontade (como no pleiteado por Schopenhauer), resta
buscar a conceitualizagéo da felicidade na tematizagio forjada pelas exigencies
da razio na KpV. Se a separacio entre moralidade e felicidade na GMdS
pudesse ser tomada como reproduzindo, inicial e diretamente, a separagio entre
vontade racional e vontade natural, no destaque dignidade do dever ~ por sua
lei especifica e seu tribunal particular para reportar os motivos da doutrina dos
costumes a prineipios - que “{...] em nada se coaduna com a satisfagdo de viver
L..J"(Kant, 1997, 104): no contraponto com a felicidade, tomada com
exclusividade s6 pela satisfagio de viver conforme a um ideal “(..] da
imaginagéio [...]"(Kant, 1997, 56)", se contemporiza aqui o debate apontando a
que, do ponto de vista racional, a felicidade na KpV foi posta vinculada ao ideal
mais alto, o da totalidade do exercicio da razao pura pratica, o sumo Bem (das
héchste Gut), como seu objeto necessério. Portanto, se concede, nesse
momento, no dizer de Schopenhauer, que por essa transi¢do da felicidade, da
GMa8 a KpV, apesar do mérito de “T...] haver purificado [a moralidade] de todo
Eudemonismo [.
"4 (Schopenhauer, 2001, 19), tudo nfo teria passado de um
estratagema da filosofia moral de Kant, isto 6, por assentar
[J] uma moral que visa a felicidade, apoiada consequentemente no
interesse proprio ou eudemonismo, [mas] que [...] solenemente expulsou
como heterénoma pela porta de entrada de seu sistema e que de novo se
esgueirou sob 0 nome de Soberano Bem pela porta dos fundos
(Schopenhauer, 2001, 28).
© objetivo aqui é situar as nogdes de moralidade e felicidade em
referéncia aos dois sentidos do Eu empregados por Kant no contexto da GMdS,
ao situar um primeiro nivel do conceito para fundamento da investigagao moral
e um segundo, & dimensao por ele fundada, em que tais conceitos mostram
conformidade aos dominios numénico e fenoménico. Concernente as
GMS BA 47-48.
= KpV A158-9.
GMA BA 48.
4 UGM 642.
5 UGM 649-650.
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 42
ovientagdes formalizadas pelo conceito superior do Eu, Kant aponta ao modo de
evitar a adogio, por engano, do egoismo (Selbstsucht), imiscuido nos mobeis do
agir moral, j4 que tal conceito deve valer para fundamento da moralidade. E
visto que relativo a felicidade 0 egoismo (conceito inferior do Hu) se refere as
condigSes empfricas de conduzir-se conforme A satisfagio de viver, no apelo &
felicidade exclusivamente em referéneia ao Eu como amor-préprio (Eigenliebe),
Kant contrapSe a nog’o do Eu puro como amor-de-si racional (Selbstliebe),
insinuando nisso a formula do imperativo pratico como transformadora do Eu
sensfvel e empitico pelo conceito superior do Eu, fazendo certa referéncia ja
questo posta adiante pelos idealistas Fichte e Schelling, na pergunta pelo
primeiro principio incondicionado da Filosofia..®
1 Eu puro na fundamentacio da unidade originaria da autoconsciéncia
No coneeito de virtude (Tugend) Kant trouxe algo aparentemente nunca
antes alcangado: a exigéncia de reduzir ou suprimir a pregenga do eu
(apercepeao empirica) para por em destaque o fundamento da postura ética
apresentado pela razo pura pritica. Isso devido & necessidade de atender as
exigéncias da virtude, na GMdS (1785), para desde ela conceder “{...] a0 ser
racional, participar na legislagéo universal eo tornalr] apto a ser membro de
um possivel reino dos fins”(Kant, 1997, 78).1” Sob essa exigéncia Kant elucidard
uma promessa de felicidade oposta ao conceito empirico de felicidade, na
impossibilidade de este servir de fundamento da moralidade. Dai que o
‘cumprimento de tal promessa esta condicionado na reflexio sobre a capacidade
de a razdo prética constituir uma vontade suficientemente forte para aleangar 0
status da virtude, 0 ser digno de ser feliz, propiciando através disso se vincular
» E possivel que Kant se tornasse ciente desta questi quando elaborava a Xp¥ por seu estreito
contato com Karl Leonhard Reinhold, que no perfodo elaborava a apresentagao da filosofia
transcendental na obra, Cartas sobre a filosofia kantiana (1786-7). Em vista disso nfo 6
anacronismo identificar j& aqui essa questio, visto Kant t8-la enfatizado na KpV, ao dizer:
“Aquele que conseguiu convencer-se das proposigdes apresentadas na analitiea [da tazio pura
pratica] eausaro prazer tais comparagdes, porque suscitam justamente a expectativa de algum
ia se poder chegar talvez ao discernimento da unidade de todo o poder da raviio pura [bis zur
Binsickt der Einheit des ganzen reinen Vernunftsvermégen] (tanto da razio teérica como da
pratica) e derivar tudo a partir de um principio [und alles aus einem Prinzip ableiten zu
Kénnen) ; 0 que € a inevitdvel necessidade da razo humana que s6 encontra plena satisfagio
numa unidade completamente sistemiética dos seus conhecimentos [nur in einer volistdindig
systematischen Einkeit ihrer Brkenntnisse]". CRp, p. 106; KpV A 162.
¥ GMS, BA 78-9.
43 |Luciano Carlos Utteich
a0 conceito racional de felicidade, Pela vontade que veio a ser racional se admite
ou chega ao conceito de um ser racional em geral como archetipus, como lastro
para que o homem, natureza mista (em parte sensfvel ¢ em parte inteligivel),
desenvolva a condigao incondicionada de suas agdes sob a énfase do Eu como
principio superior (numénieo), e nao fenoménico (egoismo). Assim, esse
fundamento da moralidade poe em destaque a perspectiva inteligivel como algo
que, por semelhanga, é compativel com a fundamentago do conhecimento na
Kr¥, na figura da apercep¢io como unidade origindria da autoconseiéneia. 1
que, tal como ocorreré na parte pratica (KpV), Kant trouxe na KrV a oposigao
entre consciéncia empfrica e consciéncia pura’ A base da admissio de que ha
uma possivel passagem gradual, diz cle, “
da consciéncia empirica a
consciéneia pura
em que desaparece totalmente o real da primeira,
permanecendo apenas a consciéneia formal (a priori) do diverso no espago eno
tempo” .19
Mesmo que na KrV/a unidade originaria da autoconsciéncia néo sirva de
arquétipo (enquanto essa se apresenta como uma figura externa, dir
Schopenhauer), como a fungi que sera desempenhada pelo conceito de ser
racional na KpV, jé que ld ela designa o conceito de um ato espontineo do Eu de
fazer sintese (espontaneidade de uma estrutura funcional lgica), justamente
pelo contraponto entre Eu-puro (eu inteligivel) e Eu-empirico (eu sensivel) na
razio teérica (entendimento), pode-se propor levar 0 mesmo ao dominio da
azo pritica, na tarefa da passagem do Eu empirico ao Eu puro, isto & de
encarnagio da razdo pratica. & interessante observar, guardando as devidas
* Disse Kant: "E agora aqui o lugar para esclarecer o paradoxo, que a ninguém deve ter pasado
despervebido na exposigdo da forma do sentido interno (§ 6), a saber, que este nos apresenta &
consciéneia, nfo como somos em nés préprios, mas como nos aparecemos, porque 6 nos
intuimos tal como somos interiormente afetados, 0 que parece ser contraditério, na medida em
ue assim terfamos de nos comportar perante nés mesmos como passives” (CRP, p. 152; § 24;
Kev B 152-3). E complementa: “[..J Tenho consciéneia de mim proprio na’ sintese
transcendental do diverso das representagdes em geral, portanto, na unidade sintética originaria,
da apereepedo, no como aparego a mim préprio, nem como sou em mim proprio, mas tenho
apenas consciéncia que sou. Esta representacdo é um pensamento [inteligivel] e nio uma
intuigdo” (CRP, p. 158; § 25; KrV B 157).
CRE, p. 201-202; KrV B 208,
+9 Disse Schopenhauer: “Do mesmo modo que conhecemos a inteligéncia como sendo, em geral,
apenas uma propriodade dos seres animais e, por isso mesmo, nunca estamos justificados a
pensé-la como existente independentemente da natureza animal, assim também conhecemos a
azo somente como propriedade da espécie humana e no estamos autorizados a pensé-la
como existindo fora dela e formando um género ‘ser racional’ que seja diferenciado de sua
espécie ‘ser humano’ e, ainda menos, a estabelecer leis para tais seres racionais em absirato.
Falar de sores racionais fora do homem nio é diferente de se querer falar de seres pesados fora
os corpos". SFM, p. 37; UGM 657-658.
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 44
proporgées e para buscar a unidade subjacente a esse par no dominio da razio
prtica, o modo como Kant aponta & origem da tarefa dos conceitos praticos em
analogia com a origem da tarefa dos coneeitos teéricos. Na Introdugio da KrV
(unidade VI) ele disse:
Na divisio desta ciéneia [da razio pura tebrica] dever-se-4, sobretudo, ter
em vista que nela nao entra conceito algum que contenha algo de empirico,
ou seja, vigiar para que o conhecimento a priori seja totalmente puro. Dat
resulta’ que os prinefpios supremos da moralidade e os seus
conceitos fundamentais, sendo embora conceitos @ priori, nio
pertencem filosofia transcendental, [porque, ndo obstante n&io serem os
conceitos de prazer e desprazer, de desejos e inclinagdes, ete., todos de
origem empirica, por si mesmos os fundamentos dos preceitos morais],
Gevem estar nocessariamente ineluidos na elaboragio do sistema da
moralidade pura, pelo menos no coneeito do dever, enquanto obstaculos
que deverdo ser transpostos ou enquanto estimulos que nao devero
converter-se em mébiles (Kant, 2001, 55, grifos nossos).2*
Assim, se do ponto de vista tedrico 0 conceito do Eu puro designa um
principio transcendental, do ponto de vista pratico ele vale como prineipio
metafisico, 34 que o fundamento da raziio prética é metafisico porque parte de
fontes empiricas:*, enquanto a raziio pura, por partir de fontes puras,
transcendental, Também na KU (Introdugio, § V) Kant se referiu a isso dizendo:
Um principio transcendental 6 aquele pelo qual 6 representada a priori a
condi¢&o universal, sob a qual apenas as coisas podem ser objetos do nosso
conhecimento em geral. Em contrapartida, um prinefpio chama-se
metafisico, se representa a priori a condigio, sob a qual somente os
objetos, cujo conceito tem que ser dado empiricamente, podem set
ainda determinados a priori (Kant, 2002, 25).°3
2 KEV B 28-9, Continua Kant: "Por isso, a filosofia transcendental outra coisa néo é que uma
filosofia da rarao pura simplesmente especulativa. Pois tudo 0 que é prético, na medida em
que contém mébiles, refere-se a sentimentos que pertencem a fontes de conhecimento
‘empiricas” (p. 55-56; B 29, grifo nosso).
* CEJ, 1996, p. 33; KU §VII, XLII. Continua Kant dizendo: “[...] A sensagiio (neste caso a
externa) exprime precisamente o que 6 simplesmente subjetivo de nossas representagdes das
coisas fora de nés, mas no fundo o material (das Materiel) (real) das mesmas (pelo quel algo
existente € dado), assim como o exprime a simples forma a priori da possibilidade da sua
intuigdo; e nfo obstante a sensagio é utilizada para o conhecimento dos objetos fora de nds"
© KU, XXIX. Continua Kant: “Assim é transcendental o principio do conheciménto dos corpos
como substancias e como substincias suscetivels de mudanga, se com isso se quer dizer que a
sua mudanga tem que ter uma causa. £, porém, metafisieo [esse principio de conhecimento}, se
com isso se signifiear que sua mudanga tem que ter uma causa exterior. A razao é que, 10
primeiro easo, para se eonhecer a proposicio a priori, o corpo 6 pode ser pensado mediante
predieados ontol6gicos (conceitos do entendimento puro), por exemplo, como substincia,
Porém, no segundo caso, 0 conceito empirico de um corpo (como de uma coisa que se move no
espago) tem que ser colocado como principio [inicio] dessa proposigao, embora entdo possa ser
compreendido completamente a priori que o ltimo predicado (do movimento somente
‘mediante eausas externas) convém a0 corpo” (CFJ, p. 36-36; KU XXIX, grifo nosso).
45 |Luciano Carlos Utteich
Na ampliagéo do espectro para esse paralelo entre os elementos
fundadores do conhecimento teérico e pratico, isso concerne ainda &
investigagio do telos (finalidade) na natureza, pois, diz Kant
L..] 0 principio da conformidade a fins da natureza (na multiplicidade das
suas leis empiricas) ¢ um prinefpio transcendental [..] [pois] o coneeito dos
objetos, na medida em que os pensamos existindo sob este principio
{transcendental], é apenas 0 conceito puro de objetos do conhecimento
de experiéncia possivel em geral e nada contém de empirico (Kant, 2002,
26, grifo nosso),™4
enquanto, por sua vez, do ponto de vista do conhecimento pritico; concernente
a0 telos da raziio pratica, diz,
[..J] o prineipio da conformidade a fins pritica, que tem que ser pensado na
ideia da determinagio de uma vontade livre, seria um principio
metafisico, porque 0 conceito de uma faculdade de apetigao, enquanto
conceito de uma vontade, tem que ser dado empiricamente (no
pertence aos predicados transcendentais) (Kant, 2002, 26, grifo nosso).*5
Visto que toda matéria de conhecimento (0 diverso da intuigéo) tem de
estar j4 “[..] submetido as condiges da unidade sintética origindria da
apercep¢iio [...]"(Kant, 2001, 135), ao Eu puro tebrico é designado a atividade
unificadora originéria da consciéncia: esse conceito refere-se A matéria como
aquilo em que a mesma consciéncia esta “J como contida em muitas
representagées [...]"(Kant, 2001, 136, nota).27 Logo, para condigo objetiva do
conhecimento se estabelece que toda a intuigéo tem de estar submetida &
apercepeao (Eu puro) para “[...] se tornar objeto para mim, porque de outra
maneira e sem esta sintese 0 diverso ndo se uniria numa consciéncia”(Kant,
2001, 137).*8 E, para condigéo objetiva da sensibilidade (principio da
possibilidade de toda a intuigio), todo o diverso da intuigéo deve estar “[..J
submetido as condigdes formais do espaco e do tempo [...]”(Kant, 2001, 135),
KU XXX,
*8 KU XXX. Contudo, continua Kant, “{..] ambos 0s principios sio a priori [..J", ¢ nio
empiricos. Pois, continua ele, "[..] nao € necessiria uma ulterior experiéneia para a ligagao do
predicado com 0 conceito empfrico do sujeito dos seus jufzos, mas, pelo contrario, tal Higagdo
pode ser compreendida [de modo] completamente a priori".
KV, B 196.
© KrV, B 137 (Fussnote). As formas puras de espaco ¢ tempo, na sensibilidade, guardam sob si,
diz. Kant, “(..] muitas representagdes [intuitivas] contidas numa [representagdo] $6, ¢ na
consciéneia que dela temos, portanto, postas juntamente, pelo que a unidade da consciéncia se
apresenta como sintética e todavia origindria”. CRP, p. 136 (nota); KrV B 137 (Fussnote).
KV B 198,
* KrV Big6.
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 46
visto que espaco e tempo possuem ambos ideulidade transcendental e realidade
empirica, como apresentado na KrV. Diz Kant:
Ea
De
[...] as nossas afirmagdes ensinam, pois, a realidade empirica do tempo,
isto 6 a sua validade objetiva em relagdo a todos os objetos que possam
apresentar-se aos nossos sentidos. E, como a nossa intuigéo é sempre
sensivel, nunea na experiéneia nos pode ser dado um objeto que nio se
encontre submetido a condigio do tempo (Kant, 2001, 74).°
idealidade transcendental do tempo, por sua vez, baseia-se em que,
L...] 0 tempo nada é, se abstrairmos das condigées subjetivas da intuigéo
sensivel [humana] e n&o pode ser atribuido aos objetos em si
Gndependentemente da sua relago com a nossa intuigdo), nem a titulo de
substncia nem de acidente (Kant, 2001, 74)!
[Isto é] [...] Impugnamos qualquer pretensio do tempo a uma realidade
absoluta, como se esse tempo, sem atender a forma da nossa [humana]
intuigdo sensfvel, pertencesse pura e simplesmente As coisas, como sua
condigéo ou propriedade. Tais propriedades, que pertencem as coisas em si,
nunca nos podem ser dadas através dos sentidos (Kant, 2001, 74-75).
modo correspondente, do ponto de vista do espago, a realidade
empfrica e idealidade transcendental sio apresentadas assim:
..1 As nossas explicagdes ensinam-nos, pois, a realidade do espaco (isto 6,
a sua validade objetiva) em relagdo a tudo 0 que nos possa ser apresentado
exteriormente como objeto, mas ao mesmo tempo [ensina] a idealidade do
espago em relagao as coisas, quando consideradas em si mesmas pela razo,
isto 6, quando nfo se atenda A constituigio de nossa sensibilidade.
Afirmamos, pois, [com isso] a realidade empirica do espago (no que se
refere a toda a experiéncia exterior possivel) e, no olistante, a sua
idealidade transcendental, ou seja, que 0 espago nada 6, se
abandonarmos a condigéo de possibilidade de toda a experiéncia’e 0
considerarmos com algo que sirva de fundamento das coisas em si (Kant,
2001, 68-69, grifo nosso).*9
Ja que no dominio da razio teérica (entendimento) Kant apresenta as
condigaes
submetidas a0 Eu puro, por essa adverténcia critica 6 explicitado 0
conceito transcendental dos fendmenos no espaco, a saber,
[..1 de que nada [..] do que é intuido no espago é uma coisa em si, de que 0
espago nao é uma forma das coisas — forma que Ihes seria propria, de certa
maneira — em si, mas que nenhum objeto em si mesmo nos é conhecido e
que os chamados objetos exteriores siio apenas simples representagdes da
nossa sensibilidade, cuja forma é 0 espago, mas cujo verdadeiro correlato,
isto 6, a coisa em si, nfo 6 nem pode ser conhecida por seu intermédio; de
2 KVB 52.
SV B52.
= KrVB 52-53.
KV B 44.
47 \Luciano Carlos Utteich
resto, jamais se pergunta por ela na experiéneia (Kant, 2001, 70,
grifo nosso).94
Contrastado @ esfera da razio pratica, fundada por um principio
metafisico (endo transcendental), Kant contrapée ao Eu puro (estrutura formal
@ priori inteligivel do Eu) ~ pertencente & investigacdo da dignidade do dever —
as condicdes empiricas ¢ sensiveis das inclinagdes e dos desejos (Eu empirico),
relativas A felicidade néo anunciada como promessa, mas vinculada diretamente
A satisfac empirica de viver. Assim, se por um lado, na razo pratica kantiana
os dois aspectos, o inteligfvel ¢ o sensivel, apontam a um prinefpio metafisico
para fundamento, devido a faculdade sensfvel ser tomada em intima conexéo
com a faculdade inteligivel (isto 6 pela admissio de que pode se adequar ao
conceito do “ser racional” como archetipus), nisso nfo se admite separar a
faculdade sensivel da inteligivel do Eu. Por outro lado, a despeito de no ser
admitida a exclusio da faculdade sensfvel para manter referéncia a seu proprio
e empirico estado de faculdade de desejar (inferior) - pois isso suprime o
conceito de homem como natureza mista (sensivel e inteligivel) -, no entanto, a
vigéncia pura e simples da dimensio sensivel e empirica veio a ser admitida
com exclusividade para motivo da investigagio do fundamento da moralidade.s5
Aqui inicia a tarefa da razio pura pritica kantiana de perfazer a exiggncia:
encarnar o dominio sensivel e realizar o vinculo (a sintese) entre ambos, 0 Eu
empirico (vontade natural) como fundado pelo Eu puro (que vincula ao ser
racional para archetipus), fundamento de todo o processo.3¢ Devido a isso
1 KpY Ba:
% Na distingao de Kant para o homem como cidadio de dois mundos, um senstvel e outro
inteligivel, foi apontads uma tarefa de conciliagio ininterrupta a ser mantida em equilibrio. Em
contraste, para Schopenhauer, “[..] ele [Kant] rejeita a experiéncia externa ainda mais
decididamente que a interna, pois recusa toda a fundamental empirica da moral. Portanto
ele no fundamenta [...] seu principio moral em qualquer fato da consciéneia que seja
demonstravel, algo como uma disposigao inata, Menos ainda em qualquer relagdo objetiva das.
coisas no mundo exterior. Nao! Isto seria uma fundamentagao empirica. Mas [fundamenta] sim.
conceftos puros ‘a priori, quer dizer, conceitos que nfo tém ainda nenhum eonteddo da
experiéncia externa ou interna, que sio, portanto, puras eascas sem carogo, é que devem ser
0 iundamento da moral” (SFM, p. 35; UGM 656) (grifo nosso). Como entender a proposta do
imperativo categérico de promover a passagem da constituigio subjetiva (individual) da vontade
ira 0 prinefpio subjetivo (geral) © deste para o principio objetivo e efetive da agio por
liberdade? 0 entrelagamento das dimenses sensivel e inteligivel mostra que os conceitos puros
io sio senio os meios (0 contetido) para operacionalizar a felicidade como consequéncia
indépassé da moralidade kantiana. Nesse sentido os conceitos a priori estio muito além de
serem considerados fins em si (“cascas sem carogo”) mesmos.
86 A critica de fundo de Schopenhauer 4 fundamentagio kantiana da moral vincula-se
atribuigao de uma filiagio inusitada operando ali, a que “(..] distingue apetite sensivel e apetite
racional [..1” ¢ concebe haver uma oposigdo entre ambos, visto que “[.«] © propésito que 2
‘mente edifica a partir de suas préprias ‘percepgSes nem sempre se adequa com aquelas
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 48
conservada a condigio de retorno da felicidade, desde uma tematizagdo
racional, na segunda parte da KpV, para objeto total da razio pura prittica (0
sumo Bem) ¢ complemento da moralidade.
2 Egoidade e Egoismo (Selbstsucht) na tarefa fundamentadora da moral
Kant vincula 0 conceito puro do Eu 4 nogio de egoidade ao acentuar 0
fundamento da contraposigao entre Eu empirico e Eu puro na GMdS. E, para
atender a explicagao da felicidade como alcangavels7, no contorno do rigorismo
que nao admitia por objeto a felicidade, cabe 4 egoidade, como razio pratica
encarnada, desempenhar a funcao fundadora da razio pratica e propor a relagdo
reciproca dos prineipios subjetivo e objetivo do querer da vontade humana, em
seus aspectos sensivel e racional. No inicio da GMdS Kant menciona a nogio do
Eu empirico a fim de contrapé-lo ao conceito de boa-vontade; no interior da
investigagao da fonte do principio da lei moral esse Eu (empirico) surge para ser
tecnicamente desqualificado para valer de fundamento da lei moral pratica.
Num primeiro momento, Kant identifica na representagio do Eu (Selbst, Ich) -
por se tratar de um mero impulso seereto do “{...] querido eu [...] [das liebe
Selbst]" (Kant, 1997, 33)88, que aparece para marcar o lugar para o amor-proprio
Gigentiebe) — a carga de elementos capciosos (ocultos sob as vestes da ideia do
puro dever). Por isso, a fim de elucidar qual aspecto do Eu deve se tornar baliza
para a conducdo até a fonte da lei moral, Kant aprofunda a distingo entre os
dominios sensfvel (fenoménico) ¢ inteligivel (numénico), para destacar a
cogitagdes que sio sugeridas & mente pelas disposigdes corporais, pelas quais ela 6 muitas vezes
obrigada a querer algo, enquanto a sua razo a faz optar por outra coisa” (SFM, p. 65-6; UGM
681-682). Schopenhauer assume esse propésito dissociador para a razao prética kantiana. Com
‘sso mostra esquecer @ influénela sobre Kant da inten harmonizadora do pensamento moral
de Rousseau. Segundo Zéller, “[...] Kant compartilha a visio distintivamente moderna do ser
humano como eapaz e também como carecendo de aprimoramento, um trago da condigio
humana para o qual Rousseau, no segundo Discurso, cunhou 0 termo
‘perfectibilidade’(perfectibilité)"(2013, p. 170). Assim, continua Zaller, para Kant, “[..] que
‘mostra familiaridade com todas as principais obras de Rousseau, o ponto do segundo Discurso
nao é um chamado a regressdo social e cultural para uma condigio original e primitiva, mas
tuma adverténcia sobre o que esta em riseo no processo de civilizagio. Dessa forma, para Kant
Rousseau ndo defende um ‘ir para trds’ (zuriick gehen) para o estado de natureza e
‘olhar para tras’ (auriick sehen) para o estado de natureza, estando ciente de sua
passada e perdida que seja, eo utilizando como orientagio para avaliar e emendar as afligSes da
‘vida civilizada moderna” (2033, p. 174-5).
3 Diz Kant: "Nao é impossivel que a moralidade da disposigio (Gesinnung) tenha uma conexio
necessiria com a felicidade enquanto efeito no mundo sensivel [..J, como causa mediata, por
intermédio de um autor inteligivel da natureza” CRPr, p. 134; KpV 207.
38 KpV, 1968, A 42. P
49 [Luciano Carlos Utteich
dimens%o puramente sensfvel do Eu como seu caréter transitério (ainda
psicol6gico). E, em contraposicio a essa dimensio contingente e negativa do Eu,
Kant apresenta a dimensdo positiva, que pode conduzir a fonte da lei moral: a0
amor proprio (Eigenliebe), expresso da dimensto sensivel do Eu, ele contrapse
o Eu puro como amor-de-si racional (Selbstliebe) (amor pritico).
No pressuposto da passagem gradual (ainda que como tarefa pritica
inconelusa) da consciéncia sensivel e empirica a consciéncia pura pritica — em
analogia com o dominio teérico da razio ~ presume-se, como meta da lei moral
objetiva, 0 propésito da passagem do amor préprio (Bigenliebe) ao amor de si
(Selbstliebe), do Eu empirico ao Eu puro, do amor patolégico ao amor pritico,
do amor-eros ao amor-dgape.s? E ainda que o amor de si (Selbstliebe) deva ser
considerado sob dois angulos, como amor de si material e amor de si
racional, apenas nesse iiltimo ele designa, segundo Kant, aquele principio
metafisico; 0 primeiro, por designar uma nogéo material, mostra-se
inteiramente afeito ao amor-préprio (Eigentiebe), pois, no seu conjunto, diz
Kant, enquanto pertencentes
L...]a0 prineipio do amor de si [material] ou da felicidade pessoal, todos os
prinefpios materiais colocam a causa determinante do livre-arbitrio no
prazer ou desprazer, que se deve sentir a partir da realidade de um
objeto qualquer, [e por isso eles] sao inteiramente da mesma espécie (Kant,
1997, 32, grifos nossos).4°
Com efeito, continua dizendo, se “[...] todas as regras praticas materiais
colocam o prinefpio determinante da vontade na faculdade de desejar inferior
L..’(Kant, 1997, 33)41, nesse caso deve ser descartado o amor de si (material)
para valer como principio fundador da lei moral, j4 que aqui nesse caso cle se
limita a ser, unicamente,
L...1 prinefpio da felicidade pessoal, [¢] por muito que af se utilizem do
entendimento e da razo, [esse principio] no compreenderia, porém, em
si, no tocante a vontade (Wille), nenhum outro fundamento de
determinagao a ndo ser os que se ajustam & faculdade de desejar inferior
(Kant, 1997, 35).
® Ao contrério do que defende Schopenhauer, pela concepeao de vontade racional pritica,
situada ao nivel do amor incondicionado (amor pritico) e ligada por meio de principios préticos
Anocio de caridade, pode-se dizer que Kant aleangou a ideia geral do amor-dgape.
+° Kp, 1968, Agi.
UKDVA 42.
PVA 44.
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 50
Segue-se dai que o conjunto das inclinagdes que visam produzir a
satisfagdo sensivel de viver e a felicidade pessoal (atendendo com exclusividade
a0 Eu psicolégico) sao classificadas todas como inelinagdes que
L...] constituem o egoismo (Selbstsucht) (solipsimus). Este egoismo é: ou 0
amor de si [material] (Selbstliebe), acima de tudo a benevoléncia para
consigo mesmo (philautia); ou a complacéneia em si proprio
(arrogantia) (Kant, 1997, 89, grifos nossos).42
Visto que o egofsmo do amor de si (Selbstliebe) (material) ¢ amor proprio
(Eigentiebe), enquanto presungio (Eigendiinkel) esse amor de si se chama “...]
0 egoismo da autocomplacéneia” (Kant, 1997, 89). Tal egoismo tem tudo a ver
com as tentativas da filosofia tradicional de assegurar a felicidade pela via
material: visa-se assentar a felicidade em dons da sorte, cujo apelo se dirigia aos
impulsos do querido Eu (das liebe Selbst). E ainda, complementa Kant, nestas
outras coisas como “[...] poder, riqueza, honra, mesmo a saiide, e todo o bem-
estar e contentamento com a sua sorte, [...] [que] do nimo que muitas vezes
por isso mesmo desanda em soberba [...]” (Kant, 1997, 22).45
Em vista disso Kant opde & via material o caminho da boa vontade (guter Wille),
cuja satisfagio é a tinica “[...] a constituir a condic&o indispensdvel do préprio
fato de sermos dignos da felicidade (...]"(Kant, 1997, 22), sustentando dai a
investigagéo da fundagao da lei moral como 0 que criaré as condigdes para a
retomada do conceito racional de felicidade, sem carecer para isso eliminar a
Egoidade (o Eu puro), elucidada na GMdS. «7
S6 apés elucidado o fundamento da acfio moral, assentado na liberdade
como coneeito puro, pode ser retomado o debate sobre a felicidade do ponto de
vista racional, na Dialética da razao pura pratica da KpV, do Angulo da razio
(Metafisica da Moral), e nfo da sensibilidade, porque o conceito de felicidade,
49 KpV A128,
4 KpV A128,
‘7 Diante da incondicionalidade do ato de “[..] ser verdadeiro por dever [..] [aus Pjlicht
wahrhaft zu sein” (EMC, 1997, 34; GMAS, 1968, BA 19), abre-se aqui o caminho & concepsio
Jkantiana de um “Ich” e "Selbst” nao identificados ao aparato condicionado de um Eu meramente
sensivel, que procura ser verdadeiro s6 “[..] por medo das eonsequéncias prejudiciais [..J",
preocupado que esté em ‘[...] descobrir que efeitos podersio [..] esta i
1997, 34; GMAS, 1968, BA 19), enquanto conceito de uma agio na qual nao est
nenhuma lei. Origina-se nesse contexto 0 conceito de Egoidade, que seré explorado por Fichte e
proposto para primeiro principio incondicionado do sistema na Grundlage der gesamamten
Wissenschaftslehre (1794).
5t [Luciano Carlos Utteich
que compée 0 objeto total da razo prdtica (sumo Bem)i8, carece do
complemento das pressuposigdes nevessarias da razio pratica a fim de o
conecito de virtude moral (ser digno de ser feliz) obter sentido do ponto de vista
cultural e universalmente valido.s®
E, concernente a distingéo do amor de si em seu duplo aspeeto, diz Kant,
vé-se que “...] 0s limites da moralidade e do amor de si [material] sdo to clara
e precisamente determinados que até 0 olho mais vulgar nao pode deixar de
distinguir o que pertence a um ou a outro”(Kant, 1997, 48).5° A partir disso se
destaca a vantagem pertencente ao dominio pritico da razio, como afirma na
GMds:
Aqui no nos podemos furtar a uma certa admiragdo ao ver como a
capacidade pratica de julgar se avantaja tanto A capacidade tedrica no
entendimento humano mais vulgar. [...] No campo pratico, [..] a
capacidade de julgar s6 entZo comega a mostrar todas as suas vantagens
quando o entendimento vulgar exclui das leis praticas todos os mébiles
sensiveis (Kant, 1997, 36)."
Kant obtempera ainda na KpV dizendo haver “[...] uma grande diferenca
entre 0 que se nos aconselha ¢ aquilo a que somos obrigados [...]", pois “[...] a
méxima do amor de si (a prudéncia) aconselha, simplesmente; [enquanto que] a
lei da moralidade manda”(Kant, 1997, 49).5 Assim, que a Egoidade, o Eu puro
(em si), seja vinculado a faculdade inteligivel em que a razio “[..] € uma
verdadeira faculdade de desejar superior [...]”(Kant, 1997, 35)53, por esse meio a
vontade é que determina a si mesma, sem vinculo das inclinagdes. Neste caso,
diz Kant,
4 Se do ponto de vista da sensibilidade o conceito de felicidade nio podia pertencer & boa-
ventade, do ponto de vista da razio a nogdo de felicidade retorna para compor o conceito do
‘sumo Bem, em vineulo estrito com o postulado da existéneia de Deus como tinico ser imparcial
ara distribuir o quinhio de felicidade segundo o mérito.
+# Rant apresenta a precedéncia do bem supremo (moralidade e virtude) relativamente a0 sumo
‘Bem (das hdchste Gut), como unio sintética de felicidade e moralidade, visto que “[..] a virtude
(enquanto mérito de ser feliz), é a condiggo suprema de tudo o que nos possa aparever apenas
desejével [racionalmente], por conseguinte, também de toda a nossa busca da felicidade [...”
(CRp, p, 129; KpV A 198). Por isso a virtude nfo 6 “[...] ainda o bem total e perfeito, enquanto
objeto (Gegenstand) da faculdade de julgar de seres racionais finitos; efetivamente, para 0 ser,
exige-se dela também a felicidade e, claro est, nao somente aos olhos interessados da pessoa
ue a si mesma se toma por fim, mas mesmo no juizo de uma razio imparcial que considera a
virtude em geral no mundo como fim em si” (CRp, p, 129; KpV A 198-9).
50 KpV A 63.
8!GMdS BA 22.
® KpV A 64,
SKpV Aaa.
Dialética Hoje: Filosofia Sistemitical 52
[...] somente as preserigdes préticas que se fundam sobre prineipios a priori
da faculdade de desejar superior podem ser universais e refletir uma
consciéncia universal [egoidade], e nao meramente [uma consciéncia]
Privada e pessoal (Kant, 1997, 38, grifo nosso).5*
Enquanto leis priticas essas prescrig&es devem ser conhecidas @ priori
pela razo, pois tém uma necessidade absolutamente objetiva. Dai que, do
Ponto de vista da faculdade de desejar superior, venha a ser concebido o amor
pratico (universal) pelo Eu empirico como negativo (limitado), residindo isso
em que, diz Kant,
L...] a razdo pura pratica causa dano 56 ao amor proprio (Kigenliebe), a0
restringir este, que é natural desperta em nés antes da lei moral, a tinica
condigao de se harmonizar com esta lei, [e que] chama-se entao amor de si
racional (Kant, 1997, 88).55
3 A tarefa de fundamentacao da lei pratica e o Eu puro (Egoidade)
Considerado desde o dominio inteligivel (numénico) apenas 0 Eu puro
(amor de si racional) é baliza para conduzir a fonte da lei moral; assim, desde
seu elemento positivo ¢ independente, ele se mostra situado A jusante do eu-
empirico e fenoménico (e até da razio teorética), como explicitou Kant na
GMdS. Contudo esse Eu (Ich ou Selbst) é mencionado ali em trés distintos
momentos, na tentativa de explicitar 0 motivo de ele desempenhar um outro
sentido, como representagéo que aponta a algo mais origindrio, O conceito do
Eu, correspondente as nogdes do eu como “Ich” eSelbst”, caracteriza nesse
momento a necessaria precedéncia do fundamento com respeito ao fundado (do
inteligivel para fundamento do mundo sensfvel). Diz Kant:
L..] € natural que o homem s6 possa também tomar conhecimento de si
pelo seu sentido intimo e, consequentemente, s6 pelo fendmeno da sua
natureza e pelo modo como a sua consciéncia é afetada, enquanto que [ele]
tem de admitir necessariamente, para além desta constituicgo do seu
préprio sujeito, composta de meros fenémenos, uma outra coisa ainda
que Ihe est4 na base, a saber, 0 seu Eu [sein Ich], tal como ele seja
constituido em si, e contar-se, relativamente A mera percepgio e
receptividade das sensagées, entre o mundo sensivel, mas pelo que respeita
Aquilo que nele possa ser pura atividade [reine Téitigkeit] (Aquilo que
chega & consciéneia [.. imediatamente, [e nao pela afecedo dos sentidos]),
KpV Ago.
ss KpV Az9.
53 |Luciano Carlos Utteich
(possa] contar-se no mundo intelectual [...] (Kant, 1997, 100, grifos
nossos).2*
Se ao inicio da GMdS a nogéo do Eu havia sido apresentada de modo
negativo, como uma caréneia guardadora de lugar para o amor-proprio
(igentiebe), em referéncia ao caréter empfrico e miltiplo das inclinagBes que,
como fendmenos (onde o sujeito toma conhecimento de si tal como aparece),
so cooptadas pela faculdade de desejar inferior, no segundo uso Kant identifica
© pressuposto original de um Eu em si, através do qual o sujeito conta a si
mesmo como pertencente 20 mundo inteligivel, ponto de partida do
fundamento do mundo sensivel e fenoménico. Nesse mundo inteligivel, o Eu em
si se mostra pura atividade e faz chegar A consciéncia s6 o que é relativo a seu
modo de (auto)determinagao, sem atribuir nisso, como devendo ser executada,
qualquer tarefa pelos sentidos (passividade). Devido a isso que deve ser
afirmado, diz Kant, como residindo no homem, como inteligéncia,
L..] a causalidade dessas aces [préticas] ¢ nas leis dos efeitos e ages
segundo prinefpios de um mundo inteligivel, do qual ele apenas sabe que
esse mundo s6 d4 a lei a razdo, e a razio pura, independente da
sensibilidade. Igualmente, como nese mundo € ele, como inteligéneia, que
€ 0 eu verdadeiro [das eigentliche Selbst] {amor de si racional] (a0
passo que o homem ¢ apenas fendmeno de si mesmo), essas leis importam-
The imediata e categoricamente, de sorte que aquilo a que solicitam as
inelinagées e apetites (por conseguinte, toda a natureza do mundo sensivel)
em nada pode lesar as leis do seu querer como inteligéncia. Mais ainda, ele
no toma a responsabilidade desses apetites e inclinagdes e nao as atribui
a0 eu verdadeiro [seinem eigentlichen Selbst], isto 6, a sua vontade [seinem
Willen] (Kant, 1997, 109, grifos nossos).®7
Enquanto no mundo inteligivel s6 a razio da as leis, 0 Sujeito, como
inteligéneia, esta na posse de seu eu verdadeiro [das eigentliche Selbst], no
sendo levado a nenhuma inversao no sentido de ser movido a agir e determinar-
se por apetites ou inclinagdes. A associagio e 0 vinculo desse ‘eu verdadeiro’ &
nogio de um ser racional [ein verniinftiges Wesen], como o tinico que “[..] tem
a capacidade de agir segundo a representagio das leis [nach der Vorstellung der
Gesetze [...] zu handein], isto 6, segundo prineipios, ou: s6 ele tem uma vontade
(Kant, 1997, 47)5%, € a tarefa seguinte da GMdS. Assim, na admissio e
presenca desse ser racional que ultrapassa, nesse quesito, ao conceito de algo
5 GMdS BA 107.
57GMds BA u8,
3tGMdS BA 37.
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 54
restrito capacidade representacional da razio tebrica, pois ¢ alcancado pelo
homem pelo principio subjetivo da vontade (a “natureza racional” existe como
fim em si) se aleanga derivar “[...] as agdes [morais] das leis [...]” (Kant, 1997,
47)® da razo prética. A natureza racional se mostra aqui modelo (protétipo,
archetipus) que propicia a geragio da formula das maximas adequadas a lei
pratica objetiva, portanto, é condigio do imperativo categérico. Aqui se poderia
também dizer: 0 Eu puro (Eu em si) (Egoidade) tem de se ver como
autotematizando-se através da formula do imperative categérico e das
médximas, pois justamente nessa perspectiva autorreferente 0 Eu se concebe
desde seu aspecto fundacional: ele é modelar & antodeterminagio préitica da
vontade humana ainda néo inteiramente adequada lei moral, devido sua
natureza mista (sensivel e inteligivel). A efetivacdo da operacionalizagio da
passagem do dominio sensivel e fenoménico para o inteligivel e numénico leva,
portanto, a conceber a encarnagéo da raz4o como preparagio para a felicidade
(do ser perfectivel e razoavel) na constituigao (sintética) do objeto total da razio
pratica (sumo Bem).
Pelo fato de ser impossfvel encontrar em uma base empirica e sensfvel a
promessa de “(...] participar na legislagio universal e 0 torna[r] apto a ser
membro de um possivel reino dos fins” (Kant, 1997, 78)®, pois seu fandamento
6a adequagao as ages, o fundo positivo-sistematico, ao qual o Eu puro se acha
limitado para gerar as determinagdes que o constituem, é 0 reino dos fins: 0 Eu
puro vé-se aqui como encarnagio da natureza racional ou como natureza
racional encarnada%, desdobrando-se de modo autoconsciente a favor da
unidade da razio (Vernunf) como um todo e do todo da razio pritica,
Na condig&o mesma de sistematicidade da razo (Vernunft), o Bu puro se
mostra por isso como a natureza presente na capacidade de distinguir-se de
todas as demais, por ser a tinica a por-se “[...] asi mesma um fim [...] [setzt ihr
selbst einen Zweck]” (Kant, 1997, 81). Nessa autorreflexividade esté a
possibilidade de identificar o pensamento pritico 4 causalidade pela liberdade —
que é 0 que, no fundo, ela é -, enquanto que, diz Kant, “[...] deve
©» GMdS BA 37.
© GaMS BA79.
© Nesse sentido, pontua Christiane M. Korsgaard, “[..] a empresa kantiana se mostra muito
diferente da dos fildsofos que falam da moralidade ¢ do agente moral desde fora, desde a
terceira pessoa, como ‘fenémenos’ que necessitam de uma explicagio. Os argumentos de Kant
niio so acerea de n6s; mas sim esto dirigidos a nés" (2011, p. 34, trad. Nossa).
© GMdS BA 83.
55 \Luciano Carlos Utteich
necessariamente haver uma [...] causalidade que se determina inteiramente por
si mesma [...]” (Kant, 1997, 61).* Do ponto de vista pratico (metafisico), e ndo
especulative (transcendental), cabe a essa autorreflexividade como
autorreferencialidade do Eu a dimensio inteligivel, atenta ao mesmo tempo 20
aspecto sistematico da razio. Como ser racional, pela necessiria
autorreferencialidade dos atos de posigio dos fins para o seu Eucolocado na
perspectiva da Egoidade (Bu em si), o homem é 0 autor daquilo que escolhe e
elege racionalmente para si, Como momento positivo, isso preenche o lugar
deixado em aberto pela dimensio especulativa da razio pura, pois aqui a razio
pritica postula o direito a todo o setzen racional. Quanto a isso poderia valer,
portanto, de conselho pragmitico: esconda-se do eu (empirico) o trabalho
realizado pela virtude (Tugend) (Egoidade).
Todavia, a partir desse esclarecimento, como considerar vidével uma
abordagem que vise realizar justamente o contrario do aqui esbogado, para dar
privilégio, na fundamentagio da moralidade, justamente A admissio em
separado das faculdades sensivel ¢ inteligivel (isto é, do homem néo como
natureza mista) e postulagio da independéneia da dimenséo sensivel
empiriea? No € comprometida, através disso, a demonstragéo da felicidade
como vinculada (ainda que indiretamente) a determinagéo da vontade moral?
Na proposta de fundamentagio ética por Schopenhauer identificam-se tragos
semelhante sobre 0 papel do Bu na explicagéo do fenémeno moral, devido &
Vinculagio entre o dominio da vontade e o dominio da experiéncia, Todavia,
como expediente de seu entendimento espeeifico sobre a distinggo kantiana
entre fenémeno/nimeno, constata-se haver sido langado 0 tema da felicidade
para a instancia pragmética, de um interesse prudencial, em vista de um certo
fortalecimento ontolégico da instancia fenoménica como também numénica,
num paralelismo até certo ponto vicioso entre a postulagio de fendmenos éticos
originarios (fendmeno) e o apelo A fundamentagao metafisica (mimeno) da
propria fundamentacdo da ética, Vejamos brevemente essa compreensio da
ética no destaque posto ao Eu pelo texto schopenhaueriano.
ba KpV BA 85.
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 56
4, Relagio reciproca no amor de si e no egofsmo segundo Schopenhauer
Na remissio A distingfio kantiana fendmeno/ntimeno para assentar o
conceito do homem em si no plano inteligivel, Schopenhauer entendeu mais
livremente a disting&o proposta sobre o duplo aspecto da natureza humana:
para Kant 0 ntimeno designara um elemento que, pertencendo ao fundamento
do sensivel, jamais aparecia empiricamente®; Schopenhauer, porém, admite o
fenémeno de modo ontolégico: como manifestacio do préprio _ntimeno,
concedendo-Ihe uma presenga que, por exprimir ainda um s6 aspecto da
realidade, o apreenstvel pela representagao (Vorstellung) oriunda da faculdade
abstrativa do entendimento, nao deve ser considerado o principal. Como 0 mais
fundamental ele apresenta o nivel da vontade (Wille), que torna todo o
manifestado na realidade sensivel um epifendmeno. Desde essa descrigao
qualificadora da representagio e da vontade foi fixado o paralelismo entre
vontade e representagao, cabendo apenas a vontade explicar a auténtica
realidade, na preponderdncia dela sobre os fendmenos percebidos pelos
sentidos (no caso, no cérebro). A partir disso, levando consigo a intengdo de
atribuir 4 Kant 0 sentido desta sua leitura da distingio fenémeno/ntimeno,
Schopenhauer propée vincular a dimens&o empirica, base das nogdes em si da
moralidade (compaixo em si, justiga em si), & dimensiio metafisica, inteligivel,
regidas por uma infinita Vontade que conduz a si mesma, da qual depende 0
proprio entendimento humano para compreender o mundo e a natureza, E
assim a vontade foi trazida para primeiro plano e auténtico fundamento na
filosofia em Schopenhauer.’ Contudo, uma distancia relativamente aos
pressupostos de sua fundamentag&io da ética em Sobre 0 Fundamento da
Moral, 4 qual une 0 comentério adicional do capitulo 47 de O mundo como
vontade e representagdo (Segundo Volume) ¢ 0 Capitulo 8 do Parerga e
Paralipomena, permite identificar essa proposta como verdadeiramente nao
inédita. Apesar de dirigir diretamente & Kant, no Apéndice intitulado Critica da
Filosofia kantiana, um exame avaliativo sobre os fundamentos da concepgio
& Para Kant tal admissio incorre num equivoco, por admitir a nogio do nitmeno em sentido
positive, vetada pela CRP. Conceder esse sentido da figura numénica significa admitir a
possibilidade de um acesso intelectivo imediato & realidade, mediante uma intuicio intelectual,
que fora ignalmente vetada por Kant.
& Nesse sentido 0 eonceito de homem como natureza mista (sensivel e inteligivel) é suprimido ¢
4G lngar a preponderdncia sobre a dimensio sensivel e empitica.
57 |Luciano Carlos Utteich
critica na filosofia, é visivel o contetido da ética schopenhaueriana presente j4
no texto pré-critico de Kant, Observagdes sobre o sentimento do belo e do
sublime (1764), em que Kant passou ao largo de admitir a preponderancia do
bondoso sobre o virtuoso, visto o primeiro atender a virtudes “de adogio”, mas
86 o segundo a virtudes genufnas. Disse Kant:
Denomino um bom coragdo a mente regida pelas primeiras sensagdes, ¢
bondoso o homem de tal espécie; a0 contrario, ao virtuoso por prineipios
atribui-se com direito um coragao nobre, chamando-o porém de homem
justo, Bssas virtudes de adogéio possuem, nao obstante, grande afinidade
com as yerdadeiras virtudes, na medida em que contém o sentimento de um
prazer imediato com ages boas e benévolas. O bondoso, em raziio da
sua imediata amabilidade, agira pacifica e atenciosamente convosco, sem
‘outro propésito, e sentir uma sincera condoléneia pela miséria alheia
(Kant, 1993, 33-34).<°
A ética schopenhaueriana buscaré 0 contrério do exposto na passagem
acima: pela inversio dos polos, visa promover e justificar a caridade e a justiga
como tinicas virtudes morais auténticas ao identificar na figura do “bondoso” o
verdadeiro agente da caridade e de justiga, assentado no fato de ele ser “regido
pelas primeiras sensag6es”, enquanto, por sua vez, 0 trazido por Kant - de uma
mente “regida por princfpios” - deve ser minado para fundamento, A ressalva
reside aqui em substituir a mente e colocar a vontade para regente das
sensagées; essa a ténica da proposta de fundamentagdo da moral por
Schopenhauer.” Em consequéncia disso se destacam dois pontos: I) no
interesse de mostrar a experiéncia como o que fornece o fenédmeno ético
origindri
, do qual extrai o fundamento da moral a partir de sua interpretacgio
propria da distinggo fenémeno/nitmeno, Schopenhauer atenta a que, na
referéncia ao externo ~ um “fenémeno” ético -, de modo radical, a exterioridade
é—e deve mantida — o polo ativo da fundamentagio da moral. E, 11) no choque
com a perspectiva kantiana ~ que admitia o sujeito (inteligivel) como o polo
ativo (autor do processo de formulagao do imperativo categ6rico), restando a0
% BGSS 25. Diferentemente do que estabelecido por Schopenhauer, para Kant compaixio e
condescendéneia nfo devem ser tomadas como genufnas virtudes; devido a isso, elas “L..] nao
so fundamentos imediatos da virtude [..J", j4 que se chemam ‘virtudes de adogio!
exelusivamente por se enobrecerem em razio do parentesco com ela [vistude
sgenufna]" (OSBS, p. 33; BGSS 25).
& Schopenhauer afirma no capitulo 8 do Parerga ¢ Paralipomena (§ 117): “[...] A bondade
moral néo nasce de modo algum da reflexio, cujo desenvolvimento depende da cultura do
espirito, mas sim diretamente da vontade mesma, cuja indole é inata e que em si mesma néo é
suscetivel de melhora mediante a educagio"(PeP, p. 248; PuP 272) (tradugio nossa). Este é 0
tema do capitulo 19 de O mundo como vontade ¢ representagao (Segundo Volume), intitulado
Do primado da vontade na consciéncia de si, pp. 243-295.
Dialética Hoje: Filosofia Sistemdtical 58
fenoménico ser polo passivo (inagio) -, deixa-se em aberto a questiio do Eu, se
este 6 ou ndo mantido para dominio superior (inteligivel) do fundamento e
portanto fundador do dominio fenoménico.
Apesar de divergir na fixagdo do polo ativo — em Kant (sujeito -»
fendmeno), em Schopenhauer (fendmeno —» sujeito) — e do polo passivo: para
aquele (objeto «— sujeito), para este (sujeito «— objeto), Schopenhauer, ao final
da exposicao das virtudes cardeais (caridade e justiga) retomou, em Sobre a
Fundamentagéio da Etica, 0 conceito do Eu desde o apelo a fundamentacao
metafisica da ética, para fundar a possivel reciprocidade entre os seres humanos
(objeto) no fendmeno ético origindrio (da caridade e da justica) (sujeito).
Pergunta-se: na identificagéo de um possivel fendmeno ético origindrio
(virtudes de caridade e justica), ao se tomar esse fendmeno ético para polo ativo
e designar ao ser humano o lugar de polo passivo e, através disso, pela
necessdria etapa de fundagio da relagéo da reciprocidade entre os seres
humanos para consumar o fendmeno, qual conceito tem de ser tomado como
primus inter pares, 0 de sujeito (fenémeno) ou o de objeto (ser humano)? Em
outras palavr
ca a dever algo ao fendmeno em si mesmo 0 fato de dois seres
humanos serem despertados para a aco comum (de caridade e justia) a ser
consumada? Ou, inicialmente, ha que se conceder como dependente do ser
humano identificar, como meio, o fendmeno, para executar a aco virtuosa
(caridade e justiga)?
Dependendo da resposta que se dé a isso sera alocada diferentemente a
constatagio do papel do Eu (sujeito da vontade) no fundamento das virtudes
morais e na explicagdo do fundamento da moral. Todavia, jé ai se vé a
importancia do resgate desse conceito (Eu) no interior do pensamento de
Schopenhauer. Todavia, ainda outro elemento vem incrementar éssa reflexio:
constatando-se que a preservaco da propria vida (isto , 0 ndo-suicidio) ndo foi
inclufda por Schopenhauer no rol dos fendmenos éticos origindrios (em vex
disso, Kant admitiu essa ago como uma agéo moral), manteria o fenémeno
ético significado em si mesmo no caso de se pressupor rompido, sempre, um
dos elos da relagio de reciprocidade (condigéo das virtudes de caridade
justiga), no pressuposto (hipétese) hiperbélico do suicidio (0 elo passive) no
instante de despertar para a consumago do fendmeno? Assim, jé que o Eu
Gujeito da vontade) fornece ou dele parte a relago de reciprocidade, & base da
59 [Luciano Carlos Utteich
identificagdo dos fenémenos de caridade ¢ justica, subjacente a relagio
fenémeno ~» sujeito (polo ativo) e sujeito «— objeto (polo passive) sempre hé de
ser pressuposto, como primus inter pares, Eu (sujeito da vontade) e nenhum
outro mais. Por isso é admitida a nogéo do Eu para fundadora das virtudes
cardeais e estofo explicativo do fundamento da moral, enquanto elemento
indiscutivel através do qual vem a se tornar ponderivel 0 contetido quase
sempre ambivalente das ages humanas, para cuja determinagdo carece de ser
avaliado seu polo preponderante (0 ativo ou o passive) em conjunto com seu
polo complementar. Desse modo o Eu entra na conta da fundamentagéo
“metafisica” da ética schopenhaueriana.
Daf ser legitimo, devido & constante ambivaléncia das ages, tomar as
ages elegidas aqui (de amor de si, de egoismo e da felicidade ou prudéncia),
que refletem 0 mais intimo do sujeito da vontade, também como formulas a
serem elucidadas a favor do procedimento da ética schopenhaueriana, numa
forte paridade aquilo que Kant chamou de méximas (principios subjetivos de
determinagéo). Tendo Schopenhaner projetado sobre elas os elementos mais
nocivos com respeito ao individuo e ao género humano, parece desde jé
evidente que essas ages, do ponto de vista metafisico, no podem possuir
qualquer ligagao ou identificagio com o Eu (sujeito da vontade metafisica) como
fundamento. Todavia, isso devido & dimensio estética que Ihes foi atribuida por
sua descrigao, fazendo-as enraizar-se na estrutura inalterével do “cardter”
humano, segundo uma fixidez e rigidez especificas, para base do pressuposto de
que o estado atual do cardter humano se mostra impréprio para qualquer estado
de melhoria (evolugio) moral.
Porém, como superar 0 elemento arbitrério de localizar o polo ativo da
relagio de reciprocidade no dominio fenoménico (fenémeno ético origindrio) se
o Eu tem de valer verdadeiramente para a fundamentagdo metafisica da ética?
Assim, se a principio nao parece problematico assumir isso como arbitrario,
também no 0 seré mostrar relativizado o pressuposto inarredavel da ética
schopenhaueriana: deve ser possivel admitir haver uma certa evolugio ou
melhoramento pelo prinefpio de identidade entre o Eu (sujeito da vontade) e as
agGes (amor de si, o egoismo ou a felicidade), fundadas por ele. Ao estender-se
essa regra a relagio de reciprocidade passa a poder ser pressuposta a base de
todas as agées, ndo exclusivamente aos denominados fendmenos éticos
Dialética Hoje: Filosofia Sistemitica| 60
originérios. De modo geral, se o Eu (sujeito da vontade metafisica) pode ser
entendido de modo totalmente despersonalizado, como conceito fundacional,
deve poder ser possivel encontré-lo para fundamento (da relagio de
reciprocidade) em todas as demais ages. E isso defendeu Schopenhauer no
capitulo da fundamentagéio metafisica da ética. Ao mesmo tempo se pode
ponderar também: ha que se admitir que exclusivamente devido ao destaque a
um dos polos para preponderante da ago, que essas vém a ser tomadas como
desligadas ou deixadas de ser idénticas ao fundamento, o Eu, como sujeito da
vontade metafisica. Mas, ao contrario, na medida em que se péem’os dois polos
da acdo (a relagao de reciprocidade) em destaque, nao se torna mais razodvel
admitir-se, de modo essencial, haver agées contratias ao Eu, j& que estiio
fundadas nele por um prinefpio de identidade. As ages que péem em destaque
© amor de si, o egoismo e a felicidade (prudéncia) serao agdes desse tipo, as
quais Schopenhauer enfatizard, diferentemente dos fendmenos éticos,
exclusivamente um dos polos, desconsiderando sempre o polo complementar,
para obter com isso, por uma operagio unilateral, a desclassificagdo de sua
identidade com o plano numénico da vontade metafisica, no seu interesse de
restabelecer a inalterabilidade do “carater” como argumento principal da tese da
separacao entre os niveis fenoménico e numénico para manutengio de uma
ciséo verdadeiramente ontolégica.
a) O objeto da ética no entrelagamento do Eu ea felicidade
A nogéo do Eu Schopenhauer identificou o lugar mais elevado para
fundamento metafisico da moralidade; é que, diz ele, “[...] sé no meu préprio si-
mesmo [in eigenen Selbst allein] tenho meu verdadeiro ser” (Schopenhauer,
2001, 218). Ao fazer desembocar a abordagem fundamentadora emplrica da
moral numa fundamentagéo metafisica®? o autor assume a desqualificagdo do
& UGM 808.
© Kant demonstrou que a Metafisica dos Costumes é necesstiria enquanto uni *[..] substrate
indispensivel [...) para todo © conhecimento te6rieo [eiéncia] dos deveres seguramente
determinados [..."FMC, p. 45; GMdS BA 33), visto que “[..] uma doutrina dos costumes
mesclada, composta dle mobiles de sentimentos e inclinagoes ao mesmo tempo que de conceitos
racionais [...J” decerto faria vacilar o animo em vista de trazer “[...] motivos impossfvel de
reportar [..)”a prineipios, pois por falta deste substrato tais mobiles s6 “...] muito casualmente
[..1” levariam ao bem, sendo que com muito mais certeza “[..] podem levar também ao mal [..]"
(EMC, p. 46; GMdS BA 34-5).
61 |Luciano Carlos Utteich
plano fenoménico (véu de Maia) ao custo de relativizar a obtengio desses
conceitos fundamentais verdadeiramente da esfera empirica, pois, como
sustentar ap6s isso, no transito A instancia metafisica, a substituigio de todo
principio (e, de modo geral, de qualquer @ priori) por um sentimento em si
mesmo real e efetivo? Aqui é a concepgao mesma de metafisica, que endossa
isso, que merece ser apreciada7° Para ele, é ‘f...
por ocasio de motivos
externos [...]" que se conhecem “[...] os miltiplos movimentos fortes e fracos da
propria vontade, aos quais [deixam-se reconduzir] todos os sentimentos
internos” (Schopenhauer, 2001, 213).”! Todavia, pergunta-se: pode-se admitir
que “.
nossos desejos e atos de vontade, que surgem [...]” (Schopenhauer, 2001,
conhecemos [...] por meio do sentido interno, [...] a parte sucessiva de
213)? Devido ao enxerto da vontade humana na realidade fenoménica, no
mesmo plano dos objetos de conhecimento (determinado), Schopenhauer
indica ser possivel descobrir “[...] uma e a mesma esséncia que se apresenta em
todos os viventes [...]” (Schopenhauer, 2001, 217)’, por meio da qual postula
haver uma fundamentagao metafisica & base da fundamentagao da moral desde
% Segundo a particularidade da concepgéo metédica de cada autor se ilustra seu propésito
wetafisico. Em O Mundo como vontade e representagdo (segundo volume), disse
Schopenhauer: “Por metafisica entendo todo assim chamado conhecimento que vai mais além
dda possibilidade da experiéncia, logo, mais além da natureza, ou aparéacia dada das coisas, para
fomecer um clareamento sobre aquilo através do que, em um ou outro sentido, estarfamos
condicionados; ou, para falarmos em termos populares, sobre aquilo que se esconde atras da
natureza ¢ a torna possivel”. MCV, p. 200; WWV 180. Todavia, desde a perspectiva kantiana,
esse posicionamento metatfisico assume o sentido dogmatico tradicional do termo, tal como
combatido por Kant na Critiea da razo pura. Atento 2 elucidagio apenas metodolégica ou
epistemolégica da distinggo fenémeno/nimeno, ele afirmou: “A divisio dos objetos em
fendmeno © miimenos, e do mundo em mundo dos sentidos e mundo do entendimento, no
‘pode, pois, ser aceite [em sentido objetivo], embora os coneeitos admitam, sem diivida, a divisio
em conceitos senstveis ¢ conceitos intelectuais [.." CRP, p. 271 (Kr B 311). Desde essa cautela
8 perspectiva transcendental de Kant contrasta sobremaneira com o pretenso objetivismo da
intenglo descritiva da metafisiea schopenhaueriana. Por esse meio Kant destacou os elementos
da razio utilizados em favor da distingio conceitual entre um mundus intelligibilis e um
‘mundus phaenomenon, relativo @ que um principio é “(..] metafisico se representa a priori a
condigio, sob a qual somente os objetos, eujo conceito tem que ser dado empiricamente, podem.
ser ainda determinados a priori" (OFJ, p. 25; KU, XXIX). E em vista do “[..] prinefpio da
conformidade a fins prética, que tem que ser pensado na ideia da determinago de uma vontade
livre, [ele] seria um prinefpio metatisico, porque o conceito de uma faculdade de apeticao,
enquanto conceito de uma vontade, tem que ser dado empiricamente (no pertence aos
predicados transcendentais)” (CFJ, p. 26; KU XXX). Para elemento contraditério da acusagio
de Schopenhauer & Kant, de que este teria desdenhado “[... toda mola propulsora empirica da
vontade [...]” (SFM, p. 49; UGM 668), tem-se a tarefa de clevar, desde a condigio sensivel da
vontade, & prética da lei moral aquilo que principia pelo contato com o dominio empitico. E
nessa direcéo pondera Ziller que “[...] estar livre de uma regra pertencente unicamente aos
instintos nao é ainda ser determinado unicamente pela razio” (2013, p. 169), embora aponte jé
para um tipo de liberdade,
7UGM 804.
= UGM 804.
nm UGM 808.
Dialética Hoje: Filosofia Sistematica| 62
fontes empiricas, Assim desenvolve esse fundamento metafisico, na resolugio
da passagem sobre o abismo imenso que ha entre um Eu (que “[...] se limita a
J’ (Schopenhauer, 2001, 212)” e 0 N&o-eu (“[...] que
encerra o mundo restante [...]” (Schopenhauer, 2001, 212)75, pela apreensao de
sua propria pessoa [.
que a diferenga entre “[...] 0 eu eo nfo-eu [...]"(Schopenhauer, 2001, 217-218)
deve ser modificada e vencida, nao suprimida. Segundo isso, complementa, é
que
L..] [se acha entio] aquilo que esté no fundamento do fendmeno da
compaixao € mesmo como a expressdo real dele. Seria, portanto, a base
metafisica da ética [die metaphysische Basis der Ethik] e consistiria no fato
de que um individuo se reconhece a si préprio, a sua esséneia verdadeira,
imediatamente no outro (Schopenhauer, 2001, p. 217-218).7”
Para motivo do fendmeno da compaixio, assentado no ato de colocar-se
no lugar do outro, Schopenhauer assentaré a tipologia do carter, om eujo pice
repousa isso,
[...] [que 86] o bom caréter [...] vive num mundo exterior homogéneo a seu
ser: [aqui] os outros nao sio para cle nenhum nao-eu, mas “eu mais uma
vez" [Ich noch einmal]. Por isso sua relagéo originaria com cada um é
amigivel. Ele se sente no intimo aparentado a todo ser, toma parte
diretamente no seu bem-estar e mal-estar e pressupde confiantemente
neles a mesma participagdio (Schopenhauer, 2001, 220).
Desde o aspecto do mundo numenicamente considerado (como base
ontologica sem dinamicidade), Schopenhauer vineula a diferenga entre a
prépria pessoa [der eigenen Ich] e a pessoa alheia [der fremden Ich] a distingio
fenémeno ¢ ntimeno, em cuja passagem para o fundamento metafisico resolve a
saida do Eu do egoismo (em seu aspecto radicalmente fenoménico e enganador)
para identificé-lo, como Eu da compaixo, no outro, angariando dai seu vinculo
ao aspecto numénico e verdadeiro na moral. No significado metafisico da
esséncia, presente em todos os viventes, o estado de exterioridade (0 dado do
sentido) deve tornar-se homogéneo interioridade (sentido interno). E nisso
constitui a passagem da dimensio fenoménica & numénica: pelo
4 UGM 803.
75 UGM 803,
7 UGM 808.
7 UGM 808.
%® UGM 810. Segundo Schopenhauer, “[...] toda boa agéo totalmente pura, toda ajuda
verdadeiramente desinteressada, que, como tal, tem exclusivamente por motivo a necessidade
de ontrem, 6, quando pesquisada até 0 seu itimo fundamento, uma ago misteriosa, uma
ristica prética, eontanto que surja por fim do mesmo conhecimento que constitui a esséncia de
toda mistica propriamente dita e nfo possa ser explicivel com verdade de nenhuma outra
‘maneira”, SFM, p. 221; UGB 810.
63 [Luciano Carlos Utteich
reconhecimento da primeira instancia como aquela que se deve abandonar, a
propria pessoa-fendmeno, para adentrar na segunda, a do si-mesmo como
pessoa alheia-niimeno, por meio da qual se evidencia entio a vontade
moralmente boa.
Nesse ciclo de saida/imerséo da propria-pessoa-fendmeno na pessoa
alheia-ntimeno, Schopenhauer admite o ressurgimento da pessoa como si
mesmo, identificando nela a mesma esséncta una, como aquela que repousa em
todos os seres, f assim que a coincidéncia entre a “[...] sabedoria pritica, o agir
reto e 0 bem agir [...] exatamente no resultado, com a doutrina mais profunda
da sabedoria teérica de mais amplo alcance, e 0 fil6sofo pratico [..)”
(Schopenhauer, 2001, 218)78, explicita a possibilidade real de que alguém “{...]
reconheca sua prépria esséncia em-si no fendmeno alheio [...]” (Schopenhauer,
2001, 221).° Contudo, apesar dessa auténtica (no nivel empfrico)
fundamentagao da moral, segundo Schopenhauer isso ndo serve para
fundamento em si mesmo da felicidade, a despeito de que se obtenha desse bom.
caréter uma “[...] profunda paz interior e aquele humor confiante, tranquilo
satisfeito, em virtude do qual todos os que lhe esto préximos ficam bem”
(Schopenhauer, 2001, 220).® Pois, aqui a supressio da instdncia racional dos
principios acarreta a impossibilidade de definir a felicidade de modo racional,
ois Schopenhauer, por sua concepgio metafisica, reforga o sentido interno
como constitufdo simultaneamente por uma obscuridade ontologica: “...]
vemos apenas o exterior; [mas] 0 interior 6 obscuro [...]” (Schopenhauer, 2001,
219).8 Isto é,
[...] na maior e principal parte [a parte numénica), somos para nés mesmos
desconhecidos ¢ um enigma; [..] [mas] de acordo com aquela outra parte [a
parte fenoménica] que esta sob o nosso conhecimento, cada um é de fato
totalmente diferente do outro (Schopenhauer, 2001, 213).
Daf que, complementar a investigagio da moralidade, é mero produto de
uma especulago, na fundamentagio metafisica da moral, o plano de justificar @
“[--] possibilidade de que ela [a parte maior e mais essencial de cada um,
escondida e desconhecida, a parte numénica] seja [ao mesmo tempo] em todos
7 UGM 808.
Dialética Hoje: Filosofia Sistemitica| 64
a mesma e idéntica” (Schopenhauer, 2001, 213).8 E, a0 constatar isso como
algo positive, de nada mais serviré aqui a “[..] profunda paz interior [...]"
(Schopenhauer, 2001, 220) alcangada pela identificagdo do bom caréter com a
fonte da caridade (amor-gape) e da justiga, pois 6 necessério constatar como
no estando inteiramente acessivel a n6s, diz ele, “.
© substrato proprio de
todo este fendmeno [da prépria vontade], nossa esséncia em-si interior, 0 que
quer ¢ 0 que conhece [...]” (Schopenhauer, 2001, 213).8 Nesses termos a
passagem do dominio sensivel para o fundamental parece ser admitida como
condicionada por um sentimento contrério, isto é, de desgosto, que se espraiard
para um sentimento negativo para a vida como um todo. E em vista disso 0
tema da felicidade foi derrogado da esfera da moral, vindo a ocupar lugar no
tratado sobre as regras prudenciais do bem viver. Pela suspensdo da proposta de
procurar a felicidade ainda nesta vida’, Schopenhauer apresentou, no Parerga
¢ Paratimpomena, os Aforismos sobre a sabedoria da vida (Aphorismen zur
Lebensweisheit), composto de cinquenta regras para a vida, buscando ali
compatibilizar pessimismo metafisico com os esforgos para levar uma vida
feliz, Menos para promover a felicidade que para indicar modos de evitar a dor,
num conserto constante dos desenganos do viver (da vontade de viver)
condicionado pelo mundo fenoménico (véu de Maia)8, ele expds como
introdugfio a seguinte reflexdo:
Considero aqui a nogao da prudéneia na vida em sua acepgio imanente, isto
6, entendo com isto a arte de tornar a vida tio agradével e tio feliz quanto
possivel. Este estudo poderia chamar-se igualmente uma Eudemonologia;
seria, pois, um tratado da vida feliz. Poderia esta, por sua vez, set definida
como uma existéncia que, considerada do ponto de vista puramente
externo, ou melhor (come se trata aqui de uma apreciagao subjetiva) que,
depois de fria e madura reflextio, é preferivel & nfio-existéncia, A vida feliz,
assim definida, nos aliciaria por si mesma e nio somente pelo medo &
morte; resultaria disso, ao demais, que desejariamos vé-la durar
5. UGM 804.
's UGM 810.
®° UGM B04, =
“ Diz ele: “Hé apenas um erro inato, o de [pensar] que existimos para sermos felizes”. MVR,
Cap. 49, p. 7553 WWV 726.
4 Nesta visio metafisica a vontade de viver, equivalente ao dominio das demandas empiricas
(os impulsos ¢ das inclinagdes) se constata a dupla face da proposta de eudemonologia
schopenhaueriana: a de encarnar um pessimismo metafisico ¢ a de exprimir um pessimismo
pragmitico (nZo radicalmente pessimista). Segundo Debona vale recordar para isso as palavras
de Nietzsche: "Um pessimista, um negador de Deus e do mundo [.}, que diz‘sim’ a moral e toca
flauta, & moral do laede neminem: como? Este ¢ verdadeiramente — um pessimista? " Nietzsche,
2005, § 186, p. 75 Apud Debona, Vilmar. Pessimismo e Eudemonologia: Schopenhauer entre
Pessimismo Metafisico e Pessimismo Pragmético, 2016, p.784-785.
65 |Luciano Carlos Utteich
indefinidamente. Se a vida humana corresponde ou pode somente
corresponder 4 nocdo de semelhante existéncia, é uma pergunta a qual se
sabe que respondi pela negativa na minha “Filosofia”; a eudemonologia,
pelo contrario, pressupde resposta afirmativa (Schopenhauer, 1960, 7).!°
Logo, na constatagio da perspectiva de fundamentagdo da moral de que
“[.J © conhecimento que temos do nosso préprio eu néo é, de modo nenhum,
um conhecimento que se esgote e que seja claro até seu tiltimo fundamento [..
(Schopenhauer, 2001, 212)%, mostrou-se necessario, para elaborar as regras de
prudéncia, se “[...] afastar inteiramente do ponto de vista elevado, metafisico e
‘moral [...”, para que os desdobramentos das regras pragméticas se colocassem
“[ue] do ponto de vista habitual, empiico [
(Schopenhauer, 2001, 212),
cujo valor, por isso, nfio pode ser senfo condicional. Por haver deslocado 0
vinculo entre moralidade/felicidade pela teoria da negagéo da vontade de viver,
estou colocar em andamento as avessas a nogdo de satisfagdo de viver:
identificé-la a uma vontade de viver que ~ para o melhor ~ tem de ser
rechacada, Assim, apesar da critica & estratagema na fundamentagdo moral de
Kant, que convidou a felicidade a de novo adentrar pelo recinto do pensamento
e da reflexio, por outras voltas Schopenhauer foi levado a assumir que desde 0
Ambito fenoménico no se encontra dominio seguro para fundamentar seja a
moral, seja a felicidade,
Referéncias
DEBONA, Vilmar, Pessimismo e Eudemonologia: Schopenhauer entre
Pessimismo Metafisico e Pessimismo Pragmatico. Belo Horizonte:
Kriterion, n° 135, Dez/2016, pp. 781-802.
KANT, Immanuel. Fundamentagio da Metafisica dos Costumes. Trad.
Paulo Quintela. Lisboa: Edigdes 70, 1997.
——- Critica da razdo pratica. Artur Morao. Lisboa: Edigdes 70, 1997.
—— Critica da faculdade do juizo. Trad. Valério Rohden. Rio de Janeiro:
Forense Universitaria, 2002.
—~ Observagées sobre o sentimento do belo e do sublime. Trad.
Vinicius de Figueiredo, Sao Paulo: Papirus, 1993.
© APDLW, 375.
°° UGM 804.
°LAPALW, 375,
Dialética Hoje: Filosofia Sistemitica] 66
=—, Werksausgabe in Zwélf Binder. Wilhelm Weischedel (hrsg).
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968.
KORSGAARD, Christiane M. La Creacién del reino de los fines. México:
Universidad Nacional Auténoma de México, 2011.
SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representacio.
Tomo I. Trad. Jair Barbosa, Sao Paulo: Ed. UNESP, 2005.
<—- 0 mundo como vontade e representacao. Tomo Il. Trad. Jair
Barbosa. Sdo Paulo: Ed. UNESP, 2015.
. Sobre o Fundamento da Moral, Trad. Maria Liicia M. O. Cacciola. Sao
Paulo: Martins Fontes, 2001.
——.. Parerga y Paralipomena. (Vol. 1). Trad. Pilar Lopez de §, Maria.
Madrid: Ed. Trotta, 2006.
—— Parerga y Paralipomena. (Vol. II). Trad. Pilar Lopez de S. Maria,
Madrid: Ed. Trotta, 2009.
——. Regras de conduta para bem viver. Trad. Eloy Pontes. Rio de
Janeiro: Ed. Vecchi, s/d.
_—: Simtliche Werke in Fiinf Bander. Wolfgang Frhr. von Léhneysen
(hrsg). Stuttgart/Frankfurt am Main, 1960.
ZOLLER, Gilnter. Entre Rousseau e Freud: Kant sobre o mal-estar cultural.
Estudos Kantianos. Marilia, v. 1, n. 2, jul/dez, 2013, pp. 161-182,
Dialética hoje
Jilosofia sistemdtica
Você também pode gostar
- O Fim Da Historia e o Ultimo Homem - Francis FukuyamaDocumento612 páginasO Fim Da Historia e o Ultimo Homem - Francis FukuyamaFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Tratado Da Natureza Humana Hume PDFDocumento63 páginasTratado Da Natureza Humana Hume PDFVictória Régia100% (2)
- Perdas e DanosDocumento17 páginasPerdas e DanosFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- UntitledDocumento330 páginasUntitledFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- O Espelho Equivoco - O Núcleo Filosófico Da SpiegelDocumento16 páginasO Espelho Equivoco - O Núcleo Filosófico Da SpiegelFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Entre Iniquidade e SofrimentoDocumento16 páginasEntre Iniquidade e SofrimentoFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Carneiro Leão. Os Desafios Da InformaçãoDocumento15 páginasCarneiro Leão. Os Desafios Da InformaçãoFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- FOGEL I Seminário Sobre HeráclitoDocumento23 páginasFOGEL I Seminário Sobre HeráclitoFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Sobre A Essência Do Agir I FogelDocumento21 páginasSobre A Essência Do Agir I FogelFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- O Retorno de Zaratustra 1Documento14 páginasO Retorno de Zaratustra 1Francisco WiederwildAinda não há avaliações
- BORGES-DUARTE I Arte e Tecnica em Heidegger Rio deDocumento6 páginasBORGES-DUARTE I Arte e Tecnica em Heidegger Rio deFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- 1 - Artigo - Cleiton Marcolino Isidoro Dos SantosDocumento11 páginas1 - Artigo - Cleiton Marcolino Isidoro Dos SantosFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- 4 - Resenha Do Coração Máquina de Gilvan FogelDocumento5 páginas4 - Resenha Do Coração Máquina de Gilvan FogelFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- HEIDEGGER I A Época Das Imagens Do MundoDocumento17 páginasHEIDEGGER I A Época Das Imagens Do MundoFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Aorist) ) ) ) )Documento18 páginasAorist) ) ) ) )Francisco WiederwildAinda não há avaliações
- 2 - Heidegger e DostoiévskiDocumento20 páginas2 - Heidegger e DostoiévskiFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- 3 - STVDIVM - Vol. IV - Primeira Parte - Capítulo 07Documento64 páginas3 - STVDIVM - Vol. IV - Primeira Parte - Capítulo 07Francisco WiederwildAinda não há avaliações
- Aorist) ) ) ) ) : Sobre o Cansaço About TirednessDocumento8 páginasAorist) ) ) ) ) : Sobre o Cansaço About TirednessFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Aorist) ) ) ) ) : Afeto e Cuidado: Uma Perspectiva Daseinsanalítica Affect and Care: A Daseinsanalytical PerspectiveDocumento13 páginasAorist) ) ) ) ) : Afeto e Cuidado: Uma Perspectiva Daseinsanalítica Affect and Care: A Daseinsanalytical PerspectiveFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Entrevista para Revista FilosofiaDocumento12 páginasEntrevista para Revista FilosofiaFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Ditirambos de DionísioDocumento15 páginasDitirambos de DionísioFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- ARTIGO I A Obra de Arte Como Acontecimento Da VerdadeDocumento18 páginasARTIGO I A Obra de Arte Como Acontecimento Da VerdadeFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- FOGEL I A Força Do Parado - o PoderDocumento21 páginasFOGEL I A Força Do Parado - o PoderFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- K-MERTENS I O Conceito de Diferença Ontológica Pós A ViragemDocumento12 páginasK-MERTENS I O Conceito de Diferença Ontológica Pós A ViragemFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- O Papel Da Verdade Na Teoria Da Racionalidade de TDocumento14 páginasO Papel Da Verdade Na Teoria Da Racionalidade de TFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Lou Andreas-Salomé - Nietzsche em Suas Obras-Editora Brasiliense (1992)Documento139 páginasLou Andreas-Salomé - Nietzsche em Suas Obras-Editora Brasiliense (1992)Francisco WiederwildAinda não há avaliações
- GILVAN FOGEL - Do Coração MaquinaDocumento13 páginasGILVAN FOGEL - Do Coração MaquinaFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- JASPERS I A Questão Da Culpa - A Alemanha e o NazismoDocumento113 páginasJASPERS I A Questão Da Culpa - A Alemanha e o NazismoFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- ONFRAY I A Potencia de ExistirDocumento184 páginasONFRAY I A Potencia de ExistirFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- VATTIMO I Introdução A HeideggerDocumento58 páginasVATTIMO I Introdução A HeideggerFrancisco WiederwildAinda não há avaliações