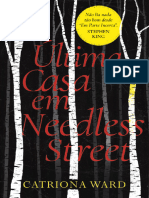Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Conselho Do Idoso Como Espaço Público (Serviço Social e Sociedade Nº 75)
Conselho Do Idoso Como Espaço Público (Serviço Social e Sociedade Nº 75)
Enviado por
Luciana Maffia0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações19 páginasTítulo original
Conselho do Idoso como espaço público (Serviço Social e Sociedade nº 75)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações19 páginasConselho Do Idoso Como Espaço Público (Serviço Social e Sociedade Nº 75)
Conselho Do Idoso Como Espaço Público (Serviço Social e Sociedade Nº 75)
Enviado por
Luciana MaffiaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 19
Conselho do idoso como espaco publica
Sonia Mercedes Lenhard Bredemeier’
* Doutora em Servigo Social pela Pontificia Universidade Catélica, Porto Alegre-R
Resumo: Este trabalho apresenta uma argu-
mentagdo tedrica e parte de uma pesquisa, fun-
damentando a tese de que um conselho munici-
pal amplia 0 espaco puiblico para o idoso. Consi-
derando aspectos relacionados democracia, fe-
deralismo e descentralizago, situa 0 conselho
enquanto espago ptiblico com o apoio das idéias
de Arendt sobre este mesmo espago, caracteri-
zando a efetivaciio do conselho enquanto locus
da visibilidade/aparecimento, discurso e agi0.
Refere também a presenga do assistente-social
neste campo de trabalho, Apresenta os conselhos
enquanto lugares de uma pratica democritica
através dos dados levantados na pesquisa. A
mesma foi realizada tendo como fonte, as alas
registradas durante os dez anos de um conselho
do idoso, através da anélise de contetido. Conclui
mencionando as dificuldades e apontando poss
veis caminhos para a superag’io das mesmas.
Palavras-chave: democracia, federalismo, 4¢°
centralizagio, espago puiblico e conselhos.
5. E-mail:
Introducao
estudo do espago ptiblico tem merecido atualmente uma grande
atencdo nas discussdes das Ciéncias Sociais. O envelhecimento
do homem e da sociedade consta da agenda de varias 4reas, desde
as humanas as bioldgicas, passando também pela economia, ar-
quitetura, entre outras. O Servigo Social busca marcar sua presenga junto a
estes temas no 56 na construgio de novas formas de percebé-los, mas também
propondo novas abordagens, considerando as exigéncias do mundo atual. A
yisualizagao de um. conselho de direitos enquanto espa¢o publico, tendo como
referencial teérico as posigdes de Hannah Arendt, € 0 que se propée nesta
elaboragio.
Em se tratando de conceber e atuar junto a conselhos regidos pela Politi-
ca Nacional do Idoso, é importante resgatar que, na conjuntura atual, esta pre-
vista a participagio dos conselhos nos diferentes niveis, como 0 federal, esta-
dual e municipal — através de suas representagdes da sociedade civil e do
poder publico — na coordenagao geral da politica do idoso, como também na
formulacdo, coordenagao, supervisdo e avaliagdo da mesma politica (Brasil,
1999). Isto aponta para a importancia dos mesmos na atual conjuntura.
As potencialidades dos conselhos municipais dentro do regime democra-
tico tém sido valorizadas sob 0 prisma de serem os mesmos espacos pliblicos
onde se desenrolam intimeras praticas sociais que, ou reforgam valores antide-
mocrdticos, ou revelam perspectivas da introdug%o de novos valores, ou ainda
de retomar antigos valores que se perderam no tempo, agora sendo novamente
tevividos. “O espaco piiblico se constréi, assim, mediante a manifestagao livre
€ legitima dos individuos”. (Castro, 1999: 22)
Este estudo partiu de concepgdes de democracia, ja que 0 retorno a mes-
ma, no final do século que passou, tornou po
do povo nas de
{vel novamente a participagaio
E ituidas responsabilidades e aber-
‘as possibilidades de controle dos atos dos governos. Referimo-nos a controle
eae da sociedade civil em relagio a0 governo. A idéia dos
omo mecanismos de concreti
es nacionais, sendo cons
$20 foi gestada de o de novos canais de participa-
te da socied “ lentro = um contexto onde os znserienenion sociais, eo =
As rae , Se posicionaram pela concretizagiio de ideais democraticos.
em torno do federalismo e da descentralizagaio foram marcadas
85
ON
mais por consensos do que por confrontos. Basicamente, isto se devey aos
intimeros interesses locais que também estavam em jogo por ocasiao da pro,
mulgagao da nova Constituigdo.
A pratica do assistente social junto aos conselhos € uma das novas de.
mandas para este profissional. Isto porque os conselhos, pela sua intrinsecg
ligag4o com as politicas piblicas e sociais, apresentam-se como lugares onde
© ptiblico-alvo das mesmas politicas, através de sua representacao, tem um
lugar de assento. A potencializagao deste lugar interessa ao profissional que,
no seu cotidiano, atua junto aqueles que, por direito, devem usufruir progra.
mas e agdes decorrentes da implantaco de agdes ptiblicas planejadas.
A Constituicdio de 1988 e suas implicagdes na sociedade brasileira
De acordo com Bobbio, “a constitui¢do é a ‘porta’ pela qual um momen-
to abstrato do Estado penetra na vida e na sociedade” (1995: 147). A Consti-
tuigdo de 1988 introduz modificagdes no cenario brasileiro, uma vez que in-
corporou pleitos dos movimentos sociais que se desenvolveram naquela con-
juntura. Em algumas partes do trabalho, ficam evidentes os desdobramentos
da mesma no contexto em que acontecem as experiéncias dos conselhos pari-
tarios.
A Constituig&éo Cidadi, como também é denominada, determinou um
novo arranjo institucional e federativo no Brasil. Criou espagos para a partici-
pacao popular, podendo concretizar as demandas das minorias, como também
comprometeu-se com a descentralizagao tributdria, o que favoreceu um novo
federalismo em nosso pais. Descentralizagaio e federalismo passam, entio, @
ser concebidos juntos na dindmica da Constituinte.
Democracia, federalismo, descentralizacdo, conselhos e espaco
pliblico: a logica que os permeia
Nesta 5
a ae a] desenvolvemos alguns temas que consideramos importanles
eon eee do eixo principal do trabalho, qual seja, os conselhos mun”
pais. Destacamos, por isso, a democracia e o federalismo como fundamen'®
86
para a experiéncia da descent
; Jo ¢ dos conselhos. Além disso, ainda nes-
ta iniciagao, trazemos subsidios referentes ao espaco pliblico necessarios para
alcangar nosso propésito,
lar, A representagao, aos Processos
a 1s durante muito tempo, vém sendo
refutadas, principalmente desde a metade do século XIX (Avritzer, 1999) €
tomam novas roupagens. As mesma
de na busca da coneretizagiio de va
As idéias quanto A soberania popu
decisrios, da maneira como foram acei
siio resultado de construgées da socieda-
lores como justiga, eqiiidade, liberdade,
participagao, que se revelam num envolvimento politico do cidadao, nos con-
sensos obtidos através do didlogo, na geragio e implementagao de politicas
publicas, no alcance de uma economia produtiva e de uma sociedade onde os
cidadaos possam igualmente usufruir os bens produzidos (Fungerik; Wright,
1999). A democracia deliberativa tem sido aventada como alternativa para
superar os impasses democraticos relacionados & complexidade administrati-
va, aos limites da soberania, entre outros. Os foruns € os conselhos sao aplica-
gdes deste modelo de democracia em que os cidadios discutem as decisdes a
serem tomadas pelos governantes.
Por outro lado, o Brasil, historicamente, conta com uma estrutura federa-
lista. O pacto federativo acordado na Constituigao de 1988, por sua vez, da um
lugar de relevo aos municipios, onde as politicas sociais so concretizadas e
onde os conselhos paritarios tém influéncia e capacidade deciséria sobre as
mesmas. A par disto, se pode também mencionar que as mudangas tributdrias
incluidas na Constituicdo estio, por sua vez, relacionadas ao novo formato da
federacio.
A proposta descentralizadora presente na Constituigio, jd mencionada
anteriormente, cunhou-se com forte marca liberal, incluindo mais tarde ele-
mentos transformadores das praticas centralizadoras e pouco participativ
Recentemente, novos usos dela se fazem num viés financeiro que, paulatina
mente, levam a dependéncia e dominagio. Neste cenirio, as implicagdes da
descentralizacdo repercutem nos consclhos.
Os conselhos supdem uma composigio paritiria do seu corpo de conse-
Iheiros, sendo estes nao s6 de carater consultivo, mas também deliberativo na
tomada de decisdes que Ihe estio afetas. Alguns autores (Gerschman, 1995;
Raichelis, 1998) constatam, em seus trabalhos, impedimentos para que se efe-
tivem na pratica as propostas acima mencionadas, considerando 0 contexto
atual.
a0 dos conselhos é a Parida,
Uma das idéias centrais que permeia a cria¢
frente representantes da s._
de. Refere-se & possibilidade de estarem frente a frent n la
ciedade civil e governo, em igual numero, para planejarem sobre as politicas
sociais a serem adotadas no atendimento as demandas sociais. Sao lugares
politicos, pois sio espagos de discussao, de negociagao e te deliberagzo, no
qual participam segmentos em interagio. A questao da paridade tem © objet.
vo de evitar que uma parte se sobreponha & outra, ao menos numericamente,
Porém, a relagdo de forgas entre as partes é muitas vezes desigual.
Os conselhos tém, por forga da legislagdo existente, atribuigdes espe.
cfficas e competéncias limitadas, nao assumindo a responsabilidade pela
execugio das agées. A execucao fica a cargo do gestor propriamente dito,
neste caso as secretarias de estado nacional, estaduais e municipais. Os con-
selhos devem participar das decisGes sobre aplicagio de verbas e recursos
financeiros destinados & operacionalizagao das politicas sociais ptblicas.
De acordo com a legislagao, que nos diversos conselhos varia, as atribui-
ges dos conselhos incluem deliberagao, formulagao de politicas, controle
social, entre outras.
A efetivacdo dos conselhos caminha na diregao de concretizé-las. Os
conselhos dos quais tratamos sio uma das formas pelas quais pode se dara
ocupagio de espacos na sociedade. Entendemos que esta ocupagao pode acon-
tecer de forma mais qualificada, contando com a participagdo mais efetiva do
idoso na sociedade em que esta inserido.
Destacamos aqui a importincia de se buscar novos referenciais para 2
discussdo em torno dos conselhos. E importante, pois com ela se podem vis-
lumbrar novas oportunidades de uso deste espaco, 0 conselho.
Arendt traz idéias que dizem respeito aos conselhos como espagos publi
cos e a proposta federativa que subjaz aos mesmos. Analisando os aconteci
mentos revolucionarios como 0 americano, o francés e o russo, a autora esta
belece uma correlagio entre o “espirito da Tevolugao e o principio federativo”
que, porém, nao estava evidente no idedrio dos analistas da época. A possibili-
dade de elo entre unidades independentes que caracteriza 0 principio federati-
vo foi concretizada através das agdes das diferentes unidades, “sem softel *
influéncia de quaisquer especulacGes teéricas acerca das possibilidades dew
governo republicano em grandes territérios, e sem mesmo ser forgado 4 ume
unidio pela ameaca de um inimigo comum”. (Arendt, 1988: 213)
88
Consideramos essencial para a compreensio deste trabalho a seguinte
afirmagao de Arendt (2001: 189): “A insergao que se da através do ea eda
palavra leva a um segundo nascimento”. A idéia de nascimento, natalidade,
para Arendt remete a uma nocdo de esperanga, Esperanga de um mundo me-
Jhor. O renascimento do idoso para © mundo pode ser visualizado, uma vez
que 0 discurso e © aparecimento esto sempre presentes em todas as catego-
rias. Discurso € muito mais do que fala. Arendt (idem) afirma que discurso que
nao revela nada é igual a uma conversa. Deve-se considerar que o discurso
pode ser preparatério para a agfio, na medida em que for um discurso compro-
metido. De que discurso entao se fala? Daquele que contém idéias e significa-
dos, ou melhor, daquele que € consistente.
A relagdo entre ago e aparecimento/visibilidade parece mais Sbvia. Se
efetivo uma acdio, estou me expondo e afirmando aquilo no que acredito. Isto
em se tratando de agGes que realizo como ator. “A vida sem discurso e sem
aco est morta para 0 mundo”. (Arendt, 2001: 189) A mesma explica que o
ator também deve ser o autor. Isto quando trata da revelagao que a aparéncia
oportuniza como também quando explicita que, para que o agente possa ser
revelado através do ato, € necessdria a esfera ptiblica. (Idem: 193)
O aparecimento € uma forma de tornar ptiblico aquilo — 0 discurso e a
aciio, que quero dividir, discutir, trocar com outrem. Tornar piblico, ou seja,
trazer ao conhecimento dos outros. A acio do ator o re-significa perante os
outros. O que se faz esté sempre calcado, de forma explicita ou nao, num
discurso que se adota. O que revelam os discursos do idoso no Conselho?
Sobre um passado, presente e futuro, quanto ao que fez, faz e quanto ao que
pretende fazer.
Entio, o discurso transparece (trans — aparece) no que se faz. Vejamos
como Arendt pode subsidiar esta compreensao. A autora traz as origens do
termo agir, latina e a grega. Desta ultima podemos apreender 0 significado de
“comecar”, de “ser o primeiro” e “governar”, como o é, de forma semelhante,
© da origem latina, que tem o significado de imprimir movimento. (Arendt,
2001) Quanto ao discurso em sua raiz latina, apresenta o sentido de dizer “o
que corre por varias partes” ou “falar sobre algo”, enquanto que em grego era
usado na acepgdo de “palavra”, “argumento” ou “pretexto”. Ja o termo apare-
Cer significava para os latinos “demonstrar-se”, “revelar-se”, enquanto os gre-
20s Ihe atribufam a idéia de “para fazer brilhar”, para “fazer conhecer”. (Schaff,
1964)
89
BORED THOWUUIUY ICU)
Faz-se oportuno aqui tecer algumas consideragGes sobre a €scolha ¢.
atas como fonte de dados para a pesquisa que realizamos. Uma das Enfage
na prtica profissional do assistente social, desde suas origens, tem Sido 8
documenta da realidade em que esté inserida sua atuacio. Isto aponta =
a importancia que tem o registro dos fatos na busca do conhecimento que sub.
sidiard proximas intervengoes e as reflexdes que também sao pertinentes ) aio,
A andlise de contetido foi a técnica que privilegiamos para trabalhar 0s
dados coletados nas atas. Como ja apontamos acima, o tratamento dado 0s
mesmos foi qualitativo, considerando o tipo de busca que nos orientou. Assim,
os varios eventos ocorridos e registrados, em dez anos', foram agrupados qua.
litativamente em torno de categorias que se apresentam na realidade dos con.
selhos.
Através da experiéncia acumulada e da pesquisa tedrica chegou-se A iden.
tificagdio das mesmas nos documentos consultados. Este material foi nova-
mente trabalhado, mas agora tendo por referéncia categorias presentes na obra
de Hannah Arendt, ou seja, na sua construgdo sobre espa¢go ptiblico. Procura-
mos olhar os eventos registrados buscando compreendé-los através da pers-
pectiva arendtiana, quando a mesma se detém no aparecimento/visibilidade,
discurso e ago.
Se estamos perseguindo a compreensao dos fendmenos que estao pre-
sentes no processo do envelhecimento, sendo um deles a forma como se pode
constituir um espago no qual, mais e mais, o velho seja visto e aparega, princi-
palmente pelas suas potencialidades, mas também nas suas fragilidades, nada
mais proprio que, como assistente social, irmos buscar, em documentos que
6ria de um conselho de idosos, o seu lugar na sociedade como
revelam a his
um espago ptiblico.
Outra questdo que, em parte, justifica essa opcao relaciona-se com
qualidades que visualizamos nos documentos como fonte de dados. 0S
documentos datados historicamente possibilitam a reconstrugdéo de um cend-
1. Em 4 de janeiro de 2001 0 Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso — C!
completo dez anos. E oportuno mencionar que, por coincidéncia, a Politica Nacional do Idos
— foi sancionada em 4 de janeiro de 1994, ou seja, o Conselho foi criado 7 anos antes da PNI-
‘MDD! —
0 — PN
9O.
rio contextualizador. Os dados contidos nos mesmos permitem uma constante
retomada dos elementos presentes nos relatos, sem o Onus de exigir uma nova
reproducao dos fatos.
Quando se trabalha com outras fontes, corre-se 0 risco de, em uma reto-
mada, nao mais conseguir que o fato se dé novamente assim como da primeira
vez apareceu aos olhos do pesquisador. Nao queremos, de forma alguma, afir-
mar que 0 olhar do pesquisador, nos varios momentos, mesmo que a fonte seja
a mesma, é igual, pois 0 pesquisador também muda. Todavia, as possibilida-
des de erro séo menores. Confirma-se a idéia de Guba e Lincoln. (Apud, Liidke
e André, 1986: 39) Os mesmos destacam
0 fato de que os documentos constituem uma fonte rica e estavel. Persistindo ao
longo do tempo, os documentos podem ser consultados varias vezes e inclusive
servir de base a diferentes estudos, o que dé mais estabilidade aos resultados
obtidos.
Yin (2001), por outro lado, reforga esta posigdo relacionando as vanta-
gens da documentag4o como fonte de dados e mencionando, principalmente, a
estabilidade, permitindo revisdes, exatidao, pois contém nomes e datas que
permitem situar no tempo os acontecimentos em pauta, e ampla cobertura, ou
seja, longo espago de tempo, varios eventos e distintos ambientes.
Esta andlise deu-se em torno de elementos que se considera fundamen-
tais para visualizar o conselho como um espago ptiblico, dentro de uma estru-
tura de governo que propée a descentralizagao a vigorar num sistema federa-
lista, A seguir, esto os mesmos relacionados, bem como sua explicitagio a
partir do entendimento que se tem deles atualmente.
Como j4 mencionado, as categorias aparecimento/visibilidade, discurso
€ aco? nortearam nossa busca pelos documentos do Conselho, desde as atas
de suas assembléias e reunides até outros documentos comprobatérios de sua
Presenca no cenario municipal e regional, ou seja, leis municipais, registro de
encontros regionais e estaduais, entre outros.
—
2. Arendt trabalha as suas varias obras. Mas nao ‘86 as mencionadas aqui. Tém relevo as categorias
labor, trabalho, totalitarismo, revolugdo, liberdade e a condi¢do humana. O item Obras Consultadas
Subsidia novas buscas.
ol
A pesquisa: onde se deu e seus resultados
O Conselho no qual fizemos a nossa investigacéo situa-se numa Cidade
da Regiao do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil. o mesmo foi escolhi.
do pelo seu pioneirismo em varias propostas tanto quanto a pratica Conselhista
como quanto ao envelhecimento. Tem na sua trajetdria iniciativas como on.
contros de capacitagiio, vinculagio com a Universidade do Vale do Rio dos
Sinos, mais especialmente com o Curso de Servigo Social, e nele atuam pes.
soas na sua maioria idosas.
Passamos agora a descrever as categorias privilegiadas nesta apresenta.
co, quais sejam, articulagao, legislagao, planejamento, papel do Conselho,
controle social, descentralizag4o, capacitagao, Fundo.
A articulagao nos niveis micro e macrossocietario, isto quer dizer, tanto
no 4mbito municipal como no ambito estadual, regional e nacional, esteve
presente nos registros consultados. Ou seja, envolvimento com outras entida-
des ou instancias para tratar de situagdes relativas ao idoso.
Reunides com o Poder Executivo (prefeito e secretarios), com o Poder
Legislativo (nas pessoas dos vereadores e como espago de reivindicagio de
pleitos), com 0 Ministério Puiblico (na pessoa do promotor ou promotora),
articulagGes estas que aconteceram de diversas formas, sio exemplos do que
sucedeu.
Também foi realizado um trabalho conjunto com a universidade local,
sendo considerado 0 Conselho como campo de estagio curricular do Curso de
Servigo Social. Com a Secretaria Municipal de Satide, no estabelecimento de
critérios sobre alvards para casas geridtricas. Em nivel estadual, as trocas fei-
tas com o CEI — Conselho Estadual do Idoso, e sua pesquisa sobre perfil do
idoso no estado do Rio Grande do Sul e com a Secretaria Estadual de Traba-
Iho, Assisténcia e Cidadania sobre verbas para projetos, foram importantes.
Retomando 0 significado da articulagdo dentro do contexto em questa,
© mesmo aponta para que as agdes, que se referem ao idoso, se voltem par
objetivos comuns afinados com um discurso atualizado dentro da gerontolo-
gia, superando preconceitos e idéias ainda presentes hodiernamente, sem Pe™
der de vista, porém, a concretizagaio da cidadania do idoso.
Legislagao foi uma categoria referida, levando em conta sua efetivagao®
elaboracdo. A mengio a legislacio € significativa no discurso e na agao prot
92
: pnizados pelo conselho e pelos idosos, Tanto no sentido da garantia de sua
vigencia © respeito, como no entendimento da sua importancia como instru-
mento de viabilizagio de melhores condigdes Para 0 idoso,
Exemplos que Podem ser citados: lei de criagao do proprio Conselho, na
qual estiveram envolvidos grupos oe) convivéncia de idosos, técnicos, cida-
daos de entidades afins com a questiio do idoso; lei que normaliza as casas
asilares € sua regulamentagao, cuja elaborag&o contou com a Participagio de
jdosos nao asilados e administradores de casas geriatricas ou asilos, além dos
conselheiros representando a sociedade civil e o poder puiblico.
Ao ser sancionada esta lei, foi organizado um encontro com a apresenta-
gao da lei e posterior passeata para sua divulgacio. A elaboragio da lei de
criagdo e a regulamentagao do Departamento do Idoso ligado a Secretaria
Municipal de Ago Social aparece nos registros consultados, além da divulga-
cao e fiscalizago da observancia da legislagao sobre o tratamento especial a
ser dispensado a pessoas idosas nos estabelecimentos bancarios e nos érgaos
publicos, 0 uso dos assentos dianteiros para idosos nos 6nibus, 0 direito ao
transporte gratuito’, entre outros.
A partir dessas colocagées, surgem indagagdes cujas respostas procura-
mos nas atas. Entendendo que a legislag’o corporifica demandas e necessida-
des, ela formaliza a ocupagiio de um espago. Como se da esta atuagéio? Como
os idosos reagem a certas leis? Des
gio que incomoda as vezes? Exemplo: nao querem usar 0 assento especial para
ndo se caracterizarem como velhos. Que discurso antecede, referencia estas
posigdes? Qual o idoso que aparece?
réem delas? Entendem-nas como privilé-
Os registros revelam que a legislagao é vista pelos idosos de varias for-
mas. Eles mesmos verbalizam: “temos muitas leis e poucas sdo respeitadas”.
A €nfase e a valorizacio dos direitos nas Uiltimas décadas, de certa forma,
encontrou idosos pouco preparados para potencializd-los a seu favor. A Cons-
tituigtio Cidada foi um marco no sentido de ampliar os olhares do idoso para
Novas perspectivas que se Ihes apresentam enquanto cidaddos, mesmo nao sa-
bendo ainda como usufruf-las. Os conselhos podem concretizar e desempe-
tham, neste sentido, um papel importante, como se depreende pelos exemplos
Cltados acima.
~~
3. Contemplado na Constituigao de 1988.
93
Apesar de uma participagao significativa em busca de direitos Sarangi,
pela legislacio, os conselhos enfrentam dificuldades constantes NO que se te
fere A mesma. O desconhecimento, 0 descrédito ¢ a baixa resolubilidade da
leis existentes tém sido tema constante nos debates e agoes encaminhadgs
los conselhos. Estes aspectos demandam um trabalho de informagao, de ang,
se e de critica sobre as condigdes legais relacionadas ao envelhecimento, © que
tem sido propiciado pelo Conselho em su: sembléias, reunides € encontro,
realizados. Desta forma, fica evidenciado 0 aparecimento do idoso também 0
que tange 8 legislagao.
Planejamento trata da participagdo na elaboracao de propostas de ambi,
externo nas quais 0 Conselho teve parte, como também a ordenagao ou previ.
sio das atividades internas. O Conselho do Idoso, tendo assento no Conselhy
Municipal de Assisténcia, participou de inimeras reunides de planejamento
das agGes assistenciais voltadas para 0 idoso da municipalidade. Outrossim,
também contemplou em sua rotina de trabalho 0 planejamento das agdes a
serem realizadas durante o decorrer dos anos, considerando os objetivos pre-
sentes em cada momento de sua trajetéria.
dog. |
Programas ou projetos referem outros eventos aos quais © Conselho teve
acesso € nos quais 0 mesmo e/ou os idosos estiveram envolvidos de forma
diferenciada que nao seu planejamento. Evidencia-se a presenga, a participa-
¢4o, marcando espagos e papéis dentro da sociedade. Atividades com objeti-
vos de capacitagao, integragio, lazer, espiritualidade, desde seminarios esta-
duais, regionais e municipais até oficios religiosos comemorativos, passeatas,
manifestacdes ptiblicas, audiéncias publicas, fizeram parte deste movimento.
A categoria papel do conselho diz respeito a situagdes em que fica evi-
dente o conhecimento ou a falta de clareza deste papel por parte dos conselhei-
ros e da propria comunidade. Como ja foi mencionado em outras partes dest
trabalho, o papel do Conselho é um aspecto que tem suscitado muitos questio-
namentos, duvidas, bem como efetiva-lo tem propiciado acertos e erros, tanto
de Ambito interno como externamente.
a Uma questo interna, de fundo, relacionada a dificil concretizaga0 da
Pari ade, € trazida constantemente para o debate, e outra trata do fato de em
que medida se conseguira alcangar a superacao dos impedimentos decorrentes
da falta de capacitagio dos conselheiros. Administrar uma relagdo parité
supe, jo ®
além da cla
além da clareza quanto a lugares e papéis que se constituem, a
OA
maleabilidade politica, j4 que se dio estas relagSes num campo de negoci
1a ‘ . ocia-
goes & decisdes onde se delibera sobre prioridades e rumos no que tan cia
politicas a serem executadas. Be as
Para o embate de forgas que se dé nos varios niveis, tanto federal, esta-
dual e municipal, no ultimo, pr incipalmente, os conselheiros nao tem es habi-
lidades necessarias para contrapor-se a interesses que nem sempre sao os deste
ou daquele segmento enquanto uma coletividade. Os aspectos relacionados a
capacitagao serao tratados ao mencionar a categoria capacitagao, ainda, a par-
tir das experiéncias do préprio conselho.
Como entrave externo, pode-se afirmar que existe a tendéncia de esperar
que 0 Conselho cumpra as atribuigdes do gestor, na execugao de acdes que
competem ao Poder Executivo. Estas cobrancas confundem os conselheiros e
propiciam, algumas vezes, posicionamentos contraditérios em relagao ao pa-
pel do conselho.
Com estes comentarios pode-se depreender que 0 espago do conselho faz
emergir indefinigdes relacionadas a forma de lidar com 0 envelhecimento, bem
como com a necessidade de os conselheiros, idosos ou nao, se prepararem para
as novas situacdes provenientes de uma administragao descentralizada e de-
mocratica, onde demandas e interesses préprios tém uma dimensdo funda-
mental no 4mbito do municipio.
Controle social trata de evidéncias quanto A preocupagio com a questéo
da aplicagdo das verbas, agdes do poder piiblico e também da iniciativa priva-
da, quanto aos servigos prestados para idosos. Apreender como sua a atribui-
cao de controle social exigiu e tem exigido dos conselheiros uma revisao de
suas posturas, de uma certa forma passivas e pouco criticas em relagio ao que
€ compreendido como de atribuigao da administragao ptiblica. Poder-se-ia,
aqui, trazer alguns conceitos que transparecem no discurso e na agiio do Con-
selho no que se refere ao ptiblico e ao privado. Ultimamente tem havido avan-
G0s no sentido de compreender que o que é ptiblico nao estd afeto estritamente
ao que € do governo. Esta visio até pouco predominava na sociedade. A di-
mensao do ptiblico como direito de todos, como espago de participagao, ca-
bendo-nos, portanto, construi-lo e avalid-lo constantemente nao foi ainda ple-
namente assimilada pelo povo em geral. Entao, questionamentos ¢ discussdes
do que se apresenta como proposta do poder ptiblico para esta ov aquela situa-
S40 aparece com freqiiéncia nos registros analisados. Este seria um dos aspec-
95
tos do controle social. A mengao que se faz nas atas € no sentido de Cobrancag
do Poder Ptiblico de ages a serem efetivadas.
Quanto ao privado, ou seja, as iniciativas particulares no atendimentg a
idoso, estas tém sido aceitas como integrantes do sistema de atendimento, Tas
que devem atender a legislagio existente. O Conselho orienta, quando sojig,
tado, sobre as acgdes necessdrias e nao abrangidas pelos recursos existentes,
como também sobre as exigéncias legais.
A responsabilidade delegada aos municipes em fungao da descentraliza.
¢4o coloca novas exigéncias para os conselheiros. Participar na elaboracao de
planos de agio e no controle quanto a aplicagdo de recursos torna 0 cidadig
co-responsavel pelas propostas operacionalizadas. Altera-se, entéo, 0 quadro
quanto aos papéis que cabem a sociedade civil dentro de uma estrutura descen-
tralizada. Torna-se visivel a necessidade de capacitagao para assumir novas
incumbéncias, uma vez que 0 conselheiro idoso depara-se com situagGes antes
nao enfrentadas.
A descentralizagiio se evidenciou, enquanto categoria, através de suas
implicagdes quanto as politicas e decisdes relacionadas ao idoso na esfera
municipal, principalmente. A descentralizagao em si, como processo, foi tra-
tada no Conselho quase sempre de forma indireta, j4 que as agGes, nas quais de
alguma maneira o mesmo estava envolvido, relacionavam-se também ao De-
partamento do Idoso, que no municipio tinha o encargo de operacionalizar a
politica municipal. Explicitamente aparecem registros como a criagio do De-
partamento, novo manejo de recursos assumindo o municipio e nao 0 estado 0
repasse de verbas federais, 0 processo de municipalizacao e suas implicag6es
nas instituigdes locais, bem como o envolvimento do Conselho nas discuss6es
do COREDES — Conselho Regional de Desenvolvimento. Os dados revelam
que, tanto o Conselho como 0s idosos pouco se detiveram nas origens legais €
politicas da descentralizagao, suas implicagdes, encarando de forma bastante
linear as suas decorréncias no ambito municipal.
Assumir a descentralizagao como processo politico e administrativo Po
todos os envolvidos, como ja tratado anteriormente, demanda posturas € medi-
das que precisam ser construfdas. No cotidiano do conselho, elas nao s#
visualizadas com clareza, 0 que leva a identificagdo, em nossa realidade, 49
problemas referidos nos textos citados na primeira parte.
Capacitagao € considerada como a busca e difusio de insumos tedricos ©
praticos, reflexes acerca do envelhecimento, tanto em fungao de situagoes
96
positivas ou negativas vivenciadas, como para dar suporte a novas iniciativas
e encontros de capacitacao entre os conselhos de idosos existentes no estado €
na regido- O entendimento atual quanto & responsabilidade pela capacitagao
dos conselheiros € que cabe ao Poder Executivo realizd-la. Dada a constante
solicitago, € uma vez que no decorrer dos anos esta capacitagio nao aconte-
cia, 0 Conselho, com 0 aval do CEI, organizou em 1998 e 1999 dois encontros
estaduais de conselhos municipais de idosos.
Esta pratica teve continuidade, assumida que foi pelo Conselho de outra
cidade da Regiao Metropolitana, para, posteriormente, ficar ao encargo da
Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assisténcia Social, juntamente com 0 CEI.
Além disso, os registros comprovam a concretizacio de encontros dos pré-
prios conselheiros da comunidade local, em hordrios especialmente escolhi-
dos, para prepararem-se melhor para a funcdo de conselheiros, ou seja, uma
capacitagdo interna propriamente dita.
Nesta categoria, Fundo Municipal do Idoso, reunimos as mengdes sobre
sua criagdo e a falta de sua regulamentagiio, como sobre as iniciativas neste
sentido, além da sinaliza
io quanto & importancia de sua agilizagio. Os conse-
Iheiros nao se detiveram muitas vezes neste tema no decorrer dos anos, con-
de
Pode atribuir-se este fato ao descrédito quanto a este mecanismo orga-
mentdrio, como também ao desconhecimento das implicagdes que a existéncia
forme as atas analis
ow nao de um fundo municipal acarreta. Os fundos municipais, por sua vez,
tém sido alvo de muitas polémicas em outros conselhos que os possuem, devi-
damente criados e regulamentados, como é 0 caso da assisténcia e ainda da
satide, como naqueles conselhos onde os fundos so criados, mas lhes falta a
regulamentaciio, e naqueles conselhos onde o fundo nao foi criado. Isto por-
que se discute ainda a validade deste instrumento financeiro, pois que mais e
mais se caracteriza uma fragmentacao nao s6 dos sujeitos-alvo dos programas
€ politicas como das proprias agGes a serem efetivadas.
Outro elemento relacionado aos fundos, seja do idoso, seja da crianga e
do adolescente, entre outros, Se refere ao processo administrativo-politico ima-
nente aos mesmos. Trata-se de quais recursos so depositados nos fundos e
qual 0 uso destes recursos. Esta é uma trama complexa que exige dos conse-
Iheiros dominios de diffcil acesso para leigos na rea da economia. Paralela-
mente a estas limitagdes, que, talvez pudessem ser contornadas se houvesse
97
uma relagio ética e politica com o gestor, se ambas as partes estivessem capa.
citadas para tal, interpdem-se interesses politico-partiddrios que
idoso ¢ 0 coletivo, mas sim beneficios individuais para quem tem acesso a esig
conhecimento, como ja referimos em outros momentos.
Mesmo assim, as discussGes que se fizeram presentes sao da seguinte
ordem: cada segmento, idosos ou criangas, deve ter seu fundo? Assim como
esta acontecendo nos dias de hoje, 0 financiamento das agdes voltadas para 9
idoso depende do Fundo Municipal da Assisténcia. Da-se, entao, disputa Pelas
verbas entre os varios segmentos em situacao de vulnerabilidade social, ¢,
entre o idoso empobrecido e/ou miser4vel, disputa na qual intmeros interesses
esto em jogo. Além disso, cabe perguntar como atender os outros idosos que
demandam politicas e agGes niio s6 afetas a ass sténcia social?
40 Visam 0
Ultimas consideracdes
Finalizando, em busca da compreensio da realidade do idoso, a partir de
um conselho como espago ptiblico, ou seja, espago de aparecimento/visibili-
dade, discurso e ago, tem-se que estes trés momentos se dio em varias dimen-
sdes, das quais explicito duas que se sobressaem. A primeira, na qual 0 idoso
esta voltado para 0 idoso, e a outra, na qual o idoso esta frente & sociedade.
Poder-se-ia, por outro lado, analisar e compreender a prépria sociedade, apa-
recendo, agindo e discursando para e sobre os idosos, mas nio é esse nosso
objeto. A atengio principal esté no idoso. Ou seja, tanto o aparecimento, 0
discurso e a agdo convém que sejam vistos sob as perspectivas dos idosos
voltados para outros idosos e as dos idosos voltados para a sociedade na qual
estio inseridos.
Ao avancar no sentido do discurso, seguramente, encontramos as Tespos”
tas que a sociedade da para as seguintes questdes: o que é ser idoso, quem €°
idoso, conforme as falas que aparecem no conselho, Além disso, é importan®
identificar de que forma se torna presente 0 como é ser idoso e 0 por que seé
idoso de acordo com as concepgées. vigentes. No que tange ao apareciment!
visibilidade, deve ficar claro onde, como e para quem 0 idoso aparece. E mais
ainda, referente & agdo, mister se faz conhecer quais as agdes concretizada®
como sio conduzidas e 0 porqué destas agdes. Assim acreditamos que circum”
damos a compreensao desta realidade.
OR
Os dados citados anteriormente apontam para 0 quanto é fecundo este
espaco institucional para a atuagdo do Servico Social e 0 compromisso ético-
politico que envolve os profissionais em potencializar os conselhos enquanto
espagos de teflexdo e de pratica.
E € no espaco publico que se buscou compreender a insergao do idoso em
nossa sociedade.
No que se refere ao espago puiblico como o lugar do aparecer, do discur-
sar e do fazer, se apresentam perspectivas que possibilitam este movimento,
como vimos na exposigao dos resultados da pesquisa. O que se constata é que
os idosos so muitos e ha um despreparo da sociedade em administrar esta
nova situagao. Poucos estado aptos para exercer sua cidadania nesta sociedade
de cuja concretizagao participaram, ativa ou passivamente. As iniciativas no
sentido de alterar este quadro devem ser potencializadas, na medida em que se
mostram relevantes.
O idoso organizado, principalmente, pode abrir caminhos: articular, rei-
vindicar, pressionar, fazer, aparecer. Nao o tem alcangado ainda na sua pleni-
tude. Na medida em que estas acgGes se concretizarem, paulatinamente serao
estabelecidas, tanto da parte do poder ptiblico como da sociedade civil, novas
formas de dar cidadania a velhice.
Por isso, os conselhos se apresentam como uma alternativa viabilizadora
deste patamar almejado para o idoso e para a sociedade em geral, apesar de
impedimentos que se fazem presentes.
Quanto ao discurso e a ado, Arendt refere ainda: “a agdo e 0 discurso sao
0s modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, nao
como meros objetos fisicos, mas enquanto homens”. (Idem, 2001: 191)
Sio homens e mulheres, envelhecidos ou nao, que agem e falam sobre 0
velho nas atas que analisamos.
Isto, porém, sem minimizar as conseqiiéncias das dificuldades encontra-
das como a falta de dominio dos conselheiros quanto a fluxos e tramitagdes da
vonnmentaio necesséria para liberagdio de recursos, quanto aos interesses de
desconhert €m jogo, a falta de critérios para o estabelecimento de prioridades,
imento das atribuigdes e competéncias do conselho, entre outros.
hexto oe referir, também, alguns caminhos que tém sido objeto o os
‘iscussOes registradas nas atas, como capacitagao, socializagao da
99
agio e do discurso, informagao atualizada bem como garantia de uma in
estrutura administrativa.
Abstract: This work presents a theoretical contention and research to support the thesis that
a city council is widening the public space given to senior citizens. Its starting point igt the
thesis presented by the author at the Pontificia Universidade Catélica — PUC ~ in p, .
Alegre, Brazil, as a part of her doctorate. Considering aspects like democracy, federalism, a
decentralization, it situates the city council as a public space supported by the ideas of Hann,
‘Arendt about it. So it characterizes the city council as a locus of visibility, discourse and action
It also refers to the presence of the social worker in this context. City councils are here Presenteg
as places for democratic praxis through the data founded at the research. This research yas
done using the minutes written during the 10 years of a senior citizens council, based on their
content analysis. Categories priviliged in this article are: articulation, legislation, planning,
role of the city council, social control, decentralization, capacitation and city found for senior
citizens (Fundo Municipal do Idoso). It closes showing the difficulties and pointing out ways
of overcoming them.
Keywords: democracy, federalism, decentralization, public space, city councils.
Bibliografia
ALMEIDA, Maria Helena Tensrio de. Hannah Arendt ou os caminhos de um pensi-
mento inquieto na busca de uma vida ptiblica. Servigo Social & Sociedade. Si0
Paulo, ano XX, n. 62, p. 169-187, mar. 2000.
ARENDT, Hannah. Reflexdes sobre politica ¢ revolugao: um comentario, In: Crises
da repiiblica. Trad. José Volkmann. Sio Paulo, Perspectiva, pp. 173-201, 1973.
ARENDT, Hannah. Da revolugdo. Tradugio Fernando Didimo Vieira. Sao Paulo.
Atica; Brasilia: Editora da UnB, 1988.
A dignidade da politica: ensaios e conferéncias. 3 ed. Org. Antonio Abranches.
Trad. Helena Martins e outros. Rio de Janeiro: Relume-Dumaré, 1993.
. Sobre a violéncia. Trad. André Duarte. Rio de Janeiro: Relume-Dumats.
1994.
- O que é politica? Org. Ursula Ludz. Trad. Reinaldo Guarany. Rio de Janei®
Bertrand Brasil, 1998. .
A condigdo humana. 10° ed. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Univers
ia Forense, 2001.
BOBBIO, Norbreto. A teoria das formas de governo. 8* ed. Trad, Sérgio Both. Brastit
Editora da UnB, 1995.
100
BOGDAN. Robert C. & BIKLEN, Sari Knopp. Investigagdo qualitativa em educa-
edo: uma introdugdo a teoria e aos métodos. Trad, Maria Joao Alves et al. Por-
to: Porto Editora, 1994.
BRASIL. Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993, Dispie sobre a organizagao da
Assisténcia Social e dé outras providéncias, In; COLETANEA de Leis, CRESS
SER, 10. Regio, Porto Alegre, Gestiio 1996-99 [s.d.].
BREDEMEIER, Sonia M. L. Conselhos municipais como caminho para alcangar
uma politica para o idoso. Estudos Leopoldenses. Sio Leopoldo, v. 35, n. 154,
p. 163-172, 1999 (Série ciéncias humanas).
____. Conselhos municipais, financiamento e a Politica Nacional do Idoso. Porto
Alegre: PUC-RS, 2000. Relatério de Pesquisa. Programa de Pés-Graduacao em
Servigo Social.
. Ovelho cuidador. Disponivel em: Biblioteca Virtual Costa, tsforos@fes.ucr.ac.cr,
2001.
. O espago piiblico e o idoso: possibilidades através de um conselho munici-
pal. Textos & Contextos. Porto Alegre, v. 1, pp. 1-8, 2002.
. Conselho municipal: a ampliacdo do espaco piblico para o idoso. Porto
Alegre: PUC-RS, 2003 (publicacio em tratativas). Tese de doutorado. Faculda-
de de Servigo Social, Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul,
2003.
CASTRO, Alba Tereza Barroso de. Espaco ptiblico e cidadania: uma introdugao ao
pensamento de Hannah Arendt. Servigo Social & Sociedade. Sio Paulo, ano
XX, n. 59, pp. 9-23, mar. 1999.
DEGENNSZAJH, Raquel Raichelis. Desafios da gestdio democriitica das politicas so-
ciais, In: Capacitagdo em Servigo Social e Politica Social — Médulo 03, CFESS/
ABEPSS/CEAD/NED. Bras‘lia, UnB, pp. 59-80, 2000.
CONSTITUICAO da Repiiblica Federativa do Brasil. Brasilia, 1988.
CONSELHO Estadual do Idoso/RS, Secretaria da Justiga, do Trabalho e da Cidada-
nia. Lei n° 8.842/94; Fazendo da velhice um exercicio de participagio e cidada-
nia — um roteiro de propostas para a municipalizagio, nov. 1994.
CRITELLI, Dulce Mara. Hannah Arendt: a vida ativa e a ago — ontologia da politi-
ca. In: CARVALHO, Maria do Carmo Brandt de (org.), Teorias de ago em
debate, Sao Paulo, Cortez, 1993.
DEGENNSZAJH, Raquel Raichelis. Desafios da gestdo democritica das politicas so-
Ciais. In: Capacitagao em Servigo Social e Politica Social — Médulo 03, CFESS/
ABEPSS/CEAD/NED. Brasilia, UnB, pp. 59-80, 2000.
FUNGERIK, Archon & WRIGHT, Olin. Experimentos em democracia dejip,
Sociologias, Porto Alegre, ano 1, n. 2, pp. 100-143, jul./dez. 1999,
GERSCHMAN, Silvia. Democracia inconclusa: um estudo da reforma Sanitérig br
sileira, Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 1995. a
LUDKE, Menga & ANDRE, Marli E. D. A. Pesquisa em educagao: abordagens on
litativas. So Paulo, EPU, 1986.
RAICHELIS, Raquel. Exfera piiblica e conselhos de assisténcia social: camino,
construgao democratica. Sao Paulo, Cortez, 1998.
RAICHELIS, Raquel & PAZ, Rosangela. Forum Nacional da Assisténcia Social: Novo
marco de interlocugio entre a sociedade civil e governo federal. Servigo Social
& Sociedade. Sao Paulo, ano XX, n. 61, pp. 109-117, nov. 1999,
SCHAFF, Adam. Linguagem e conhecimento. Coimbra, Livraria Almedina, 1964,
SEVERO, Célia Maria Teixeira. O voto dos/as idosos/as e a cidadania. Sao Leopoldo,
Unisinos, 2002, Curso de Servigo Social, Relatério de Pesquisa.
erativg
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Trad. Daniel Grass
Porto Alegre, Bookman, 2001.
102
Você também pode gostar
- Encarte Especial de Natal Bahamas Zona Da Mata 20 A 24-12-23 1Documento4 páginasEncarte Especial de Natal Bahamas Zona Da Mata 20 A 24-12-23 1Luciana MaffiaAinda não há avaliações
- 50 Anos Pedagogia 20220724Documento311 páginas50 Anos Pedagogia 20220724Luciana MaffiaAinda não há avaliações
- Manual para Uso Nao Sexista Da LinguagemDocumento112 páginasManual para Uso Nao Sexista Da LinguagemLuciana MaffiaAinda não há avaliações
- A Última Casa em Needless Street - Catriona WardDocumento356 páginasA Última Casa em Needless Street - Catriona WardLuciana MaffiaAinda não há avaliações
- Ekeys, AS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS NA CONTEMPORANEIDADE O PAPEL DO FUNDO PÚBLICODocumento14 páginasEkeys, AS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS NA CONTEMPORANEIDADE O PAPEL DO FUNDO PÚBLICOLuciana MaffiaAinda não há avaliações
- Alienacao Familiar Pessoas IdosasDocumento31 páginasAlienacao Familiar Pessoas IdosasLuciana MaffiaAinda não há avaliações
- Livro Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo Contec3bado SelecionadoDocumento105 páginasLivro Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo Contec3bado SelecionadoLuciana MaffiaAinda não há avaliações
- Resiliência Um Enfoque para A Promoção de Saúde em IdososDocumento23 páginasResiliência Um Enfoque para A Promoção de Saúde em IdososLuciana MaffiaAinda não há avaliações
- Assistencia Social SSPCDocumento9 páginasAssistencia Social SSPCLuciana MaffiaAinda não há avaliações
- Trabalho Habitação SESDocumento16 páginasTrabalho Habitação SESLuciana MaffiaAinda não há avaliações