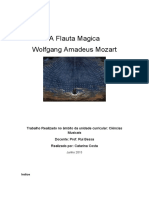Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Investigação em Educação
Investigação em Educação
Enviado por
Catarina Costasinger0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações16 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações16 páginasInvestigação em Educação
Investigação em Educação
Enviado por
Catarina CostasingerDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 16
O ESTUDO
.. DECASONA
INVESTIGAGAO
" a He a
de investigacdo que se inscrevem tanto nas abordagens de teor quantitativo,
como nas abordagens de cariz qualitativo.
No capitulo IV - O Estudo de Caso - partindo do conceito e dos
fundamentos que estao na base de um estudo de caso, fazemos uma inves-
tigacao circunstanciada deste formato investigativo, enaltecendo quer as
possibilidades que apresenta para conciliar perspetivas e/ou metodologias
de anilise distintas, quer as potencialidades que propicia para a anilise,
descrigéo, compreensio e interpretagao de um caso singular ou de uma
realidade concreta. Neste capitulo faz-se ainda referéncia aos instrumentos
de recolha de dados comummente utilizados na investigacao com estudo de
caso, as principais técnicas a que se recorre para o seu tratamento e andlise
e a apresentacao dos resultados.
Finalmente, no Capitulo V ~ Relevatncia do Estudo de Caso na Investigacdo
em Educagao — refletimos sobre o impacto que a investigacéo com Estudos de
Caso pode produzir ao nivel da configuragao de um dado cenario educativo.
Além disso, referimo-nos ao papel do investigador enquanto professor,
bem como aos procedimentos a seguir para credibilizar o estudo de caso
e fazer dele esteio de mudanga e melhoria das praticas curriculares que se
desenvolvem nas nossas escolas,
CAPITULO 1
INVESTIGACAO EM CIENCIAS SOCIAIS:
DO PARADIGMA DOMINANTE
AO PARADIGMA EMERGENTE
O debate sobre os métodos de investigacao em ciéncias sociais, e
consequentemente na educacao, nao é novo e reflete a existéncia de distintas
perspetivas conceptuais e metodolégicas em termos de producio e legitimacao
do conhecimento.
Embora tais perspetivas se configurem em torno de um objetivo comum
-conhecer a realidade -, 0 facto é que a discussao se foi polarizando em torno
de duas tendéncias principais: por um lado, 0s modelos de investigagéo e
conce¢ao cientifica de indole experimental (ou quase experimental), de teor
posi
eviriam a adquirir, durante um longo periodo de tempo, o monopélio da
cientificidade; por outro, os modelos metodoldgicos de investigagao, de
indole hermenéutica e fenomenoldgica, que apesar de diferentes designacoes
- qualitativos, etnogrdficos, interpretativos... - se preocupam globalmente
em indagar o significado dos fenémenos no contexto em que se produzem
(Pérez Gomez, 1995a).
Relativamente a primeira tendéncia, Santos (1999, p. 10) considera que
pode falar-se de um “modelo global de racionalidade cientifica”. Estamos
perante um arquétipo que, tendo surgido a partir da revolugio cientifica
ista, que se evidenciaram no desenvolvimento das ciéncias naturais
do século XVI, viria a desenvolver-se e a predominar nos séculos seguintes,
essencialmente no dominio das ciéncias naturais, acabando, jé em pleno século
XIX, por comegar a fundamentar a génese das ciéncias sociais emergentes.
(© ESTUDO DE CASO NA INVESTIGACAO EM EDUCAGAO u
Em idéntica linha de pensamento, Popkewitz (1988, p. 61), referindo-se
as ciéncias sociais, e centrando-se concretamente nas ciéncias da educa¢ao,
filia tal modelo, que denomina “paradigma empirico-analitico’, nas correntes
behavioristas e critica o facto de pressupor uma concecao de ciéncia alheada
das questdes morais e éticas, de veicular uma “ideia do mundo social como
conjunto de varidveis empiricas diferencidveis” ~ tais como o sistema econémico,
o sistema de satide ou 0 sistema da aula ~ e de adotar “linguagens formais e
matematicas para expressar 0 progresso e as relagdes sociais”
Trata-se de um modelo global que “admite variedade interna mas que
se distingue e defende, por via de fronteiras ostensivas e ostensivamente
policiadas, duas formas de conhecimento nio cientifico (e, portanto,
irracional) potencialmente perturbadoras e intrusa:
senso comum e as
chamadas humanidades ou estudos humanisticos” (Santos, 1999, p. 10). Uma
visdo da vida e do mundo que se dicotomiza entre conhecimento cientifico
e conhecimento vulgar e que acentua a separago entre a natureza e o ser
humano.
Ao rejeitar as formas de conhecimento que nao se pautem pelos seus
principios epistemolégicos e pelas suas regras metodoldgicas, tal modelo de
investigacao pode, eventualmente, configurar-se como um modelo segregador e
totalitario, A luz deste modelo, o conhecimento dos fenémenos, a possibilidade
da sua previsio, a descrico e explicacao do seu funcionamento, a quantificagio
como principal base explicativa, eram requisitos imprescindiveis para que
qualquer investigacao e respetivos resultados pudessem ser reconhecidos
como cientificos. O rigor cientifico é aqui proporcional ao rigor da medida. O
controlo das variaveis e a medida dos resultados, expressos preferencialmente
de forma numérica, séo preocupacdes sempre presentes ao longo de todo
© proceso investigativo. Neste contexto, em que o mais importante radica
no rigor estat{stico e metodolégico, Popkewitz (1988, p. 61) considera que
“se perde de vista a natureza da razdo e da légica como algo construido e
conservado socialmente”.
Além disso, em vez de se configurar apenas como um recurso para
interpretar a realidade, isto é, um “modelo para a organizacao da informagao
conhecida’”, a sua aceitacdo sem restricdes permitiu que fosse normalmente
R
cartrutot
ENVESTIGAGAO EM CIENCIAS SOCIAIS: DO PARADIGMA DOMINANTE AO PARADIGMA EMERGENTE
reconhecido como “uma descricdo exata da realidade” e que se eliminassem
problemas cuja resolucdo nao se subjugasse a aplicacdo de tal modelo,
recorrendo aos meios conceptuais e instrumentais existentes (Martinez,
1993, pp. 63-64).
Em termos epistemolégicos, estamos em presenca de um modelo racional
e cientifico que, em resultado da preponderancia conseguida, Santos (1999,
p. 10) denomina de “paradigma dominante”!. Um paradigma que, como atrés
referiamos, privilegia uma determinada forma de conhecimento, se baseia
essencialmente na observacao dos factos e se interessa primordialmente
pela explicacao dos fenémenos, em detrimento do agente que os produz.
Um modelo que persegue a construgao de um conhecimento causal com
vista a formulacao de leis, fundamentado nas regularidades observadas e
que permite a previsio do comportamento dos fenémenos.
Para Popkewitz (1988, p. 66), trata-se de um paradigma que tem vindo
a imperar nas comunidades cientificas ocidentais e 4 luz do qual “a unica
forma valida de desenvolver 0 conhecimento sobre o homem é baseando-
-se no que pode observar-se ou tornar-se observavel”. Neste sentido, 0
conhecimento em vez de sintético deve ser analitico, isto é, “as observagées
tém por objetivo dividir o comportamento humano nos seus elementos
O conceito de paradigma passou a fazcr parte da linguagem cientifica a partir dos trabalhos de Kuhn,
(1971). O autor reconhece a existéncia de uma grande variedade de definicées de “paradigma’, mas
define-o essencialmenie como sendo um compromisso implicito de uma comunidade cientifica com
determinado marco conceptual. No fundo, um conjunto de postulados, crengas, valores, teorias,
técnicas e linguagens que so comuns e/ou reconhecidas pelos membros de uma dada comunidade
cientifica, Para Herman (1983, p. 4), um paradigma é “um universo habitual de pensamento para
os investigadores num dado momento”, Os elementos desta definigao sao retomados por Shulman
(1989, p. 11), mas nao sob a designagao de paradigma. Prefere utilizar o conceito de “programa de
investigacdo para descrever os géneros de indagacdo que se encontram no estudo do ensino’, opgio
{que justifica em resultado da polissemia e da “conflitualidade” que o conceito kuhniano de paradigma
proporciona. Embora o termo paradigma seja utlizado de virias maneiras, muitas vezes com sentidos
diferentes dos que Kukn lhe conferiu (uma escola de pensamento que predomina numa determinada
época), as opiniées formuladas permitem-nos constatar que estamos em presenga de um conceito
com significativa abrangéncia, complexo, que se utiliza normalmente para descrever comunidades de
investigagdo e as concedes dos problemas e dos procedimentos que adotam e partilham, podendo,
‘como sugere Shulman (idem, p. 14), coexistirem varias “escolas divergentes de pensamento’ evitando-
-se assim o predominio de um inico paradigma no campo da investigacdo. Com base nos conceitos
assinalados, Pacheco (1995, p. 11) conclui que um paradigma envolve “uma partlha de experiéncias
‘e uma sintonia no que diz respeito & concecio da investigacao e & natureza do conhecimento”
1B
constitutivos” Acredita-se que os fenémenos sociais “contém regularidades
legaliformes e que podem ser identificados e manipulados como objetos do
mundo material” (idem, ibidem).
Durante muito tempo, a investigacao em ciéncias sociais viu-se conformada
por este paradigma, regendo-se pelos mesmos principios que norteavam a
investigaco em ciéncias naturais para o estudo da natureza. Uma situacZo
que, como nota Torres (1988, pp. 11-12), ficou essencialmente a dever-se “ao
forte mimetismo e a falta da necessdria reflexao epistemoldgica” no ambito das
ciéncias sociais, o que terd concorrido para a progressiva “aceitacdo acritica
dos paradigmas e métodos de investigacao que serviam com bastante eficdcia
paraa descoberta de leis e regularidades nas ciéncias naturais”
Embora seja inegavel que a ciéncia tenha adquirido um certo predomi-
nio — resultante sobretudo de ser concebida como um instrumento capaz de
aumentar o poder do homem sobre a natureza e do seu nivel de adequaco ao
mundo concreto, podendo através dela melhorar as condices de vida e irradiar
desigualdades e injustigas - e tenha constituido o maior centro de interesse
do homem dos séculos XIX e XX, as limitagdes impostas pela sua propria
natureza acabariam por impossibilité-la nao s6 de estudar e de resolver muitos
problemas e preocupacées de grande importancia para a vida humana, bem
como de justificar cientificamente as bases ou pressupostos em que se apoiava.
E que, compreender cabalmente a ciéncia, afirma Martinez (1993, p. 15),
“6 compreender a sua origem, as suas possibilidades, a sua significagao para
a vida humana, quer dizer, entendé-la como um fenémeno particular”. No
entanto, o que verifica é que “a objetividade do método cientifico requer que
a ciéncia transcenda o particular do objeto ¢ o subsuma nalguma lei geral”
(idem, ibidem).
Apesar das concegées que, durante séculos, imperaram no estudo da
natureza e na filosofia do conhecimento humano insistirem na necessidade
de analisar as aces humanas de forma objetiva e neutra, isto é, separando
08 individuos do contexto em que realizam as suas vidas e escalpelizando
os fenémenos sociais como se de meros objetos se tratasse, o conhecimento
produzido foi sendo progressivamente questionado, tornando-se cada vez
4
cartrute
[NVESIIGAG:AD EM CIENCIAS SUCIAIS:BO FARADIGMA DOMINSANTE AO PARADIGMA EMERGENTE
mais problematica a ambicao da ciéncia se constituir como um campo de
saber universalmente valido.
A investigacdo, enquanto atividade humana e social, transporta um
conjunto de valores, interesses e principios que orientam o investigador na
busca do conhecimento cientifico e que néo podem subjugar-se a um modelo
condutista e quantitativo, que pressupde uma aceita¢4o de pressupostos
estaveis e mecanicistas proprios do paradigma positivista.
Nao podemos deixar de ter presente que os seres humanos criam repre-
sentagdes do meio fisico e social em que se movem, procurando interpretar
‘os comportamentos ¢ as interagées das pessoas e dos objetos desse meio
ambiente. Por conseguinte, as nossas a¢ées acabam, inevitavelmente, por
ser condicionadas pelos significados que consignamos as a¢ées das pessoas
e dos objetos com que nos relacionamos (Torres, 1988). Assim sendo,
qualquer investiga¢ao que descure tais aspetos acabard por nao refletir todas
as dimensdes dessa realidade, podendo, inclusive, captar os seus aspetos
menos relevantes.
E nesta linha de pensamento que Le Boterf (1981) assinala que, no
campo das rela¢ées entre os distintos participantes do processo investigativo,
a racionalidade das técnicas de investiga¢do classica oculta frequentemente as
relagées de poder que se estabelecem entre investigador e investigado. Num
processo de investigacio experimental, os investigados sao vistos como seres
passivos, sem intengées, nao se tendo em conta a subjetividade que explicae
condiciona as suas agGes. Além disso, desconhecem quase sempre os motivas
do investigador e as finalidades da investigagao em que participa. A voz do
investigado é normalmente traduzida pela linguagem do investigador, ja que
este detém tanto 0 poder institucional como o poder metodoldgico. Acresce
0 facto da qualidade e da veracidade das informagées serem questionaveis,
‘uma vez que dependem, essencialmente, dos recursos técnicos utilizados e
da formagio do investigador.
Emerge, assim, um conjunto de criticas que veio por em causa a validade
do modelo vigente, aparentemente racional e cientifico, e que fez com que
tal paradigma entrasse rapidamente em crise. Santos (1999, pp. 24-30)
considera que o aflorar dessa crise representa apenas o culminar de uma
15
série de situa¢ées que contribuiriam para debilitar progressivamente a
credibilidade do modelo em causa, principalmente no terreno das ciéncias
sociais, das quais importa salientar:
- o aprofundamento do conhecimento a que tal paradigma conduziu
permitiu reconhecer a fragilidade dos proprios pilares em que se fundava;
~“o carater local das medigées e, portanto, do rigor do conhecimento
que com base nelas se obtém” é questiondvel, sobretudo a partir do
momento em que Einstein relativizou o rigor das leis de Newton, até
ai tidas como universais, e o “rigor da medi¢ao” passa a ser posto em
causa pelos progressos da mecanica quantica;
- a demonstracao de que existe uma “interferéncia estrutural do sujeito
no objeto observado” o que acarreta implicacées de vulto para os.
pressupostos deste modelo;
~ a constatagao, com base nas investigacdes de Ilya Prigogine e na
sua teoria das estruturas dissipativas, de que “em sistemas abertos,
ou seja, em sistemas que funcionam nas margens da estabilidade’, a
evolugao se explica a partir de “flutuagées de energia que em deter-
minados momentos, nunca inteiramente previsiveis, desencadeiam
espontaneamente reagées que, por via de mecanismos nao lineares,
pressionam o sistema para além de um limite maximo de instabilidade
eo conduzem a um novo estado macroscépico”; um conjunto de factos
que viriam confirmar que “a irreversibilidade nos sistemas abertos
significa que estes sao produto da sua histéria” e fazer questionar os
conceitos de lei e de causalidade que subjazem a generalidade dos
fenémenos cientificos;
—a crescente reflexdo epistemolégica em torno da investigacao e do
conhecimento cientifico, uma reflexdo cada vez mais rica, mais
diversificada e mais aprofundada e que, melhor do que em qualquer
outra circunstancia, “caracteriza exemplarmente a situaco intelectual
do tempo presente”.
As situagdes enunciadas contribuiriam para que os principios epistemol6-
gicos eas regras metodolégicas, que vinham conferindo uma forte hegemonia
cartruta 1
IINVESTIGACAO EM CIENCIAS SOCIAIS: DO PARADIGMA DOMINANTE AO PARADIGHA EMERGENTE
ao modelo classico de racionalidade cientifica, se vissem sucessivamente
eivados de falta de rigor e de credibilidade, particularmente no que se refere
a investigagao e ao conhecimento produzidos no ambito das ciéncias sociais,
A euforia cientista do século XIX e sua consequente aversio & reflexio
filoséfica, bem simbolizadas pela mente positivista, veem-se revezadas,
nas derradeiras décadas do século XX, pelo anseio quase desesperado de
complementar “o conhecimento das coisas com o conhecimento do conheci-
mento das coisas, isto é, com 0 conhecimento de nés préprios (Santos, 1999,
p. 30). Emerge, assim, um novo paradigma, “um meta-sistema de referéncia,
cujo objetivo é guiar a interpretacao das interpretag6es e a explicagao das
explicag6es” (Martinez, 1993, p. 19). Um modelo em que a anilise das
condigées sociais, dos contextos culturais e dos modelos organizacionais
de investigacao cientifica passam a ocupar um lugar central no campo da
reflexdo epistemolégica.
Os apologistas deste novo paradigma - comummente designado por
interpretativo, simbdlico, hermenéutico ou fenomenolégico — baseiam-se
numa “visio das pessoas como agentes ativos na criagao da sua propria
realidade social’, realidade essa que resulta da “interagao das disposigdes
internas dos individuos e das forgas externas que limitam a sua aco dentro
de um determinado contexto social” (Goodman, 2001, p. 60). Uma visio
corroborada por Popkewitz (1988), ao definir a sociedade como uma realidade
que se constrdi, se nutre e se mantém através de interacdes simbdlicas e
modelos de comportamento, interacées essas que servem de base a elaboracao
¢ manutengao das normas que regem a vida social”.
* No campo das ciéncias sociais, particularmente no campo da educago, Popkewitz (1988) postula
a existéncia de trés paradigmas que definem ¢ estruturam as respetivas priticas de investigacio e
roporcionam distintas visdes da realidade: o paradigma empirico-analitico, de cariter positivista,
‘comprometido com 0 controlo empirico eo dominio técnico e cujo propésito principal consiste em
elaborar uma teoria de ensino que oferesa um conjunto de proposigdes especificas que descrevam
€ presctevam as priticas educativas; 0 paradigma simbélico, orientado para a pritica, que atende is,
interagées sociais ¢ comunicativas que ocorrem nas situacSes sociais e apela aos pontos de vista dos
individuos para configurar o sentido da realidade e o desenvolvimento do conhecimento; 0 paradigma
ertico, de cari reflexivo, um enfoque configurado numa vertente politica eorientado para a mudanga
social; tenta compreender as répidas transformagdes sociais, com base nas relacSes existentes entre
valor, interesse e aio.
7
De acordo com esta perspetiva, os individuos nio se limitam a reagir
perante estimulos que recebem do exterior. Pelo contrario, apropriam-se da
realidade que os rodeia, interpretam o mundo em que se inserem e atuam
de acordo com as suas préprias interpreta¢6es, comunicam simbolicamente
com 08 outros e consigo préprias, o que lhes permite adquirir um determi-
nado sentido da realidade, conferir significado ao meio onde interagem e,
simultaneamente, criar 0 seu proprio mundo. Nesta ordem de ideias, sustenta
Goodman (2001, p. 61), ‘o principal interesse no estudo da realidade social
radica em compreender o significado que as pessoas dao as suas ages ¢ as
daqueles com que partilham o seu mundo’.
Um dos contributos mais proeminentes para a emergéncia deste
paradigma alternativo provém da teoria social critica’. Uma teoria segundo
a qual nem os individuos podem ser estudados de modo objetivo através
de investigacdes experimentais, nem “a selegao e organizagao de dados
pode fazer-se isolando e ignorando o contexto social e cultural em que se
produzem e obtém (Torres, 1988, p. 12). Uma forma diferente de interpretar
e compreender a realidade e a propria natureza humana, baseada dominan-
temente nas relagdes e dependéncias recfprocas que se estabelecem entre 0
individuo e aqueles que interagem com ele.
Estamos perante um modelo que, nao descurando os contributos que
a ciéncia mais tradicional legou ao homem, procura integrar, num todo
coerente e légico, o crescente fluxo de conhecimentos que procedem das mais
‘© que Popkewitz (1988) faz.é enquadrar no campo da educacio a Teoria dos Interesses Humanos
‘de Habermas (1982), explicitada na sua obra “Conocimiento ¢ interés”, em que refere a existéncia de
{rds interesses cognoscitivos: tkenico, pritico ¢ emancipatério. Aliés, as mesmas categorias que Carr e
Kemmis (1988) utilizam na sua obra “Teoria critica de la ensefianza”, Habermas (1982) nlo os designa
de paradigmas mas sim como interesses cognosctivas que orientam a construgio do saber tebrico face
acio, para intervir na realidade.
Na verdade, estamos perante dois paradigmas, podendo o segundo ~ hermenéutico, etnogrifico,
naturalista, fenomenolégico - estar guiado por dois interesses, o pritico e o emancipatério. O
paradigma critico subsume-se no que Popkewitz (1988) designa por paradigma simbdlico. Também
nna nossa investigagao assumimos ambos os interesses ~ prético e emancipatério -, ja que entre os
nossos objetivos figura o de descobrir o que ocorre no sistema educativo para, de seguida, oferecermos
algumas possiveis saidas ou opcées de melhoria, isto ¢ emancipatorias
> Para uma abordagem mais pormenorizada desta temitica vide: Morrow, R. & Torres, C. (1997) €
Giddens, A. & Turner, J. (1995).
cartroto1
INVESTIGACKO EM CIENCIAS C1416. NO PARADIGMA DOMIAMTE AO PARAIONA BMBRGENTE
diversas disciplinas. Além de gerar novas sensibilidades e de idealizar outras
formas de pensamento, tal modelo pretende consolidar uma racionalidade
capaz de “integrar dialeticamente as dimensées empiricas, interpretativas e
criticas de uma orientacao teorética que se dirige para a atividade pratica,
uma orienta¢ao que tende a integrar o pensamento calculante e o pensamento
reflexivo” (Martinez, 1993, p. 17).
Na opinido de Santos (1999, pp. 37-55), os sinais emitidos pela crise do
paradigma positivista e o despoletar da revolucao cientifica que vivemos mais
recentemente tornariam inevitavel a configura¢ao de um novo paradigma,
situagdo que justifica com base nas seguintes teses:
+ “Todo o conhecimento cientifico-natural é cientifico-social” — deixa
de ter sentido e utilidade a distingao dicotémica entre ciéncias
naturais e ciéncias sociais, uma distingao herdada de uma conce¢ao
mecanicista de matéria e de natureza; os recentes progressos das
disciplinas cientificas e a propria evolugao do pensamento cientifico
corroboram a existéncia de um conhecimento nao dualista, (fundado
na supressao de distingdes que até ha pouco tempo se consideravam
insubstituiveis, tais como natureza/cultura, natural/artificial, mente/
matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo...), nama légica que
recoloca a pessoa, enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do
conhecimento e que procura descobrir “categorias de inteligibilidade
globais, conceitos quentes que derretam as fronteiras em que a ciéncia
moderna dividiu e encerrou a realidade”;
+ “Todo o conhecimento é local e total” - enquanto na ciéncia moderna
0 conhecimento avancava no sentido da especializacao, sendo tanto
mais rigoroso quanto mais restrito fosse o objeto sobre que inci
atualmente reconhece-se que a “excessiva parcelarizacao e disciplinari-
zacio do saber cientifico faz do cientista um ignorante especializado”,
© que por si so acarreta efeitos muito negativos; A luz deste paradigma
alternativo, “o conhecimento é total, tem como horizonte a totalidade
universal, [mas] sendo total, é também local’, isto é, constréi-se
em torno de temas que num dado momento sao adotados por
determinados grupos sociais como projetos de vida; por sua vez, os
conceitos e teorias desenvolvidos localmente podem emigrar para
outros “lugares cognitivos” de modo a poderem ser utilizados fora
do seu contexto de origem; trata-se de um conhecimento sobre “as
condicées de possibilidade da aco humana projetada no mundo a
partir de um espaco-tempo local”;
« “Todo oconhecimento é autoconhecimento” - no dominio das ciéncias
fisico-quimicas, os progressos da mecanica quantica das tltimas
décadas tinham j4 demonstrado que “o ato de conhecimento e 0
produto do conhecimento eram inseparaveis’, contrariando a ideia
prevalecente na ciéncia moderna de que “um conhecimento objetivo,
factual rigoroso nao tolerava a interferéncia dos valores humanos”;
tem vindo a ser cada vez mais consensual a necessidade de uma outra
forma de conhecimento, “um conhecimento compreensivo e intimo
que nao separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos’, um
conhecimento que resulta de um ato criativo protagonizado por cada
cientista, em particular, e pela comunidade cientifica, no seu conjunto;
« “Todo o conhecimento cientifico visa constituir-se em senso comum™*
~ contrariamente ao argumentado pela ciéncia moderna, em que
© conhecimento vulgar era considerado como um conhecimento
superficial, ilusério e falso, a ciéncia pés-moderna dialoga com outras
formas de conhecimento e “procura reabilitar 0 senso comum por
reconhecer nesta forma de conhecimento algumas virtualidades para
enriquecer a nossa relacéo com o mundo”; no fundo, um conhecimento
que resulta muito das experiéncias de vida de todos e de cada um e
que se traduz num saber pratico capaz de dar sentido e orientar as
nossas ages quotidianas.
Observados os principais factos que fandamentaram a emergéncia de
uum modelo alternativo de compreensdo da realidade, Santos (1999) alerta
ainda para a necessidade de o novo paradigma nao se restringir apenas a uma
+ Occonhecimenta do senso comum é definido por Santos (1999, p. 55) como “o conhecimento vulgar
¢ pritico com que no quotidiano orientamos as nossas ages ¢ damos sentido & nossa vida". Porém,
‘convém ter presente que a maior ou menor importancia conferida a este tipo de conhecimento nao
deixa, na realidade, de ser “o resultado de uma relacio especifica de poder” (Popkewitz, 1998, p. 33).
i 20
cartruto
{NVESTIGAGAU #4 CIENCIAS SOCIAIS: DO PARADIGMA DOMINANTE AO PARADIGMA EMERGENT
vertente cientifica. Considera que (idem, p. 37), para além de um paradigma
cientifico ~ que deve pautar-se pelos ideais do progresso e de emancipacio do
ser humano através do conhecimento e promover a orientacao da ciéncia e
da tecnologia para metas socialmente reconhecidas como titeis e desejaveis -,
deve ser também um paradigma social, assumindo-se como “o paradigma de
uma vida decente’, capaz de mobilizar os meios necessdrios para promover
o bem-estar da sociedade e para restituir ao ser humano a sua liberdade
critica e a possibilidade de participacao civica, meios indispensdveis para
se poderem eliminar alguns abusos e certas tendéncias de determinados
poderes totalitarios instrumentalizarem a ciéncia em beneficio dos seus
interesses particulares.
Se assim for, certamente se conseguird extinguir o surto de anemia ética
que persiste em prolificar no campo cientifico e que, em certas situagGes, tem
concorrido para negligenciar 0 verdadeiro valor da ciéncia — como meio de
combate ao obscurantismo, a ignorancia, as desigualdades, 4 exclusdo -,em
prol de conveniéncias econémicas e de determinadas ideologias contrarias
& dignificagao e emancipasao do ser humano.
Nao queremos terminar este ponto de andlise sem nos referirmos a um
aspeto que gerou alguma polémica no seio da investigagdo contemporanea
e que diz respeito a utilizacdo de terminologia e 4 extrapolacao de algumas
teorias e conceitos das ciéncias ditas exatas (Matematica, Fisico-Quimica,
Ciéncias Naturais, por exemplo) para o campo das ciéncias sociais e humanas,
como estratégia para granjear maior prestigio social e conseguir mais poder
no seio da comunidade cientifica.
Aeesse propésito, em 1997, Sokal e Bricmont’, dois prestigiados professores
de Fisica nas Universidades de Nova lorque e de Lovaina, respetivamente,
publicaram um livro - Impostures Intellectuelles - no qual desferem duros
ataques aos investigadores do dominio das ciéncias sociais que, sem deixarem
de por em causa o paradigma positivista, néo se coibiam de importar voca-
buldrio cientifico daquelas 4reas do saber (principalmente da matematica e
da fisica). Criticam a mé utilizagao que tais investigadores faziam das teorias
* Citado de Torres (1998, pp. 18-19).
aii
e dos conceitos cientificos, manipulando frases desprovidas de sentido, que
acabavam por resultar num “mero jogo de palavras” que serviam apenas
para dar um ar de rigor e preciso aos seus discursos. Consideram que essas
imposturas intelectuais, em que se sobredimensionam o subjetivismo, 0
ceticismo ¢ 0 relativismo cognitivo, acabam por dar muito mais importancia
aos textos do que aos factos, conseguindo, no entanto, ser aceites aparentando
cientificidade e rigor. Consideram, ainda, que tais posturas constituem uma
verdadeira ameaga para uma auténtica liberacdo social’.
No entanto, a posi¢ao assumida por estes autores viria posteriormente
a ser contestada, sobretudo pela forma excessiva como repudiam tudo 0
que nao se enquadra numa légica positivista. Como sublinha Torres (1998,
p. 23), embora numa sociedade democratica a critica seja imprescindivel,
nao é aceitavel que se tente “destruir e ridicularizar todo um conjunto de
posiges tedricas” recorrendo, para 0 efeito, a distorges ou erros que alguns
dos seus defensores possam ter cometido em alguma das suas publicacées.
‘Antes de avangarmos para uma reflexao sobre a influéncia destes
paradigmas no campo da investigagao educativa, pretendemos ainda
reafirmar queas criticas tecidas em torno do modelo de investigagao social
classico nao pretendem, de modo algum, consubstanciar qualquer dicotomia
esquemitica entre a investigagao tradicional, de indole positivista e de
natureza quantitativa, e a investigagao hermenéutico-fenomenolégica, de teor
mais qualitativo. Tais criticas pretendem apenas argumentar que a conce¢ao
classica de investigacao social incorreu nalguns erros epistemolégicos que
importa superar. Ao nao estar imbuida da objetividade e da neutralidade
anunciadas, ao nao conseguir demarcar-se das relacdes sociais e de poder
que se estabelecem entre as pessoas e ao nio atingir os niveis de eficdcia que
os seus defensores propalavam, tal concecao ficou aquém das finalidades
que perseguia.
Propésitos, de resto, corroborados por Erickson (1989, p. 198) ao fazer
notar que, no campo da investigacao, o debate deve privilegiar as possibilidades
© Esta posicio nio deixa de ser curiosa, sobretudo se tivermos em conta que qualquer fisico ao utilizar
‘um determinado discurso, ou ao claborar uma teoria, esté também a vaguear pelo campo das Ciéncias,
Humanas e Sociais.
2
cartrutos
INVESTIGAGAO EM CIENCIAS SOCIAIS DO PARADIGMA DOMINANTE AO PARADIGMA EMERGENTE
de coexisténcia e complementaridade dos dois paradigmas “rivais”, que ndo
podem anular-se, em detrimento da sua dicotomizacao:
has Ciéncias Sociais, os paradigmas néo morrem, desenvolvem veias
varicosas e robustecem-se com pacemakers cardiacos. A perspetiva da
investigacao estandardizada sobre o ensino e a perspetiva interpretativa
sdo, com efeito, rivais - programas de investigacao rivais -, se bem que sera
pouco provavel que a segunda chegue a substituir por inteiro a primeira.
Contudo, tal possibilidade de coexisténcia e/ou de complementaridade
nao impede que esta nova visao da realidade requeira um conceito renovado
de ciéncia, que nao se restrinja 4 mera comprovagao empirica. Um conceito
que, para além de incidir num objeto especifico de conhecimento, se baseie
na compreensio das relaces e das dependéncias que se estabelecem entre
investigadores e atores sociais e entre estes e os contextos em que se encontram
inseridos. Sobretudo porque nao existe nenhuma estrutura conceptual, ou
teoria da racionalidade, definitivamente estabelecida, que seja capaz de se
confinar as formulas do novo paradigma.
Aesséncia da ciéncia é agora tanto qualitativa como cultural, o que, por
sis6, impede que possa reduzir-se a mera quantificagao estatistica. O conheci-
mento perdeu o seu carater deterministico e descritivista para dar lugar a um_
conhecimento “relativamente imetédico’, constituido essencialmente na base
de uma “pluralidade metodolégica’, de distintos contributos interdisciplinares
eda “imaginagao pessoal do cientista” (Santos, 1999, pp. 48-49). Tudo se
move no sentido da personalizagio do trabalho cientifico. Mais do que a
mera produgao de conhecimento, ser cientista hoje ¢ idealizar novas formas
de pensar, é lutar contra dogmatismos e autoritarismos, é comprometer-se
com a dignificagio da condigéo humana e com o futuro da Humanidade.
CAPITULO 3
PARADIGMAS E MODELOS
METODOLOGICOS DE
INVESTIGACAO EDUCATIVA
Antes de nos referirmos a alguns dos modelos metodolégicos que mais,
tém conformado [e continuam a conformar] a investigacao no campo educativo,
decidimos elaborar uma pequena sintese comparativa dos paradigmas que
hoje sio reconhecidos como marcos globais de referéncia nesse dominio'*,
Atualmente, a maioria dos autores identifica trés grandes paradigmas no-
dominio da investigagdo em educagao - 0 paradigma positivista, o paradigma
interpretativo e o paradigma critico — o que, de certa forma, veio contribuir
para atenuar a tendéncia de dicotomizadora que se vinha consolidando entre
positivistas e naturalistas.
Na opiniao de Popkewitz (1988), a identificagao destes trés paradigmas.
— que designa de empirico-analitico, simbélico e critico - mais nao é do que
a reprodugio, no campo da educacao, da Teoria dos Interesses Humanos de
‘Habermas (1982), explicitada na sua obra “Conocimiento e interés”, em que
‘o autor postula a existéncia de trés interesses cognoscitivos ~ técnico, prdtico
¢ emancipatério -, alids, as mesmas categorias que Carr e Kemmis (1988)
uutilizam na sua obra “Teoria critica de la ensefianza”. Habermas (1982) nao os
designa por paradigmas mas como interesses cognoscitivos, reconhecendo-os
' Importa referir que existem estudiosos que continuam a perspetivar a investigacdo em ciéncias sociais,
€ também na educagio, na base de duas perspetivas tebricas principais, usualmente designadas por
‘paradigma postivistae paradigma naturalista. Popkewitz (1988) considera que nesse caso 0 paradigma
naturalista se estrutura e desenvolve norteado por dois interesses distintos: o interesse pritico e 0
interesse emancipatério,
‘© ESTUDO DE CASO NA INVESTIGACAO EM EDUCAGAO 39
como fatores que orientam e estruturam a construgao do saber tedrico face
Aacdo, para intervir na realidade.
Em qualquer dos casos, os paradigmas de investigagao referidos
estruturam-se na base de um fundamento epistemoldgico, isto é, “baseiam-
-se em concecées relativamente estabilizadas sobre 0 sujeito, 0 objeto e as
relacGes entre sujeito e objeto do conhecimento” (Sarmento, 2003, p. 141).
3.1. Paradigma positivista
O paradigma positivista, também designado por paradigma racionalista,
inspira-se numa filosofia positivista e a sua principal intencao é proporcionar
a explicagao dos fenémenos com o desejo de formular leis gerais. Uma vez
que a principal finalidade é “estabelecer regularidades ou leis de aplicacio
universal”, Sarmento (2003, p. 141) considera que “prescreve uma orienta¢ao
normativa da ciéncia”.
Baseando-se na distingio deliberada entre o sujeito e 0 objeto do
conhecimento, a investigacao educativa conduzida a luz deste paradigma
compromete-se com 0 controlo empirico e o dominio técnico, cujo propdsito
principal consiste em elaborar uma teoria de ensino que ofereca um conjunto
de proposigdes especificas que descrevam e prescrevam as prdticas educativas
(Popkewitz, 1988). Os adeptos deste paradigma consideram a provisio do
servico educativo como resultante de um conjunto de meios destinados a
concretizar uma série de finalidades predefinidas (Carr & Kemmis, 1988)
e acreditam que a educacao pode melhorar se forem proporcionados mais
e melhores recursos aos professores, uma visio materialista de educagao.
Para Erickson (1989, p. 212), 0 objeto geral da investigacao num contexto
positivista é concebido em termos de conduta observavel (comportamento), no
sentido de que “o que conta é o juizo do investigador acerca do que significa
uma conduta observavel e nio as definigées do significado dos préprios
atores”, O objetivo imediato da investiga¢ao educativa sob este paradigma é
avaliar os resultados do ensino em termos de eficacia.
Em termos metodolégicos, adotam-se procedimentos de cariz essencial-
mente quantitativo ~ dai o ser, muitas vezes, referido apenas por metodologia
quantitativa -, procurando respeitar as regras metodol6gicas reconhecidas pela
cartruto 3.
PARADIGMASE MODELOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACAC EDUCATIVA
comunidade cientifica para o estudo dos fenémenos naturais, com particular
incidéncia na quantifica¢do, na procura de informacées consideradas como
fidveis e validas, no pensamento hipotético-dedutivo e na generalizacéo de
resultados.
Arnal et al, (1994) alertam para o perigo do reducionismo associado
a este paradigma, uma vez que se sobrevalorizam os critérios de rigor
metodolégico em detrimento do estudo de outras dimensées substantivas
do ato educativo, tais como a realidade sociocultural dos alunos ou fatores
de ordem politica e ideolégica.
3.2. Paradigma interpretativo
O paradigma interpretativo, denominado frequentemente paradigma
qualitativo, hermenéutico, fenomenolégico, antropolégico ou etnografico,
emerge associado s criticas feitas ao positivismo e insere-se numa corrente
interpretativa cujo interesse se centra primordialmente no estudo dos
significados das (inter)agées humanas e da vida social. Nas palavras de Arnal
et al. (1994, p. 41), no paradigma interpretativo, orientado para a pratica,
“as nogées de explicacao, predigao e controlo do paradigma positivista” sao
substitufdas pelas “nogdes de compreensio, significado e agao”, o que permite
entrar no mundo pessoal dos sujeitos e compreender os significados e os
sentidos atribuem as situagdes.
O conhecimento cientifico dos factos sociais, afirma Sarmento (2003,
p- 142), “resulta de um trabalho de interpretacio, o qual sé é possivel mediante
uma interagdo entre o investigador e os atores sociais, de forma a poder
reconstituir-se a complexidade da aco e das representagdes da aco social”,
No ambito da educacao, a investigacao desenvolvida procura essencial-
mente a compreensdo e interpretacdo dos fendmenos educativos, por oposi¢ao
a explicagao e possibilidade de verificacao perseguidas pelo mddelo anterior.
Erickson (1989, pp. 213-214) assinala que o objeto de andlise é aqui formulado
em termos de agdo e nao de conduta, e a investigagao procura essencialmente
abranger “o comportamento fisico e ainda os significados que lhe atribuem
o ator e aqueles que interagem com ele” Isto é, 0 investigador, ao contrério
da uniformidade caracteristica do modelo anterior, admitea possibilidade da
41
variabilidade de relacées entre as formas de comportamento e os significados
que os atores lhes atribuem através das suas interacées sociais.
A investiga¢ao produzida no ambito deste paradigma privilegia o recurso
a estratégias metodoldgicas de indole qualitativa e participativa. Sendo
essenciais os procedimentos hermenéuticos e a tentativa de compreensao
da realidade tal como é vivida pelos sujeitos, a investiga¢ao qualitativa, aos
procurar desvelar as suas intengdes, crengas, motivagées e outras caracteristicas
nao diretamente observaveis, constitui uma mais-valia para a mudanga de
melhoria dos processos educativos.
3.3. Paradigma critico
O paradigma critico reine perspetivas de investigagao que surgem
como resposta ao reducionismo da tradicdo positivista e ao conservadorismo
do paradigma interpretativo (Arnal et al., 1994). Na opiniao de Popkewitz
(1988), trata-se de um paradigma de cariz reflexivo, configurado numa
vertente politica e orientado para a mudanca social, tentando compreender
as rapidas transformagées sociais a partir das relacdes existentes entre valor,
interesse e agao.
Partindo do principio de que a ciéncia social nao é nem sé empirica,
nem sé interpretativa, o paradigma critico associa a ideologia e a autorreflexio
critica aos processos de construgéo do conhecimento (Arnal et al., 1994),
procurando “articular a interpretacdo empirica dos dados sociais com os
contextos politicos e ideolégicos em que se geram as agées sociais” (Sarmento,
2003, p. 143). Além disso, os investigadores criticos, frequentemente inspirados
pela teoria marxista, pela teoria critica da escola de Frankfurt e pela teoria
da resisténcia, advertem para a centralidade do poder nas rela¢ées sociais
e sugerem que “a cultura é uma forma de luta politica acerca do significado
dado as aces das pessoas situadas dentro de relacées assimétricas de poder”
(Quantz, 1992, p. 483)'*, Assim se compreende que no paradigma critico,
pesem embora as suas semelhangas conceptuais e metodolégicas com 0
paradigma interpretativo, os investigadores incorporem a dimensio ideoldgica
Citado por Sarmento (2003, p. 143)
a2
cartrutox
PARADIGMAS E MODELOS METODOLOGICOS DE INVESTIGAGAO EDUCATIVA
com 0 intuito de nao se limitarem a descrever e compreender a realidade
mas de intervirem nela e transformé-la, orientando o conhecimento para a
emancipagao e libertacao de cada individuo.
Em termos educativos, esta corrente produziu um impacto significativo
quer por contribuir para projetar o tipo de futuro a construir, quer por tornar
evidente que a educacao é uma atividade cujas consequéncias so sociais,
no se restringindo a questées de desenvolvimento pessoal, quer, ainda,
pela tomada de consciéncia de que “a educacéo ¢ intrinsecamente politica,
uma vez que interfere com as oportunidades vitais dos que intervém no
processo, condicionando o seu acesso a uma vida interessante ao bem-estar
material” (Carr & Kemmis, 1988, p. 56). Dai a importancia consignada ao
professor em todo esse processo, a quem incumbe aproveitar o potencial de
mudanca que perpassa o fenémeno educativo em prol do desenvolvimento
da consciéncia critica e da emancipagao dos sujeitos.
Apés esta andlise sucinta dos distintos paradigmas de investigacao, importa
realgar que no existe consenso por parte dos investigadores relativamente
A natureza do conhecimento cientifico em educagao. Se alguns consideram
que o conhecimento educativo para poder ser considerado cientifico deve
ajustar-se aos canones da ciéncia - procurando as causas e, sobretudo, a
explica¢ao dos fenémenos educativos -, outros insistem que, a semelhanca
do que se passa com os fenémenos sociais, o importante é privilegiar a sua
compreensao, isto é, as razdes, os motivos ou as inten¢Ges que despoleta-
ram tais ocorréncias, existindo ainda os que defendem que, mais do que
descrever ou interpretar, o conhecimento educacio deve contribuir tanto
para a emancipa¢ao do homem, como para a transformacao dos contextos
em que se move. Na verdade, enquanto uns conceptualizam a investigacio
educativa como forma de desenvolvimento e ampliagéo de um determinado
corpo tedrico de conhecimentos, procurando determinar a priori o que
deve/pode acontecer na pratica educativa, outros consideram prioritérias
a andlise, mudanga e melhoria dessa pratica, partindo de solugdes que s6 a
investigacao educativa pode providenciar,
Partindo da ideia de que a aprendizagem escolar se concretiza através
de “um prolongado processo de assimilagao e reconstrucao por parte do/a
43
aluno/a da cultura e do conhecimento ptiblico da comunidade social” (Pérez
Gémez, 1995b, 78), estamos convictos de que o principal papel da investigacao
educativa se consubstancia em proporcionar os contributos necessarios tanto
para identificar problemas, necessidades e possiveis solugGes, no sentido de
facilitar e provocar tal reconstrucao nos alunos, como para conceber, realizar
e melhorar as praticas docentes na escola e na sala de aulas.
Grande parte da aprendizagem no interior da institui¢ao escolar
acontece no seio de um dado grupo social mais restrito (normalmente a
turma), onde “as relagées e os intercambios fisicos, afetivos e intelectuais
constituem a vida do grupo e condicionam os processos de aprendizagem”
(idem, p. 82). Nesse sentido, para que os professores possam ter um papel
interventivo, no sentido de facilitarem tais processos de (re) construcao e
(trans) formacio do pensamento e da aco dos estudantes, devem conhecer
os variados influxos que, previstos ou nao, desejados ou nao, ocorrem na
complexa vida da aula e intervém decisivamente naquilo que aprendem os
estudantes e nos modos de aprender.
Nesta ordem de ideias, nao nos surpreende que, a semelhanga do que
se verificou no ambito das ciéncias naturais e mesmo das ciéncias sociais,
a investigacao educativa se tenha direcionado no sentido de inventariar
normas, principios e/ou leis que pudessem explicar a aprendizagem escolar
que, simultaneamente, permitissem intervir na agao educativa de forma a
tornar mais eficaz a acdo docente. Surgem distintos modelos substantivos de
investigagdo"” que, sem conseguirem renegar a sua filiacdo numa perspetiva
positivista ou noutras de indole interpretativa ou critica, procuram estudar
08 diversos fatores que interferem nos processos de ensino-aprendizagem,
explicar as interacdes que existem no interior da sala de aulas e contribuir
para a producao de conhecimentos uteis para a transformac’o e melhoria
das praticas educativas.
© Pérez Gémez (1995a, p. 82) utiliza a designacdo modelos substantivos de explicardo ¢ nio a de paradigmas,
no sentido que the é conferido por Kuhn. Considera que, embora tais modelos de investigacio se
tenham desenvolvido com bastante intensidade ao longo do século XX, nao atingiram um nivel de
implantagio dentro da comunidade cientifica que permita denominé-los por paradigmas.
44
cartru.ox
PARADIGMAS & NODELOS NETODOLOGICOE DE INVEETICAGKO ERUCATIVA
Dada a impossibilidade de atender a todos os fatores e, simultaneamente,
registar a totalidade dos acontecimentos que ocorrem na sala de aula, a
investigacao educativa centra-se preferencialmente num determinado objeto
de investiga¢ao, objeto este que resulta de uma sele¢ao prévia de cada inves-
tigador, de acordo com as varidveis e/ou aspetos particulares que considera
mais relevantes para caracterizar a vida das aulas. Assim, para além de tais
modelos conceptuais incidirem sobre objetos de estudo especificos, o que
explica a diversidade de modelos propostos, regra geral enquadram-se nos.
paradigmas de investigagdo em educacao descritos, aproximando-se, por
isso, de abordagens metodolégicas de cardter quantitativo e/ou qualitativo.
Nao sendo objetivo desta andlise discriminar ou comparar os diversos.
modelos explicativos propostos, limitamo-nos a uma abordagem necessa-
riamente genérica dos que consideramos mais significativos. Para o efeito,
baseamo-nos essencialmente nos trabalhos de Shulman (1989) e de Pérez.
Gémez (1989, 1995b).
A partir de uma linha de investigagao mais consubstanciada numa
abordagem quantitativa, inscrevem-se dois modelos principais que, ao longo
do tempo, ocuparam lugar de destaque no campo da educa¢ao: 0 modelo
pressdgio-produto e o modelo processo-produto.
O modelo pressdgio-produto relaciona-se com as investigacdes educativas
dos anos trinta e incidia nas caracteristicas fisicas e psicologicas que definiam
a personalidade do professor ~ inteligéncia, experiéncias, personalidade -,
tentando captar correlagées entre essas caracteristicas e a eficacia obtida através
dos resultados dos alunos. Valoriza-se o professor, no propriamente pelas
suas praticas quotidianas nas aulas, mas em funcao das suas caracteristicas
pessoais. Pérez Gomez (1989, p. 99) reage criticamente contra este modelo,
designando-o como uma “caixa negra’, por apresentar uma série de lacunas:
(i) na melhor das hipéteses deteta o que o professor é'* mas nao atende ao
que o professor faz, esquecendo a relacao de descontinuidade entre o ser e
0 atuar, ou seja, menosprezando o que de facto ocorre no interior da sala de
™ Isto numa perspetiva muito otimista, é que 0 normal era utilizar inquéritos através dos quais os alunos.
referiam as principais qualidades, em termos de personalidade, do que consideravam o “professor
ideal”
aula; (ii) marginaliza varidveis contextuais que condicionam 0 rendimento
académico, uma vez que influenciam e medeiam o comportamento do
professor e do aluno; (iii) nao valoriza os efeitos mediadores das atividades
de aprendizagem que o aluno realiza; (iv) nao clarifica o modelo conceptual
em que se apoia, nem tao pouco 0 que utiliza para enquadrar o conceito
de eficdcia; (v) conduz a um profundo reducionismo pedagégico, fruto da
pobreza conceptual e do simplismo que este modelo encerra.
O modelo processo-produto, surge numa linha de investiga¢ao posterior
— anos sessenta — e preocupa-se, basicamente, com 0 estudo de métodos
eficazes de ensino e com a melhoria das praticas educativas. Pérez G6mez
(1989, p. 99) sublinha que este modelo surge a partir do momento em que
se sente “necessidade de romper o hermetismo da caixa negra e comecar a
considerar varidveis do processo, varidveis internas que exercem uma influéncia
mediadora entre as capacidades do professor e o rendimento do aluno”.
Nao deixando de ser um modelo com algumas virtudes - como por
exemplo, descobrir que “as variagdes da conduta docente se relacionam.
sistematicamente com variagdes no rendimento do aluno’, romper com a
tradigao do laboratério para observacao e estudo da aprendizagem e comecar
a utilizar a observacao sistematica nas salas de aulas, passar a ter implicagées
diretas na pratica e politica educativas (Shulman, 1989, pp. 27-28) -, acaba por
se centrar essencialmente na procura do professor eficaz, tal como acontecia
com o modelo anterior. O objeto da investigacao desenvolvida a luz deste
modelo centra-se, quase exclusivamente, na identificagao de “padrées estaveis
de comportamento que possam estimar-se como estilos reais de ensino” e
no estabelecimento de “correlagées entre padrées estaveis de conduta, estilos
docentes e o rendimento académico dos alunos” (Pérez Gomez, 1989, p. 100).
O desenvolvimento que se verificou no campo da investigagao didatica,
a partir dessa altura, foi notavel, sobretudo por se realizar em torno das
varidveis de processo e das variéveis de produto. A principal diferenca do
modelo anterior, afirma Pacheco (1995), ¢ de que no modelo processo-produto
procura averiguar-se que condutas de ensino - variveis de processo ~ serio
mais eficazes para produzir melhorias na aprendizagem dos alunos - variéveis
de produto.
cartruio3
PARADIGMAS I MODELOS METODOLOGICOS DE INVESIIGAGAO EDUCALIVA
No entanto, para além da importancia que este modelo possa ter
tido no campo da investigaco educativa, uma incidéncia tao grande que,
pese embora as sucessivas reformulagdes, acabaria por sobreviver até aos
nossos dias, 0 modelo processo-produto nao conseguiu isentar-se de criticas
que, grosso modo, levariam ao seu progressivo abandono. Pérez Gémez
(1995b, pp. 83-85) considera-o um modelo simplista, produzindo resultados
irrelevantes para a orientac4o e/ou transformagao da pratica, sobretudo
porque: (i) “reduz a andlise da pratica educativa as condutas observaveis (...)
e quantificdveis do comportamento de professores/as e alunos/as’, ignorando
os significados latentes e a importancia de cada contexto na producio desses
comportamentos; (ii) funciona numa légica unidirecional, nao tendo em
conta que tanto os alunos como os professores sao “processadores ativos de
informacao e construtores subjetivos de significados’, utilizando com bastante
liberdade o seu comportamento, por aco ou missio, para expressar ideias e
sentimentos complexos; (iii) descontextualiza as condutas do docente e dos
alunos, como se tais condutas pudessem se tratadas como “comportamentos
genéricos universalmente validos, independentemente do contexto em que
se produzem”; (iv) define a varidvel produto de forma muito restrita - 0 que
medem os testes refere-se apenas a uma pequena parte das aprendizagens
desenvolvidas na escola; (v) sobrevaloriza os processos de interagao com-
portamental mas esquece a importancia dos contetidos nos processos de
ensino-aprendizagem e nao enaltece o facto de o aluno ser um mediador
ativo nos processos de ensino-aprendizagem, sabendo-se hoje que muito do
que os estudantes aprendem resulta da ativacdo de estruturas psicoldgicas
de processamento e organizacdo da informagio.
Noutra linha de investigac4o, mais consonante com a abordagem
qualitativa, existe maior diversidade de modelos, dos quais aqui distinguimos:
© modelo mediacional centrado no professor, o modelo mediacional centrado
no aluno e o modelo ecolégico de andlise da aula. Convém desde ja referir
que, segundo Pérez Gémez (1989, p. 115), terao sido “a inconsisténcia das
investigacdes desenvolvidas no ambito do paradigma processo-produto ea
consciéncia da sua pobreza conceptual” que abriram caminho para a concecio
e implementa¢ao de modelos mediacionais centrados no professor e no aluno.
a7
© modelo mediacional centrado no professor - vulgarmente designado
por paradigma pensamento do professor ~ situa-se mais no ambito do ensino
do que no da aprendizagem. Trata-se de um modelo em que o ensino é visto
como um processo em que prevalecem a planificagio ea execugio de decisdes
eo estilo docente se define como o resultado de complexos processos de
deliberacao, escolha e execugao (idem). O professor é um elemento consciente
das suas atuagées, ainda que realizadas muitas vezes de forma automatica
(Pacheco, 1995). Neste esquema, o comportamento docente reflete, em boa
medida, o pensamento do professor, isto é, tanto os seus conhecimentos,
as suas estratégias para processar a informacao e utiliz-la na resolugio de
problemas, quanto as suas crencas, atitudes e disposigdes pessoais (Pérez
Gomez, 1989)".
O modelo mediacional centrado no aluno, baseia-se “na observacao €
interpretacéo do pensamento do discente, considerando-se este como um.
interveniente ativo no processo de ensino-aprendizagem” (Pacheco, 1995,
p- 35). Trata-se de um modelo que convoca “os processos humanos implicitos
que medeiam entre os estimulos instrutivos (comportamento do professor)
€ os resultados da aprendizagem (produtos observaveis do aluno)” (Pérez
‘Gémez, 1989, p. 120). No fundo, um modelo de ensino que se centra no aluno,
considerando-o protagonista no desenvolvimento das suas capacidades e na
construcdo dos seus préprios saberes e nao como mero recetor passivo de
estimulos, que se limita a reproduzir fielmente a realidade que lhe € facultada.
A aprendizagem passa a ser vista como um processo claramente subjetivo
que depende do pensamento, das possibilidades e da vontade de cada um.
Importa ainda referir que Wine e Marx” consideram que as aprendiza-
gens mediacionais so secundadas por varidveis pré-instrutivas, instrutivas e
pés-instrutivas que interagem diretamente com a planificacao do professor e
a aprendizagem e atitudes do aluno, interferindo, também, ce forma eficaz no
°° Pérez Gémez (1989, p. 117) considera que as decisBes docentes resultam essencialmente da conjugacéo
de “quatro tipos de influxos que chegam ao professor como informagdes a processar”: as expectativas
do professor relativamente a cada um dos alunos e da aula como grupo; as crengas, teorias e atitudes
sobre a educagio; a natureza das tarefas de aprendizagem: a disponibilidade de materiais ede estratégias
alternativas.
® Citados por Pérez Gémez (1989, p. 122).
48
cartruvos
PARADIGUAS F NODELOS METODOLOGICOS DF INVEETIGAGAO EDUCATIVA
processamento de informacao e nas condutas, tanto do professor quanto do
aluno. Um processo que, segundo os autores, envolve influéncias reciprocas
entre professor e aluno, num espaco indeterminado de variaveis.
Nao podemos deixar de assinalar que duas das maiores criticas feitas aos
modelos mediacionais se reportam ao facto de nao questionarem a relago
unidirecional entre pensamento e conduta observavel e a escassa atencao
que dispensam as variaveis contextuais”, elementos que, de forma direta ou
indireta, condicionam tudo o que se passa no interior da sala de aulas e, por
consequéncia, o préprio processo de ensino-aprendizagem (Pérez Gomez,
1989, pp. 124-125).
O modelo ecolégico de andlise da aula sustenta uma perspetiva conceptual
que se comega a desenvolver em finais da década de setenta e perfilha um
conjunto de “tendéncias intelectuais” diferentes das adotadas nas perspetivas
anteriores. Desde logo, o facto de se socorrer de uma s
ie de procedimentos
metodologicamente mais qualitativos do que quantitativos (Shulman, 1989).
Além disso, mais do que acumular conhecimentos que possam, eventualmente,
orientar as praticas letivas, esta conce¢ao encontra-se “comprometida com uma
visdo das ciéncias sociais mais como fonte de critica e de novos problemas,
do que de respostas praticas” (idem, p. 46), 0 que no invalida que estas duas
dimensées se complementem.
No modelo ecoldgico, procura caracterizar-se a vida da aula na base
dos intercambios socioculturais que ai ocorrem. Professor e alunos sao vistos
como processadores ativos de informagao e construtores de comportamentos,
mas nao de forma isolada. Isto é, so percecionados como “membros de uma
institui¢do cuja intencionalidade e organizacao cria um clima de intercambio
e gera papéis ou padrées de comportamento individual, grupal e coletivo”
(Pérez Gémez, 1989, p. 125). A investigacao desencadeada a luz deste
modelo procura compreender-se Os processos ¢ estruturas subjacentes aos
3 Nos modelos mediacionais o contexto em que ocorrem os processos de ensino-aprendizagem (as
condigées reais, fisicas, psicossociais e também politicas ~ em especial a politica educativa) perde 0
seu peso como conjunto de condigées e de aspetos que interferem na vida da aula, passando estes a ser
assumidos apenas como instrumentos cuja influéncia depende da significagao que Ihes & concedida
pelos protagonistas educativos (professor e alunos).
49
intervenientes numa determinada atividade (Pacheco, 1995), sendo certo
que tal atividade é fortemente influenciada pelo meio e resulta de interagdes
nao sé entre os proprios participantes, mas também destes com 0 contexto
em que se inserem.
Em jeito de balango final deste ponto de andlise, podemos concluir
que, em presenca de um conhecimento funcional que nos foi legado pela
ciéncia moderna, o esforgo profundo e continuado de um vasto conjunto
de estudiosos permite-nos compreender que no dominio da investigacao
em ciéncias sociais, particularmente no campo da investigagao educativa, a
complexidade e peculiaridade dos fenémenos em estudo requer um outro
tipo de conhecimento, um conhecimento compreensivo que nao nos separe,
antes nos una, daquilo que estudamos ¢ investigamos.
O carater especifico da realidade educativa, uma paisagem imbuida
de forte dinamismo e de intensa interatividade, dimensionada por aspetos
morais, éticos, politicos, econémicos e sociais, gera frequentemente problemas
complexos ¢ de dificil (re)solugdo que nao se coadunam com visdes herméticas
¢ rigidas do panorama social, com teorias e instrumentos de diagnéstico
que pretendem explicar e medir comportamentos sociais, com tentativas
quantificadoras de sentimentos, de atitudes, de vivéncias e de modos de ser,
nem tao pouco com concegées de ensino e de aprendizagem que procuram
predeterminar e controlar as praticas educativas que ocorrem na sala de
aulas. A realidade educativa exige outro tipo de estudos, mais humanistas
e mais globais, que facam da interpretacéo e compreenséo dos fenémenos,
tal como sao vividos pelos sujeitos, os seus pilares basilares.
Em termos curriculares, também os efeitos de toda esta querela para-
digmatica, que tem pululado entre positivistas e naturalistas, se tém feito
sentir, traduzindo-se ao nivel da investigacdo curricular numa tensio que
oscila entre uma “verdade” orientada pelo empirismo, que numa perspetiva
nomotética estabelece como fim ultimo da investigacao a producao de saberes
universalmente generalizdveis, e uma apreciagio dimensionada pela etnografia,
esta numa perspetiva mais hermenéutica, fenomenolgica e particularista,
em que o investigador se incorpora no desenrolar dos acontecimentos e cujo
objeto principal é deslindar as concegdes que os distintos atores possuem
50
ccartruto3
FARADIGAAS E MODELOS SETODOLOGICOS DE INVESTIGACAO EDUCATIVA
sobre esses acontecimentos, bem como os significados que atribuem as acdes
que protagonizam. Como assinalam Bogdan e Biklen (1994, p. 54), “ainda
que existam diversas formas de investigacdo qualitativa, todas partilham,
até certo ponto, o objetivo de compreender os sujeitos com base nos seus
pontos de vista”.
Hoje, mais do que nunca, torna-se necessdrio explorar os espacos
deixados em aberto pelas sucessivas ruturas com esquemas epistemolégicos
e metodolégicos mais tradicionais, perseguir novas teorias e esquemas
de compreensio da realidade, implementar novas linhas de investigacio
educativa e construir propostas e projetos educativos mais consonantes com
as necessidades e exigéncias das sociedades vindouras.
Os recentes progressos no dominio da investigacao educativa tem
posto a descoberto uma certa falta de fundamento(s) para que se continue
a perpetuar tal polémica paradigmatica, evidenciando, ao mesmo tempo,
Possiveis vantagens que poderiam provir de uma eventual complementaridade.
A ciéncia social critica, afirma Santos (2002, p. 2), “é tao empirica quanto a
positiva ea objetividade forte porque se pauta permite-lhe criar conhecimento
relevante, mesmo para os que nao partilham os valores que lhes subjazem’,
Trata-se, no fundo, de conseguir para as perspetivas metodolégicas de
indole quantitativa e qualitativa o que Gomes (2000, p. 38) propée para os
procedimentos de cariz dedutivo e indutivo, ou o que Bunge (1974, p. 239)
sugere, de forma brilhante, para as relacées entre a filosofia da ciéncia ea
politica da ciéncia através da seguinte metafora:
(...) sio [como] dois mendigos que passam fome se andam separados
mas prosperam se se juntam; 0 paralitico vai sentado sobre os ombros
do cego e assinala-Ihe o camino. Cada qual resolve o problema do outro
e deste modo o seu prdprio. Se carecemos de uma filosofia adequada
nao conseguiremos uma politica adequade, Se carecemos de uma e
outra, deveremos desenvolver ambas ao mesmo tempo. No transcurso
desse proceso cometeremos erros, mas poderemos aprender com eles
e corrigir o rumo futuro.
51
‘A mudanca da educacao constréi-se nas escolas, mas sé ser concreti-
zada se os professores se conseguirem envolver num constante processo de
pesquisa, de construgao e de renovagao, o que requer novas representagGes
ea mudanca das suas priticas escolares. Como realca Campos (1996, p. 18),
“& este o poder dos professores: s6 hd educagao adequada, s6 hé qualidade da
educacao, se eles a construfrem, se eles inovarem. ¥ um poder que ninguém
Ihes pode delegar ou devolver. E um poder que sé eles podem conquistar’.
Em idéntica linha de pensamento, Anadén (2007, p. 44) refere que, em
educacao, algumas “abordagens de investigagbes recentes tentam atualmente
fazer a ponte entre a teoria e a pratica, com 0 objetivo de melhorar a pratica
educativa e preconizam um processo investigativo com os atores do terreno’,
garantindo que tais dinamicas de investigagéo concorrem para amudanga,
para a solugdo de muitos dos problemas com que se confronta a educasao
e para o desenvolvimento profissional dos distintos atores educativos, em
especial dos professores.
Contudo, toda esta logica de mudanga exige esforgo, muito esforgo
individual e coletivo, bem como a assungao de outras posturas pessoais €
profissionais. Torna-se imperioso dizimar uma certa perspetiva conformista
que se foi instalando no campo educativo, o que, por si s6, implica que
os docentes adotem uma atitude investigativa em relacdo as suas praticas
curriculares - 0 que facilitaré a sua transformacao e melhoria -, que assumam_
as competéncias curriculares que lhes tém sido consignadas ~ procurando
desenvolver e consolidar a sua autonomia profissional -, que se mobilizem
em prol da dignificacio da profissao e construam uma consciéncia critica
coletiva que, progressivamente, os liberte do dominio de determinados
pensamentos e correntes de indole mais impositiva e determinista que,
desde hé muito, tentam conformar e condicionar os fenémenos educativos.
Na opiniao de McKernan (1999), a ideia de professor como inves-
tigador é de importancia capital tanto para o desenvolvimento futuro da
profissio docente, como para a transformacio e melhoria do curriculo
que se desenvolve nas escolas. Nao é possivel melhorar a profissionalidade
docente sem um compromisso efetivo e um envolvimento permanente dos
professores na investigacdo das suas praticas curriculares, em particular
PARADIGMAS cartruto3
¢ARADIGMAS E MODELOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACAO EDUCATIVA
na sala de aulas. Trata-se de uma postura que contribui para consolidar
a ideia de que os professores, para além de consumidores e difusores, so
também produtores de conhecimento, um conhecimento pritico, de cariz
essencialmente pedagdgico, que servird de esteio tanto para a tomada de
decisées como para a resolugao dos problemas de ensino e aprendizagem
com que se deparam no seu dia a dia.
Além disso, a assungao do professor como investigador ajuda a diluir a
crenca, que se foi perpetuando ao longo do tempo, de que apenas 0 pessoal
com formagao cientifica especifica “podia comprometer-se na investiga¢ao
educativa e do curriculo’, o que contribuiu “para impedir nao s6 que os
profissionais aumentassem o seu conhecimento da pratica e dos problemas”
que lhe sao inerentes, mas também a compreensao e controlo do conhecimento
produzido pelos especialistas das distintas areas de saber que integram 0
curriculo (McKernan, p. 59).
E neste sentido que consideramos o esiudo de caso como uma metodologia
de investigacao propicia para se concretizarem tais mudangas. Nao deixando
de reconhecer, como fizemos na abertura deste livro, que a transformagao
do professor e, por consequéncia, da escola sé é vidvel se, para além da
investigacdo, tiver por base também a formacio e o desenvolvimento de
competéncias curriculares, estamos convictos de que os estudos de casos que
vierem a desenvolver-se com essa finalidade podem fornecer informacées
imprescindiveis para a consecucao de tais propésitos.
Você também pode gostar
- Tese Manuela MonizDocumento76 páginasTese Manuela MonizCatarina Costasinger100% (1)
- A Flauta MagicaDocumento8 páginasA Flauta MagicaCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Cifra Club - Taylor Swift - Love StoryDocumento9 páginasCifra Club - Taylor Swift - Love StoryCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- TRISTE - Elis Regina (Impressão)Documento1 páginaTRISTE - Elis Regina (Impressão)Catarina CostasingerAinda não há avaliações
- Medo de SentirDocumento1 páginaMedo de SentirCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Viagem Ao Passado - Ema e NatáliaDocumento1 páginaViagem Ao Passado - Ema e NatáliaCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Teatro Fim de AnoDocumento2 páginasTeatro Fim de AnoCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- 9171-Texto Do Artigo-22795-1-10-20120424Documento11 páginas9171-Texto Do Artigo-22795-1-10-20120424Catarina CostasingerAinda não há avaliações
- TESTEDocumento5 páginasTESTECatarina CostasingerAinda não há avaliações
- A Importância Da Reforma e Da Contra Reforma Na MusicaDocumento13 páginasA Importância Da Reforma e Da Contra Reforma Na MusicaCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Mary Poppins 1Documento11 páginasMary Poppins 1Catarina CostasingerAinda não há avaliações
- Aqui MarDocumento1 páginaAqui MarCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- ONDE IREI TER - MNatáliaDocumento1 páginaONDE IREI TER - MNatáliaCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Tudo EncontrarásDocumento1 páginaTudo EncontrarásCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Canção Do MarDocumento1 páginaCanção Do MarCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Sociologia Da MúsicaDocumento3 páginasSociologia Da MúsicaCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- O Período BarrocoDocumento27 páginasO Período BarrocoCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Pedir Sonhos LindosDocumento1 páginaPedir Sonhos LindosCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Vem Fazer Bonecos de NeveDocumento1 páginaVem Fazer Bonecos de NeveCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- AMANHÃ AnnieDocumento1 páginaAMANHÃ AnnieCatarina Costasinger100% (1)
- A Minha Vida Vai ComeçarDocumento1 páginaA Minha Vida Vai ComeçarCatarina CostasingerAinda não há avaliações
- Eu Mal Posso Esperar para Ser ReiDocumento1 páginaEu Mal Posso Esperar para Ser ReiCatarina CostasingerAinda não há avaliações