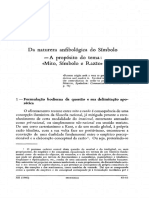Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Música Como Linguagem - Uma Abordagem Histórica - Ernest Schurmann
A Música Como Linguagem - Uma Abordagem Histórica - Ernest Schurmann
Enviado por
Claudemiro costa100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
33 visualizações94 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
33 visualizações94 páginasA Música Como Linguagem - Uma Abordagem Histórica - Ernest Schurmann
A Música Como Linguagem - Uma Abordagem Histórica - Ernest Schurmann
Enviado por
Claudemiro costaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 94
irs Ernest F. —
* Arte e utopia — Teixeira Coetho
* A Cultura contra a Democracia? — A. Mattelart/
K. Deleourt/ M. Mattelart
* Misica na Modernidade — Origens da misica do nosso
tempo — J. Jota Moraes
Colegio Tudo & Histéria a 7
Hebandel ard Al Gonpavee A musica como linguagem
uma abordagem historica
Colegio Primeiros Passos
* O que é Industria Cultural — Teixeira Coelho
= O que 6 Jazz — Roberto Muggiati
+ O que é Misica — J. Jota Moraes
2 0 que é Politica Cultural — Martin César Feijé
© O que @ Rock — Paulo Chacon
wa
urse-eu
. op ‘24c0-£01-40 como
editora brasiliense Cyypg
1989 Seine eect a
Copyright © by Erase F. Schurmann, 1988
Nenburma parte desta publieagdo pode ter grated,
armazenada em sistemas eletronicos,forocopiada,
reprodusids por metor mecanicos on outros
qiuaisquer sem autortagao prévia do editor.
ISBN: 85-11-13088-8
Primeira edigao, 1989
Revisao: Maria C. Aratijo @ Rosemary C. Machado
Capa: Moema Caraleansi
Mustragao de copa: Frowsispicio da Spera ,
JulioCeser”, Museu Britanico, Londres
~SIntroduclo .....+ a 9
Estado selvagem, barbarie e civilizagao 13,
Oestado selvagem . . a" 4
Abarbarie . aeee 20
A civilizagao 30
A monodia 38
Principios gerais - wee 39
BU/DPT ee cultural e conilitos entre @ civilizagao ea e
barbirie 5 :
0.211.506-3 A monodia no sistema feudal 33,
BNooils ros O Canto Gregoriano .. 58
A polifonia . 64
A heterofonia - 64
As organa da Escola de Notre-Dame 69
O motete da ars antiqua - 7
» A Escola de Borgonha .. . 86
Principios gerai vee 96
O Renascimento italiano « 105
2 Oestilo Palestrina 5 : il
i Osistema tonal .......- + 120
£ A homofonia e a polifonia ‘tonal | 121
Principios gerais 2123
Aplicacto as praticas tonais va
Rua da Consolardo, 2697
te de Conslato 26 ‘A linguagem da miisica tonal e os ‘‘atos de musicar’” . 154
Pome (Ot SOS Repeat Stir Dak Ferree ee 10
Epilogo . . 1B
6 AMUSICA COMO LINGUAGEM
175
77
A vanguarda burguesa
Q culto do pasado .
Cultura popular : 179
Anmiisicade consumo 2000200002000 20 2. 180
Conclusao . - 185 :
A memoria de
Hermann Scherchen
Introdu¢gZo
Falar em linguagem musical implica necessariamente consi-
derar-se 2 musica, ou pelo menos um conjunto de certas manifes
tagbes musicais, como pertencente a um campo de fendmenos mais
amplo, chamado linguagem. Implica ainda uma distingio entre a
linguagem musical e eventuais outras linguagens ndo musicais
Ora, como 0 termo./inguagem normalmente sugere um sistema
vinculado as atividades de fala, parece licito reservar, entre as lin-
‘guagens no musicais, um lugar de destaque a este sistema, que
viria constituir entio 0 corpo do que designamos pelo termo Jin-
guagem verbal.
Numa primeira aproximacio, deparamo-nos com o fato de tra-
trar-se, tanto na linguagem musical como na verbal, de formas de
expressiio essencialmente sonoras, distintas de outras baseadas,
por exemplo, na percepeo visual. A partir desta distingio é que se
pode falar em lineuagem grdfica, pictorica, cinematogréfica, etc,
em referéncia a meios de expressto nao essencialmente sonoros.
No dominio geral da linguagems, portanto, se localizaria um campo
especifico das linguagens sonoras, um ambito no qual caberia dis-
tinguir entre a linguagem verbal a musical.
INGUAGEM VERBAL
LINGUAGENS SONORAS
\GUAGEM MUSICAL
OUTRASLINGUAGENS
uNevaGeEM {
NAO SONORAS
Sem pretender aqui aprofundar uma sistematizagio classifica-
dora desta natureza, é preciso observar, entretanto, que a incluso
da mnisica no conceito de linguagem se apresenta como um posi-
cionamento certamente sujeito 2 controvérsias. Muitos consi-
deram que uma das condigbes necessarias para a existéncia de uma
10 A MUSICA COMO LINGUAGEM
linguagem residiria na sua propriedade de ser discursiva e, atri-
buindo esta propriedade exclusivamente a linguagem verbal, con-
cluem necessariamente que fora desta no podem existir outras
linguagens. ' Jé outros ampliam a nocio de linguagem, de forma
que esta venha a compreender praticamente tudo o que possa ser-
vir para a expresso de idéias e sentimentos.* Enquanto os pri-
meiros se posicionam de forma exclusiva e fechada na sua vincu-
lagio a linguagem verbal, os segundos apresentam uma nogio tio
geral € vaga que muitas vezes se torna problematica a utilizacto
operacional do conceito inguagem a nivel tebrico.
‘Note-se, portanto, que uma abordagem coerente e eficaz. do fe
némeno especifico da linguagem musical carece ainda de funda-
mentagao adequada. Como ponto de partida, acreditamos poder
nos basear em alguns dos principios desenvolvidos nas teses de
Althaus e Henne? relativas & comunicagdo social. A comunicagao
social ai é definida como todo e qualquer relacionamento que se
estabelece entre os membros de uma sociedade com intengdes
efeitos comunicativos, isto é, a totalidade das atuacdes miituas do-
tadas de fungio signica ou simbélica. Neste dominio distinguem-se
dois campos: 0 da comunicagdo lingiistica, onde se aplica o termo
Jinguagem, eo da comunicagéo nao lingilistica, que é denominada
comunicagao acional.
1. Assim, por exemplo, S. K. Langer: ““Embora nos reframos muitas vezes
si dterentes meio derepresentagdo nto verbal como ‘linguagens’datnta, trata
Se realmente de uma terminologiafrowxa. A linguagem, na sua acepeio esta, €
‘ssencialmente dscursiva; possui unidades permanentes de significado combindveis
fem unidades maiores; poss equivalencies fxas que possiblliam a definigdo © «
tradugdo; suas conotacbes so gerais, de modo que ela requer aioe no verbs,
‘como apontar, oar, ou inflexbes entices de vor, pata consignar denotagdes expe”
‘casa seus temo. Em todas essascaracerstica salientes, ela dlere do simbo-
lismo sem palaves, que €nio discursvo eiatcadutivel, ao admit definigtes den-
tro de seu proprio sistema, e nio pode transmits dirctamente generalidades. Os
sieniicados fornecies através da linguagem sto sucestivamente entendidase rea.
rides em am todo pelo processo chamado discurs; os signlicados de todos 03
‘outros elementos simbelicos que compdem um simbolo maior e articlado slo en-
tendidos apenas através do significado do todo, sravés de suas relagdes dentro da
«strutura total. Seu prépro fancionamento como simbolos depende do fato dees:
tarem envolvidos em uma spresentag sivultnea ¢ integral Essa especie de se-
‘ntica pode chasvar-e‘smolismo apeesentativo", para caractrize sua iting
tssencal em face do simbolismo discursivo, ou ‘inguagem” propriamente dit
Chitosopiy in e New Key, Nova lorque, Mentor House, 1941; Blosofa om Nowa
Chave, t0 Peulo, Perspectva, 1971, pg. 103.)
2. E, Buystens, Le Communication et I’ Articulation Linguistigue, Broxelas,
Presses Universitaices, 1967; Somiologi © Comunicagdo Lingdstica, S30 Paulo,
Cult, 1972
myo dtsAltaus & HL Henne, “Sosikompetens und Sorlperoman,
sen zur Souialkormunikation", i: Diiebologie und Linguist, ano
shal, 1970. “ eee
INTRODUGAO nw
seguinte exemplo poderd esclarecer esta distingio, Ao apro-
ximar-me de uma pessoa a qual quero bem, posso dizer-Ihe: *‘amo-
te imensamente’”. Uma tal verbalizacao de meus sentimentos,
como ato comunicativo, inscreve-se logicamente no campo da co-
municacio linguistica. Por outro lado, porém, posso também ex-
pressar os mesmos sentimentos por atitudes nao lingtlisticas, por
‘agées comunicativas, por exemplo, por meio de um beijo. Neste
‘caso, tratar-se-d de uma manifestacao propria ao campo da comu-
nicacdo acional.
Pode parecer que, também.nesta distincao, a comunicagao lin-
altistica se refere exclusivamente a linguagem verbal, estabele-
cendo-se uma espécie de dicotomia entre fala e agdo. Na medida,
‘entretanto, em que passamos a levar em consideragdo certas mani-
festagdes musicais, abre-se uma outra perspectiva, Ac ouvir atenta-
mente, por exemplo, uma obra como o ‘‘Siegfried Idyll”? de Ri-
chard Wagner, notar-se-4 que esta misica, concebida por Wagner
como saudacio para sua mulher Cosima, por ocasiao do nascimento
de seu filho Siegfried, sem a interferéncia de qualquer verbalizacao,
constitui um imenso poema sobre uma ampla gama de sentimentos
que envolvem amor, gratidao, orgulho paternal e confianga num
futuro grandioso, muito mais do que poderia ser expresso por uma
simples acdo como um beijo. E neste sentido que entendemos po-
der incluir no toda a musica, mas certamente algumas manifes-
tages musicais bem determinadas, no campo da comunicacio lin-
gllistica, onde viriam a figurar no ambito de uma auténtica lin-
guagem musical.
‘E verdade que nos falta ainda uma conceituacio tebricaadequada
que permita estabelecer de maneira objetiva os critérios envolvidos
0 considerar-se certas manifestagdes musicais como pertencentes
A comunicagio lingiiistica. Esta conceituacao nao se encontra nem
em Althaus e Henne, nem nas melhores obras sobre lingtiistica,
que tratam quase sempre especificamente da linguagem verbal,
deixando conseqitentemente pouco espaco para a possibilidade de
{que eventuais outras manifestagdes comunicativas possam ter algo
em comum com a linguagem.
Partindo, porém, dos conceitos ja desenvolvidos na lingttistica
e procurando perceber os vinculos entre estes e certas propriedades
musicais definjveis com auxilio de uma andlise adequada das suas
fungBes sociais, isto &, a nivel da comunicagao social, nos parece
possivel a formulacao de alguns principios aplicaveis numa abor-
dagem lingtiistica de certos fendmenos musicais. Procuraremos
‘mostrar aqui que as manifestacdes normalmente englobadas sob 0
termo mdsica constituem um universo tio amplo e heterogeneo
que nele podemos encontrar, a0 lado de certas espécies qualifi-
caveis como lingitisticas, muitas outras que absolutamente no se
2 A MUSICA COMO LINGUAGEM
adaptam ao conceito de linguagem, ou por pertencerem a comuni-
‘cacio acional, ou mesmo por nada terem em comum com a comu-
nicacio social.
Tais propésitos, sem diivida, exigem um aprofundamento ade-
quado nos processos histbricos envolvidos na origem e no desen-
volvimento das manifestaces musicais a serem analisadas. E neste
sentido que procuramos aqui esbocar uma abordagem histérica,
lo com o objetivo de formular uma nova ‘*hist6ria da musica’,
mas especificamente a fim de encaminhar o estudo de algun’ fend.
menos musicais de forma a contribuir para o esclarecimento das
razdes de seu surgimento e das funces de seu uso a nivel de co-
‘municagdo social. Quanto a validade cientifica desta abordagem,
estamos conscientes de que as reflextes aqui desenvolvidas 80
passam de um conjunto relativamente coerente de hipdteses, as
quais, entretanto, ainda carecem da objetividade propria a ciéncia.
De fato, nas nossas tentativas de interligar os diversos fenomenos
musicais com as informagdes disponiveis sobre as realidades s6cio-
culturais que envolvem ou envolveram a sua existéncia, nio nos
preocupamos de forma alguma em limitar a carga subjetiva da nos-
sa anilise, determinada pelo condicionamento ideologico de que
inevitavelmente somos portadores. Entendemos que esta nossa
atitude se justifica na medida em que no presente trabalho no
pretendemos apresentar uma teoria completa e fechada, mas cogi-
tamos somente em abrir novas perspectivas de andlise.
Estado selvagem, barbarie
e civilizagdo
Partimos de dois pressupostos: 1) de que, desde que 0 homem
organizara a sua existéncia a nivel social, fizera-se necessfria al-
guma comunicacio entre os membros da sociedade; e 2) de que
toda comunicacio social decorrente desta necessidade possa ser
considerada como 0 produto de uma evolugio das relagdes man-
tidas pelos seres vivos em geral com 0 mundo que os circunda.'
As diversas modalidades de comunicagio e expresso desenvol-
vidas neste processo evolutivo da produgdo e do uso de sinais co-
municativos — comunicando-se 0 homem com 0 mundo, os ho-
mens entre si e, mais recentemente, os homens com os instru-
mentos e as maquinas por eles criadas —, designaremos pelo termo
modos de comunicaczo. Tudo indica que a elaboracio do que hoje
qualificamos como linguagem, com seus modos de comunicacio
especificos e altamente desenvolvidos, pressupée a existéncia pré~
via de um longo periodo de gestacao, durante 0 qual devem ter sido
praticados outros modos de comunicagao mais simples.
camo entre 0 vets, pode-se observa ofendmeno do trpismo, pelo
qual oma plants ao decclona su cresimento de acordo com ascondgbea def
SMibalsade ea apreseta uma cipuidade de dar reapostas + enimulos extern,
iho. dese releionar com o seu mo, Hxtacxpaidade aaglr foras mats com
tices nos sres nig desenelvion, ode, por exemplo, nos animals superiors, 08
‘fczosconditonados amber to cepoias a etmulos eters, respsta st
tector aie envelvem una fore superior de ingen © aprendiralo
‘Pos ses Tendmenos tay deat combaieativ, embore azo se poss fae
Tints eo comunicato sacl. E somente no ver Romano que fnemene vem-se
Seiicrngo apenas tea copaidae de suse sbre0 meio, mas ainda, em fangio
Usimporeancis que adguirea vida em socedade,o empresa conscieneedeliberado
Gt Sms comanlendven, produztes com a finaitadecopeciica de ransmitimen-
seen
M A MUSICA COMO LINGUAGEM
O estado selvagem
Segundo os trabalhos pioneiros de L. H. Morgan,’ a formacio
da linguagem verbal remonta 4 fase inferior do estado selvagem,
isto é, a um periodo do plistoceno que antecede a era paleolitica.
E provavel, entretanto, que o modo de comunicacao a que Morgan
‘se refere ainda nfo era o que acima qualificamos de comunicagio
ingitistica. De fato, neste periodo provavelmente no deve tet
existido ainda a necessidade de uma linguagem propriamente dita,
uma vez que as necessidades de comunicagfo entre os membros
daguelas hordas humanas ainda pouco diferiam das que existiam
entre muitos dos animais superiores. Supde-se que usavam apenas
alguns sinais sonoros e gestuais, cujo emprego define 0 que aqui
denominamos 0 modo de comunicacado plistocénico. Tais sinais,
entretanto, ja devem ter servido para o homem se referir a fatos
particulares do mundo circundante.* Julgamos poder enquadrar
este modo de comunicac4o, pelo menos hipoteticamente, no do-
minio da comunicagao acional.
‘A evolucio de todos os outros modos de comunicagio a partir
destes sinais, entretanto, nfo pode ser desvinculada das transfor-
mac6es pelas quais passou a atividade essencial da espécie humana,
que € 0 trabelbo em funcio da obtengao dos bens necessirios a sua
subsisténcia.® De fato, a evolucto dos processos envolvidos no tra-
2, Ancient Society, or Reseerches in the lines of Human Progress from Sova-
gery to Civilizetion, Londres, MacMillan, 1877. As teses de Morgan tém sido reto-
‘madas por F. Engels, em ‘‘Origem da Familia, da Propriedade Privada e do Es-
tado", ed. port. in: K. Marx & F. Engels, Obras Escolbides, S30 Paulo, Alfa
Omega, vol. 3.
3. Acreditava Morgan que, nesta longa fase de inftncia da humanidade, os
‘homens sinda habitavam os bosques tropicais e semitropicas c viviam, pelo menos
parclalmente, nas devores. S6 assim se poderia explicar a sua sobrevivencia em meio
2s feras selvagens. Para alimentar-se, coletavam os alimentos disponiveis, como
frutos, nozes e ralzes. (Cl. F. Engels, op. cit, 8-21.)
“4. CLV. Gordon Childe: ""As condigdes fsiolgicas permitem a0 homem
cemitir uma grande variedade de sons articulados distintos. E tim determinado som,
‘oa grupo de sons, uma palavra, pode associar-se com um fato particular ou um
‘grupo de fatos do mundo exterior". (Man Makes Himself, Londres, Matts, 1965;
‘A Evolugzo Cultaral do Homem, Rio, Zaher, 1966, 98. 43.)
5. Tomamos aqui oconceta irulbo sob a forma que este assumiy no Mate
sialismo Historico, a partir de Marx e Engels, segundo 0 qual se trata da atividade
‘ecessaria para que o homem convertesse as primitivas relagdes com o mundo ci
ccundante, que ainds vissvam una adaptagio do ser vivo a esse mundo, em relacbes
‘povas e contrarias, passando o homem a adaptar 0 mundo a ele, operando uma deli
berada ¢ artificial transformaao da realdade exterior. Neste sentido, segundo A
Vieira Pinto, o trabalho alo ¢ outra coisa que “'2 mediacto pela qual o homem re-
solve a contradicto fandamental da sua existtncia, em virtude de ser a expécie ani
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZAGAO 6
balho humano deve ter sido o principal fator pelo qual o homem
tivera que criar a linguagem.° Isto significa que a linguagem s6 po-
deria ter sido estabelecida a partir do momento em que ela se tor-
nasse necessiria no processo do trabalho. No caso da linguagem
verbal, esta necessidade deve ter surgido quando o homem, tendo
em vista trabalho, passara a utilizar, produzir e aperfeicoar uten-
silios, ferramentas ¢ outros instrumentos de trabalho, dando inicio
20 longo e complexo processo hist6rico que propriamente caracte-
riza a espécie humana.
Procuraremos esbogar aqui um sucinto quadro hipotético da
maneira como supomos ter tido origem a necessidade para o desen-
volvimento da linguagem verbal. Em relacdo a este quadro, obser-
ve-se primeiramente que a evoluclo hist6rica da sociedade humana
se di na medida em que evoluem as forgas produtivas, ou seja, 05
instrumentos de trabalho e a experiencia, as habilidades ¢ os ha-
bitos adquiridos no seu manuseio. A evolucdo das forcas produ-
tivas, por sua vez, periodicamente vem exigir transformagoes nas
relagbes de producdo, isto é, nas formas de relacionamento que se
estabelecem entre os membros da sociedade enquanto empenhados
na produgio.
(Ora, sabe-se que na fase média do estado selvagem o homem ja
usava certos instrumentos de trabalho de madeira, de oss0 e de
pedra lascada, bem como 0 fogo que aprendera a manipular. E na-
tural que se tenha desenvolvido toda uma habilidade — uma es-
pécie de tecnologia — no uso de tais meios. Tratava-se, portanto,
de forcas produtivas. E estas vieram exigit ndo apenas uma coope-
ragio mais efetiva entre os membros da sociedade, mas também a
smal que se diferenciou pela aquisicto da capacidade de construir um mundo para si,
‘Scesta capacidade constituisessncia do procesto de hominizapio, o trabalho cons”
titui o modo em que ¢ levada a cabo. A ocorréncia, na natuseza, de transfor-
Imagbes ndo espontiness mas induzidas pelo homem define o trabalho". (Cigncia e
Existéncia, Rio, Paz e Terra, 1969, pgs. 325 esegs.)
6, F. Bagels procure mostrar, # partir de uma comparacie com os snimais,
‘como a explicagao da origem da Haguagem através do trabalho ¢ a tnica acertada’
"0 pouco que ot animais, inclusive os mais desenvolvidos, t8m a comunicar uns
os outros pode set teansmitide rem o concarso da palavra articulada. Neahum
Snimal em estado selvagem sente-te prejudicado por sua incapacidade de falar ou de
‘Compreender a linguagem humana. Mas a situagZo muda per completo quando 0
Snimal passa a ser domesticado pelo homem. O contato com © homem [que exige
ele uma participagio no trabalho] desenvolveu no eto ¢ no cavalo um ouvido to
sensivel a linguagem articulada que esses animais podem, dentro dos limites de suas
Tepresentacbes, chegar « compreender qualquer idioma. Quem conhece bem esses,
fanimais dificilmente podera escapar 4 conviecao de que, em muitos casos, essa
Incapacidade de falar passa a ser experimentada agora por eles como wm defeito”.
(''Sobre o Papel do Trabalho na Transformagao do Macaco em Homem", ia: K.
‘Marx & F. Engels, 0p. ct, pg. 273-74.)
16 AMUSICA COMO LINGUAGEM
possibilidade de que essa tecnologia fosse constantemente transmi-
tida de uma geracdo para outra. Exigia-se, portanto, uma alteragio
das relagdes de producao, alteracio esta que implicava a necessi-
dade de um tipo especifico de instrumento, que permitisse aos
membros da sociedade uma comunicacio para a qual ja no era su-
ficiente 0 antigo modo de comunicacao pplistocénico. Tudo nos leva
a supor que tenha sido em atendimento @ esta necessidade que 0
homem tivera que criar, entre 0s outros instrumentos de trabalho,
instrumentos de natureza diferente, sob a forma de sinais, cuja
funcio especifica residiria na sransmissdo de mensagens. E j& nfo
se tratava apenas dos primitivos sinais anteriormente suficientes
para se referir. a determinados itens do mundo. A fim de atender
as novas necessidades precisava-se de sinais mais complexos resul-
tantes de uma combinacio daqueles, de forma que esta combinagio
pudesse cortesponder a uma combinacio andloga de suas referén-
cias. O desenvolvimento das forgas produtivas ¢ @ conseqiiente
transformacto das relagdes de producto, portanto, levaram 0 ho-
mem a produzir 0s atos de fala. Ao antigo modo de comunicagto
plistocénico viera acrescentar-se um novo, jé sob a forma de lin-
guagem verbal.
O termo ato de fala representa um conceito usado na lingtistica
moderna” para explicitar as condigdes necessérias para a realizagio
da comunicacio lingtiistica verbal. Ora, tudo indica que os atos de
fala produzidos na fase média do estado selvagem ja correspondiam
perfeitamente as condigdes ai estipuladas. Para exemplificar, to-
‘memos um ato de fala que supomos ser semelhante aqueles ento
produzidos:
“‘atengao — onga’’.
Analisando este enunciado, pode-se concluir que por meio dele
de fato se realizam os seguintes atos distintos:*
1) Um ato locutério. Com as duas palavras — atengao e orga
— olocutor se refere respectivamente a um estado de alerta e a um
determinado animal selvagem. A combinacio das duas palavras,
por sua vez, conduz a uma combinacio andloga das respectivas
referencias: 0 estado de alerta orientado para a presenca do animal.
soos Pet gage gor IL. Asan ow odo Tins wit, Words, Oxford,
7.8 Searle Spec Acts A Stay inte Poilecophy of Lengua, Cn
bridge, 1969), i ho of Tengu,
8. Deacordo com asistematzago de. L. Anstin (0, ct, ctada em: Duerot
¢ adoro, Dictionnaire Enesloesign des Scenes ta Langage, Pars, Sel
197% a. pore: Dclonara dat Concas da inguagom Lisbon, Dom Quisote 2
fi, 1974 pgs. 401 w eps, Ch também S.J Schmit, Testibeores Machen,
Wine Fink 1973; Lingsionien «Toons dv esto Sto Paso, Pont, 1978
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZAGAO 7
2) Um ato elocutorio. O ato de fala & produzido visando-se
a uma atuacao social que consiste, no caso do nosso exemplo, em
alertar os companheiros préximos. De acordo com as situacdes
subentendidas no seu enunciado, trata-se de um ato de alertar. Bo
ato elocutério, portanto, que determina a relevancia do ato de fala
anivel da comunicagao social.
3) Um ato perlocutério. A producto do ato de fala, como atua-
io social, certamente tera suas conseqiténcias. E possivel que es-
tas conseqiiéncias correspondam, pelo menos aproximadamente,
4s expectativas do locutor, Também pode ocorrer, entretanto, que
se venha a dar uma consideravel discrepdncia entre os resultados ea
intengio prevista. A maior ou menor correspondéncia, entdo, que
se verifica entre o ato perlocutorio e 0 elocutério vem determinar a
assim chamada competéncia social do ato de fala. Foi exatamente
tendo em vista 0 seu rendimento a nivel desta competéncia social,
que os atos comunicativos lingiisticos passaram a assumir a estru-
tura dos atos locut6rios.
Esta breve anilise nos permite agora esclarecer porque esses
atos de fala, como unidades basicas da comunicacio lingUistica,
tiveram sua origem somente na fase média do estado selvagem. E
que anteriormente, na fase inferior do estado selvagem, em si-
tuagto semelhante, em lugar do enunciado ‘‘atencio — onca”’
ter-se-ia produzido provavelmente algum tipo de grunhido como
sinal de alerta. Uma tal manifestacao, inserida ainda no modo de
comunicagao plistocénico, embora pudesse ter objetivos e conse-
qlgncias semelhantes as que caracterizam 0 ato de fala, nao apre-
senta nenhuma articulagio que Ihe pudesse conferir um nivel de
determinagio como aquele do ato locutério. E exatamente desta
caréncia que resulta a fragilidade da sua competéncia social. De
fato, nada garante que as conseqiiéncias de um tal grunhido ve-
nham corresponder realmente aos objetivos presentes no momento
da sua producio. Tudo indica que, num estégio mais evoluido da
sociedade, na medida em que as forcas produtivas tivessem atin-
gido um nivel que permitisse uma atuacao coletiva eficiente, seja
de defesa, seja de captura da onca, passava-se a exigir do ato de aler-
tar pelo menos uma relativa garantia de que dele viesse a resultar
de fato uma atencio coletiva do grupo social envolvido e que esta
atengio estivesse efetivamente orientada para a presenca da onca.
Exigia-se, portant, uma maior competéncia social, competéncia
esta que s6 podia ser alcangada mediante a estrutura do ato de fala a
nivel de ato locutério.
Os atos de fala, como instrumentos de comunicagio necessé-
rios para desempenhar seu papel no processo de trabalho, bem
como a experiéncia, a habilidade e os habitos adquiridos no seu
F A MUSICA COMO LINGUAGEM
manuseio, tiveram sua origem, portanto, como parte integrante
das forcas produtivas. Esta pertinéncia, entretanto, néo ¢ imediata.
Nao ¢ diretamente que os atos de fala servem para a produgao dos
bens necessérios a subsisténcia. Entre a comunicac%o social ¢ 0
trabalho produtivo situam-se, como mediadoras, as relacbes de
produgao.
O estreito vinculo existente entre os diversos modos de comu-
nicacdo e as forcas produtivas é bem caracteristico de todo este pe-
riodo de infincia da cultura humana, Somente muito mais tarde é
que a linguagem verbal, juntamente com outros modos de comu-
nicago, pode ingressar em uma outra classe de manifestagSes cul-
turais, como, por exemplo, as obras literérias, as quais, acompa-
nhadas de muitas outras, hoje se enquadram no conceito de obras
de arte e cujas funcées sociais ainda merecerfo uma andlise mais
aprofandada.?
Como ja observamos, nas primitivas manifestagtes sonoras,
que, na fase inferior do estado selvagem, faziam parte do modo de
comunicagio plistocénico, se tratava de meios pertencentes 20
campo da comunicacio acional e, portanto, nao classificaveis como
atividades de fala. Ao mesmo tempo, porém, em que estas mani-
festag6es, quando usadas ¢ articuladas com referéncia a determi-
snados itens da realidade, deram origem a linguagem verbal, en-
tende-se que numerosas articulagdes sonoras outras devem ter
continuado a ser produzidas sem este uso especificamente lin-
Alistico, vindo a constituir um campo de atuacdes e manifestacdes
classificaveis como musicais. O modo de comunicacao plistocé-
9. Cabe observar que o conceito cultura, em se tratando da sociedade vigente
‘no estado selvagem, forgosimente se reveste de caractersticas pelas quis a sue
‘inculagfo com as forgas producivas eas relacoes de produgdo ainda ¢ de natureza
eminentemente imediats. Assim, A. Vieira Pinto considera a cultura como sendo
“uma criagao do homem, resultante da compleridade crescente das operagbes de
que este se mostra capaz no trato com a natureza material, e da luta # que se ¥
‘brigado para manter-se em vids. Os animais, mesmo os de complexidade organica
‘elativamente alts, no produzem a propria existéncia, mas apenas a conservam
‘com o uso dos instrumentos naturas de que seu corpo é dotado e que hes permitem
‘um conhecimento da realidade sufciente para a procara eidentificagao do alimento,
© encontro de abrigo e a tomada de atitudes defensivas, que lhes asseguram, com
‘carter constante, as condigdes de vida.(No homem, esta situagio se alterou: ¢
ccapacidade de resposta& realidade cresceu de intensidade e qualidade, porque, 20
longo do processo de sua formapio como ser biclogico, as transformagbes do orgs.
nismo the foram permitindo, em virtude do desenvolvimento da ideagio reflexiva,
‘novar as operagbes que exerce sobre a natureza, e com isso praticar aos inéditos,
ddesconhecidos no passado da espécie, Tais atos vlo-se acumulanda na consciéncis
‘comanitiria grapas & hereditariedade social dos conhecimentos alquiridos, porque,
em virtude dos favordveis resultados que propiciam, sto recolhidos, conservados ©
‘wansmitides de uma geragio a outra"™. (Op. cit. pgs. 121. segs.)
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZAGAO 19
nico, portanto, foi o tronco comum do qual, no campo sonoro, se
destacaram dois ramos distintos: alinguagem verbal ea musica
Com o termo musica, como aqui 0 usamos, designamos global-
mente todas as manifestacdes sonoras praticadas pelo homem com
os mais diversos fins, com exclusdo apenas dos atos de fala.
E importante observar ainda que, dentro do ambito da musica
assim concebida, durante a fase superior do estado selvagem, m
tas articulagdes sonoras se desvincularam da sua original fungao
comunicativa, para integrar-se num outro campo — também mu-
sical — onde passariam a funcionar como instrumentos de trabalbo
mdgicos, mais diretamente ainda inscritos, portanto, na categoria
das forcas produtivas.
Trata-se de manifestagdes que hoje constituem um importante
objeto de estudo da etnomusicologia. Segundo as pesquisas de B.
Nettl, por exemplo, entre as fungdes da musica primitiva desta-
cam-se sobretudo a religiosa e a magica." A funcao magica, sendo
mais antiga do que a religiosa, provavelmente dominaya em grande
parte nfo apenas as manifestacdes musicais, mas também as repre-
sentagGes pictoricas rupestres que ainda se preservam da era paleo-
litica. Tais representacdes, quase exclusivamente de animais, ca-
racterizam-se por um naturalismo surpreendente e, pelo que tudo
indica, serviam a uma pratica de magia. Supde-se que o homem
paleolitico acreditava que a producio da imagem de um animal
contribuisse diretamente para a aquisicdo de poder sobre o mes-
mo." Ora, se estiver correta esta hipotese, conclui-se que muitas
10. Music n Primitive Culture, Cambridge, Harvard University Press, 1956,
LL. CE A. Hauser: “Sabemos que esta arte ¢ uma arte de cacedores primitives,
que viviam um nivel econdmico parasitirio, improdutivo, e que tinham que re
colher ou capturar seu slimento em Ingar de crié-lo por si mesmos; uma arte de
hhomens que, sestindo todas as aparéncias, viviam dentro de malds sociais instaveis,
‘quase interamente inorganizades, em pequenas hordas isoladas, numa fase de pri-
Imitivo individualismo, e que provavelmente nfo acreditavam em nenhuime divin-
dade, em nenhum musdo ou vide além da morte
"Nesta fase de vida puramente pritica ¢ abvia que tudo girasse ainda em torno da
sua aquisicfo do sustento. Nada pode justifcar # presuncio de que a arte servsse
para gutre fim que no seja o de conseguir oalimento, Todos ot indicios sludem
‘quc esta arte servin de meio para uma teenica magica e, como tal, tinh wna fungto
{nteiramente pragmacica, dirigida totalmente a imediatos objetivos economicos
‘Mas esta magia, sem duvida, no tinha nada em comum com o que hoje entendemes
por relgizo; ndo se tratava nem de sezar, nem de reverenciar seres sageadosi 10
tinha rlagdes com nenhuma espécie de crengas, nem com nenhuma entidade esp
situal transcendente. Faltavam-lhe, portanto, todas as condigbes que tém sido ass
‘aladas como minimas para uma autenticereligito, Era uma técnica sem mistérios,
luma mera pritica, um simples emprego de meios e procedimentes, que nada ti
‘sham 2 ver com misticismos ou esoterismos, semelhantes as nossas atitudes a0
‘montar uma ratoeira, adubar @ terra ou tomar um remédio™. (The Social History
mn) ‘A MUSICA COMO LINGUAGEM
manifestagdes culturais paleoliticas nfo se inserem no conceito da
comunicacdo social, uma vez que eram praticadas no com o fim
de estabelecer relagdes comunicativas, mas com o objetivo de atuar
como instrumentos de trabalho julgados eficazes para a obtencto
dos bens necessitrios para a subsisténcia. F muito provavel que a
mitsica tenha sido tao naturalista quanto a pintura e que, com uma
determinada manifestacdo sonora, imitando, por exemplo, 0 re-
linchar de um cavalo selvagem, o homem julgasse apossar'se nfo
apenas do relinchar, mas também do proprio cavalo. Estas priticas
de magia representayam provavelmente, se no as tinicas, pelo
menos as mais importantes manifestagbes musicais do estado sel-
vagem.
A barbarie
‘Vimos, nas consideracdes acima desenvolvidas sobre as pré-
ticas de magia, que para 0 homem do estado selvagem 0 ato de
sepresentar um animal equivalia praticamente a sua posse. Em lu-
gar de representacdo desse animal, talvex seja mais adequado fa-
Tarmos em sua reproducao, no sentido de que a reproducgo de um
objeto de certa forma pressupse uma espécie de identidade com
© objeto que Ihe servira de modelo. Para uma representacio, no
verdadeiro sentido da palavra, seria necesséria uma consciéncia
relativamente desenvolvida da distingZo entre o objeto e sua ima~
gem. Ao que tudo indica, esta consciéncia ainda nio existia no
estado selvagem, onde, por exemplo, a reproducao de um bisio
atingido por uma flecha se identificava praticamente com 0 ato sub-
seqiiente de abater 0 bis0 por meio de uma flechads. Para a aqui-
si¢do de uma tal consciéncia seria necesséria a evolugio cultural da
sociedade humana para outras e novas formas e, de acordo com os
principios ja expostos, isto s6 poderia ocorrer em consequéncia da
evoluedo das forcas produtivas e de transformacdes substanciai
das relagdes de producto.
Ora, 0 inicio da barbérie, periodo que, segundo a sistemati-
zacio de Morgan," sucede ao estado selvagem, nos apresenta 0
panorama inteitamente novo da arte neolitica. Em toda a pratica
pictorica e grifica desaparecem quase por completo as preocu-
of Art, Londres, Beutledge & Kegan Paul, 1951; Historia Social de la Literatura y
ef Arte, Madrid, Guadarrama, 1969, vol. 1, ps. 19 e se¢s.)
12. LH. Morgan, op. eft
ESTADO SELVAGEM, BARBARIEE CIVILIZAGAO 2
pagées com uma fiel reproducao da realidade. Tudo leva a crer que
se tratava de manifestacdes que ja nao serviam para reproduzir 0
objeto, mas para referir 20 mesmo e, com isto, a arte acabava por
adquirir um cardter eminentemente simbdlico.*
Para 0 observador de hoje, os processos simbélicos jé esto de
tal maneira incorporados arte e & propria vida que dificitmente se
percebe o sen real significado. A fim de esclarecer sobre a natureza
de tais processos, Langer propte uma anilise baseada na obser-
vacio de dois desenhos os quais, mediante um simples delinea~
mento dos contornos, representam um coelho ¢ um gato. O de-
senho do coelho se distingue daquele do gato exclusivamente pelas
dimensbes das orelhas ¢ do rabo. E Langer observa que, na reali~
dade, ‘‘os gatos, porém, nao se parecem com coelhos de rabo lon-
Des
13, CEA. Hauser: “!Os desenhos rupestees do Neoitico intepeetam a figuea
humana por into de dans ou tts simple formas geometeeas, por exemple me
Glante won feta vertical para otroncoe ois semitrelon, voltados um para cia ¢
S gutro para baiza, para os bragos eas pernas Os menires, Nos qua Se tm pete
Sie Yr reat aber do orton, mst om win plain «mea ab
lo avangnda, Sobre lipce plana desas tamer, eve, que mantem com &
Soturezt nem Sequer mine semelhanga deforma redonds, est separa
once, ito €; do parte oblonga da propria pdrs,s6 por ema linha; os los sf
{fuicado por dois pontos; omar ¢ unde 4 hocs ov As sobrancelas formando ume
{Drtpurs geometice,O homem a ientfa pelo acréscimo de rms, a mulher pot
{hishembterio que indicum or asoe
"A'mudaagn de exile que cond estas formas de art completamente abstratas
presgapoe ama revoigio total ca cular, que represents tavez 0 corte sais pro
Ro gue tem verifeado na historia da humanilade™- (OP sit pas 2558s)
2 AMUSICA COMO LINGUAGEM
go ¢ orelhas curtas. Nenhum dos dois é plino e branco, com uma
textura de papel e um contorno preto 4 volta. Mas todas essas
caracteristicas do gato sio irrelevantes, porque se trata de um mero
simbolo e nfo de um pseudogato’’.'* O desenhista, através da re~
resentacio grafica, pretende produzir nZo um novo exemplar do
Bato edo coelho, mas uma espécie de simbolo grafico capaz de ser-
vir-lhe no ato de referir a0 gato e ao coelho.
Sao procedimentos desta natureza que comecaram a ser ampla
mente empregados na cultura barbara, onde as praticas de repre-
sentacio em abandonando o naturalismo proprio ao periodo ante-
rior passaram a desenvolver um sentido nitidamente simbélico. O
simbolo, porém, com seu potencial de referéncia, s6 tem razo de
ser quando se trata de atos comunicativos. As manifestacdes pré-
prias ao periodo paleolitico, que eram instrumentos magicos com
‘05 quais se visava a apropriacdo dos elementos da natureza, dispen-
savam qualquer comunicacdo com outros seres. Na arte neolitica,
porém, tudo indica tratar-se de uma resposta a necessidades novas,
necessidades de comunicagio, onde, além das potencialidades ofe-
recidas pela linguagem verbal, se tornaram desejaveis outros meios
nio verbais capazes de servir para a emissdo de mensagens de outra
natureza. Os receptores aos quais se destinavam tais atos comu-
niicativos tanto podiam ser os proprios membros da sociedade — e
neste caso se tratava de comunicagdo social —, como seres sobre~
naturais, pois foi na barbarie que o homem comecou a desenvolver
‘suas relacdes com espiritos ¢ divindades, dando origem a arte reli-
Biosa ou mistica
Quais podem ter sido as evolugdes das forcas ‘produtivas ca-
azes de dar origem a tais novas necessidades?
A resposta a esta pergunta nos ¢ dada pelo fato de que a pas-
sagem do estado selvagem a barbarie — passagem esta 4 qual Gor-
don Childe aplica 0 termo revolugdo neolitica'® — se caracteriza
pelo acréscimo ao antigo trabalho de coleta, caca e pesca de um
‘novo que consistia na producio social dos itens essenciais a sobre-
vivencia através de atividades como a domesticagao e criagdo de
animais ¢ 0 cultivo de vegetais.'® E facilmente se percebe que a
M4. 8. K. Langer, Fosofie em Nova Chave, ng. 78.
45. V. Gordon Childe, op. cit., pg. 77.
16. F. Engels relacions os seguintes dados fornecidos pela pesquisa historica e
antropologica:
1) No continente americano, entre os indigenas que se encontravem na fase
inferior da barbitie, exist, jd na época do descobrimento, 0 cultive do milko, de
abdborse de outras plantas, que constitulam parte essencial de sua slimentacto, Jd
(0s indies dos asim chamados pueblos no Novo México, os mexicanes, os senstor
‘americancs ¢ os peruanos na mesma época haviam atingide a fase média ds bar.
brie: caltivavam, em plantagdes artiicalmenteirrigadas, © millo ¢ outros vege.
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZACAO 2
introdugio — certamente revolucionéria — destas atividades,
como base de novas forcas produtivas, forcosamente haveria de
exigir 0 desenvolvimento de numerosas outras espécies de tra-
batho.” evidente ainds que uma tal ampliagto dos processes
le trabalho produtivo implicava nao apenas um grande volume de
onheeimentos, hibioschablidades serem adquridos na pratics
tranismitidos de uma geracdo a outra, mas também em transfor-
magbes consideraveis das relacdes de produgdo. A nova tecnologia,
que se ia adquirindo, bem como a propria natureza do trabalho,
vieram exigir um novo nivel de cooperacio entre os membros da
iedade envolvidos na producio.""
weerTdo iso, entretanto, pressupoe o desenvolvimento’e aperei-
soamento de estruturas sociais adequadas. Deve-se a L. H. Mor-
gan um estudo pioneiro da estrutura gentilica que, tendo: tido
seus inicios ainda na fase superior do éstado selvagem, se tornara
caracteristica da sociedade barbara.®® Segundo as conclusbes de
tas comestivel etnham domestcad alguns animais, como o thama, peru ¢
NSS No Oriente, a formagto de rebanhos levis, nos lagers adequades, & vide
pst como ets Sees, ns rca da coon eee o eos,
campos da nd. Supoese qe o uliv de corn ee 0 ue oie a
endo 1necesiade de proporiona foreagem sos shal, adqutindo 30 peste
‘Houmente a su importa na simentagio do borer.
3) Ne Burop,eocontamoe, tna se supesie da baer, os gegcs da époce
pic be ies de paz ants de Rnd Roma, on pemenos e
Cites or Tat cos norandos do expo dowsing. Js va ono de fo
ppumado por ania e, por consetencia, x lavours da terra em grande essa —
cules Ck: ¥ Ege Oneom ae Foti pit ps 28 es
‘Govdon Childe cama tatengto sobre ofa de que © prepare armate-
aamcito de cress exp a prodaao e recipients alequdos. Atendendo a esa
tusrdne dove terse desenvolvid seems, Paraeiamente evolia mani-
{Ror tnt, qu presupanbe a plane de gato ergo de sina ene
Ciaran poe wo demnt— cbc plane feo ne
roe d instrament estiados&lvoura vera exigir Un conalervel dese
Yoivento decider CV. Gordon Co, ge, 97 ese 130 es.
18" Fo! ober, gesutsando os trabalos de orice em ieee sles
atc pron dn sb, ue noe entava de bao ai¢
don as deme avidoe emienemente scald come cone
tec de eapritncn ompargis ete oe produto, rsd uma een
comum a toes en produces, Supese avy period nealcoo tabuho se
fenha sea cm semelhantes clas de produgtonitdamente coopertias to
tira ezlicar enfo a extoordinis wold doa produtos, que tazem™ mullo
Theiss marca de uma longa radio coletva do que a a indvidalade
20 Morgan mostra que os grupos deindvduosconsanginess, desgnades por
somes dss as os de nig ortanecincy so eencanent >
eo sgonas dos greys cis gener dos romans ¢ que est gens ho areseta
om usa iaatiailn consum a todes os pov barbaon, tesa passagem tcl
‘eto, CE Bnglssop tsp 69.
m4 AMUSICA COMO LINGUAGEM
‘Morgan, os membros de uma gens eram individuos livres, cada
tum responsiivel pela defesa da liberdade de todos. Nao existiam
ainda diferengas entre direitos ¢ deveres: teria sido um absurdo
questionar-se se era um direito ou um dever a participacdo de todos
nos assuntos de interesse comunitirio, da mesma forma como
hoje, para nés, dificilmente se questiona se comer, dormir e amar
sio deveres ow direitos. Todos formavam no conjunto uma comu-
nidade fraternal unida pelo parentesco de sangue. E perfeitamente
admissivel a hipotese de que uma grande parte dos valores éticos e
morais, que hoje se consideram importantes para a dignidade hi
‘mana, como o amor ao proximo, a lealdade, a coragem, a hones-
tidade, a sinceridade etc., tenha tido sua origem na barbirie, uma
vez. que, contrariamente a0 que habitualmente se vé na nossa civi
lizagio atual, a organizacio social estava inteiramente baseada em
tais valores, sem os quais nenhuma gens teria tido condigBes de
subsistir.”*
__E verdade que frequentemente se encara a natureza democré-
tica da vida social dos barbaros sob 0 prisma de um idealismo ilu-
sorio que dificilmente corresponde realidade daquele tempo.”?
21, Nio ¢ de admira o enasiatmo de Marx ¢ Engel 9 tomar coahecimen
das pesquies de Morgan: “Adminve esa contuigiotefem com te ss
stmtasimplicidad! Sem sldads, polis, sobrena ey porernadres, rts
fu jules, sm cdreres on process, tao cama con epulardad, Todas ag
‘terces, todos os conlitor sto diimidos pela coleividnde a que conernem, pla
‘gens ou pela tribo, ou ainda pelas gens entre si. Sto os proprios interessados que
Fesolvem as quests c, na maior ds canes, costumes seculaes tudo rebar
“Todos ato igus eves, incosive st mulheres, Que homens e que mulheres pr:
dhsi smelhantesocedade € 0 que podemos ver na admirapo d tds os baneos
{ue laram com indios ao degenerados, cane da ignidade peso, ei
dnenersia de cardter edu itrepider dese batbaros™- bid p99)
7 Bogelssusmo jd observava que nem sempre esta stature pode ser asin
ieatizade: "Os povospastores, que lam ganbando terreno, baviam adgirido
aueras que precivam apenas de viginca e dos cuilades nts primes para
‘eprodusirse em propergos cada vee taoresefornecetabundantsima aliens
tagao de carne elete. A quem, no entento, pertenceria ex suera nova? Ni Ba
divide de que na sue ovigem,pertence 8 gers, Mas bem cdo deve terse desen
‘olvidoa propriedde rivade ds sebanhos, Nov umbras da historia sutencad,
conta em fod prea hues camo props parcel dos cht de
familia, com o mesmo title que os produosaristeos da barbaric, os utensies Je
metal oy objets de xe e, lnalmente, o gad hamano” que ero escaten,O
‘escravo nfo havia tido valor algum para os barbaros da fase inferior, onde a forga.
tbat do homem aidan produ encdeteaprecivel cbre cata de
Stn imanatento, Ab generalizarse, orem,» efaglo do Bedo, a cboralo dos
imag aed cd or fy a aps, nota aura ou fl
Soma. Peincipalmente depois que ca rebanos pasarandeintivamented prope:
dade da fem, deus com a forge de abn o mesmo que has seeds eo os
sutheres, ants to fae de obtre cages tina seaward oes ¢ crm
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZAGAO 25
Isto, entretanto, sem diivida nao invalida o inestimavel valor cul-
tural com que se nos apresenta a estrutura gentilica.
E evidente que uma sociedade assim organizada necessitava de
cuidados muito especiais para preservar-se de interferéncias indi-
viduais que poderiam comprometer a coesio entre seus membros,
Era preciso zelar pelo espirito coletivo, embora uma incipiente di-
visio social do trabalho ja favorecesse 0 individualismo. Ainda que
ohomem da barbirie talvez ndo tivesse tomado consciéncia da ne-
cessidade de preservacio da estrutura social atingida, nio hé di-
vida de que desenvolvera toda uma concepgao do mundo — uma
ideologia — que, se por um lado era reflexo da organizacao social e
‘econémica, por outro lado era uma garantia para a manutengdo da
mesma,
Esta concepcio do mundo, que contribuia substancialmente
para assegurar a estabilidade da estrutura gentilica, consistia no
assim chamado animismo. Contrariamente a concep¢io propria a0
estado selvagem, onde o homem se julgava capaz de atuar por
meios magicos diretamente sobre a natureza, agora ele passava a
considerar que devesse dirigir sua atencio primariamente sobre os
espiritos que a governavam. Assim, as praticas de magia, préprias
a0 estado selvagem, foram sendo substituidas por sortilégios ¢
conjuracoes, por meio dos quais o homem perseguia o objetivo de
seduzir 0s espiritos para que o auxiliassem dando solugdes aos pro-
blemas surgidos no seu trabalho e contribuindo, dessa forma, para
0 proceso de progressiva conquista de dominio sobre a natureza.
‘Uma atitude mistica semelhante se observava quando se tratava da
acumulagio e transmissio dos conhecimentos, habilidades e ha-
bitos, necessdrias para dar continuidade ao desenvolvimento das
forcas produtivas. A julgar pelos processos produtivos em uso en-
tre povos que hoje ainda vivem num nivel cultural proximo a bar-
brie, pode-se verificar que o modo de transmissio dessa tecnologia
normalmente implica a pratica de verdadeiros rituais que rigida-
mente acompanham todas as operacdes envolvidas nos respectivos
oficios.
compradas. A familia ago se multiplicava com tanta rapidex quanto o gado. Agora
feram necessirias mais pessous para 05 cuidados com a criacto; podia ser utilizado
para isso 0 prisioneiro de guerra que, além do mais, poderia muitiplicar-se tal como
‘ogado". (bid. pa. 46.) zi
"23. Segunda A. Ponce, “uma vez que na organizacto da comunidade primitiva
fo existiam grays nem qualquer hierarquia, © homem supds que a natureza tam-
bém estivesse organizada desse modo: por este motivo, a sua religio foi ume re
Tigito sem dees. Os primitives acreditavam em forgas difusss que impregnavem
tudo o que existia, de mesma’ maneira como as iuencias socais impregnavam
todos os membros da trbo””. (Educacién y Lacba de Clases, Buenos Ares, Hector
Matera, 1957; Edueagta # Lata de Classes, Sa0 Paulo, Fulgor, 1963, ps. 18:)
26 AMUSICA COMO LINGUAGEM
Em todos estes ritos era importante o papel desempenhado pe-
Jas praticas musicais, as quais se atribuiam grandes poderes, rele-
vantes sobretudo em se tratando tanto de convocar os espiritos
como de assegurar as condigdes necessérias para a preservagio das
estruturas sociais. A titulo de ilustragao, transcrevemos aqui duas
Jendas, uma da Chine ¢ a outra do Eglio, que fazem alusto acs
leres atribuidos a musica, bem como as preocupa a
‘manutengdo das estruturas. ne
1) “Nos primeiros tempos, Dshu-Siang-Shi dominava 0 mun-
do. Eram muitos os ventos que sopravam. As forcas da luz se con-
centravam e todas as coisas derretiam. Os frutos ¢ as sementes jé
no chegavam a amadurecer, Ent vei Shi-Da e conatruit a har-
a cordas, para conclamar as forgas da escuri
Consolidar a vide de todos osaeres™e Tne Suri afm de
_ 2) “Nos tempos em que reinava 0 deus-sol Re, habitava em
Bigge, na regido desértica oriental do Nilo, na ‘Nibia Superior a
sua filha Tefnut que, em forma de leoa, percorria a regiao. Seus
olhos Jancavam chamas ¢ era de fogo o halito da sua boca. Seu co-
ragio ardia de célera, Acontecen que o deus-sol sentia desejo de ter
junto a si esta sua filha, que nunca havia deixado o deserto e nio
conhecia 0 Egito: a sua presenca lhe seria util para amedrontar os
seus inimigos. Re, entio, encarregou a Shu, irmao da deusa, ¢ a
Thot, que persuadissem Tefnut a vir ao Egito. Prontamente ambos
se transformaram em macacos e se dirigiram para a Nubia. Inicial-
mente o seu pedido encolerizou a deusa. Thot, entretanto, usando
de seus poderes de persuasio, consegue convencé-la. Ele promete
que no Egito the seriam construidos muitos templos. Todos os
animais do deserto lhe seriam imolados nos seus altares. A miisica
a danca nunca cessariam diante dela. E quando finalmente Thot
Ihe oferece gazelas e manda tocar milsica, a cblera de Tefnut se
abranda e ela se declara disposta a acompanhé-lo ao Egito. Na fron-
teira, a deusa é recebida pelos sacerdotes ao som de harpas, flautas
sistros e tambores. Apés banhar-se, no santudrio de Abaton, Tef-
nut se transforma entdo em uma bela jovem. Com jubilo seu pai a
abraca. Seu espirito selvagem, entretanto, nao se transforma junto
‘com sua aparéncia. # por isto que nunca se pode parar de cantar ¢
dancar diante de Tefnut, a fim de nfo se permitir que a sua antiga
ica torne a se levantar’”.®
Note-se que Shi-Da, desde que munido da harpa de cinco cor-
das, estava em condigdes de conclamar as forcas espirituais favo-
24, Segundo H, Pirognes, Masik; Geschichte ihrer Deut
chen, Karl Alber, 1954, p63. hte ihrer Deutung, Freiburg Mian
2. Ibid. pg. 8
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZAGAO. 27
riveis a vida, da mesma forma como certos rituais, em que parti-
cipavam 0 canto e a danca, eram capazes de abrandar a célera da
deusa Tefnut. As praticas musicais, portanto, muitas vezes asso-
ciadas a outras manifestagdes, eram os ingredientes de determi
nados tipos de rituais que se configuravam num modo de comuni-
cacio especifico, através do qual se estabelecia contato com seres
sobrenaturais, com 0 objetivo de conjur4-los para atuarem favora~
velmente a sociedade humana. Devem ter sido muitas as manifes-
tacdes musicais da barbarie vinculadas a tais rituais. Como seus
remanescentes, conhecemos aqueles ainda em uso, por exemplo,
zo ambito das religides afro-brasileiras, onde o som de batucadas
cantorias contribui com a danca para a invocacio dos orixas,
Entendemos tratar-se, nesta musica ritual, de praticas comu-
nicativas que s6 podem ser inseridas na categoria da comunicagio
social na medida em que se admite a hipotese de que os seres espi-
rituais, aos quais clas so dirigidas, tenham sido considerados
membros efetivos da comunidade social. Entendemos também que
no se pode falar ai propriamente em linguagem musical, uma vez
que os elementos musicais envolvidos carecem inteiramente de
qualquer articulagao a semelhanca dos atos locut6rios. Uma co-
municacdo lingaistica envolvida em tais priticas s6 pode existir a
nivel dos textos cantados ou declamados, isto é, sob a forma de
uma espécie de melodia cantada, pritica esta que, como ve-
remos mais adiante, encontraria sua plena realizacao nas manifes-
tagbes do canto monddico.% Jé na barbarie, entretanto, esta me-
Iodia cantada viera a assumir um papel importante, principalmente
nna pratica de contar estorias. Era por meio de tais est6rias que se
mantinham vivos os valores éticos indispensaveis para a estrutura
social gentilica. B. Nettl*” observa que, na grande maioria das
tribos primitivas ainda existentes, 0 contador intercala cancOes na
sua narrativa e os ouvintes passam a cantar junto com ele. Este hé-
ito leva freqientemente a um tipo de manifestagio musical quali-
ficdvel como canto responsorial, por meio da qual se acaba por
‘garantir a participagio ativa de todos os membros da comunidade.
Na fase superior da barbarie, entre os povos europeus de antes da
fundacao das cidades, desenvolveram-se 0s cantos de poetas-mu-
sicos ambulantes — os bardos, escaldos e rapsodos — que, em suas
declamacoes musicais, louvavam a memoria de deuses € herbis,
narrando faganhas notaveis e enaltecendo a bravura, a lealdade, 0
espirito aventureiro ¢ a coragem. Foi no ambito de tais narrativas
26. O conceito de melodia © 0 us0 do canto monddico serto objeto de uma
anilise mais aprofundada no Capitulo destinado a Monodia (pa. 39 seas.)
27. Op. et
28 AMUSICA COMO LINGUAGEM.
que tiveram origem no apenas uma grande variedade de mitos
lendas, mas também os grandes poemas épicos, como a Iada e a
Odisséia, Dando sequéncia a essas praticas, designadas pela palavra
cimbrica Yiais, cujo significado se situa mais ou menos entre os
nossos conceitos de voz e de canto, surgitia entre os gauleses 0
laiodb, laidb ow Iaoi, que acabaria por ser adotado pelos anglo-
saxbes como ey e, posteriormente, pelos trovadores medievais,
como Jai.
Note-se que as funcdes sociais da miisica na barbarie foram
perdendo sua vinculaco imediata com as forcas produtivas, verifi-
cando-se uma progressiva aproximacio a uma outra categoria de
relacdes sociais que freqientemente ja nao faziam parte das re-
lacdes de producio. E evidente, neste sentido, que as manifestagdes
musicais envolvidas na narracdo de estorias, por exemplo, j4 nao se
destinavam ao trabalho necessirio para a obtencao dos meios de
subsisténcia. E, embora essa pratica tenha tido uma relevante im-
portincia para a preservacdo dos principios gentilicos, € mais do
ue provavel que nao tenha sido praticada intencionalmente com
este fim. Coisa semelhante ocorria com intimeras outras atividades
coletivas, como, por exemplo, as de carater liidico, as quais em
muitos casos envolviam procedimentos musicais.?* Também ai se
tratava de manifestacdes que evidentemente desempenhavam seu
papel na sociedade — de integrac2o social, bem como de treina-
mento nas habilidades de observacio e dominio do meio ambiente.
As razes de terem sido praticadas, entretanto, residiam, muito
provavelmente, na necessidade de atender as tendéncais lidicas
que, a nivel de instinto, também existem entre os animais, mas que
devem ter assumido outras formas e proporcdes na sociedade hu-
mana.
Note-se ainda que, na barbérie, a miisica quase nunca se apre-
sentava como uma atividade exclusivamente musical, mas apenas
‘como um dos ingredientes de modos de comunicagao mais com-
plexos. Assim, na pratica de contar estorias, ela comparecia como
uma maneira especifica de veicular a linguagem verbal, enquanto
nas praticas Nidicas ela funcionava como um instrumento usad
com o fim de proporcionar vantagens no jogo. Este fato por si ja
28, B, Nett faz referéncia aos primitivos jogos de esconder ainda praticados em
diversas aideias indigenas norte-americanas. Formam-se dois grupos de josadores:
enquanto um trata de esconder um pequeno objeto, 0 outro se empenha em en.
contré-lo. O jogo frequentemente vem acompanbado de misica, na medida em que
9 primeiro grupo canta cangdes com o objetivo tanto de invocer uma ajuda sobre.
natural para dificultar a tarefa dos adversirios, como de cammufler as expresses
faciais dos jogadores, a fim de evitar que o esconderijo seja revelada por gestos,risos
ou outras atitudes involuntarias, (Op. cit pa. 7.)
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZAGAO 2»
nos parece suficiente para descartar qualquer tentativa de anilise
de tais manifestacdes musicais a nivel de uma eventual linguagem
musical. No caso das narrativas, 0 que se qualifica como lingitis-
tico nao é a musica mas © texto verbal, enquanto no caso dos jogos
a miisica apenas participava de um determinado modo de comuni-
do lidico. ;
SO fato de nfo encontrarmos, na barbérie, nenhuma manifes-
taco que possa ser identificada a nivel de linguagem musical, en-
tretanto, nao deve induzir-nos a aceitar certas concepcdes lamen-
tavelmente muito correntes, segundo as quais se trataria de uma
misica apenas incipiente, caracterizada por uma espontaneidade
ainda ingénua. Muito pelo contrario, as pesquisas etnomusicolé-
gicas mais aprofundadas, em abordando, por exemplo, as priticas
musicais na cultura indigena brasileira, mostram que elas obe-
decem a uma organizacio surpreendentemente complexa, baseada
em tradigdes seculares, dando a entender que absolutamente nao
seria possive! explicd-las no Ambito tedrico de uma suposta ‘‘ima-
turidade cultural’. Assim, Rafael de Menezes Bastos mostra a es-
treita vinculagao de todas as manifestacdes musicais dos Kamayura
20s rituais.” Esta musica exige dos participantes uma preparaclo
Itamente especializada, necessiria para que possa exercer su‘
fangio na comunicagao social, Para fazermos ume idéia da immpor-
tancia que assume a miisica indigena nessa comunicacio social,
basta lembrar que esta, ao contrario do que se observa na nossa
civilizagao, nao é confiada quase integralmente a linguagem ver-
bal.” Tudo indica que na cultura indigena se desenvolvera, muito
mais do que entre nés, uma consciéncia a respeito dos atos de ouvir
e de ver, no sentido de que, embora partam das mesmas concep-
(cbes primarias de percepcio auditiva e visual, passaram a englobar,
Fespectivamente, 0s atos de entender e conbecer.*! Ora, esta con-
sot era mace ntn ap neers
secteur tiete eat cose ad mre
cepa tare a ‘.
chr acs Be ce te et
Ubid., pe. 79.)
30 A™MUSICA COMO LINGUAGEM
ceituagao torna evidente que as praticas musicais aunca poderiam
reduzir-se a meras manifestacbes esponténeas, mas teriam que se-
‘guir por um complexo caminho onde se viabilizasse o ato de comu-
nicar socialmente a compreensdo de toda uma ideologia que se en-
contra na base da estrutura gentilica
A civilizagado
A passagem da barbaric a civilizagdo deve-se ao fato de que, a
partic de um determinado estagio da evolucao, as forgas produtivas
haviam atingido um ponto em que a sociedade jé ndo encontrava
seu necessdrio apoio na antiga estrutura gentilica, Varios fatores
novos tinham surgido, para cuja sucinta abordagem nos baseamos
aqui principalmente em Gordon Childe.”
1) A evolucao das forcas produtivas durante o periodo da bar-
barie** favorecera de tal forma a dominacao da natureza que a
crescente possibilidade de sobrevivéncia do homem, através da sa-
tisfagao cada vez mais facil de suas necessidades imediatamente vi-
tais, tivera como decorréncia um consideravel crescimento dos
Hiicleos sociais existentes. Embora uma gens, na medida em que se
tornava excessivo o mimero de seus membros, normalmente se
cindia em varios micleos, o crescimento acabava por assumir tais
proporcbes que a tendéncia agora jé era a substituicdo das aldeias
por cidades, 0 que implicava na transformacao de uma vida ainda
tipicamente rural em uma vida urbana. Ora, é evidente, j em
termos demograficos, que um dos pressupostos basicos da organi:
zagao gentilica, que era a sua unig fandamentada na consangi
nidade de seus membros, nao poderia ser mantida. E exatamente
devido a importéncia que se atribui a essa formacao de cidades que
se qualifica, de acordo com Gordon Childe, a passagem da bat-
barie & civilizacao como revolugdo urbana."
2) O aumento da produtividade, como conseqéncia evidente
da evolucao das forcas produtivas, veio a dar origem aum excedente
de producao cada vez maior, excedente este que agora se tornava
necessario nao apenas para a acumulacdo de um estoque a ser con-
sumido em periodos de escassez, mas principalmente para possibi-
32. Op. ct.
33, **O homem aprendew a usar a forga do boi e dos ventos, inventou o acado, 0
carro de rodes eo barco a vela, descobriu os procestox quimicos da fundigdo dos mi
nnérios eas propriedades fisicas dos metais, e comegou & desenvolver ui calendario
solar aperfeigoado'". ([bid., pg. 111.)
34. Ibid. pes. Lide segs.
ESTADO SELVAGEM, BARBARIE E CIVILIZACAO 31
litar que certos membros da comunidade se dedicassem com exclu-
sividade a atividades especificas, atendendo a interesses coletivos,
atividades estas que hoje qualificamos como obras publicas.** Isto
viera exigir novas formas de divisao social do trabalho, as quais,
dificilmente poderiam ser desenvolvidas no ambito da estrutura
social gentilica, a
3) E evidente que a evolucdo das forcas produtivas implicava
também o desenvolvimento da industria artesanal. Esta industria,
entretanto, viera exigir alguma forma de sistema regular de abas-
tecimento ‘das matérias-primas. Teriam que organizar-se, por-
tanto, as atividades envolvidas no comércio e no transporte.** E,
como bem observa Gordon Childe, “dentro em pouco havia neces-
sidade de soldados para proteger os comboios e apoiar os merca-
dores pela forca, escribas para manter registros de transacbes que
se tornavam cada vez mais complexas, e funciondrios para con-
ciliar interesses em choque’’.*” Ora, é evidente que tais necessi-
dades ja ndo podiam ser atendidas sem que se criassem dispositivos
inteiramente novos e incompativeis com a organizacao da antiga
wen) A crescente divisio social do trabalho, que resultava de uma
diversificagao cada vez maior das atividades, viera implicar nao so-
mente um complexo conjunto de camadas sociais, ocupadas em
trabalhos especificos e diversificados, caracterizados por interesses
também especificos e muitas vezes contraditorios, mas sobretudo
35. Na resito do Nilo, “os pantanos tinham de ser drenados, a violencia das
sagas de ches tina de ser contolad, a lorests inham de ser sbetas © 08a
Sa oes swam aha der atria, A era shes il
andes cidades da Bablloniasurgitiam tinha;Uieralmente, de er criads, A tena-
Ecdade com a qual slembranca dese ts persistia na tad ¢ indo do exforeo
‘ge ela exini dor antigo sumerianos. E,4 medida que a obras progtivas da 2.
ttunidade se tornavam ais ambicisas, tmbem sumeatava a necessdade de um
‘toque acumlado de excodeate de alimentos, Essa acumlagto era condi pels
tinar para o crescimento da aldeia at transformarse em cidade, conguistando
fovos teritsroe & sta volts, que antes ertm péntanose deserts” (bid pes. 112
Se a ocomércio nose limitava ds matérias-primas. As cidades da Sumési
smantiaham rlagdes comecisis com outras, no Nilo c Indo, As mercadorias manu
faturadas peas Inddsrias espeializadas Je’ centro urbano eram vendias 10s
bazares de outto™. (bt. pg 130.)
37. Toi. pgs. 143-44,
38. "Nos pontes terminals eas estagbes intermediris, as caravanas € os
barcos mercantts deviem fazer paras prolongades. Representantes do pas expor
tudor, provavelmentecoloizadores devia ceceber« mercadoria em seu destino ©
dgenciar uma carga pera se teansportads na volta, ssistindo,nesse melo tempo,
‘aintes. Tal como ind colnins permanente de comerciantes brittnicos no Por,
Istembule Xange, asim podemos imaginarcoldmas de comerciantesindianos em
Ure ish" (bid pes. 50°51)
Você também pode gostar
- PLUTARCO. Vidas Paralelas - Teseu e RômuloDocumento171 páginasPLUTARCO. Vidas Paralelas - Teseu e Rômulowandersonudia100% (1)
- 10 Mandamentos Da Esquerda Crista, Os - Michael J. KrugerDocumento51 páginas10 Mandamentos Da Esquerda Crista, Os - Michael J. KrugerClaudemiro costa100% (2)
- Leonid Andreiev - Os Russos Antigos e ModernosDocumento91 páginasLeonid Andreiev - Os Russos Antigos e ModernosClaudemiro costaAinda não há avaliações
- Leonid Andreiev - Os Espectros (1958)Documento52 páginasLeonid Andreiev - Os Espectros (1958)Claudemiro costaAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Matrizes Do PensamentoDocumento2 páginasFICHAMENTO Matrizes Do PensamentoClaudemiro costa100% (1)
- Da Natureza Anfibológica Do SímboloDocumento21 páginasDa Natureza Anfibológica Do SímboloClaudemiro costaAinda não há avaliações
- A Dignidade Da Política - Hannah ArendtDocumento191 páginasA Dignidade Da Política - Hannah ArendtClaudemiro costaAinda não há avaliações