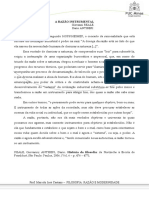Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Educacao-Veloso
Educacao-Veloso
Enviado por
Victor Brandão0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações19 páginasTítulo original
338945_Educacao-Veloso
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações19 páginasEducacao-Veloso
Educacao-Veloso
Enviado por
Victor BrandãoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 19
A Escassez de Educac&o
Sergio Guimaraes Ferreira
Fernando A. Veloso
Introdugio
Ao longo do século XX, o Brasil experimentou forte crescimento econdmico.
Em particular, na segunda metade do século, o pafs cresceu a um ritmo acelera-
do até fins da década de 1970, e a partir de entdo a economia entrou em um
periodo de quase estagnac4o. Durante o periodo de expressivo crescimento eco-
némico, a desigualdade de rendimentos aumentou fortemente. Desse periodo,
duas caracteristicas marcantes foram herdadas ¢ distinguem 0 Brasil dos demais
paises do globo: a baixa escolaridade média da forga de trabalho, comparada a
paises em estagio de desenvolvimento semelhante, ¢ a clevada desigualdade de
renda.
O objetivo deste capitulo € descrever o quadro educacional brasileiro ¢ suas
implicag6es para a desigualdade de renda e para o crescimento econdmico. Este
capitulo se divide em cinco segdes além desta, Na segunda segao, é feita uma
descrigado dos principais indicadores educacionais do Brasil, como a taxa de analfa-
betismo, a escolaridade média e a composigdo educacional da populagao. Na ter-
ceita segdo, estuda-se o impacto da educagao sobre a distribuigao de renda e a
desigualdade de oportunidades no Brasil. A quarta segdo trata da importancia da
educagio para o crescimento econdmico, A quinta segao discute o papel da polfti-
ca educacional. A sexta segao resume as principais conclusées c apresenta algumas
consideragées finais.
- A Tscassez de Educagdo = 379
————$.—— ue _ §£ ae==rruee—
ALSEVIER
Indicadores Educacionais do Brasil
Nesta segao, faremos uma descrigdo dos principais indicadores educacionais
do Brasil. Inicialmente, é feita uma comparagao internacional, para colocar 0 qua-
dro educacional brasileiro em perspectiva. Em seguida, é apresentada uma descri-
a0 suméaria da evolug4o dos principais indicadores educacionais para o Brasil nas
Ultimas décadas,
Comparag&o com a Evidéncia Internacional
Um indicador basico do nivel educacional do pais é a taxa de analfabetismo da
populagao com 15 anos ou mais de idade. Em 2000, o Brasil tinha uma taxa de
analfabetismo de 13,6%.' Essa taxa é elevada néo somente em relacio aos niveis
de analfabetismo de paises desenvolvidos, mas também em relacdo a paises em
desenvolvimento. Por exemplo, Argentina Chile apresentam, para o mesmo ano,
taxas de analfabetismo de apenas 3,2% ¢ 4,2%, respectivamente. A taxa de analfa-
betismo no Brasil também € superior 4 da Colémbia ¢ 4 do México (8,4% € 8,8%,
respectivamente) e é um pouco menor que a da Africa do Sul (14,8%).
Embora seja um indicador importante de escolarizagao bdsica, a taxa de anal-
fabetismo fornece uma descrigo incompleta do grau de qualificagio da populagdo
ou da fora de trabalho. Com esse objetivo, a Tabela 15.1 apresenta diversos indi-
cadores de composigao educacional ¢ nivel de escolaridade média da populacio
com 15 anos ou mais de idade para o Brasil, comparando-os com os indicadores
correspondentes de pafses desenvolvidos e em desenvolvimento.
A Tabela 15.1 mostra que a maior parcela da populacdo com 15 anos ou mais
de idade no Brasil tem no mdximo o Ensino Fundamental completo (78,2%),
sendo que apenas 14,4% completaram algum ano do Ensino Médio.? A parcela
que cursou (sem necessariamente completar) o Ensino Superior € ainda menor,
correspondendo a apenas 7,5% da populagdo com 15 anos ou mais de idade. A
média de anos de estudo no Brasil € de apenas 4,9 anos. Esse nfvel de escolari-
dade é baixo nao somente em relagdo ao observado em paises desenvolvidos,
mas também em relagdo a pafses em desenvolvimento, como Argentina, Chile e
Costa Rica.
Em resumo, a evidéncia empirica mostra que o nivel educacional da popu-
lagdo no Brasil é baixo em relagao ao de paises desenvolvidos e paises com
nivel de desenvolvimento semelhante ao Brasil. A seguir, descreveremos como
tém evoluido os principais indicadores educacionais no Brasil ao longo das Gl-
timas décadas.
Tabela 15.1
Compasigao Educacional e Escolaridade Média da Populagdo
de 15 Anos ou Mais
Idade em Paises Selecionados — 2000
Fonts: Barro @ Leo (2000),
Obs.: Acategoria “sem eseotaridade” corresponde a mencs de um anode estudo. A categoria “Ensino Fundamental" corresponde
a algum ano cursado no Ensino Fundamental, mas nenhum ano cursado no Ensino Médio. A categoria “Ensino Médio"
corresponde @ algum ano cursado no Ensino Médio, mas nenhum ano cursada no Ensino Superior. A categoria *Ensino
Supsrior” corresponde a algum ano cursado ne Ensino Superior. Os niveis de Ensino Fundamental, Médio Suparior no Brasit
Sorrespondem, respectivamente, aos nivois primétio, secunddrioe tercidrio nas classiticagoes internacionals
Evolu¢ao dos Principais Indicadores
Educacionais no Brasil
A taxa de analfabetismo no Brasil reduziu-se consideravelmente entre 1920¢
2000. Particularmente, de 1950 a 2000, a taxa caiu de 50,5% para 13,6% da popu-
lagdo com 15 anos ou mais de idade, com uma reducao média de 7% por década.
Conforme mencionamos anteriormente, a taxa de analfabetismo éum indica-
dor basico de escolarizagao, mas nao fornece uma descrigdo precisa do nfvel de
qualificagdo da populagao. Nesse sentido, 0 Gréfico 15.1 mostra a evolugdo da
escolaridade média da populago com 15 anos ou mais de idade no Brasil entre
a a
ELSEVIER
1960 ¢ 2000. O grafico também mostra a evolugdo da escolaridade média em al-
guns paises selecionados da América Latina, para colocar a evolugao da escolarida-
de no Brasil em perspectiva.
Como mostra 0 Grafico 15.1, a escolaridade média da populagao com 15 anos
ou mais de idade no Brasil permaneceu relativamente constante entre 1960 €
1980. No entanto, a partir de 1980, ocorreu um aumento expressivo do nivel edu-
cacional no Brasil, tendo a escolaridade média se elevado de 3,1 anos de estudo
m 1980 para 4,9 anos de estudo em 2000. O grifico também mostra, no entanto,
que paises de renda per capita similar a brasileira, como Argentina ¢ Chile, tam-
bém experimentaram aumentos expressivos de escolaridade, 0 que implicou que
a distancia de escolaridade do Brasil em relagao a esses paises se clevasse ao longo
do periodo. Por exemplo, em 1960, o Brasil tinha um nivel de escolaridade pouco
acima do abservado no México. No entanto, em 2000, a escolaridade média no
México era de 7,2 anos de estudo.
Para fazermos uma andlise mais detalhada da evolugao educacional no Brasil
nas Gltimas décadas, apresentamos na Tabela 15.2 a evolugdo da composicio edu-
cacional da populagaéo com 15 anos ou mais de idade entre 1960 € 2000.
Grafico 15.1
Evolugdo da Escol: le Média no Brasil e
Paises Selecionados da América Latina, 1960-2000
50
?
a
i
§
i
{
20
1080 865 4970 1975. 1880 1990 1995 2000
Fonte: Barro Lee (2000)
$82 Economia Brasileira Contemporanea: 1948-2004 ELSEVIER
Tabela 15.2
Evolugao da Composigao Educacional da Populagdo
com 15 Anos ou Mais de Idade no Brasil — 1960-2000
Fonte: Barro @ Lee (2000) .
A Tabcla 15.2 mostra que, em 1960, quase 50% da populagao com 15 anos ou
mais de idade no Brasil tinha menos de um ano de estudo (sem escolaridade).
Essa proporgao declinou continuamente ao longo do periodo, correspondendo a
16% da populagao em 2000. A tabela mostra que, entre 1960 € 1975, verificou-se
uma queda expressiva dessa parcela, de mais de 20 pontos percentuais, observan-
do-se quedas menores de 1975 em diante.
A Tabela 15.2 também mostra um aumento expressivo da parcela da popula-
¢do com algum ano cursado no Ensino Fundamental, aumentos menores na fragdo
de individuos com alguma série cursada no Ensino Médio ou Superior. Em parti-
cular, embora a fragdo de pessoas com algum Ensino Superior tenha se clevado de
1,8% para 7,5% entre 1960 e 2000, a fragdio de pessoas com algum Ensino Médio
em 2000 (14,49) era praticamente igual ao valor observado em 1960, a despeito
de flutuagdes ao longo do periodo.
Durante a década de 1990, continuou a verificar-se uma expansio significativa
do Ensino Fundamental no Brasil. Um indicador educacional importante é a taxa
de freqiiéncia, ou taxa de atendimento, que mostra a proporgdo de pessoas em
determinada faixa etéria que estéo sendo atendidas pela rede escolar. Para crian-
gas entre sete c 14anos, essa taxa de freqiiéncia era de 89% em 1991, e aumentou
= iia ate
ELSEVIER
para 96% em 2000, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos ¢ Pesquisas
Educacionais Anisio Teixeira (INEP), 0 que configura algo préximo de uma
universalizagao do Ensino Fundamental.
Embora 0 avango do Ensino Fundamental tenha sido importante, a principal
caracteristica da década de 1990, sob o ponto de vista educacional, foi a grande
expansdo do Ensino Médio. De fato, entre 1990 2000, a matricula no Ensino
Médio mais do que dobrou, elevando-se de 3,5 milhdes de alunos para aproxima-
damente 8,2 milhdes. Isso representou uma elevagao da taxa de matricula bruta
do Ensino Médio de 41% em 1991 para 77% em 2000.5
Outra caracteristica marcante da década de 1990 foi o grande aumento no
ndmero de matriculas no Ensino Superior. Entre 1980 ¢ 1990 ocorreu um aumen-
tode 162,7 mil matriculas naquele nivel, correspondendo a uma expansao de ape-
nas 12%, Em contrapartida, entre 1990 e 2000 houve um aumento de 1,154 mi-
|hao de matriculas naquele nivel, correspondendo a um crescimento de 75%.
Como se vé, ocorreu uma significativa expansao educacional na década de 1990
nos diversos niveis de ensino. Entretanto, tanto a distorgaio série-idade quanto a
baixa qualidade do aprendizado permanecem como desafios a serem superados
pela politica educacional. Por exemplo, a idade mediana de conclusao do Ensino
Fundamental em 2000 era de 15 anas no Brasil (um ano de defasagem), sendo de
17 anos no Nordeste (trés anos de defasagem, portanto). Além disso, 44% dos
estudantes concluintes do Ensino Fundamental fazem-no fora da idade corres-
pondente a esse nivel de ensino, sendo essa proporcao de 66% no Nordeste.
Em relagao a qualidade do ensino, os resultados do Sistema Nacional de Ava-
liagdo da Edueagio Basica (SAEB)® mostram uma queda no desempenho escolar
dos alunos do Ensino Fundamental e Médio matriculados na rede Publica entre
1995 ¢ 2001.’ Esse padrao é verificado para todas as séries avaliadas ¢ em todas as
regides,®
Educagdo, Desigualdade de Renda
e Desigualdade de Oportunidades
Esta segao apresenta os resultados da literatura que relaciona educagao ¢ desi-
gualdade. Inicialmente, apresenta-se um quadro geral da desigualdade de renda
do trabalho no Brasil ¢ seu comportamento nas tltimas décadas. Em seguida, do-
cumenta-se a importincia da educagao para a elevada desigualdade de rendimen-
tos no Brasil. Sao apresentadas evidéncias empiricas de que a educagao afeta a
desigualdade de renda no Brasil por dois motivos. Uma razio € a elevada desigual-
dade educacional da forga de trabalho. A segunda raziio € o fato de ‘que a taxa de
retorno a educagao no pafs, ou seja, o aumento de saldrio resultante de um ano
384 Bconomia Brasileira Contemporanea: 19459-2004 ELSEVIER
adicional de estudo, é bastante elevada.’ A seco se encerra com uma discussao de
um aspecto importante da desigualdade, dado pela desigualdade de oportunida-
des. Em particular, sio apresentadas evidéncias que mostram a importancia do
ambiente familiar na determinagio do nivel de escolaridade dos filhos. Dessa for-
ma, temos um quadro em que a desigualdade educacional no Brasil ¢ ndo somente
elevada, mas transmitida de pai para filho.
Quadro Geral
O Brasil é um dos paises mais desiguais do mundo. Uma medida bastante
utilizada de desigualdade é a razdo entre o saldrio ganho por hora trabalhada entre
dois trabalhadores situados exatamente no nonagésimo € no décimo percentil da
distribuigdo de rendimentos.'?
A Tabela 15.3 apresenta essa estatistica para o Brasil e paises desenvolvidos
que fazem parte da OCDE (Organizacao para a Cooperagio ¢ Desenvolvimento
Econémico). A tabela mostra que, primeiro, a diferenga salarial entre aqueles dois
individuos € muito maior no Brasil do que nos demais paises da amostra. Por exem-
plo, em 1994 um individuo cujo salario era maior que o de 90% dos trabalhadores
recebia um saldrio 10 vezes maior que o de um trabalhador cujo saldrio era menor
que o de 90% dos trabalhadores no Brasil.!! Para os Estados Unidos, o valor corres-
pondente é de quatro vezes, 0 que 0 caracteriza como o segundo pais mais desi-
gual da amostra.
Segundo, a desigualdade no Brasi! aumentou na segunda metade da década de
1980, voltando nos anos 90 aos niveis jf bastante elevados da década de 1970. Ou
seja, pode-se dizer que existe uma inércia da clevada desigualdade no Brasil.
A desigualdade de renda nem sempre foi tao elevada no Brasil, mas ela aumen-
tou substancialmente na década de 1960. Esse movimento motivou um debate
entre duas correntes de pensamento. Langoni" destacava a importdncia de fato-
res estruturais associados ao processo de desenvolvimento econémice. Em parti-
cular, o autor argumentava que um fator importante para o aumento da desigual-
dade de renda no perfodo foi uma elevagdo da taxa de retorno 4 educacao para os
trabalhadores mais qualificados, resultante da adogao de novas tecnologias asso-
ciada ao crescimento econémico da economia brasileira.
A segunda corrente também identificava a importancia da educago para a
determinagao dos rendimentos do trabalho, mas enfatizava 0 papel da politica
econémica e mecanismos institucionais préprios ao mercado de trabalho, princi-
palmente regras salariais, para explicar o aumento da desigualdade."*
Aexperiéncia posterior reforgou o argumento de que desigualdades prévias ao
mercado de trabalho, particularmente em relagao ao acmulo de capital humano
= ——
Tabela 15.3
Evolugdo da Desigualdade Salarial em Palses Selecionados — 1979-1994
Fonte: Elaborapdo prépria para o Brasil com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD) @
OCDE (1998) para os demals paises.
Obs: Amostra de homens trabathando 40 horas, com exce¢do de Itélia, Japdo e Brasil, para os quais se incivem
trabathadores em tempo parcial (20 ou mais horas),
(educagao), eram os principais determinantes nao s6 da clevada desigualdade de
rendimentos brasileira em relagao aos paises desenvolvidos, mas também da evo-
lugdo da mesma ao longo do tempo."
Em fungao disso, uma enorme literatura se desenvolveu a0 longo das décadas
de 1980 e 1990 com 0 objetivo de medir 0 impacto na distribuigdo de rendimentos
das caracteristicas inatas e/ou adquiridas previamente ao ingresso do individu no
mercado de trabalho. A disponibilidade de uma pesquisa anual de amostras domi-
ciliares, além de questiondrios especiais sobre migracdo e mobilidade de educa-
¢ao, dentre outros temas, contribufram significativamente para o desenvolvimen-
to do tépico no Brasil."°
A Importancia da Educag&o para a Desigualdade de Renda
O papel da educagio € crucial para entendermos a clevada desigualdade de
rendimentos no Brasil. Diversos estudos mostram que diferengas educacionais
explicam entre 30% e 50% da desigualdade de renda salarial no Brasil..” Por exem-
plo, Barros ef a/,'* calculam o impacto de diferengas de escolaridade sobre o sald-
rio, mantendo todas as demais caracteristicas constantes, e mostram que diferen-
gas educacionais explicam 39,5% da variacdo salarial.
Comparagées internacionais apontam para a maior importancia da educacdo
no Brasil para a desigualdade de renda que em paises desenvolvidos e paises no
mesmo est4gio de desenvolvimento. Por exemplo, Lam ¢ Levinson” mostram .
que a educagao explica uma parcela maior da desigualdade salarial no Brasil que
nos Estados Unidos. Em particular, ela explica uma fragdo entre 34% e 48% da
386 Zoonomia Brasileira Contempordnea: 1945-2004 ELSEVIER
— Omi
‘desigualdade de saldrios no Brasil, dependendo da faixa et4ria dos individuos, en-
quanto os valores correspondentes para os Estados Unidos variam entre 3% € 16%
para as mesmas faixas etdrias.
Por que a distribuigao de escolaridade é mais importante no Brasil do que em
outros paises para explicar a desigualdade de renda? Uma razdo pode ser uma
desigualdade educacional mais elevada no Brasil que cm outros paises. Um segun-
do fator importante seria uma taxa de retorno A educagdo mais elevada no Brasil,
ou seja, um aumento maior do salério decorrente de um ano a mais de estudo. Na
realidade, este elevado poder explicativo da educagdo para o Brasil comparado ao
caso norte-americano parece dever-se 4 combinagao de ambos os fatores: uma ele-
vada desigualdade educacional e prémios & escolaridade elevados para padrocs
internacionais,
Bourguignoneral.” mostram que o fato de o Brasil ter uma distribuigao educa-
cional muito desigual explica metade da diferenga no grau de desigualdade (me-
dido pelo indice de Gini) entre o Brasil e os Estados Unidos. Se o Brasil tivesse
nao somente a mesma distribuigao educacional, mas também a mesma estrutura
de retornos A educagio dos Estados Unidos, a diferenga de desigualdade entre
Brasil ¢ Estados Unidos se reduziria em dois tergos.
A Desigualdade Educacional e o Elevado Prémio a Escolaridade
Mesmo comparada com paises em desenvolvimento, a desigualdade educacio-
nal brasileira é alta. Ram*! apresenta essa estatistica para 20 paises, dentre os
quais varios paises em desenvolvimento, ¢ mostra que o Brasil est4 em terceiro
lugar no ranking de desigualdade educacional. Contudo, embora a desigualdade
educacional brasileira seja extremamente clevada, ela € consistente com a baixa
escolaridade média da forga de trabalho documentada na segao anterior”
O prémio 4 escolaridade também € muito elevado no Brasil. Estimativas mais
recentes utilizando microdados de pesquisas familiares para 71 paises,”> colocam
o Brasil em nono lugar no ranking de prémios a escolaridade. Em média, um anoa
mais de escolaridade no Brasil aumenta o saldrio em cerca de 15%. Nos Estados
Unidos, a taxa de retorno a educagao é de cerca de 10%.
Menezes-Filho ef a/* mostram que o maior diferencial de saldrio se dé na
comparagdo entre trabalhadores com Ensino Superior completo € trabalhadores
com Ensino Médio completo. Taxas de retorno extremamente elevadas também
sao obtidas a partir da diferenga entre trabalhadores com quarta série completa do
Ensino Fundamental, em relagao aqueles individuos sem escolaridade. Diferen-
gas salariais menores sio obtidas por aqueles que terminam o segundo ciclo (em
= A Escassez de Educagio 387
ELSEVIER
relagdo aos que terminam apenas o primeiro ciclo) do Fundamental; ¢ por aqueles
que completam o Ensino Médio, em relagao aos que tém apenas a oitava série do
Ensino Fundamental.
Adicionalmente, o prémio 4 escolaridade médio vem caindo nos tltimos 20
anos.” Em particular, a taxa de retorno 4 educagdo vem declinando ao longo do
tempo para todos os grupos, exccto para os mais qualificados, ¢ ocorre com mais
intensidade no caso do prémio a escolaridade pelo primeiro ciclo do Ensino Fun-
damental (saldrio de trabalhadores com quarta série completa, comparado com
trabalhadores sem escolaridade).
Tanto o nivel quanto a evolucdo desses retornos ao longo do tempo dependem
da interagao entre oferta e demanda por cada grau de qualificagdo, mas a identifi-
cacao econométrica desses efeitos é dificil. Alguns autores atribuem papel impor-
tante ao comportamento da oferta relativa de trabalhadores qualificados no mer-
cado de trabalho. Ferreira®* mostra que a elevagao do retorno a escolaridade de
nivel superior resulta em parte da escassez relativa de trabalhadores qualificados
em face a uma demanda crescente por qualificagéo. O autor observa que um au-
mento de 10% na oferta relativa de trabalhadores com Ensino Superior reduziria o
prémio 4 universidade em cerca de 5,5%.
Outros pesquisadores, como Fernandes e Menezes-Filho,” enfatizam o pa-
pel da demanda por trabalhadores qualificados, que teria se intensificado na
década de 1990. A queda continua do prémio a escolaridade pelo Ensino Funda-
mental revela, por exemplo, uma redugao da demanda por esse tipo de mao-de-
obra, que sofre concorréncia do creseente contingente de pessoas com Ensino
Médio completo.
Mobilidade Educacional e Desigualdade de Oportunidades
Como vimos anteriormente, existe uma significativa desigualdade educacio-
nal, é a mesma tem efeito direto no mercado de trabalho, através de seu impacto
na remuneragao dos trabalhadores. Uma pergunta que se pode fazer é: ser que as
pessoas com baixa escolaridade hoje viviam em familias cujos chefes também eram
os de menor escolaridade em sua geragio?
Ferreira ¢ Veloso™® mostram que a probabilidade de um filho de pai analfabeto
também ser analfabeto € de 31,9%, ¢ a probabilidade deste ter no maximo dois
anos de escolaridade é de mais de 50%. Gomo mostra a Tabela 15.4, essas probabi-
lidades caem dramaticamente 4 medida que a educagdo do pai aumenta, e sio
praticamente nulas para filhos de pais com Ensino Superior completo. De um
modo geral, observa-se a dificuldade para superar a barreira da quarta série do
Ensino Fundamental para filhos cujos pais tem menos de quatro anos de estudo.”
388 = Koonomia Brasileira Contemporanea: 1945-2004 ELSEVIER
Outro dado que evidencia o baixo grau de mobilidade educacional no Brasil €
que, enquanto o filho de um pai analfabeto tem apenas 0,6% de chance de con-
cluir o Ensino Superior (15 anos ou mais de estudo), essa probabilidade cresce
continuamente com a escolaridade do pai, chegando a 60% no caso do filho de um
pai com Ensino Superior completo. Por ultimo, observa-se pela Tabela 15.4 que
existe uma barreira de acesso ao Ensino Superior, pois a mediana condicional € a
mesma (11 anos de escolaridade) para filhos de pais com escolaridade entre oito ¢
11 anos de estudo. Em geral, nota-se que a mediana de anos de estudo do filho
sobe com os anos de escolaridade do pai.
Tabela 15.4
Distribuigdo da Escolaridade de Homens,
Condicional 4 Escolaridade de seus Pais — 1996 (%)
Eicoiardade da fib,
7s Tosi
vs ei asia 1060
184 “28880 1000
oy oe) 2 7S ita 32 ite 1000
4 18 8 135 60 1000
sr aa os 55 m3 a2 1000
8 os o7 (2a aa 1000
#10 oo oo 43 as as 1000
" 02 oz 12 5185 1099
rose 00 00 ts a7 a7 1090
2s a ns o7 2738 100.0
Fonte: Ferreira ¢ Veloso (2008).
Obs.: As varldvels de escolaridade do pai e do tilho slo categéricas, definidas da seguinte forma. Analtabetos so individuos
sem escolaridade que reportam n&o saber ler e escrever, escolaridade menor do que um ano (0); primeira a terceira série
completa do Ensino Fundamental (1-3); quarta sérle completa do Ensino Fundamental (4); quinta & sétima série completa do
Ensino Fundamental (8-7); Ensino Fundamental completo (8); primeira ou segunda série completa do Ensina Médio (9-10);
Ensino Médio completo (11); Superior Incomplato (12-14); Superior Completa (>=15). As células sombreadas representam a
mediana da distribuig&o educacional dos filhos, condicional 4 escolaridade do pai.
O grau de imobilidade educacional pode ser medido através de um coeficien-
te de persisténcia intergeracional, que capta a relagao entre a educagao do filhoe
do pai. Um valor clevado desse coeficiente € um indicador de baixa mobilidade
educacional (ou elevada imobilidade). Comparagées internacionais deste coefi-
ciente indicam que, do mesmo modo que apresenta clevada desigualdade de ren-
da, o Brasil também est4 entre os paises com menor grau de mobilidade educa-
cional. Ferreira e Veloso” obtém um grau de persisténcia educacional para o Brasil
de 0,68, 0 que significa que 68% da diferenga entre a educagao do pai c a média da
sua geragdo é transmitida para o filho.*'
Embora a mobilidade educacional no Brasil seja baixa, ela tem se elevado en-
tre geragdes. Em particular, Ferreira e Veloso mostram que a persisténcia edu-
A Bscasses de Eduoagio 389
en
cacional ficou relativamente estavel para as geragées nascidas entre 1932 ¢ 1951.
A partir da geragao nascida em 1952, observa-se uma redu cdo expressiva da persis-
téncia, de cerca de 0,80 para 0,52. Esse resultado decorre da tendéncia a
universalizagio do Ensino Fundamental, equalizando oportunidades para uma
parcela substancial da populagdo, formada por filhos de pais com menos de oito
anos de escolaridade. Contudo, filhos de pais com maior escolaridade permane-
cem com probabilidade muito maior de chegarem ao Ensino Superior do que fi-
lhos de pais com menor instrugao.
Educag¢io e Crescimento Econémico
Conforme visto na secao anterior, um aumento da educagio gera uma elevagiio
do nivel salarial dos individuos. Nesta secdo, avaliaremos se a associagao positiva
entre educacio (capital humano) e renda observada no nfvel microcconémico tam-
bém se verifica no nivel macroeconémico através de uma relagdo positiva entre
educagao e crescimento econdmico. Sao apresentados os principais resultados de
modelos teéricos ¢ evidéncias internacionais que documentam empiricamente
essa relacdo. Em seguida, so mostradas evidéncias sobre a relacdo entre educagao
€ crescimento econémico no Brasil.
Consideracgées Gerais e Evidéncias Internacionais
Diversos modelos obtém uma relagdo positiva entre educagao e crescimento
do produto per capita. Por exemplo, o modelo de Solow, expandido para incorporar
a educagao, prevé que um aumento da taxa de acumulagao de capital humano
eleva o nivel do produto por trabalhador efetivo no estado estacionétio (para uma
exposicao desse modelo, ver Jones**). Como a taxa de crescimento no modelo
depende da distancia da economia em relagao ao estado estacionario, isso gera um
aumento da taxa de crescimento na transigao para a crajetéria de longo prazo.
Além disso, a acumulagao de capital humano estimula a acumulagao de capital
fisico a0 elevar a sua rentabilidade (produtividade marginal do capital).
Lucas™ argumenta que a educagiio nao somente tem um efeito direto no pro-
duto, mas também tem uma externalidade positiva, na medida em que a elevagao
da escolaridade de um trabalhador afeta positivamente a produtividade dos de-
mais trabalhadores. O modelo de Lucas mostra que, nesse caso, a educagao pode
afetar a taxa de crescimento de longo prazo da economia, Outro canal de transmis-
sao da educagao para o crescimento do produto por trabalhador pode ocorrer na
medida em que a educagao facilita a absoreao de novas tecnologias.**
390 © Bconomia Brasileira Contemporfnea: 1846-2004 ELSEVIER
~ Oqueae déncia internacional revela sobre a relagao entre capital humano e
crescimento? Young™ mostra que 0 expressivo crescimento da escolaridade da for-
ade trabalho foi um dos principais determinantes das excepcionais taxas de cres-
cimento dos Tigres Asidticos (Hong Kong, Coréia do Sul, Cingapura ¢ Taiwan).
Estudos recentes mostram um impacto positivo do crescimento do capital
humano na taxa de crescimento econémico.” De forma consistente com os mo-
delos tedricos, a evidéncia empirica mostra que a educagdo pode afetar 0 cresci-
mento econémico de diferentes manciras. Além do impacto direto via aumento
da produtividade do trabalhador, a elevagdo da educagao também est associada a
uma elevagdo da taxa de acumulagio de capital fisico (Benhabib ¢ Spiegel), ¢a
um aumento da taxa de crescimento da produtividade total dos fatores (Klenow
Rodriguez-Clare).”
Alguns autores também mostraram que o nivel de escolaridade da forga de
trabalho (além de sua taxa de crescimento) é um importante fator determinante
do crescimento da renda per capita (Benhabib ¢ Spiegel). Uma razio € que um
nivel mais clevado de escolaridade da forga de trabalho facilita a absorgdo de novas
tecnologias, o que estimula o crescimento econémico.
Easterly" mostra, no entanto, que 0 feito da educagao no crescimento nao é
uniforme entre os paises, existindo diversos exemplos de paises para os quais edu-
cagdo ¢ erescimento esto fortemente associados, mas também paises para os quais
o aumento da escolaridade da forga de trabalho nao teve impacto expressive no
crescimento. Por exemplo, alguns pafses da Africa, como Senegal ¢ Gana, tiveram
entre 1965 e 1985 taxas elevadas de crescimento da escolaridade da forga de tra-
balho € queda da renda per capita. Por outro lado, outro pafs africano, Botswana,
teve no mesmo periodo taxas expressivas de crescimento tanto da escolaridade
como da renda per capita.
Nesse sentido, Easterly? argumenta que, para maximizar o efeito da educa-
gio sobre o crescimento, é necessdrio que a expansdo educacional seja acompa-
nhada por investimentos na qualidade do ensino. Além disso, é importante que a
economia fornega os incentives corretos para que as qualificagdes dos trabalhado-
res sejam utilizadas de forma socialmente eficiente.
Evidéncias para o Brasil
Poucos cstudos analisaram empiricamente a relagdo entre educagao e cresci-
mento no Brasil (para uma resenha recente sobre a relagao entre educagao € cres-
cimento no Brasil, ver Bonelli). Banco Mundial faz uma decomposigao de cresci-
mento do PIB com 0 objetivo de quantificar a importancia do capital fisico, capital
A Escassez de Rducagao 394
tte
humano, trabalho e produtividade total dos fatores para o erescimento do produto
agregado. Os resultados desse estudo indicam uma grande importancia do capital
humano para o crescimento do PIB no Brasil. Particularmente, mudangas do esto-
que de capital fisico tiveram efeitos mais fracos do que mudangas no estoque de
capital humano no periodo de 1960-2000, exceto na década de 1970.
O estudo do Banco Mundial também observa um aumento da importancia do
capital humano para o crescimento econémico nas tiltimas duas décadas do século
passado. Esse resultado é compativel com o observado na segunda secio pois,
come visto, a taxa de crescimento do estoque de capital humano aumentou subs-
tancialmente nesse periodo. Uma outra razao que explica.aimportancia da educa-
fo para o crescimento é que esse fator de producdo esta sujeito a retornos margi-
nais decrescentes. Em face da escassez relativa de capital humano, a produtivida-
de marginal desse fator € extremamente elevada no Brasil €, assim, pequenas adi-
Goes ao estoque tém grande efcito sobre o PIB. Logo, no caso brasileiro, existe
sintonia entre os valores do prémio A escolaridade individuais c os efeitos
macroeconémicos de aumentos no estoque de capital humano,
Embora 0 PIB seja um indicador macroecondmico importante, o produto per
capita ou por trabalhador fornece.uma medida mais precisa do nivel de bem-estar
da populagao. Em face disto, Gomes et a/."° procuraram quantificar a importancia
do capital fisico, do capital humano e da produtividade total dos fatores para o
crescimento do produto por trabalhador no Brasil entre 1950 ¢ 2000. Seus resulta-
dos mostram que o capital humano explica uma parcela significativa do cresci-
mento do produto por trabalhador entre 1950 e 2000. Os autores também verifi-
cam que a importancia da educagao para o crescimento no Brasil tem se elevado
nas Ultimas duas décadas, especialmente na década de 1990,
Politica Educacional: Justificativas
para Intervengdo e Implementagdo
A Constituigdo de 1988 define atribuigdes e garante receitas para a execugio
de politicas publicas educacionais. Esta segao apresenta justificativas para a inter-
vengio governamental no “mercado” de educacao e os Prineipios que o formato
dos programas piiblicos deve respeitar.
Justificativas para Politicas Educacionais
A interferéncia governamental na alocacdo de recursos da economia pode ser
justificada quando, por falhas de mercado, a provisdo privada € socialmente
392 Boonomia Brasileira Contemporanea: 1945-2004 ELSEVIER,
=“ eee
\
ineficiente ou quando, mesmo sendo eficicnte, o mercado nao é capaz de garantir
uma provisdo minima socialmente desejavel a cada individuo.
Como vimos, a desigualdade educacional é muito elevada no Brasil, ¢ existe
um enorme contingente de pessoas com capital humano insuficiente, apesar de
ser uma obrigagao constitucional do Estado prover aos seus cidaddos o bem educa-
cional. Educagio, assim, € um bem essencial de acordo com as normas constitu-
cionais, e essa seria uma justificativa para a intervencdo governamental, a luz do
princfpio de eqilidade.
Uma razio importante para falhas de mercado influenciarem as decisées pri-
vadas de investimento em capital humano se deve 4 potencial existéncia de
externalidades positivas da educagao. A presenga de externalidades é uma justifi-
cativa para a participagao governamental na decisdo de alocagio de recursos em
educaco, na medida em que pessoas nao levariam em consideragio tais efeitos ao
decidirem investir um ano a mais em educagio.
Um individuo com maior escolaridade exerce com maior plenitude a sua cida-
dania. Existem estudos que mostram a forte correlagdo entre participagao politica
e nivel de escolaridade. Esse individuo também é menos propenso a cometer cri-
mes violentos ¢, assim, contribui de forma positiva para a harmonia social. Tam-
bém existem evidéncias de que a produtividade do capital humano de um traba-
Jhador aumenta se este interage com outros trabalhadores mais qualificados.*
A terceira segao mostrou que, no Brasil, a educagao de um filho é fortemente
determinada pelo grau de escolaridade do pai. Uma vez que a escolaridade do pai
é fortemente correlacionada com a sua renda (e riqueza), daf resulta que estas
Gltimas sao importantes para determinar quantos anos um individuo ficard na es-
cola. Esse quadro, além de injusto, dificulta escolhas de capital humano mais efi-
cientes do ponto de vista social.”
Implementagao: Fornecendo os Incentivos Corretos
Politicas pablicas bem desenhadas devem sempre incorporar a reagao dos agen-
tes as mesmas. As decisdes de investimento na propria educagdo dependem dos
retornos do capital humano investido, dos retornos alternativos do capital fisico,
da tributagdo sobre os rendimentos do capital humano e da estrutura de preferén-
cias por aquisi¢ao de conhecimentos de cada individuo. Politicas educacionais que
queiram reduzir a taxa de evasiio ou aumentar o esforgo do aluno na aquisigao de
conhecimentos (reforgo da qualidade) devem alterar a estrutura de incentivos
existente.
O retorno liquido do capital humano, por sua vez, € positivamente afetado
pela diferenga salarial dada por mais anos de estudo, ¢ negativamente pelos custos
= A Eocassez de Edusagdo 393
ELSEVIER
diretos assaciados a escola (compra de livros, Ppagamento de mensalidade escolar,
custos de deslocamentos até a escola etc.).
Uma forma ébvia de incentivar a freqiiéncia na escola é através do subsidio ao
custo direto de estudar. Programas de trans; porte gratuito de estudantes, por exem-
plo, reduzem tais custos. ‘Também a proviso gratuita de ensino, através de esco-
las pGblicas de Ensino Fundamental (como na maior parte dos paises do mundo)
ou de bolsas de estudo, reduz substancialmente os custos diretos de estudar mais
um ano para individuos que tém acesso a tais programas.
A qualidade da educagao recebida afeta de maneira decisiva a permanéncia na
escola, na medida em que aumenta o retorno prospectivo do investimento de um
anoa mais de estudo. Se a qualidade for muito baixa, o diferencial de salario resul-
tante de mais anos de estudo tende a cair. Formas de promogao de qualidade sio:
criagdo de instrumentos de avaliagdo eficientes tanto dos alunos quanto dos pro-
fessores das escolas; capacitagdo profissional do corpo docente; criagao de incenti-
vos A produtividade, embutidos na estrutura de remune: ragdo dos professores;
melhoria do capital fisico e dos demais recursos das escolas: concessio de graus de
liberdade as escolas pablicas na gestdo de seus proprios recursos ¢ definigao da
grade curricular; estimulo 4 competicao entre as escolas Por recursos piblicos,*
dentre outras, Na década de 1990, importantes inovagdes foram feitas, com a cri-
agao do SAEB e do Exame Nacional de Cursos (conhecido como Provao), que
mensuram a qualidade no ensino bdsico € no ensino universitario, respectivamen-
te. Contudo, a mera avaliagao € insuficiente, quando desacompanhada de instru-
mentos indutores de melhoria de qualidade.
Por Ultimo, em alguns casos, a insuficiéncia de renda impede um individuo de
comparar retornos prospectivos de estudar ou abandonar a escola e trabalhar. Quan-
do a auséncia de mecanismos de suplementagdo de renda o impede de continuar
estudando, mesmo que seja a decisio cficiente do ponto de vista individual, 0
nivel de escolaridade “escolhido” pelo individuo sera fungao da rendae da riqueza
familiar. O elevado retorno a escolaridade do primeiro ciclo do Ensino Fundamen-
tal no Brasil, observado na terceira segdo, indica que individuos que nao comple-
tam sequer esse nivel de escolaridade estao impossibilitados de escolher o melhor
dentre retornos esperados alternativos. Do contrario, teriam optado por terminar
pelo menos a quarta série. Nesse caso, polfticas educacionais devem ser forte-
mente complementadas por programas de renda minima ou, em um nivel mais
clevado de escolarizagao, por programas bem desenhados de crédito educativo.
Na década de 1990, importantes programas de transferéncia condicional de renda
foram criados. Exemplos so o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PET)
¢ 0 Bolsa-Escola, por exemplo.”
394 Boonomia Brasileira Contempordnen: 1945-2004 ELSEVIER
Tmplementag&o: A Questdo da Focalizag4o
No Brasil, a andlise das politicas pablicas de fomento a acumulagao de capital
humano tem sido mais voltada para a questao da focalizagdo, e menos para as
questées de incentivo, A definigao dos critérios de elegibilidade de um programa
Public é crucial na avaliacio de seus impactos sobre a eqiidade e eficiéncia do
Programa. Um programa que seja muito flexivel no critério de elegibilidade acaba-
r4 ineluinde individuos que nao meregam estar no programa (por exemplo, pes-
Soas nao-famintas recebendo recursos de Programas cuja finalidade seja de
erradicagio da fome). Entretanto, se critérios mais restritos sao aplicados, corre-
se 0 risco da exclusio de pessoas que retinem as condigdes para receber a ajuda
(por exemplo, a exigéncia de comparecimento na agéncia previdencidria para pes-
8oas idosas que quciram continuar recebendo o beneficio excluiria individuos que
estejam impedidos de locomogao por razdes de satide). Uma forma de se medir se
uma politica atinge um grupo-alvo é compararo percentual de pessoas que recebem
um dado beneficio naquele grupo com 0 percentual de pessoas fora do grupo-alvo
que recebem o mesmo beneficio — o chamado cdlculo de incidéncia da politica,
Barros e Foguel encontraram apenas dois programas educacionais que po-
dem ser classificados como bem focalizados: 0 programa de merenda escolar e 0 de
livre didatico. O grau de incidéncia da despesa com escolas piblicas primarias
atinge igualmente ricos e pobres. O grau de incidéncia do acesso ao Ensino Médio
ao Ensino Superior do sistema publico mostra que os gastos nessa drea sdo intei-
ramente desfocados, No caso particular das despesas com Ensino Superior, Ams-
berg er a/5! estimam que cerca de 76% dos Tecursos publicos atingem os 20%
mais ricos da populagdo, ao passo que apenas 3% das despesas atingem os 60% mais
pobres da populacao.
E facil entender por que isso ocorre. A elegibilidade aos recursos ptiblicos
concentrados em educagao de Ensino Médio e Superior depende do individuo
atingir tais niveis educacionais. Contudo, vimos na terceira segéo que existe ele-
vada persisténcia educacional no Brasil, com filhos de pais com menor instrugao
evadindo precocemente a escola. Vimos também que existe forte correlag4o entre
educagio e renda, o que significa que pais com menor escolaridade também tém
menor renda. Conseqiientemente, seus filhos em grande parte nao serao alcanga-
dos pelos gastos ptiblicos nesses dois niveis de ensino.
Conclusdo
A partir da discussio das segoes anteriores, podemos chegar a algumas con-
clusoes.
be A Bscassez de Educagio = 395
ELSEVIER
Aevidéncia empirica mostra que nas dltimas décadas verificou-se uma melho-
fa expressiva em diversos indicadores educacionais no Brasil. Em particular, ocor-
reu uma reducao significativa da taxa de analfabetismo ¢ um aumento. importante
da escolaridade média da populacao. O Ensino Fundamental foi Ppraticamente
universalizado, verificando-se uma taxa de freqiiéncia escolar de 96% nesse nivel
em 2000. Além disso, durante a década de 1990, ocorreu uma grande expansao do
Ensino Médio e Superior.
No entanto, apesar dos avangos obtidos, os indicadores educaci jonais no Brasil
ainda sao baixos, ndo somente em relagdo aos niveis observados em paises desen-
volvidos, mas também relativamente a paises em estagio de desenvolvimento se-
melhante ao brasileiro.
Como se mostrou neste capitulo, esse quadro educacional tem implicagSes
importantes para a desigualdade de renda, desigualdade de oportunidades e cres-
cimento econémico. Em particular, mostrou-se que a educagio é um determinante
importante da desigualdade de renda no Brasil. A importancia da educagdo na
explicacao da elevada desigualdade de rendimentos decorre da combinagdo de
dois fatores. Primeiro, existe uma elevada desigualdade educacional no Brasil.
Segundo, o prémio a escolaridade, ou seja, o aumento salarial resultante de um
ano a mais de estudo, é muito alto no Brasil, Esses dois fatores, por sua vez, estao
fortemente associados aos baixos indicadores educacionais do pais.
Um aspecto da desigualdade que é particularmente importante é a desigual-
dade de oportunidades. A evidéncia empirica mostra que a educagao dos filhos no
Brasil € fortemente determinada pela educagio dos pais, Esse efeito é expressivo
em relagao ao obscrvado em paises desenvolvidos e paises com nivel de desenvol-
vimento semelhante ao do Brasil. Isso sugere a exist@ncia de uma elevada desi-
gualdade de oportunidades no Brasil, na medida em que individuos com um am-
biente familiar mais favordvel em termos de escolaridade ¢ renda tem melhores
oportunidades de ascensdo educacional que membros de familias mais pobres.
Mostrou-se também que a educagdo foi um fator importante para o cresci-
mento econémico no Brasil, especialmente nas altimas duas décadas. Uma ligéo
da evidéncia internacional € que, embora importante, a educagao nao é uma pana-
céia para o crescimento. Os paises onde o capital humano teve maior impacto no
crescimento foram aqueles que formularam politicas macro e microecondmicas
que criaram os incentivos corretos para que as qualificagdes dos trabalhadores
fossem utilizadas de forma socialmente eficiente. Além disso, para que 0 efeito da
educagao sobre o crescimento seja maximizado, é preciso que a expansao educa-
cional seja acompanhada por investimentos na qualidade do ensino. 2
Diante da importancia da educagao para a redugao da desigualdade de renda e
de oportunidades ¢ clevagao do crescimento econémico, uma politica educacional
$96 economia Brasileira. Contemporanea: 1945-2004 ELSEVIER
bem concecbida c implementada pode ter um efeito substancial sobre o bem-estar
das pessoas. O sucesso da politica educacional depende, no entanto, do desenho e
da implementagao de programas que sejam consistentes com dois principios. Pri-
meiro, a politica educacional deve fornecer os incentivos adequados para os agen-
tes, para que estes utilizem suas qualificagdes de forma socialmente eficiente.
Segundo, para que os programas tenham efic4cia, cles precisam ser bem focaliza-
dos, ou seja, os eritérios de participagdo devem ser definidos de forma que os
beneficidrios do programa sejam os individuos que se pretende atingir.
Em resumo, embora tenham sido feitos importantes progressos nos indicado-
res educacionais brasileiros, existem ainda grandes desafios pela frente. Dentre
esses desafios, incluem-se a erradicagao do analfabetismo, o aumento da escolari-
dade média da populagao, a conclusio do processo de universalizagdo do Ensino
Fundamental e o aumento da freqiéncia escolar no Ensino Médio. Além disso, sera
de grande importancia aumentar 0 acesso dos individuos ao Ensino Superior. Por
Ultimo, é essencial que a expansdo do sistema educacional verificada em anos recen-
tes seja complementada por iniciativas que melhorem a qualidade do ensino.
Rurzréwcias Breviocraricas
AMSBERG, J., LANJOUW, P. e NEAD, K. “A Focalizacio do Gasto Social sobre a Pobreza no Brasil”. In:
R. Henriques (org.). Desigualdade ¢ Pobreaa no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000,
BANCO MUNDIAL. Brazil: The New Growth Agenda. Vol. IT, Detailed Report, 2002.
BARRO, R. J. ¢ Lee, J. “International Data on Educational Attainment: Updates and Implications”.
NBER Working Paper n. 7911, 2000.
BARROS, R. P. e Foguel, M. “Focalizacao dos Gastos Péblicos Sociais e Erradicagdo da Pobreza no Bra-
sil”. I Henriques (org.), Desigwaldade ¢ Pobreea no Brasid. Rio de Janeiro: IPEA, 2000.
BARROS, R. P, Henriques, R. c Mendonga, R. “Pelo Fim das Décadas Perdidas: Educa¢io e Desenvol-
vimento Sustentado no Brasil”. In R. Henriques (org.), Desigueldade e Pobrexa wo Brasil, Rio de Janci-
to: IPEA, 2000.
BENHABIB, J. ¢ Spiegel, M. “The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from
Aggregate Cross-Country Data”. Journal of Monetary Economics 34 (2): 143-173, 1994.
BONELLI, R. “Crescimento, Desigualdade e Educagio: Notas para Uma Resenha com Referéncia a0
Brasil”. Economic Aplicada 6 (4): 819-873, 2002.
BOURGUIGNON, F, Ferreira, F ¢ Leite, P: (2003). “Beyond Oaxaca-Blinder: Accounting for Differences
in Houschold Income Distribution Across Countries”. Banco Mundial, mimeo, 2003.
CENSO DEMOGRAFICO DO BRASIL. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
EASTERLY, W., 2004. 0 Espetdcule do Grescimenta. Ediouro: Rio de Janciro, 2004.
FERNANDES, R. ¢ Menezcs-Filho, N. “Escolaridade c Demanda Relativa por Trabalho: Uma Avaliagio
para o Brasil nas Décadas de 1980 e 1990”. Universidade de Sio Paulo, mimeo, 2001.
FERREIRA, F “Os Determinantes da Desigualdade de Renda no Brasil: Luta de Classes ou Hetero-
gencidade Educacional?” In R. Henriques (org.). Desigualdade ¢ Pobresa no Brasil. Rio de Jancito:
IPEA, 2000.
FERREIRA, S. G. “The Provision of Education and its Impacts on the School Premium”. Revista Brasilai-
ra de Economia, no prelo, 2004,
FERREIRA, S. G. ¢ Veloso, F. “Mobilidade Intergeracional de Educagao no Brasil”. Pesguisae Plangjamento
Econimico 33 (3): 481-513, 2003.
FISHLOW, A. “Brazilian Size Distribution of Income”. American Economic Review, 62 (2): 391-402, 1972.
Você também pode gostar
- EconomianoposguerraDocumento23 páginasEconomianoposguerraVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Testes de Raiz UnitáriaDocumento9 páginasTestes de Raiz UnitáriaVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Exercícios - DeflaçãoDocumento1 páginaExercícios - DeflaçãoVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Economia Brasileira Prof. Ricardo Rabelo Puc - Minas: A Economia Brasileira No Período 55-61 E O Plano de MetasDocumento23 páginasEconomia Brasileira Prof. Ricardo Rabelo Puc - Minas: A Economia Brasileira No Período 55-61 E O Plano de MetasVictor BrandãoAinda não há avaliações
- A Razão Instrumental (Reale e Antiseri)Documento1 páginaA Razão Instrumental (Reale e Antiseri)Victor BrandãoAinda não há avaliações
- Aula 1 - Os Sete Saberes Necessários À Educação Do Futuro (2o. SEM. 2016)Documento14 páginasAula 1 - Os Sete Saberes Necessários À Educação Do Futuro (2o. SEM. 2016)Victor BrandãoAinda não há avaliações
- Exercício Contabilidade NacionalDocumento1 páginaExercício Contabilidade NacionalVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido-Política FiscalDocumento1 páginaEstudo Dirigido-Política FiscalVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Receitas Correntes e de CapitalDocumento1 páginaReceitas Correntes e de CapitalVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Codigo Civil 22 Ao 39Documento2 páginasCodigo Civil 22 Ao 39Victor BrandãoAinda não há avaliações
- Direito-Orçamento Público de Minas Gerais CompatívelDocumento11 páginasDireito-Orçamento Público de Minas Gerais CompatívelVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Atividade 05 Aberta 2 2016Documento6 páginasAtividade 05 Aberta 2 2016Victor BrandãoAinda não há avaliações
- Atividade 09 AbertaDocumento3 páginasAtividade 09 AbertaVictor BrandãoAinda não há avaliações
- PROJETOSDocumento9 páginasPROJETOSVictor BrandãoAinda não há avaliações
- Locke e RousseauDocumento2 páginasLocke e RousseauVictor BrandãoAinda não há avaliações