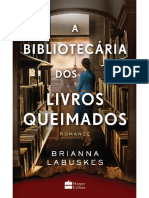Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Nietzsche X Kant - Oswaldo Giacoia Junior
Nietzsche X Kant - Oswaldo Giacoia Junior
Enviado por
C4io990 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
36 visualizações292 páginasTítulo original
Nietzsche x Kant -Oswaldo Giacoia Junior
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
36 visualizações292 páginasNietzsche X Kant - Oswaldo Giacoia Junior
Nietzsche X Kant - Oswaldo Giacoia Junior
Enviado por
C4io99Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 292
CASA DO SABER
ste livro coloca em didlogo atualissimo dois pensadores
fundamentais para a historia da filosofia. As influéncias perenes
MERC ON CUTS eae oon ec Ro Reon CeCe TS
een onevAaR Les UE Me Core Me Enc Ena Me ACEC
cee
em sociedade.
ON CNC re TERN le MK Ty oN Oooo een LE)
Farrer rere Oe Noao nent ETC n TERR [ees eCeonc son
FEUER TR MCV onesaee CON es Comets Oe ROLs
humano é verdadeiramente livre. Discute-se se direitos e deveres
Fev ea ute Mert uric fear Mert ecar Veloce ete n en eLee
DYere COMERS nett rod Coates DUN SVE Cla
imposigao da democracia ¢ Toy pbertarery
loetrareray ponte!
autor Oswaldo G
E ainda brinda 0 leitor com
a essa altura, de que dos cla
UENCE eer rath)
da vida social e para uma exis}
plano da mente do individuo.
WT a TOMS. Ls)
L SO
CASA DO SABER (><)
Uma disputa
permanente a
respeito de liberdade,
autonomia e dever
Oswaldo Giacoia Junior
SBD-FFLCH-USP
uM
Casa da Palavra
i |
TBS451
(49.4 4%
Nera
Copyright © 2012 Oswaldo Giacoia Junior
Copyright desta edicio © 2012 Casa da Palavea e Casa do Saber
9.610, de 19.2, 1998
Jéneia da editora v da autora,
‘Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei
E proibida a reprodugdo total ou parcial sem a expressa anu
CCoORDENAGRO DA COLEGAO
Mario Vitor Santos
Marina Bedran
CASA DO SABER ~ Sao Paulo
DinETOR -EXECUTIVO
Mario Vitor Santos
DineGAo EDITORIAL
CONSELHO DIRETOR
> Ana Maria Diniz ‘Ana Cecilia Impellizieri Martins
Gelso Loducea Martha Ribas
Sabriel Chalita
Ja ibe da ‘coouDENAGAO DE PRODUGAO EDITORIAL E GRAFICA
Jaic Ribeiro da Silva Neto
Luiz Felipe D'Avila
Maria Fernanda Candido
Pierre Moreau
Cristiane de Andrade Reis
CAPA E PROJETO GRAFICO DE MIOLO
Dupla Design
CASA DO SABER ~ Rio de Janeiro
DIRETOR -EXECUTIVO
Rodrigo de Almeida
conipesque
Lucas Bandeira de Melo Garvalho
REviskO.
CONSELHO piRETOR
Pedro Nébrega
Alexandre Ribenboim
Armando Strorenberg
Elisabete Carneiro Floris
Tana Strozenberg
Jorge Carneiro
Luiz Eduardo Vasconcelos DIAGRAMAGAO.
Marcos P. Q. Faleso Filigrana
Patricia Fainziliber
Meyrele Torres
Este livro foi revisado segundo o Novo Acordo Ortogréfico da Lingua Portuguesa
CASA DO SABER ~ So Paulo CASA DA PALAVRA PRODUGAO EDITORIAL
Rua Dr. Merio Ferraz, 414, Jardins Av. Calogeras, 6, 1.001, Centro
Sao Paulo SP Rio de Janeito RJ 2030-070
11.3707 -8900 21,2222 -3167 21.2224 -7461
CASA DO SABER — Rio de Janeiro divulga@casadapalavra.com. br
‘Aw Epitécio Pessoa, 1.164, Lagoa swwwcasadapalavra.com.br
Rio de Janeiro RI
241.2227 -2237
www.casadosaber.com.br
CIP -BRASIL, CATALOGAGAO .NA -FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, Ry
ie ane pin a aR de ded culo one / esl
de Janeiro: Cas da Palavra; Sie Paulo Casa do saber, 2012. Me Greig Jamin Bn
inc igo
ISN J7m48 7754-2419
Mitac, reich Wien, 1684-19002, Kant, Immanuel, 1728-1804, 3 Fst. Tt,H,Sei
wait cpp: 193
Cou. a3)
YP
SSS eee”
SUMARIO
7 ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFRONTO
EXTEMPORANEO
29 INTRODUGAO
PRIMEIRO MOVIMENTO
37 KANT: UMA ETICA NORMATIVA DO DEVER
a)
b)
°)
a)
e)
p
8)
Liberdade e causalidade natural: A possibilidade da moral
0 conceito kantiano de imperative categérico da moralidade
Doutrina do caréter: Cardter inteligivel e carater empitico
Pessoa. Dignidade. Si-Préprio
Gewissen: A consciéncia moral
Subjetividade, ego e consciéncia de si
A virtude em Kant
Apéndice: Tradugses da Metafisica dos costumes
115 TRANSICAO =
129 INTERLUDIO SOBRE SCHOPENHAUER
265
267
279
SEGUNDO MOVIMENTO
NIETZSCHE CRITICO DE KANT E SCHOPENHAUER: ETICA COMO
ESTILISTICA DA EXISTENCIA
a) Acrftica por Nietzsche a teoria do cardter inteligfvel
b) Acconsciéncia moral em Nietzsche
©) Aresponsabilidade como invengdo itil: a metafisica de
carrascos
d) Individualidade e subjetividade: Como tornar-se 0 que se 6?
e) Consciéneia, Ego, Si-Préprio. O corpo como devir sujeito
f) Amor fati x Existéncia e culpabilidade
g) A virtude em Nietzsche
‘APENDICE
CONCLUSAD
ALGUMAS INDICACOES DE LEITURA PARA INTERESSADOS
BIBLIOGRAFIA
DEDALUS - Acervo - FFLCH
UN
6
0
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM
CONFRONTO EXTEMPORANEO
Atarefa a ser realizada neste livro necessita de justifica-
cao. Ela consiste em reconstituir, em pleno século XXI,
um didlogo que tem a forma de uma confrontagao filos6-
fica entre Friedrich Nietzsche (1844-1900) e Immanuel
Kant (1724-1804). A pergunta que naturalmente se im-
poe €a seguinte: 0 que justificaria o esforco despendido
nessa tarefa, sobretudo se considerarmos que os dois fi-
I6sofos s4o extempordneos a nds e esto muito distantes
de nossas presentes formas de vida, de nossos interesses
mais prementes, assim como também sao completamen-
te estranhos um ao outro do ponto de vista da cronolo-
gia? Poderfamos recorrer a uma justificativa estética,
ou histori
a: a estilizagdo ficcional de uma conversagaio
imaginaria. Nesse caso, estarfamos confrontados com
uma literatura que forma um género bastante apreciado
ae
io clas
‘a — as Totengespriiche (conversas en-
tre mortos).
C. Rauer resume da seguinte maneira as Totengespriiche:
Esse género literdrio recua até Luciano, como Nekrikoli didlogai
(Didélogos dos mortos, de mais ou menos 166 d.C.),€ foi muito
estimado, particularmente na época do Esclarecimento. A
propria Modernidade foi anunciada pelos Nouveaux dialogues
des morts (Novos didlogos dos mortos, 1683), seguidos pela
tradugao de Fontenelle por Gottsched: Gespriich in Ehseum
(Conversa no Eliseu, 1727), por uma tradugao de Luciano
de 1749, assim como por uma contribuigdo de Gottsched:
Gespriich im Reich der Toten (Conversa no reino dos mortos,
1727). Também Frederico I] e Voltaire, Wiesland, Schiller
e Goethe compuseram conversas entre mortos, de modo
que a disputa dos espiritos finalmente tornou-se também
uma controvérsia dialégica do Esclarecimento.!
Com 0 mesmo propésito desses autores, seria suges-
tivo e curioso imaginar um didlogo e um confronto entre
Nietzsche e Kant, tendo por objeto as respectivas concep-
goes filosdficas acerca da moralidade e de seu fundamen-
to. Talvez pudéssemos acrescentar esse didlogo ao legado
espiritual que os dois pensadores conservam para nossos
' Rauer, C. Totengespriich zwischen Kant und Nietzsche zur Moralphilosphie,
In: Himmelmann, B. (ed). Kant und Nietzsche im Widerstreit. Berlim: De
Gruyter Verlag, 2005, s. 119. Nao havendo indicacoes em contrario, as tra
dugdes sdo do autor.
8 Nietzsche x Kant
atuais interesses tedricos € priticos. Afinal, poucos ousariam
colocar em questdo a importancia e a influéncia tanto da
ética de Kant quanto da genealogia da moral de Nietzsche
sobre nossos modos atuais de pensar, sentir e agir.
Ha, no entanto, outro elemento que nao apenas autoriza,
mas também exige esse recurso a confrontagao entre os dois
pensadores: aquele que diz respeito aos impasses, dilemas e
desafios de nossa reflexao ética, juridica e politica, as agruras
do pensamento a sombra do niilismo, em meio a crise de pa-
radigmase referéncias vinculantes, que se mostra devastadora
em todos os quadrantes da cultura mundial — da religido a ra-
cionalidade légica, da estéticaa ética, da educagao &economia
e politica. Essa crise permanente torna nao apenas atual, mas
incontornavel uma revisitagao dos classicos, no caso, da he-
ranga filos6fica de Kant e de Nietzsche, sobretudo no que diz
respeito Aquilo que o confronto entre eles ainda pode conservar
de seminal e fecundo para a orientacao do pensar e do agir.
Essa fecundidade pode ser atestada pela caréncia de
referenciais teGricos e axiol6gicos e de representagdes
de valor, que sao tanto légico-cognitivas quanto ético-polt-
ticas. Tendo em vista os objetivos deste livro, priorizamos os
aspectos éticos, morais e juridico-politicos dessa urgéncia.
Para ilustra-la, recorremos a documentos de importancia
indisputada, que remetam a conceitos e valores que aten-
dam a esse género de exigéncia normativa, tanto no plano
moral quanto no do direito e da politica.
Por razSes de proximidade espago-temporal, tomemos
em primeiro lugar 0 exemplo da Constituigao da Republica
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFROKTO EXTEMPORANEO 9
Federativa do Brasil — cujo tftulo I é dedicado aos princi-
pios fundamentais que alicergam a consolidagao institu-
cional do Estado brasileiro, identificado, j4 nesse primeiro
momento da origem de nosso ordenamento juridico, como
Nos termos do Artigo 12
um Estado democratico de direito.
da Constituigao Federal de 1988, a Reptiblica Federativa
do Brasil, formada pela unido indissoltivel dos estados e
municfpios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado
democritico de direito e tem como fundamentos: I —a
soberania; II — a cidadania; III — a dignidade da pessoa
humana; IV — 0s valores sociais do trabalho e da livre ini-
ciativa; V—o pluralismo politico.
Separemos, desse elenco de principios, aqueles dois
que interessam de modo imediato a esta introdugdo: a
dignidade da pessoa humana e o pluralismo politico.
Isolemos também o pardgrafo tinico desse artigo inau-
gural: “Todo o poder emana do povo, que 0 exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos ter-
mos desta Gonstituigdo.” O conjunto dos enunciados
constitucionais n4o deixa dtivida a respeito da estreita
relagao, que af fica estabelecida, entre os princfpios da
dignidade da pessoa humana e do pluralismo jurfdico e
o Estado democratico de direito. Sobretudo se conside-
ramos que, pelo termo “princfpios”, devemos entender
os elementos que se colocam tanto como base légica de
um sistema normativo, quanto como instancia inaugu-
ral de uma série de inferéncias e dedugdes em acepgao
polftica—como a estrutura basilar da modalidade de or-
ie Nietzsche x Kant
eT
ganizagao definida, em nossa constitui¢40, como Estado
democratico de direito.
De acordo com isso, a autocompreensao constitucio-
nal do Estado brasileiro, ainda que permanegamos nesse
exemplo singular, tem um alcance cultural, ético e politico
muito amplo, na medida em que sugere que a dignidade
da pessoa humana eo pluralismo politico —além de outros
princfpios que abrigam valores fundamentais acolhidos no
texto acima citado — constituem as bases fundacionais do
Estado democritico de direito. Constituem, portanto, os
pilares de sustenta¢ao do reconhecimento e da legitima¢ao
de direitos e prerrogativas que todo Estado dessa natureza
deve assegurar.
Outro exemplo pertinente—e igualmente atual—pode
ser ilustrado por um dos diplomas normativos mais impor-
tantes do direito ptiblico internacional contemporaneo.
Trata-se da Declaragao Universal dos Direitos Humanos,
aprovada pela assembleia geral das NagGes Unidas em 1948
como resposta as atrocidades praticadas durante a segunda
metade do século passado, que puseram em confronto, em
toda a tragicidade inimagindvel, a civilizagao e a barbarie
que essa mesma civilizagao, por sua dindmica interna, foi
capaz de promover. Leiamos, com tal propésito, 0 expres-
sivo preambulo desse texto notavel:
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente
a todos os membros da familia humana e de seus direitos
iguais e inalienaveis é o fundamento da liberdade, da jus-
[ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFRONTO EXTEMPORANEO i
BEE EEE
tiga e da paz no mundo; Considerando que 0 desprezo e
o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos
barbaros que ultrajaram a consciéncia da Humanidade e
que o advento de um mundo em que os homens gozem de
liberdade de palavra, de crencae da liberdade de viverem
a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como
a mais alta aspiragao do homem comum; Considerando
essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo
Estado de Direito, para que o homem nao seja compelido,
como tiltimo recurso, a rebeliao contra a tirania ea opres-
so; Considerando essencial promover o desenvolvimento
de relacdes amistosas entre as nagoes; Considerando que
os povos das Nagdes Unidas reafirmaram, na Carta, sua
fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e
no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos
homens e das mulheres, ¢ que decidiram promover o pro-
gresso social e melhores condigées de vida em uma liber-
dade mais ampla; Considerando que os Estados-membros
se comprometeram a desenvolver, em coopera¢ao com as
Nagées Unidas, o respeito universal aos direitos hamanos
cliberdades fundamentais ea observancia desses direitos
eliberdades; Considerando que uma compreensao comum
destes direitos e liberdades é da mais alta importancia para
0 pleno cumprimento desse compromisso; a Assembleia
Geral proclama a presente Declaragao Universal dos Direitos
Humanos como o ideal comum aatingir por todos os povos
e todas as nagdes, com 0 objetivo de que cada individuo
e cada érgio da sociedade, tendo sempre em mente esta
12 Nietzsche x Kant
declaragao, se esforce, através do ensino e da educagio,
por promover 0 respeito a esses direitos e liberdades, ¢,
pela adogao de medidas progressivas de cardter nacional
e internacional, por assegurar 0 seu reconhecimento e a
sua observncia universais e efetivos, tanto entre os povos
dos préprios Estados-membros, quanto entre os povos dos
territérios sob a sua jurisdigao.
Artigo 1*: Todas as pessoas nascem livres ¢ iguais em dig-
nidade e em direitos. Sao dotadas de razdo e consciéncia
e devem agir em relagdo umas as outras com espfrito de
fraternidade.
Artigo 2®: Toda pessoa tem capacidade para gozar os di-
reitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaragao, sem
distingao de qualquer espécie, seja de raga, cor, sexo, Iin-
gua, religido, opiniao politica ou de outra natureza, origem
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra
situagdo. Além disso, nao serd feita nenhuma distingao
fundada no estatuto politico, jurfdico ou internacional do
pats ou do territ6rio de naturalidade da pessoa, seja es
€
pats ou territério independente, sob tutela, auténomo ou
sujeito a alguma limitagao de soberania.?
Do enunciado desses preceitos gostarfamos de destacar
a seguinte caracteristica: a dignidade é, de acordo coma
Declaragao Universal dos Direitos Humanos, inerente ou
insita a todos os membros da familia humana; assim como
* Carta Internacional dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia
Geral da ONU, através da resolug’o 217 A (IIL), de 10 de dezembro de 1948,
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFRONTO EXTEMPORANEO B
é reconhecida como fundamento da liberdade, da justiga
e da paz no mundo. A dignidade humana esté, portanto,
na base da igualdade de direitos inalienaveis, que um es-
tado democratico de direito tem o dever de reconhecer
e assegurar, sob pena de que o desprezo e o desrespeito
pelos direitos do homem possam reconduzir a atos de
barbdrie, jé perpetrados outrora na histéria recente, e que
repugnam a consciéncia da humanidade, impedindo que
esta marche em direcao a sua realizago — de conformi-
dade com seu conceito, a saber: como o advento de um
mundo em que os seres humanos sejam livres de palavra
ede crenga e libertos de viverem 0 temor e a necessidade,
ideal que foi proclamado como a mais alta inspiragdo e
aspiragaio do homem.
No mesmo sentido — e de modo ainda mais enfatico e
incisivo -, perfila-se outro documento fundamental. Este
nao se institui apenas com status jurfdico de declaragao,
portanto como texto nao normativamente vi nculante, mas
antes como pacto internacional — e portanto como docu-
mento normativo de direito internacional publico, obri-
gatério para os pafses signatarios. Fazemos referéncia ao
Pacto Internacional sobre Direitos Econémicos, Sociais e
Culturais (PIDESC), em cujo preambulo os Estados parti-
cipes também recorrem aum conceito basilar de dignidade
humana, cujo estatuto fundacional é destacado:
Considerando que, em conformidade com os princfpios
enunciados na Carta das Nagées Unidas, 0 reconhe-
“ Nietasche x Kant
cimento da dignidade inerente a todos os membros da
familia humana e dos seus direitos iguais ¢ inaliendveis
constitui o fundamento da liberdade, da justiga e da paz
no mundo; reconhecendo que esses direitos decorrem
da dignidade inerente 4 pessoa humana; reconhecendo
que, em conformidade com a Declaragao Universal dos
Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, liberto
do medo e da necessidade, nao pode ser realizado a me-
nos que sejam criadas condigdes que permitam a cada
um desfrutar dos seus direitos econémicos, sociais €
culturais, bem como dos seus direitos civis e politicos;
considerando que a Carta das Nagoes Unidas impée aos
Estados a obrigagdo de promover o respeito universal e
efetivo dos direitos e liberdades do homem; tomando em
consideragao 0 fato de que o individuo tem deveres para
com outrem e para com a coletividade a qual pertence e
é chamado a se esforgar pela promocao e pelo respeito
aos direitos reconhecidos no presente Pacto; acordam
nos seguintes artigos:
Artigo 1*: 1. Todos os povos tém o direito de dispor deles
mesmos. Em virtude deste direito, eles determinam li-
vremente o seu estatuto politico e asseguram livremente
o seu desenvolvimento econémico, social e cultural. 2.
Para atingir os seus fins, todos os povos podem dispor li-
vremente das suas riquezas e dos seus recursos naturais,
sem prejuizo das obrigagdes que decorrem da cooperagao
econdmica internacional, fundada sobre o principio do
interesse mtituo e do direito internacional. Em nenhum
[ESCLARECINENTOS PRELIMINARES SOBREUM CONFRONT EXTEMPORANEO
15
caso poder um povo ser privado dos seus meios de subsis-
téncia. 3. Os Estados-Partes no presente Pacto, incluindo
aqueles que tém responsabilidade pela administragao dos
territérios nao-aut6nomos ¢ territérios sob tutela, devem
promover a realizacao do direito dos povos a dispor deles
mesmos e respeitar esse direito, em conformidade com
as disposigdes da Carta das Nagdes Unidas.*
Tais documentos expressam uma percep¢ao comu-
mente partilhada. Sabemos que um dos ambitos nos quais
© pensamento ético contemporaneo encontra hoje suas
maiores dificuldades e urgéncias é 0 campo de questées
aberto pela bioética e pelo biodireito. Eis um desafio em
que nos defrontamos com a oposi¢4o — dificilmente conci-
liével — entre duas correntes formadoras da modernidade
cultural e politica: de um lado, a defesa da liberdade de
consciéncia, de conviccao e de investigacao; do outro, a
necessidade de proteger os elementos simbélicos e mate-
riais que dao corpo & nossa autocompreensao ética como
género humano, atualmente ameagados pela possibilidade
de instrumentaliza¢ao da base somatica de nossa perso-
nalidade, tal como se atesta pelos progressos da pesquisa
cientifica, sobretudo nos campos da biologia molecular e
da engenharia genética.
Um documento de candente atualidade a esse respei-
to € a Declaragao Universal sobre 0 Genoma Humano e
Aprovado pela Assembleia Geral através da resolucao 2200 A (XXI), de
J6 de dezembro de 1966,
16
Nivtasehe x Kant
nn
os Dircitos Humanos. Esse documento estabelece, j4 no
proprio titulo, uma relagdo cerrada entre genomae direitos
humanos, ao mesmo tempo em que recorre mais uma ve7,
como conceito normativo cardinal, a dignidade humana.
Recordando que o Preambulo da Constituigaoda UNESCO
se refere aos “principio democriticos da dignidade, da
igualdade e do respeito mtituo entre os homens’, rejeita
“qualquer doutrina que estabelega a desigualdade entre
homens e ragas”; estipula “que a ampla difusaoda culturae
aeducagao da humanidade paraa justiga, para aliberdadee
paraa paz.sdo indispensdveis 4 sua dignidade e constituem
um dever sagradoa ser cumprido por todas as nagées, num
espirito de miitua assisténcia € compreensao”; proclama
“que a paz deve fundamentar-se na solidariedade intelec-
tual e moral da humanidade”, e afirma que a organizagao
busca atingir, “por intermédio das relagdes educacionais,
cientfficas e culturais entre os povos da terra, os objetivos
da paz internacional e do bem-estar comum da humani-
dade, em razio dos quais foi estabelecida a Organizagio
da Nagées Unidas e que sao proclamados em sua Carta’,
Portanto, reconhecendo que
a pesquisa sobre o genoma humano e as aplicacdes dela
resultantes abrem amplas perspectivas para o progresso na
melhoria da satide de individuos ¢ da humanidade como
um todo, mas enfatizando que tal pesquisa deve respeitat
ESCLARCCINENTOS PRELIMINARES SOBREUM CONFROMTO EXTEMPORANEO ”
NZ
inteiramenteadignidade, a liberdade eos direitos huma-
nos bem como a proibigao de todas as formas de discri-
minago baseadas em caracteristicas genéticas, proclama
os seguintes princfpios e adota a presente Declaragao,
Artigo 1*: O genoma humano constitui a base da unidade
fundamental de todos os membros da familia humana,
bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Num
sentido simbélico, é 0 patriménio da humanidade.
Artigo 28: a) A todo individuo ¢ devido respeito a sua dig-
nidade e aos seus direitos, independentemente de suas
caracteristicas genéticas. b) Esta dignidade torna impe-
rativa.a nao redugao dos individuos as suas caracterfsticas
genéticas e 0 respeito a sua singularidade e diversidade.*
Tendo em vistaa reflexao que acompanhamos até agora,
uma pergunta se apresenta: como estabelecer, de maneira
clara e inequivoca, o que devemos entender por “dignidade
humana”, por “dignidade da pessoa humana”, ou do “ser
humano’, ou ainda da “vida humana”?
Tais perguntas tornam-se relevantes porque — nos
quadros institucionais do moderno Estado democratico
de direito, para o qual pluralismo das cosmovi
ponto essencial - nao se deve recorrer, para respondé-las,
anenhum contetido substantivo particular, metafisico ou
religioso, 0 qual se mostra incapaz, por !sso mesmo, de
sustentar sua pretensdo a validade e ao reconhecimento
4 Declaragao Universal sobre o Genoma Humano¢ os Direitos Humanos,
adotada pela Conferéncia Geral da UNESCO na essdo (1997).
Nietasche x Kant
18,
ee
Nn
universal. E nesse sentido que a contribuigaio aportada
pela filosofia moral de Kant demonstra toda a sua vitali-
dade, sua plena pertinéncia as urgéncias e aos propési-
tos de nossos tempos. Em sentido contrario, é também
por foga dessa mesma razdo que a critica disruptiva que
Nietzsche dirigiu a filosofia kantiana, sua impiedosa
oposigao A moralizagdo do pensamento, até mesmo nas
regiées mais rarefeitas da racionalidade cientifica e légi-
ca, desafia nossa capacidade de reflexao e nos concita a
levar a sério suas adverténcias.
Kant torna-se nosso contemporaneo, entre outros
fatores, porque desvincula o conceito de dignidade hu-
mana de toda fundamentacao extrarracional. Para fazé-
lo, 0 filésofo recorre, como veremos mais a frente, a um
embasamento estritamente formal, transcendental; por
isso, sua filosofia é capaz de dotar esse conceito de um al-
cance e de uma validade objetiva—com uma consisténcia
teérica de que carecem os projetos éticos contemporane-
os. Nesse sentido, uma das propriedades mais relevantes
da contribuigao de Kant para o pensamento filos6fico da
modernidade consiste em ela ser perfeitamente compa-
tivel — em todos os pontos cruciais — com o pluralismo
politico inerente 4 concepgao de Estado democratico de
direito. Por ser eminentemente formal, o universalismo
moral kantiano prescinde de hipotecas substantivas me-
tafisicas ou teologicas. E isso que podemos constatar em
sua formulagao do conceito de fim em si, ao qual esta li-
gado o de dignidade da pessoa humana:
‘ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFRONTO EXTEMPORAMEO 19
SSS ——SSS
Admitindo porém que haja alguma coisa cuja existéncia
em si mesma tenha um valor absoluto e que, como fimem
si mesmo, possa ser a base de leis determinadas, nessa
s6 nela € que estaré a base de um possivel impe-
coisa €
deuma lei pratica. Ora, digo
rativo categérico, quer dizer,
eu:—O homem, e, duma maneira geral, todo ser racional,
existe como fim em si mesmo, nao sé como meio para o
uso arbitrario desta ou daquela vontade. Pelo contrério,
em todas as suas acoes, tanto nas que se dirigem a ele
mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais,
cle tem sempre de ser considerado simultaneamente como
fim. Todos 0s objetos das inclinag6es tém somente um va-
lor condicional, pois, se nao existissem as inclinagdes e
as necessidades que nelas se baseiam, 0 seu objeto seria
sem valor. As proprias inclinages, porém, como fontes
das necessidades, estao tao longe de ter um valor absoluto
gue as torne desejaveis em si mesmas, que, muito pelo con-
trario, o desejo universal de todos os seres racionais deve
ser o de se libertar totalmente delas. Portanto 0 valor de
todos os objetos que possamos adquirir pelas nossas agées
€ sempre condicional. Os seres cuja existéncia depende,
nao em verdade da nossa vontade, mas da natureza, tem
contudo, se
10 seres irracionais, apenas um valor relativo
como meios € por isso se chamam coisas, ao passo que os
seres racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza
os distingue j4 como fins em si mesmos, quer dizer como
algo que nao pode ser empregado como simples meio e
que, por conseguinte, limita nessa medida todo arbitrio
20
Nietasche x Kant
(e € um objeto do respeito). Estes nao so portanto me-
ros fins subjetivos cuja existéncia tenha para nds um valor
como efeito da nossa ag4o, mas sim fins objetivos, quer
dizer, coisas cuja existéncia € em si mesma um fim, eum
fim tal que se nao pode pér nenhum outro no seu lugar.*
Na ideia de lei moral, que assume para nds, seres huma-
nos, ou seres racionais finitos (nos quais a razdo é limitada
pela sensibilidade), a forma de imperativo categorico damo-
ralidade, reconhecemos a propriedade inerente a todos os
seres racionais de determinar — por meio de maximas de
sua livre escolha subjetiva (racionalmente orientada) — a
regra geral, ou 0 princfpio de unificagao de suas agées, de
modo a se tornar capaz de reconhecer uma nog¢ao vincu-
lante de dever, derivada da lei moral, principio objetivo e,
portanto, valido para todo ser racional: nunca tratar qual-
quer pessoa (nem permitir que a propria pessoa seja tratada)
como coisa, Ou seja, apenas como meio para a consecugao
de fins quaisquer; em outras palavras, a obrigag4o de reco-
nhecer o valor absoluto da pessoa (sua dignidade) como
um fim em si mesmo, 0 que vale para a pessoa dos outros,
assim como para a prépria pessoa.
Com base nessa argumentagao, atesta-se que, para
Kant, os conceitos de dignidade, pessoa, autonomia e li-
berdade sao conceitos em reciproca remissao. Ao fundar
a dignidade e a personalidade moral na liberdade, iden-
5 Kant, I. Fundamentagéto da metaftsica dos costumes. BA 64/65. Trad. Paulo
Quintela. Lisboa: Edigdes 70, 2007, p. 67s.
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFRONTO EXTEMPORANEO 21
tificando esta com a autonomia (compreendida, por sua
vez, como propriedade da vontade de um ser racional de
prescrever, para e por si mesma, 0s princfpios e as regras
paraacao, de tal modo que essas passem pelo teste racional
da universalidade), Kant enuncia paradigmaticamente a
formula e a divisa do ideal moderno ético, cuja natureza
€ essencialmente iluminista. A dignidade da pessoa de-
corre, para Kant, da liberdade e da autonomia, enquanto
capacidade ou poder legislador, visando a autorrealizacgao
da humanidade em todas as suas disposigGes naturais.
Evidentemente podemos indicar justamente af uma li-
mitagao ou escolha tedrica do pensamento de Kant: fundar
a dignidade na liberdade e na autonomia, € nao 0 inverso,
por exemplo. Por certo, trata-se de uma tese que decorre das
premissas fundamentais da filosofia pratica de Kant, como
explicaremos. De qualquer forma, fica também atestado
ovinculo entre a filosofia pratica de Kant e 0 pensamento
ético-politico moderno e contemporaneo, revelando até que
ponto a modernidade cultural é devedora da filosofia kan-
tiana, o que faz de Kant , como afirmard mais tarde Michel
Foucault, 0 primeiro a enunciar 0 sentido filoséfico de seu
proprio tempo. E, ao fazé-lo, deu voz também ao que seria
uma linhagem de pensamento que conduz aos nossos dias.
Nos termos de Kant, a dignidade de todo ser racional
é um valor absoluto e privativo das pessoas, em oposiga0
as coisas, cujo valor é sempre relativo e se confunde com 0
prego, estabelecido no circuito das equivaléncias e das tro-
cas. A dignidade, ao contrério, nao tem prego, mas funda-
ae Nietzsche x Kant
-se, para Kant, na autonomia da vontade, portanto num
conceito positivo de liberdade, estatuido em sentido pratico
comoa independéncia da vontade de determinar-se, em suas
agoes, por qualquer regra ou principio que nao possa valer
como lei universal — ou seja, a dignidade humana funda-se
na raz4o pratica, enquanto vontade legisladora universal,
cujas maximas sao providas de valor moral porque podem
veis, na medida em que sao determinadas,
ser universal,
como condigao incondicionada, pela forma da lei pratica,
que nos obriga a agir de acordo com uma regra valida para
todo ser de razo. Portanto, a moralidade nos dota de um
valor tinico, singular e insubstitufvel, que nenhuma coisa
— simples meio para os fins do arbitrio — pode reivindicar
ou almejar.
Abstragao feita de todo contetido particular, de toda ma-
téria do querer ou do agir —a saber, de toda particularidade
inerente A experiéncia —, a moral kantiana pode conciliar
o valor universal da dignidade humana com a exigéncia —
com a qual se compromete todo Estado democratico de
direito — do pluralismo politico das cosmovisées. O que se
pretende sugerir com isso é que a filosofia pratica de Kant
conserva hoje toda a sua atualidade e fecundidade porque di
as nogées de dignidade e de pessoa um contetido axiolégico
plenamente convergente com os requisitos da modernidade
ético-jurfdico-politica, enquanto era do desencantamento
do mundo
Ou, em outras palavras, o sentido atual dos conceitos de
dignidade, liberdade e personalidade esta profundamente
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFRONTO EXTEMPORANEO 23
NS
ooo,
impregnado da filosofia critica de Kant. Por ai podemos
perceber o lago sélido e 0 vinculo indissoltivel entre, por
exemplo, Kant e a constituigdo brasileira, entre Kant e a
bioética atual, entre Kant e a carta da ONU sobre os di-
reitos humanos universais. E sobre a realidade objetiva
da lei moral, cuja validade é universal, que Kant assenta
seus conceitos de dever, boa vontade, imperativo catego.
rico, liberdade, autonomia, assim como de consciéncia
moral e respeito.
Podemos tornar ainda mais plausfvel essa pertinéncia
se considerarmos com Menke e Pollmann que
aexigéncia normativa fundamental dos direitos humanos
€ conforme com a concepgao politica de participagao de
todos os homens numa comunidade politica de livre au-
todeterminagdo. Pois, em uma tal comunidade politica,
cada membro € considerado em igual medida. Porém, ao
mesmo tempo essa concep¢ao politica afirma que esse
entendimento decorrente dos direitos humanos € 0 en-
tendimento pura e simplesmente correto de politica. A
ordem politica compreendida de tal modo que nao
uma ordem de livre autodeterminagao, na qual — por cau-
sa disso —todos os seus membros sejam tratados em igual
medida, é, em decorréncia daquela concepgao pol
falsa e injusta sob todas as circunstincias.®
* Menke, C. ¢ Pollmann, A. Philosophie der Menschenrechte. Hamburgo:
Junius Verlag, 2007, 5.41.
24 Nietasche x Kant
at
Percebemos, entao, que essa ordem concebida como
pura e simplesmente justa e correta—a verdadeira ordena-
cao politica — tem sua figura estatal plasmada no Estado
democratico de direito. E, nesse sentido, aferimos com
ainda maior pregnancia a atualidade e a relevancia do
pensamento de Kant. Considero que o mesmo diagnéstico
pode ser feito a partir do vinculo interno, reconhecido por
Jurgen Habermas, entre direitos humanos e democracia
nas sociedades contemporaneas.
Mas, se esse legado € formador da modernidade polf-
tica, a crise permanente e sistematica do projeto politico
moderno — 0 limiar para a pds-modernidade e a trave:
a
do Rubicao para 0 que poderfamos considerar como uma
p6s-humanidade — coincide com 0 combate sem quartel
movido por Nietzsche contra a filosofia critica de Kant,
em particular a suas concepgées de lei moral, dever in-
condicionado, imperativo categérico, consciéncia moral e
virtude, e, com elas, a sua ética deontolégica (uma moral
dos deveres), normativa, na medida em que reconhece
obrigagdes e formula preceitos que sao regras de conduta,
com pretensao de validade geral, mas legitimadas pelo livre
consenso racional. Em Nietzsche, encontramos 0 adver-
sdrio da deontologia e das éticas prescritivas, 0 antipoda
de todo imperativo categérico:
Eagora nao me fale de imperativo categérico, meu amigo!
—esse termo faz cécegas em meus ouvidos, e tenho que rir,
apesar de tua presenga tao grave: em face dele, eu penso
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM CONFRONTO EXTEMPORANEO a
‘
novelho Kant, que, como castigo por ter deixado escapar
“acoisaem si”~também uma coisa muito ridicula! ~, fo
colhido pelo “imperativo categérico”, e com cle retornou
de novo, de coragiio e por engano, para “Deus”, “alma”,
“liberdade” e “imortalidade’, igual a uma Taposa que re-
tornou por engano a sua jaula:—e tinham sido sua forgae
inteligéncia que haviam arrombado aquela aula! ~Como?
Admiras 0 imperativo categorico em ti? Essa “solidez” do
teu chamado juizo moral? Essa “incondicionalidade” do
sentimento: “assim como eu, todos deveriam julgar as-
sim a respeito disso"? Admira antes teu préprio egofsmo
nissol E a cegueira, a pequenez.e falta de exigéncia de
teu egofsmo! A saber, é egofsmo sentir seu juizo como lei
universal; e, de novo, um egoismo cego, pequeno e nao
exigente, pois ele denuncia que tu mesmo ainda nao te
descobriste, ainda nao criaste, para ti mesmo, nenhum
Si-Préprio, um ideal ipsissimo: — este, com efeito, ja-
mais poderia ser 0 ideal de um outro, quanto mais entao
de todos, de todos!?
Do ponto de vista de Nietzsche — que, como veremos,
orgulha-se de poder ser considerado o primeiro psicdlogo
entre os filésofos —, uma lei que vale para todos, precisa-
mente em razio de sua universalidade, nao pode valer
—___
Nietzsche, F. Die frohliche Wissenschaft. Aforismo 335. In: Gesamelte
Werke. Kritische Studienausgabe (abreviada como KSA). Ed. G. Collie M.
Montinari. Berlim, Nova York, Munique: De Gruyter Verlag, 1980. Vol. 3,
26
Nietzsche x Kant
para uma singularidade auténtica e genuinamente pes-
soal. Nossas virtudes nao podem ser as virtudes de todo
mundo, meu ideal nao pode ser o ideal de nenhum outro,
menos ainda o ideal de todos, sob pena de suprimir a in-
dividualidade irresgatavel de cada qual. Por causa disso,
se a ética de Kant é compatfvel com uma nogao liberal de *
dignidade, a ética de Nietzsche aparece — pelo menos &
primeira vista — como elitista, uma defesa intransigente
da individualidade e da singularidade, incapaz de fundar
um pacto politico com pretensdes de validade universal.
Por outro lado, como a crise dos valores afetou também
a base das éticas deontolégicas e normativas, a genealo-
gia nietzschiana da moral tem se demonstrado compativel
com as propostas éticas nao normativas, nas quais éthos
é entendido como forma de vida, como estilfstica da exis-
téncia, tal como a encontramos em particular nos pensa-
dores considerados pés-modernos. De todo modo, Kant e
Nietzsche dialogam no limiar histérico, politico e filos6-
fico inaugurado pelo Esclarecimento, e os pensamentos
de ambos representam tentativas heroicas de emancipar
a humanidade da superstigao e da ignorancia, um projeto
radical de autodeterminagao. Se Kant nos abre um hori-
zonte para a formulagao de projetos éticos e politicos que
hoje em dia se colocam na esteira universalista dos direi-
tos humanos, Nietzsche mantém, com a radicalidade de
sua suspeita, uma atualidade inegdvel, na medida em que
denuncia o que sempre pode subsistir, de maneira subter-
rinea e subliminar, como tirdnicas pretensdes de poder
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES SOBRE UM COMFRONTO EXTEHPORANEO 27
e dominagio, mesmo na atmosfera das rarefeitas teorias
que reivindicam, como principios e
pretensamente universais.
Aexplicitagao dos termos principais desse debate, que
sem duivida nos concerne como pessoas de nosso tempo,
constitui o objetivo principal deste livro.
fundamentos, valores
28
INTRODUCAO
A confrontagao entre Nietzsche e Kant que sera apre-
sentada neste livro esta circunscrita ao dominio da razao
pratica, portanto ao campo do éthos e da praxis. Isto é, se
restringe as formas de vida e aos modos de agir qualifi-
cados por valores, normas, leis, princfpios ou regras, para
cuja instituigao e justificagdo € necessdrio 0 concurso de
um dos usos ou faculdades da razo—a faculdade pratica,
diferente da razdo aplicada produgao do conhecimento
tedrico, ou, nos termos de Kant, da ciénc!
E, portanto, tendo em vista essa diferenga que espe-
icamos dois usos (empregos) ou faculdades da mesma
cl
racionalidade, a saber: a teérica (especulativa), cuja tarefa
cognitiva recobre 0 campo do saber cientifico, e a pratica
10 que prescreve valores e normas
(ética lato sensu), a raz
que orientam e justificam o agir humano. Trata-se, pois,
29
da distingdo entre ]dgica do conhecimento cientifico e
logica da agao.
A critica de Nietzsche a filosofia de Kant de modo al-
gum se limita ao campo da razao pritica— campo que in-
clui religiao, moral, direito, politica, filosofia da hist6ria-,
mas mira tambéma teoria kantiana do conhecimento e da
ciéncia. No entanto, os objetivos deste livro limitam nosso
recorte 4 oposic¢ao entre Nietzsche e Kant relativa a temas
e conceitos cardinais da filosofia moral, como liberdade,
valor, dever, necessidade, determinagado, autonomia, lei,
arbitrio, carater, virtude, direito, personalidade, si-préprio,
culpabilidade e inocéncia, imputagao, legitimidade e jus-
tificagdo. As referéncias a problemas de filosofia teorica
serao reduzidas ao minimo indispensavel.
Os principios metodolégicos dos dois filésofos so mar-
cadamente distintos e, de certa forma, até mesmo opostos.
O programa critico de Kant constitui um empreendimen-
to tedrico de filosofia transcendental. Seu objetivo maior
é examinar, de forma sistematica, 0 alcance e os limites
préprios a razao, em seus diferentes usos. Kant discrimina
e analisa as condigées de possibilidade da experiéncia e
cia, no Ambito cognitivo
do conhecimento dessa exper
préprio das ciéncias formais (matematicas, l6gica) e das
ciéncias da natureza (mecanica racional, fisica), assim
como as condigdes de possibilidade da experiéncia mo-
ral. No fundamento tanto da ciéncia da natureza quanto
da experiéncia moral — assim como na base do saber que
delas se extrai — existem juizos sintéticos a priori.
$0. Nietzsche x Kant
Tais jufzos sao encontrados como fundamento das ma-
temiaticas e da ffsica. Como exemplo, pode-se mencionar
até mesmo uma proposigdo elementar de aritmética, ojuizo
incondicionado de que 7 + 5 = 12 (para utilizar um exemplo
do préprio Kant); e, quanto fisica, o jufzo que constituia
condigao formal basica dessa disciplina cientifica: “Todo
efeito deriva de uma causa, de acordo com uma regra in-
varidvel” é o melhor exemplo de um juizo sintético a priori.
Analisando tais jufzos, percebemos que conectam dois
conceitos totalmente distintos um do outro—num caso, 0
conceito da soma de dois nimeros quaisquer e 0 con-
ceito de outro ntimero; no outro, o evento denominado
causa e 0 evento denominado efeito — que se encontram
ligados entre si por meio de uma operagao sintética, na qual
oconceito do predicado nao pode ser obtido pela andlise dos
elementos ou notas constituti
s da compreensao do conceito
do sujeito. Trata-se, portanto, de uma ligagao para a qual nao
basta, como fundamento, o principio de nao contradigao.
No entanto, nos exemplos acima, a ligacgao é efetuada
como uma propriedade dos objetos pensados por meio dos
respectivos conceitos. E tais enunciados nao sao jufzos
de percepgao, cuja validade é subjetiva e particular, mas
sustentam uma pretensao a validade objetiva e universal
que nenhum conhecimento extraido da experiéncia pode
chancelar—uma vez que, por definigao, todo fato empfrico
€ contingente e particular. Portanto, tais jufzos sdo sinté-
ticos, posto que configuram um conhecimento extensivo
a todos os conceitos e no qual o predicado agrega ao con-
‘wrropugho 31
a
ceito do sujeito notas nao compreendidas nesse conceito;
e sido, todavia, apriorfst
validade objetiva nao derivam da experiéncia.
A filosofia critica de Kant se propée, pois, a examinar
como sao possiveis juizos sintéticos a priori,em todos os do-
em que tais juizos sa0 constataveis, principalmente
plinas do saber humano: na matemiatica,
icos, pois sua universalidade e sua
m{nios
como base de disci
na metafisica, na Fisica. Também quanto ao Ambito pratico
da razio, a pergunta critica kantiana é como sao possiveis
juizos sintéticos a priori no dominio da praxis humana, ou
seja, da moral e da ética.
“y Que tais juizos existem fica provado pela f6rmula do
imperativo categérico: “age sempre em conformidade com
uma maxima tal que possas querer, ao mesmo tempo, que
elavalha também como lei universal da natureza.” Tal im-
perativo conforma um juizo peculiar, como examinaremos
a seguir, no qual dois conceitos sao ligados sinteticamente
e de modo apriorfstico; no entanto, o fundamento dessa
sintese nao pode ser dado pela experiéncia (e, portanto, a
posteriori), como ocorre com os demais juizos sintéticos,
mas sé pode ser buscado na raz4o pura, uma vez que 0 im-
perativo categérico vincula a vontade humana a lei moral
por intermédio da universalidade necessaria das méximas
dessa vontade, numa ligacao que reivindica validade ob-
jetiva e universal, que nenhuma experiéncia pode prover.
Aé
mos na sequéncia. Ela é concebida e formulada como uma
ica de Kant é uma ética do dever, como explicare-
ética normativa, que prescreve regras para 0 agir tendo
32 /
Nietzsche x Kant
como referéncia valores que reivindicam para si validadee
forga cogente universal. A filosofia moral de Kant 6, nesse
sentido, deontolégica.
Aética de Nietzsche, ao contrdrio, principia por colo-
car em questao os pressupostos deontolégicos da moral
kantiana, ou seja, denuncia a faldcia da pretensdo uni-
versalista de valores e da validade incondicionada de de-
veres e obrigagdes. Como a filosofia moral kantiana, a de
Nietzsche é eminentemente critica, mas seu método nao
é transcendental (no sentido de Kant).
Por isso, em vez de se perguntar pelas condigées de pos-
sibilidade dos jufzos sintéticos a priori no ambito da mora-
lidade, Nietzsche parte da dentincia da propria pergunta
transcendental kantiana. Para ele, jufzos sintéticos a priori
sdo “erros fundamentais da raziio”. E, no que diz respeito
a valores, deveres e obrigagoes, a pergunta de Nietzsche é
essencialmente genealégica. Ela se volta paraum exame da
génese dos valores morais, assim como do valor dessa génese,
Sob quais condigdes o homem inventou para si aqueles
juuizos de valor bom e mau? E que valor tém eles préprios?
Fomentaram ou entravaram, até aqui, a prosperidade
humana? Sao e!
s um signo de pentiria, de empobreci-
mento, de degeneragao da vida? Ou, inversamente, neles
se denuncia a plenitude, a forga, a vontade de vida, sua
coragem, sua confianga, seu futuro?®
ee as
Nietzsche, F. Zur Genealogie der Moral. Vorrede, 3. KSA, volume 5, p.
520s.
wreonugho
33
NY
oN
A tarefa de Nietzsche pode ser formulada, resumida.
mente, nos seguintes termos: necessitamos de uma Critica
dos valores morais do bem e do mal, de bom e mau. Essa
critica deve ser capaz.de colocar em questao o valor desses
valores, e determinar ndo apenas a génese desses valores,
a historia de sua proveniéncia — uma vez que, como tudo
aquilo que importano mundo cultural, esses valores vieram
aser, ao contrério dos valores eternos, subtraidos ao fluxo
do tempo ea corrente da histéria humana, que sao idénti-
cos a si mesmos, estdveis e permanentes e que, portanto,
s6 podem ser aquilo que nao tem histdria —, mas também
o valor dessa génese, j4 que 0 valor de tais valores jamais
foi posto em questdo. Nessa exigéncia critica, Nietzsche
discerne a especificidade de sua genealogia:
Expressemos essa nova exigéncia: temos necessidade
de uma critica dos valores morais, o proprio valor desses
valores tem, pela primeira vez, que ser posto em questao
~ ¢ para tanto carecemos de um conhecimento das con-
dig6es e das circunstancias a partir das quais eles cres-
ceram, sob as quais se desenvolveram e deslocaram ...
um conhecimento tal que até agora nao existiu, e também
ainda nao foi desejado. O valor desses ‘valores’ era tomado
como dado, como factual, como além de toda colocagao
em questao; até agora, ndo se duvidava nem se hesitava,
o mais remotamente que fosse, em colocar ‘o bom’ como
de valor mais elevado que ‘o mau’, no sentido do fomen-
to, da utilidade, da prosperidade, em vista do homem em
“ Nietasche x Kant
geral (incluindo-se o futuro do homem). Como seria se 0
contrario fosse a verdade??
Ao longo deste trabalho, tomaremos 0 termo “valor” em
acep¢do que o remete ao conceito de “bem”. “Bem”, por sua
vez, deve ser entendido como aquilo para o que um ente
qualquer tende — isto €, o elemento que perfaz, completa
e realiza integralmente sua esséncia ou natureza. Nesse
sentido, o “bem” é 0 fim a que um ente determinado tende,
como termo de sua realizacao (seu telos), proporcionando
uma resposta a pergunta: para qué?
O para qué? de uma coisa, aquilo a que ela se presta, a
finalidade que ela real
za, isso constitui o seu “bem”, seu
ser-bom-para, sua referéncia ao “bem’”, isto é, seu “valor”,
na acep¢ao restrita que aqui consideramos. A estreita vin-
culagao entre bem, valor e finalidade produz muitas vezes
um deslizamento seméntico que leva a uma confusao que
consiste em identificar pura e simplesmente bem, valor,
finalidade e utilidade. Desde a antiguidade classica, os fi-
lésofos se preocuparam em desfazer essa confusdo entre o
Bem e 0 titil. Esse esforgo ecoa também nas filosofias de
Kant e de Nietzsche.
Nesse confronto, é preciso considerar também previa-
mente que as posigGes dos dois “contendores” é assimétri-
ca, posto que Kant, como € 6bvio, jamais teve contato com
as obras de Nietzsche e, portanto, nao péde considerar e
sche, F. Zur Genealogie der Moral. Vorrede 6. KSA, volume 5,
WwrRoougho 35
oo,
responder as criticas que lhe foram enderegadas por este
Nietzsche, ao contrério, conhecia a obra de Kant e meditoy
profundamente sobre ele, considerando-se, num importan.
te sentido, herdeiro do legado espiritual kantiano. Por essa
razao, alguma desproporgao na exposi¢ao dos argumentos
seré inevitavel na montagem da confrontagao.
YS
36
Nietasche x Kant
PRIMEIRO MOVIMENTO
KANT: UMA ETICA NORMATIVA DO DEVER
A) LIBERDADE E CAUSALIDADE NATURAL: A POSSIBILIDADE DA MORAL
‘Tomaremos como ponto de partida do confronto entre Kant
e Nietzsche um nticleo de problemas comuns, aos quais os
dois filésofos deram igual importanciae dispensaram igual
atencao e exame critico. Uma apresentacao sucinta desses
problemas poderia ser formulada por meio das seguintes
questdes: sob quais condigdes podemos atribuir um ato a
seu agente? Em que sentido pode-se considerar um indi-
viduo 0 sujeito responsdvel Por suas agGes? Como pode ser
racionalmente justificada a imputagao, que pressupde jus-
tamente a consisténcia da atribuigdo acima mencionada?
Essa iltima pergunta desdobra-se em outra, igualmente
fundamental para a moralidade: que condigdes devem
necessariamente ser pensadas para que fagam sentido e
37
como podem ser legitimados jufzos a respeito do valor mo.
ral (bom ou mau) das ages humanas? ;
Uma classica resposta a essas perguntas consiste em
atribuir ao agente racional (aqui provisoriamente consi-
derado “o homem’; logo adiante veremos como a extensao
légica desse conceito nao se limita aos seres humanos,
mas ao conceito de ser racional em geral, que pode incluir
outras espécies possiveis ou pensaveis de seres racionais,
como Deus, por exemplo) a propriedade da liberdade —
num sentido mais restrito, a propriedade do livre-arbitrio,
Desse modo, atribui-se ao homem um tipo muito especial
de causalidade: a causalidade da vontade, de acordo coma
qual o ser humano tem nela — na voluntas —o princfpio ou
a causa produtora de seu agir. Essa causalidade se refere
tanto a propria agdo quanto a escolha (determinagao) das
regras de seu agir, entendendo-se por regras, nesse con-
texto, as normas gerais de conduta ou 0 principio norma-
tivo (valorativamente orientado) que dé sentido e diregao
a conduta dos homens, seja em relacao a si préprios, seja
em relagao aos outros homens.
Nesse sentido, no conjunto da natureza, o homem parti-
tha com os animais um tipo de causalidade interna, ligado
a faculdade de apetigao (faculdade apetitiva), que consiste
em produzir, recorrendo A Tepresentagao, o objeto dessa
Tepresenta¢ao, ou seja, determinar-se voluntariamente ao
movimento ou agao. Faculdade de desejar é a faculdade de
realizar pelo pensamentoe Pelas agdes os objetos de nossas
Fepresentacdes, sejam eles pensamentos ou voligdes. Para
38
Nietasehe x Kant
a i)
Kant, a propria vida, considerada como prine‘pio interno
de animagao dos organismos, pode ser pensada como a fa-
culdade, propria a certas classes de entes naturais, de agir
em conformidade com suas representagGes.
Se assumirmos, ao menos provisoriamente, essa defi-
nigdo de vida—“faculdade que tem certas classes de entes
naturais de agir em conformidade com suas representagdes”
_, entéo compreendemos que, embora essa causalidade do
agir seja interna (ou seja, derive das representagGes desses
mesmos entes), isso ainda nao basta para que possa ser
considerada uma causalidade livre. Pois ela pode obede-
cer a uma legalidade que no comporta nenhum padrao
alternativo de acao, ou seja, uma legalidade inflexivelmente
invaridvel, como aquela que vigora na natureza, em geral,e
que, por isso mesmo, é denominada necessidade natural.
Nos termos de Kant, o problema é formulado da se-
guinte maneira:
E uma lei da natureza que tudo 0 que ocorre possui uma
causa, e que a causalidade dessa causa (ou seja, oelemento
que a torna capaz de produzir efeitos) também tem uma
causa, ou seja constitui um fendmeno mediante o qual
€ determinada a primeira causa, e isto porque toda cau-
salidade ocorre no tempo; considerando, entao, que um
efeito qualquer tenha surgido, isso também significa que
ele tem de ser pensado como nao podendb ter existido
sempre, uma vez que ocorreu, mas tem que ter acontecl-
do no tempo, como modificagao de um estado de coisas.
ANT, uma ETCA MORMATIVA BO DEER 39
aN
Segundo essa lei de causalidade, consequentemente, to.
dos os eventos numa ordem natural sdo empiticamente
determinados. Esta lei, através da qual os fendmenos po-
dem primeiramente constituir uma natureza e fornecer
objetos de uma experiéncia, é uma lei do entendimento,
nao sendo permitido, sob hipstese alguma, afastar-se da
mesma nem tampouco dela eximir qualquer fendmeno,
Permitir isso implicaria p6-la fora de toda experiéncia
possivel e, através disto, distingui-la de todos os objetos
de uma experiéncia possivel, tornando-a um mero ente
do pensamento, uma quimera.'°
Uma lei natural é a expressao de uma relagao regular
entre dois fendmenos da natureza (alteragao ou modificagao
de estados da matéria), relacdo esta de acordo com a qual,
sempre que um deles se produz, segue-se invariavelmente
o outro, de acordo com uma regra fixa. Tais fendmenos sao
sempre modificagées dos estados de repouso ou movimento
dos corpos. Se dermos a uma dessas modificagées de es-
tados de coisa o nome de causa, entdo a causalidade sera
o poder (virtus) que tem essa modificagao de produzir a
modificagao subsequente, de modo regular e sem exce¢ao,
alteragdo a qual atribui-se o nome de efeito.
Causalidade natural é 0 poder das causas naturais de
produzir de modo invariavel seus efeitos, por exemplo, 0
© Kant, I. Critica da razao pura, B 570-72. Trad. Valério Rohden e Udo
Moosburger. Colegio Os Pensadores. Sao Paulo: Abril Cultural, 1980,
p. 275s.
40 Nictasche x Kant
om
efeito de a Agua ferver a uma temperatura de 100°C. A
causalidade vigora universal e integralmente na nature-
za, de modo que o préprio conceito de natureza se define
como o conjunto dos fenémenos observaveis, unificado,
do ponto de vista da forma, por uma mesma lei ou regra:
o principio da causalidade, ou 0 principio de razao sufi-
ciente, de acordo com o qual toda mudanga fenoméni-
ca (alteragdio de estado de uma coisa) esté ligada a uma
mudanga anterior, e se verifica segundo uma regra que
define uma relagdo invariavel.
Desse modo, nenhuma modificagao na natureza (na
citagdo acima enunciada Kant se refere a todo fendme-
no, sem nenhuma excegao possivel) pode ser produzida
sem que intervenha para tanto uma causa suficiente. Oo
principio de razao suficiente € a lei universal da natu-
reza, considerada do ponto de vista da forma, abstrafda
de qualquer contetido fenoménico. Em sentido estrito,
explicar significa relacionar um efeito @ sua causa, um
fato a sua razao de ser, uma conclusao as suas premissas
ou fundamentos, de acordo com a regra constante que
determina a sucessio de um pelo outro —e conhecer im-
plica tornar-se objeto de uma explicagao —; a saber, exibir
a causa, o fundamento, a razdo de ser de um fendmeno
qualquer; 0 “como” e o “por que” de sua existéncia.
Portanto, do ponto de vista tedrico ou especulativo
(isto 6, daquele uso que fazemos da razdo para produzir
ciéncia, ou conhecimento dotado de valor objetivo), nado
pode existir nenhum efeito que nao tenha sido necess
ANT, UMA CTICANORMATIVA DD BEYER a
\)
e invariavelmente determinado por sua causa anterior,
Nisso reside propriamente 0 conceito de determinagay,
tendo como certo que, do ponto de vista daquilo ne
nhecer ou determinar, nao temos acesso a
podemos co
nenhuma primeira causa — isto €é, um causa que nao seja
efeito de nenhuma modificagao precedente e que totali-
ze e complete toda a série das modificagdes conectadas
de maneira causal.
Dentre as causas no fendmeno, é certo que nada pode exis-
tir que possibilite, absoluta e espontaneamente, o inicio
de uma série. Na medida em que produz um evento, toda
ago, enquanto fenémeno, também € propriamente um
evento ou acontecimento que pressup6e um outro estado
no qual se encontraa sua causa, desta forma, tudo o que
ocorre 6 somente uma continuagao da série, sendo im-
possivel, nesta tiltima, qualquer inicio que ocorra por si
mesmo. Logo, todas as ages das causas naturais também
so, por sua vez, efeitos na sucessao temporal, os quais
da mesma forma pressup6em stias causas na série tem-
poral. Uma agdo origindria, mediante a qual ocorra algo
que antes nio existia, ndo pode ser esperada na conexdo
causal dos fendmenos.'!
Dadas essas cond|
os fendmenos da natureza, inclusive as agdes humanas € ©
" Ibid.
2 Nictesche x Kant
—
Ses, e sob esse ponto de vista, todos
comportamento animal, sao invariavelmente determinados
de acordo com a atuagio regular de causas especificas. O
que diferencia as agoes humanas das agGes animais é que
elas sio especificadas por um modo particular de causali-
dade, dependente de um principio interno, ou voluntario.
Pois nesses entes a determinacao do movimento depende
da atuacao de uma faculdade chamada vontade, cuja con-
figuracao individual chama-se cardter, que € mobilizado
aagir pela forga de motivos que Ihe sao apresentados pelo
intelecto. Esse tipo de causalidade voluntaria esta, porém,
submetido a lei da motivagao, ou seja, a atuagdo de uma
dada constelagdo de motivos sobre a estrutura de um de-
terminado cardter, que 0 inclina para um curso de agao
em determinada diregao.
No caso das agGes dos animais, a causalidade da vonta-
de é menos problematica, pois o modo de atuagao da mo-
tivagdio depende da legalidade prépria a um equipamento
instintivo empirico (inerente a sensibilidade das diversas
espécies animais), contingente, invaridvel em todos os in-
divfduos da mesma espécie, que se reproduz como padrao
de atuagao de tipo quase mecAnico — estimulo-resposta
~, sempre limitado a representacao presente. No caso das
acdes humanas, a adogao do mesmo modelo explicativo
equivaleria a negagao da possibilidade da liberdade, pos-
to que as agdes humanas resultariam necessariamente
da atuagao de motivos sobre a estrutura individual de um
cardter empirico, ou seja, sobre a natureza. Isso porque a
natureza é parte integrante da realidade empfrica e nao é
KANT. UMA ETICA NORMATIVA DO DEVER 8
produto de deliberagses livres de uma faculdade apetitiva
que, para tanto, deveria agir espontaneamente, por mejg
de uma faculdade que, no ser humane, nao seria Natureza,
mas espontaneidade — e esta s6 poderia ser a razao.
Nessas condigées, e sob a ética da razao tedrica, naty.
reza e liberdade sao conceitos antitéticos, pois, do ponto
de vista do conhecimento cientifico da realidade objetiva,
os efeitos se produzem necessariamente em virtude de suas
causas—o que significa que nao poderiam ocorrer de forma
diferente daquela em que ocorrem. Como as agoes huma-
nas sao reputadas livres, cria-se a dificuldade de conciliar
essa liberdade com o restante da natureza, uma vez que é
inegavel que o homem e seu agir fazem parte do que deno-
minamos realidade empirica, ou seja, da natureza entendida
como 0 conjunto dos fendmenos unificados sob uma lei.
A partir do que discutimos, liberdade s6 pode ser um
conceito negativo, ou seja, entendida como um ambito ex-
cepcional em relagao aquela necessidade causal vigente
sem excegao na natureza. Todo o problema da liberdade
consiste, pois, na possibilidade de compatibilizar a cau-
salidade da vontade de determinados entes naturais (os
homens) com a causalidade vigente na natureza em geral.
Nas palavras de Kant:
Apesar de que aqui parece haver simplesmente uma cadeia
de causas que de modo algum admite uma totalidade ab-
soluta no regresso as suas condigées, de maneira alguma
somos detidos por esta incerteza; com eleito, ela ja foi su-
44
Nietasehe x Kant
primida na avaliagao geral da antinomia dara
na qual
esta tiltima cai quando, na série dos fendmenos, procede
em diregao ao incondicionado. Se pretendermos ceder &
ilusao do realismo transcendental, entdo nao restam nem
anatureza nem a liberdade.”
Liberdade seria 0 poder de dar inicio espontaneamente,
pela prépria vontade (a tanto determinada pela razio), a
uma série de eventos que, no mundo empfrico, apareceriam
como causalmente conectados, de conformidade, portan-
to, com a lei formal da natureza, a saber, com 0 principio
de causalidade; nesse caso, a conexao causal entre atos da
vontade e suas exteriorizagées psicolégicas e fisicas em
sentimentos e agdes, como fendmenos do mundo empiri-
co, seria determinada segundo a causalidade natural e, no
entanto, teria um infcio espontaneo, dependente da cau-
salidade livre de um ato de vontade que inaugura a série.
Esse ato inicial, portanto, seria a autodeterminagao da
vontade — ou seja, um ato pelo qual a vontade de um agen-
te dé a si propria regras com vistas sua agao; um sujeito
prescreve a si mesmo a regra geral, ou o principio subje-
tivo segundo qual sua vontade se determina para a agao
(esse € 0 significado do termo “maxima”, como principio
subjetivo do agir; seu modo regular de agao, seu carter, ou
seja, aquilo que constitui a legalidade, 0 selo ou marca dis-
tintiva invaridvel, impresso em todas e cada uma de suas
® Ibid.
KANT: UMA ETICA NORMATIVA DO DEVER 6
0 o'/
agGes). Tal ato ndo poderia ser determinado por uma cay.
sa diferente dele proprio, pois sendo permanecerfamos no
plano da determinagao causal que vigora universalmente
na natureza, tornando a determinagao inicial da vontade
um efeito necessdrio, portanto nao livre.
Por essa razdo, um conceito positivo de liberdade s6
pode existirno dominio pratico da razao pura, isto é, nao no
Ambito das explicagGes tedricas, mas da praxis, ou seja, do
agir voluntério determinado pela representacao de valores
e regras. E é por isso que a liberdade pertence ao ambito
da ética, isto é, nao ao dominio do ser, mas ao universo do
dever-ser — seja ele moral ou juridico.
Com a excegao do agir humano, na natureza em geral
parece haver simplesmente uma cadeia de causas que de
modo algum admite uma totalidade absoluta no regresso
As suas condigdes ou a uma causa primeira, ela mesma
independente de uma condigao anterior que atue como
causa, de que ela seria efeito, como ocorre com os demais
\
elementos de toda série causal. A totalizagao absoluta da
série levaria a uma ago incondicionada, 0 que, do ponto
de vista da razao teérica — do principio de causalidade na-
tural -, implicaria contradigao.
E, no entanto, o conceito de liberdade esta ligado, para
Kant, precisamente a possibilidade de se pensar em uma
ago incondicionada, do tipo acima referido. Se manti-
vermos 0 ponto de vista da causalidade natural universal
mente vigente, entao nao haveria possibilidade légica de
liberdade. Se admitirmos que é possivel uma liberdade que
“ Nietesche x Kant
seja uma causalidade da vontade de determinados seres
naturais, cuja atuagdo, no entanto, se daria no plano da
natureza, ou seja, dos fenémenos que podem ser dados e
verificados na experiéncia atual ou possivel, isso destrui-
ria o proprio conceito de natureza, para cuja possibilidade
temos forcosamente de admitir a vigéncia sem excegao da
causalidade natural.
Kant formula o dilema nos seguintes termos:
‘Trata-se aqui unicamente da seguinte questao: caso se
reconhega uma pura necessidade natural em todaa série
de todos os eventos, é possivel encarar exatamente esta
série como um mero efeito natural sob um aspecto e como
efeito da liberdade sob outro aspecto, ou se dé uma con-
tradigdo direta entre esses dois tipos de causalidade??
B) O CONCEITO KANTIANO DE IMPERATIVO CATEGORICO DA MORALIDADE
Esquematicamente, pode-se dizer que encontramos em
Kant duas modalidades de explicagao da possibilidade de
formular juizos sobre 0 valor moral das agdes humanas. Para
tanto, eantes de tudo, é fundamental distinguir dois pontos
devista, de acordo com os quais se pode considerar 0 homem
e seu agir: 1) Como sujeito empirico ou fenoménico (tanto
individual como genérico — nesse segundo caso, 0 sujeito
'§ Ibid.
ANT. UA ETICAKORMATIVA DO DEVER “
seria 0 género humano, em seu conjunto, € seu campo de
atuagdo seria a historia universal), ou seja, como uma esp¢.
cie de ente integrante da cadeia causal global a que damos
o nome de natureza, ou realidade empfrica —a saber, nos
termos da definicdo acima: o conjunto dos fendmenos conec-
tados pelo principio de razao suficiente; 2) Mas, de acordo
coma distingao que constitui a base da filosofia critica de
Kant, também o homem, como qualquer outro fenémeno,
pode ser considerado do ponto de vista nao fenoménico, ou
seja, nouménico, como noumenon, a saber, como coisaemsi,
Portanto, a distingao critica entre fendmeno e coisaem si
permite consideraro homem como: a) submetido a necessida-
de natural, enquanto é tomado como fenémeno; b) capazde
uma causalidade sui generis, ou seja, de uma causalidade da
vontade espontanea, na medida em que determinada pela
razdo pura — independentemente da sensibilidade, que
é herdada tanto da natureza quanto da histéria por cada
individuo humano, e independentemente de sua vontade
singular. Segundo essa segunda perspectiva, o homem
pode ser pensado como noumenon, e, portanto, como su-
jeito de suas agées (de seus atos de vontade), uma vez que
dependem unicamente de suas escolhas.
O sentido restrito desses atos espontaneos de vontade
consiste na determinagao das regras ou normas gerais de
conduta, que direcionam e informam o agir dos seres hu-
manos, isto é, seus princfpios. Essa determinag (0 do prin-
cipio subjetivo geral segundoo quala vontade se orientaem
nas do
suas ages externas, ou seja, a deliberacao das m
48 ex Kant
oY
agir, pode ser considerada um ato de vontade em sentido
restritissimo, uma protoacao, da qual decorrem todas as
agdes, na acepcao comum do termo.
Sao caracterfsticas do homem nao somente sua condi-
do ontolégica de animal racional mas também a estrutura
de sua faculdade apetitiva. Kant a denomina, por vezes,
Begehrungsvermigen, capacidade desiderativa, ou capaci-
dade de desejar, e a divide em desejo (Wunsch), arbitrio
(Willkiir) e vontade (Wille). Desejo é a modalidade de ape-
tigdio — 0 modo de agir da faculdade apetitiva ou faculdade
de desejar — que se caracteriza pelo simples anscio, pelo
anelo, desacompanhado da consciéncia de poder alcangar 0
objeto desiderato, ou seja, nos termos de Kant, ha apenas a
representagao do objeto desejado, sem estar acompanhada
da consciéncia de poder “realizar o objeto da representa-
¢ao” — efetivamente transformar em realidade o desejado.
Arbitrio, por sua vez, € 0 desejo acompanhado da cons-
ciéncia ou da convic¢ao firme de poder realizar o objeto da
representagdo. J4 vontade é a modalidade especffica assu-
mida pela faculdade apetitiva humana que se diferencia por
ser determinada (em sua forma e em seu contetido) pela
razio, motivo pelo qual Kant identifica conceitualmente
vontade e razdo pratica, considerando como tal a razo
que determina os atos de vontade sob a forma de normas
de conduta, principios e regras subjetivas para o agir. (Em
apéndice a esta primeira parte do livro, o leitor encontra-
r4 uma transcrigdo da Metafisica dos costumes que ilustra
detalhadamente as diferenciagdes feitas acima.)
ANT UNA EICA NORKATIVA BO DEVER ”
De acordo com as definigoes acima, percebemos que,
para Kant, yontade nada tem a ver, Sonesitualimente com
inclinagao, propensao, desejo, paixdo ou qua quer moda.
lidade de afecgao sensivel, isto é, suscetibil idade A apeticag
em virtude de impressdes sensoriais recebidas de objetos,
Vontade refere-se unicamente a faculdade de desejar con.
siderada como arbitrio, este relacionado nao a ago, e sim
ao fundamento de determinagao do arbitrio com vistas q
acao; e arbitrio nao enquanto determinado por qualquer
objeto, mas unicamente pela representa¢ao de regras de
acdo, normas de conduta, que lhe so prescritas pela pré6-
pria rao, que, nessa fungao de prescrever regras para o
arbjtrio, é chamada pritica (ou seja, relativa a prdxis como
agir orientado por normas e valores).
Oarbitrio humano, portanto, pode ser considerado ten-
do em vista seu objeto, um bem ou valor que se pretende
alcangar—e esse bem pode ser um desejo, uma propensio,
um apetite, uma paixdo, uma inclinacao ligado a coisas
materiais ou imateriais que despertem nosso interesse.
Em todos esses casos, aquilo que mobiliza o arbitrio (seu
stimulum, ou mobil - Triebfeder, no léxico de Kant) so im-
pulsos sensiveis. Ora, os impulsos sensiveis sao inerentes
ao modo de configuragao da sensibilidade de cada pessoa,
pertencendo, portanto, & natureza especial de seu modo
de ser. Essa natureza, por sua vez, como tudo aquilo que
pertence ao Ambito da experiéncia (ao dominio da realidade
empfrica), é contingente, razdo pela qual nao pode servir
de base ou fundamento para uma lei geral. Para Kant, 0
50
Nietasche x Kant
que constitui a caracteristica essencial de toda lei —a le-
galidade da lei—sao sua universalidade e sua nece
dade,
ou seja, a propriedade de valer sem excegdo para todos os
casos ou instAncias a que se aplica.
Portanto, se um determinado individuo extrai a norma
geral — ou o principio subjetivo de determinagao de seu
arbitrio com vistas 4 agao — de um mobil sensivel (de um
desejo, de uma inclinagao, de um interesse egofsta qual-
quer), a regra dai extraida sera sempre particular e con-
tingente, dependendo do modo empfrico de configuragdo
de sua sensibilidade, a qual, por seu turno, depende da
natureza. Nesse caso, tanto 0 principio de determinacgao
do arbitrio com vistas 4s agdes concretas no tempo e no
espaco, como essas mesmas agées devem ser pensadas
como nao livres, como coagidas, nao sendo referidas a um
principio de espontaneidade, mz
s inseridas na causalida-
de geral da natureza.
Livres, em determinado sentido que precisaremos a
seguir, sdo apenas e unicamente aquelas ag6es cujo prin-
cipio de determinagao consiste numa regra que 0 arbitrio
acolhe espontaneamente, em outras palavras, numa regra
que lhe é dada pela nica instancia que, no ser humano, é
espontanea—e esta é a raz:
(0. Livres sdo as ages derivadas
de uma regra, norma ou princfpio que 0 arbitrio de deter-
minado ser humano recebe da razao e acolhe em si como
alei que totaliza e dé forma a seu querer e agir. Livres sao
a
s que podem ser atribufdas a um tal arbitrio — que as-
sim pode ser chamado liberum arbitrium-, diferentemente
ANT, UMA ETICA NORNATIVA D0 DEVER al
daquelas que derivam de um principio que o arbitrio recebe
eacolhe a partir de mobiles sensiveis.
Sendo assim, poderiamos considerar livres unicamente
aquelas agdes determinadas por uma regra que 0 arbitrio
receba da razao, transformando-se, com isso, em vontade
~ nesse sentido restrito, livres seriam unicamente agdes
determinadas em conformidade com uma maxima deriva-
da da razio pratica, que o arbitrio acolhe como seu princi-
pio de determinagao. Apenas tais agoes poderiam, nessas
condigdes, serimputadas ou atribuidas a nés, na qualidade
de sujeitos agentes. Todas as demais seriam derivadas de
uma lei inerente a condi¢ao natural de nossa sensibilida-
de particular, sobre a qual, em derradeira instancia, nao
temos poder algum, sobretudo poder de escolha, uma vez
que a recebemos passivamente da natureza.
Em outros termos: nessa acepgao restrita, somos livres
se e somente se agimos de acordo com regras que nos so
prescritas pela razao pratica. Em todos os demais casos
estamos submetidos a causalidade da natureza — somos
agidos e nao agentes, nao somos, em sentido préprio, su-
jeitos responsdveis por nossas agées. Essa é uma tendén-
cia de interpretagdo que implica graves dificuldades, na
medida em que restringe consideravelmente o Ambito de
abrangéncia da imputabilidade moral. Se acdes pratica-
das em razio de mobiles sensiveis devem ser reportadas,
em titima instancia, a legalidade natural, entao elas nao
poderiam, a rigor, ser imputadas a seus agentes, uma vez
que decorreriam do que neles é natureza. Imputiiveis se-
” Nietaselw x Kat
riam unicamente as agGes livres, posto que s6 agirfamos
livremente quando 0 princfpio do agir fosse determinado
de maneira espontanea por uma regra da razao.
Esse entendimento seria compatfvel com 0 primeiro
livro do Kant pés-eritico, dedicado a filosofia moral: A
fundamentacao da metaftsica dos costumes, de 1785.
Ja a Metafisica dos costumes e A religido nos limites da
simples razdo dao base a um entendimento alargado da
liberdade do agir, bem como dos conceitos correlatos de
responsabilidade e imputagao. De acordo com essas obras,
todas as nossas agées seriam livres, na medida em que essa
propriedade — a liberdade — deve sempre ser referida a de-
terminacao do arbitrio com vistas & agao, e ndo a propria
aco, ou ao objeto por ela visado.
No espectro formado por esses dois livros, 0 arbitrio
pode ser considerado uma arena de combate entre duas
instancias de determinagao opostas: de um lado, impul-
sos sensiveis, todos eles podendo ser reunidos no conceito
de mobiles sensiveis ou motivagao egoista; de outro lado,
a razdo pura como instancia determinante das regras de
determinagao do arbitrio. Como a razao pode ser definida
pelas propriedades de universalidade e necessidade, en-
tao esse tipo de motivacao, contréria a particularidade do
egoismo, pode ser denominada motivagao altrufstica, que
€ caracterfstica de uma boa vontade.
A vontade, ou razo pratica, pode ser considerada boa
unicamente mediante a exclusdo das motivagées egoistas
(pois valor moral — bem e mal —e egofsmo sao termos an-
KANT: UMA ETICA MORMATIVA 00 DEVER oa
|
titéticos), de modo que boa é a vontade sob a condigag de
que aja por dever, ou mediante a representacio do dever
Ora, dever, nos termos de Kant, define-se como aquelg
ago a qual alguém esté obrigado. Dever € a matérig da
obrigagao, e isso pode ser constituido por qualquer aCao
que se pratica por dever (segundo a agao), ao qual pode.
mos ser obrigados de diferentes maneiras.
Se, pois, dever 6a ago a qual alguém se acha obrigado,
entao dever e obrigacao s4o termos mutuamente substitut
veis. Obrigagao, por sua vez, € um conceito em cujo sentido
se encontra a nogao de necessidade. Pois obrigagao € justa-
mente a necessidade de uma ago livre sob um imperatiyo
da razao. Imperativo é um comando que prescreve deter-
minado comportamento. Se a agao prescrita é necesséria,
entao isso significa que ela tem forcosamente de ocorrer,
no podendo deixar de ser executada. Um imperativo que
comanda uma ago necessaria tem de comanda-la inde-
pendentemente de qualquer condigéio, sendo, portanto, um
mandamento incondicional, pois, de outro modo, a agao
prescrita e seu comando jamais seriam necessarios, mas
sempre contingentes em relacao a condigao de que depen-
dem ~ seriam um meio para sua realizagao.
O imperativo do dever tem de ser, pois, uma regra pré-
tica, cuja forma é categérica, pela qual a agao prescrita,
em si contingente, é tornada necessaria. Para Kant, a lei
pritica da
0, que deve servir de principio de determi-
nagdo do arbitrio para que uma vontade possa receber 0
predicado moral de boa, Precisa ser um imperativo que
. Nietasche x Kant
EE ES
obrigue a uma agao necessaria, que s6 pode ser prescrita
porum comando incondicional. Imperativos podem ser:
a) Imperativos técnicos: aqueles que prescrevem agoes
(quaisquer) que devem ser realizadas como meio adequa-
do para consecugao de determinados fins (também eles
quaisquer). Por exemplo, se quero me tornar um eximio
motorista, devo conhecer as regras do trafego, os mo-
dos de funcionamento de determinados vefculos, assim
como praticar constantemente determinados exercicios
de diregao.
b) Imperativos pragmaticos: séo aqueles que prescre-.
vem determinadas agées como meio de consecugao de
certos fins, os quais sao considerados fins gerais dos seres
humanos, como, por exemplo, a satide. Se quero ter uma
vida saudavel, devo observar limitagées dietéticas, evitar
o consumo de determinadas substancias e praticar certas
espécies de exercicios fisicos. A conservagao da satide é
uma finalidade que pode ser razoavelmente considerada
um bem genérico para a espécie humana.
c) Imperativos categéricos, ou leis praticas: sao regras
que comandam acoes obrigatérias, ou seja, necessdrias
em fungao do proprio imperativo. Imperativos categéricos
sdo, portanto, comandos necessdrios, de validade ou cogén-
cia universal, isto é, que valem para todos os agentes aos
quais é destinado. Como um imperativo é uma regra, sua
possibilidade é dependente da faculdade de representa-
¢40. S6 um ser racional pode agir mediante a representagao
de regras ou principios. Logo, um imperativo categérico é
KANT. UMA ETICA NORMATIVA DO DEVER a8
a
uma regra valida para todos os agentes racionais, Como
universalidade e necessidade s4o propriedades logicas
das leis, entdo o imperativo categérico é a Propria lei dq
razdo pratica.
A motivacao egofsta — em qualquer de suas modalida-
des, como desejo, interesse proprio, inclinagao, Propen.
sao, paixao etc. — s6 pode fornecer regras Particulares ¢
contingentes, portanto, em sentido kantiano, nenhuma ej
pratica, apenas imperativos técnicos ou pragmiaticos. Jéa
razdo pode instituir para o arbitrio uma regra que tenha
como propriedades a universalidade e a necessidade, que
sao atributos inerentes a racionalidade.
Mas, para poder fazé-lo, a re
zo tem de desconsiderar
toda matéria ou objeto do agir, para limitar-se 4 mera forma
das ages, j4 que, de acordo com 05 resultados tedricos da
Critica da razdo pura, nenhuma matéria, objeto ou conte-
ido € capaz de servir de base a fixacdo de uma regra que
pretenda valer objetiva ¢ universalmente como fundamen-
to de uma obrigacao. Esta é uma propriedade privativa da
forma, especialmente da forma da lei em geral. Assim, a
regra que a razao pode dar ao arbitrio s6 pode contera pura
forma da lei em geral, ou seja, a forma da universalidade,
abstrafda de todo contetido ou matéria.
Essa lei é 0 célebre imperativo categérico, que é apenas
um, mas pode ser enunciado de varias formas. Uma de-
las, quigé a mais conhecida, é a seguinte: “age apenas de
acordo com aquela maxima, por meio da qual tuao mesmo
tempo possas querer que ela se torne uma lei universal da
56
eS
natureza”.'* Como se pode depreender de seu enunciado,
alei tem: a) forma imperativa; b) consiste em um impera-
tivo categérico, no sentido de nio ser ordenada em vista
de nenhum objeto a que esteja voltada a agao, 0 qual se-
ria posto como fim para cuja consecugao a agdo seria um
meio e que, nesse sentido, estaria condicionada a ele; c)
determina unicamente a forma que deve ter a maxima do
agente, e essa forma € a universalidade prépria de toda lei.
O imperativo categérico € a lei moral e, portanto, vali-
da e obrigatoria, per se, para todo ser racional — indepen-
dentemente de toda matéria ou finalidade da agao. Para
Kant, um puro ser racional — Deus, por exemplo, ou uma
vontade santa, em geral — nao necessitaria de nenhuma
outra regra de agao ou norma de conduta senao aquela cujo
contetido é idéntico a forma da lei em geral, ou seja, aquela
regra que prescreve que toda maxima deve ter a mesma
forma universal da lei, independentemente de qualquer
outra consideragao.
A vontade humana, no entanto, nao € perfeita, nao é
uma vontade santa. Os seres humanos sao ontologicamente
constitufdos de tal modo que, neles, a razdo pura é limita-
da pela sensibilidade, limitagao em razdo da qual eles se
caracterizam como seres racionais finitos. Neles, a lei moral
da razo pratica concorre — como prinefpio de determina-
cao do arbitrio com vistas a ago — com mobiles sensiveis
4 Kant, I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Werke. E. Wilhelm
Weischedel. Wiesbaden: Im Insel Verlag, 1960, vol. 4, p. 51
KANT: UMA ETICA MORMATIVA DO DEVER 7
sisténcia de impulsos, desejos
e encontra neles uma re
s egoistas.
inclinagdes, propensoes € interesse:
O arbitrio humano, como de um ser racional finito, ¢
r uma ou outra das instancias concorren.
livre para acolhe:
de sua determinagao. As duas
tes como razio suficiente
forcas sempre disputarao, no ser humano, a primazia da
razio suficiente de determinacao, de modo que nele am-
bas estarao presentes € atuantes, € da hierarquia entre
elas dependerd o resultado da avaliacdo moral das acdes
humanas. Sob o aspecto moral, esse conflito permanente
e inextirpavel constitui o drama existencial da conditio
humana.
Em fungdo desse conflito, o arbitrio humano é livre para:
a) fazer da lei moral a condigao de cuja satisfagdo depende
a satisfagdo de todo e qualquer interesse ligado a mobiles
sensiveis; b) condicionar o cumprimento do dever e, com
isso, da lei moral A satisfagao dos interesses egofstas a que
nos impelem os mobiles provenientes da sensibilidade. A
relagdo entre condigao e condicionado € a hierarquia mo-
ral das forcas ou motivagées das quais 0 arbitrio extrai ou
deriva sua regra ou prinefpio de determinagao: de um lado,
a lei pratica da razao; de outro, a indefinida variedade dos
desejos e inclinagoes sensiveis.
Em conclusio, 0 arbitrio humano é livre para acolher,
como princfpio de sua determinagao, ou uma maxima
‘des sensiveis e egofstas ou a forma
extrafda das motiva
universal da lei, que é promulgada pela razao pura, des
considerada toda matéria, contetido ou finalidade da agao-
* Nietasche x Kant
Em todos os casos, 0 agente é livre, do ponto de vista da
determinagao de seu arbitrio, ele € sujeito responsavel por
suas agoes e pela norma a que estas obedecem.
Em outras palavras, para uma vontade santa, a lei
moral, de pleno direito, é razao necessdria e suficiente da
determinagao da vontade. A vontade perfeita, propria dos
seres racionais cuja constituigdo nao inclui a limitagao da
razdo pela sensibilidade, age sempre naturalmente nao s6
em conformidade com a lei moral, mas unicamente em
fungao da lei moral, que, para tais entes, nado assume a
forma de imperativo, nem prescreve deveres.
Ora, é evidente que o ser humano tem na razdio um dos
princfpios de determinagao de sua faculdade apetitiva.
Se é verdade que o homem €¢ inclinado para suas paixdes,
seus desejos e interesses egoistas, nem por isso € menos
verdade que 0 homem, mesmo para realizar paixdes, de-
sejos‘e interesses egofstas, tem necessidade do concurso
/4o tedrica e da razao pratica. Portanto, é certo que
a razdo foi dada aos homens como princfpio de determi-
nacdo da vontade, considerando-se esse ultimo termo em
sua acepcao mais ampla.
Se a razio foi dada aos homens como um princfpio de
determinagao de sua vontade, ento esse concurso entre
da ra
razao e faculdade de desejar nao tem sua estrutura deter-
minada objetivando a felicidade humana. Com efeito, se
entendermos 0 conceito de felicidade como obtengao do
maximo de bem-estar com 0 minimo de sofrimento, en-
tao a felicidade, como finalidade do concurso entre razao
KANT: UMA ETICA MORMATIVA 00 DEVER os
Você também pode gostar
- Kardec em Quadrinhos - Carlos FerreiraDocumento129 páginasKardec em Quadrinhos - Carlos FerreiraC4io99Ainda não há avaliações
- Aristóteles - ÓrganonDocumento306 páginasAristóteles - ÓrganonC4io99Ainda não há avaliações
- Arrighi Capítulo I - As Tres Hegemonias Do Capitalismo Historico-5-14Documento10 páginasArrighi Capítulo I - As Tres Hegemonias Do Capitalismo Historico-5-14C4io99Ainda não há avaliações
- Critica Ao Eltismo FilosoficoDocumento2 páginasCritica Ao Eltismo FilosoficoC4io99Ainda não há avaliações
- Marcos Rogério Neves - Interdisciplinaridade Na Formação de Professores de Ciências Conhecendo ObstáculosDocumento12 páginasMarcos Rogério Neves - Interdisciplinaridade Na Formação de Professores de Ciências Conhecendo ObstáculosC4io99Ainda não há avaliações
- Conteúdo Programático - 3° AnoDocumento1 páginaConteúdo Programático - 3° AnoC4io99Ainda não há avaliações
- A Bibliotecária Dos Livros Queimados - Brianna LabuskesDocumento402 páginasA Bibliotecária Dos Livros Queimados - Brianna LabuskesC4io99Ainda não há avaliações
- Freud Uma Vida para o Nosso Tempo Traduzido Peter GayDocumento3.658 páginasFreud Uma Vida para o Nosso Tempo Traduzido Peter GayC4io990% (1)
- Arte Rupestre e GrafiteDocumento8 páginasArte Rupestre e GrafiteC4io99Ainda não há avaliações