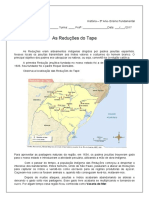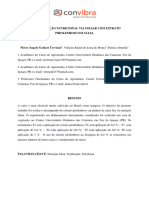Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Lazzaretti Picolotto - A Emergência Dos Agricultores Familiares Como Sujeitos de Direito - Sindicalismo Rural Brasileiro - V9n18a01
Lazzaretti Picolotto - A Emergência Dos Agricultores Familiares Como Sujeitos de Direito - Sindicalismo Rural Brasileiro - V9n18a01
Enviado por
Evangelina MazurTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Lazzaretti Picolotto - A Emergência Dos Agricultores Familiares Como Sujeitos de Direito - Sindicalismo Rural Brasileiro - V9n18a01
Lazzaretti Picolotto - A Emergência Dos Agricultores Familiares Como Sujeitos de Direito - Sindicalismo Rural Brasileiro - V9n18a01
Enviado por
Evangelina MazurDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mundo Agrario, vol. 9, n 18, primer semestre de 2009. Centro de Estudios Histrico Rurales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin.
Universidad Nacional de La Plata.
A emergncia dos agricultores familiares como sujeitos de direitos na trajetria do sindicalismo rural brasileiro
Everton Lazzaretti Picolotto
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) evpicolotto@yahoo.com.br
The emergence of the work class family farmer as individuals with rights in the path of the Brazilian rural syndicalism
Resumo O processo de reconhecimento dos agricultores familiares como sujeitos de direitos apesar de ser recente quando pensado a partir da trajetria do sindicalismo rural brasileiro demonstra ter suas primeiras razes ainda na constituio da legislao trabalhista-sindical dos anos de 1930. Visando explorar esse processo o artigo tem por objetivo analisar a emergncia dos agricultores familiares como sujeitos de direitos na sociedade brasileira contempornea. Analisa-se os processos de formao do sindicalismo rural e de expanso da legislao trabalhista para os trabalhadores rurais como forma de realizao de uma cidadania regulada at a dcada de 1970; o questionamento do sindicalismo oficial, a estruturao de um novo sindicalismo e a emergncia de novos atores sociais no campo, que possibilitaram a ampliao dos espaos de cidadania no perodo de redemocratizao do Brasil; a crise do novo sindicalismo, a criao de novas estruturas sindicais por fora da estrutura oficial (sindicalismo da agricultura familiar) e a emergncia dos agricultores familiares como sujeitos de direitos no perodo recente. Palavras-chaves: Agricultura familiar; Sujeitos de direitos; Sindicalismo dos trabalhadores rurais; Sindicalismo da agricultura familiar; Cidadania. Abstract The process of the family farmers' recognition as individuals with rights demonstrates having their first roots, in spite of being recent, if compared to the history of the Brazilian rural syndicalism, still in the constitution of the labor-syndical legislation in 1930. Therefore, seeking to explore that process the present paper has as objective to analyze the family farmers' emergence as individuals of rights in the contemporary Brazilian society, analyzing the processes of formation of the rural syndicalism and the expansion of the labor law for the rural workers as a form of accomplishment of a regulated citizenship until the decade of 1970; the urge to the official syndicalism, the structuring of a new syndicalism and the new social actors' appearance in the field, which made possible the enlargement of the citizenship spaces in the period of re-democratization in Brazil; the crisis of the new syndicalism, the creation of new syndical structures apart of the official structure (syndicalism of the family agriculture) and the emergency of the family farmers as subject of rights in the recent period. Keywords: Family agriculture; Individuals with rights; The rural workers' syndicalism; Syndicalism of the family agriculture; Citizenship.
1. Introduo O reconhecimento oficial dos agricultores familiares como sujeitos de direitos recente na histria brasileira. Nas ltimas duas dcadas foram criadas polticas pblicas especficas para a agricultura familiar e esta foi reconhecida legalmente. O PRONAF, (1) criado em 1996, constitui-se na primeira poltica pblica especificamente
direcionada a esta categoria social e a Lei da Agricultura Familiar de 2006,(2) define oficialmente esta categoria produtiva como parte do mundo do trabalho. Porm, apesar deste reconhecimento ser recente, a trajetria de luta dos trabalhadores do campo por direitos longa e apresenta vrios captulos. Parte significativa da histria das lutas por reconhecimento dos trabalhadores rurais como sujeitos de direitos podem ser relacionados com as lutas dos trabalhadores urbanos tendo em vista que a luta por direitos polticos e trabalhistas no sculo XX, liderada pelo movimento operrio, agregava trabalhadores dos mais diversos setores, inclusive os rurais.(3) Alguns direitos trabalhistas foram reconhecidos no Brasil pelo governo Vargas a partir da dcada de 1930 e consolidaram-se com a criao da CLT (Consolidao das Leis do Trabalho) em 1943. Foram reconhecidos por esta legislao, alm do direito de sindicalizao, direitos previdencirios, salrio mnimo, servios assistenciais prestados pelos sindicatos (Paoli, 1993 e 1994). Porm, estes direitos no se estendiam completamente aos trabalhadores do meio rural. Em funo disso, nas dcadas seguintes os trabalhadores rurais tomariam a luta pela extenso dos direitos trabalhistas (j vigentes para os trabalhadores do meio urbano) como central. A concretizao de alguns destes direitos, como o da sindicalizao, foram conquistados na dcada de 1960 com a promulgao do Estatuto do Trabalhador Rural. A legislao trabalhista brasileira quando se busca relacion-la com as grandes correntes poltico-ideolgicas no seguiu nem o modelo individualista liberal, nem o modelo coletivista do movimento operrio de inspirao socialista. Esta optou pela inspirao fascista, com forte interveno estatal (Paoli, 1993). Os dois primeiros modelos motivaram os movimentos histricos mais influentes dos ltimos sculos. Inspirados nesses modelos emergiram a Comuna de Paris, a Guerra de Independncia das Colnias Americanas, a Revoluo Francesa, a Revoluo Russa, entre outros eventos que modelaram fortemente os modos de estruturao das sociedades industriais. Disso vale destacar, para este trabalho, que os modelos liberais e socialistas inspiraram dois modos de conceber os direitos antagnicos entre si, como j apontado por Marx (2005) na sua crtica aos direitos do homem. Nessa crtica, Marx (2005:34) ataca a declarao dos direitos do homem da Revoluo Francesa por consider-la essencialmente individualista e previlegiadora do homem da sociedade burguesa , isto , do homem egosta, do homem separado do homem e da comunidade (grifos do autor). Ao contrrio desta noo de direitos essencialmente individuais o movimento operrio procurou promover a conquista de direitos coletivos
ou iguais e universais para buscar a emancipao universal do homem (Hobsbawm, 1987:429). No Brasil, a legislao trabalhista no sofreu influncia direta ou pura de nenhum desses dois modelos (mesmo que estes modelos tenham encontrado forte respaldo na sociedade brasileira: as oligarquias tradicionais seguiam inspirao liberal e o movimento operrio seguia inspirao socialista), ela baseou-se no modelo de regulamentao estatal intervencionista, inspirado na Carta del Lavoro da Itlia fascista de Mussolini (4). Este modelo adotado pelo Governo Vargas, procurou produzir um pacto social entre as classes sociais mediado pelo Estado para integrar a sociedade nacional e alcanar o progresso da modernidade. Com essa estruturao, os direitos trabalhistas reconhecidos pela legislao varguista passaram longe de possibilitar vias emancipatrias(5) aos trabalhadores. Muito pelo contrrio, constituram-se como instrumentos que visavam centralmente a regulao (controle) do movimento operrio e campons pelo Estado (atravs do Ministrio do Trabalho e da Justia do Trabalho). Regulao que visava alcanar uma base segura para o projeto de uma sociedade moderna, estvel e integrada, ordeira e progressista (Paoli, 1994:102). Na prtica, com a vigncia desta legislao, os trabalhadores passaram a contar com a oferta de alguns direitos, porm fortemente controlados pelos rgos estatais. Este modelo de interveno estatal (com algumas varincias) continuou durante o perodo da ditadura militar iniciada em 1964. Foi somente a partir do final dos anos de 1970 que os setores populares organizados passam a ganhar mais relevncia no cenrio poltico brasileiro com a emergncia de novos atores (Sader, 1988; Doimo, 1994) e a formulao de uma noo de nova cidadania ou cidadania ampliada.(6) A literatura destaca que nesse perodo ocorreu a emergncia dos principais movimentos sociais atuais, os sindicatos se renovaram e fortaleceram e, as aspiraes dos setores populares por uma sociedade mais justa e igualitria, ganharam forma na reivindicao de direitos, projetaram-se no cenrio pblico, deixaram suas marcas em importantes conquistas na Constituio de 1988(7) e se traduziram na construo de espaos plurais de representao de atores coletivos (Paoli e Telles, 2000:103). Assim, depois de quase trinta anos de ditadura militar e no horizonte histrico de uma sociedade autoritria, excludente e hierrquica as lutas sociais que marcaram este perodo propiciaram a criao de um espao pblico informal, ou seja, descontinuo e plural por onde circulam reivindicaes e proposies diversas. Neste espao pblico se elaborou e se difundiu uma conscincia do direito a ter direitos, conformando os termos de uma experincia indita na histria brasileira, em que a
cidadania buscada como luta e conquista e a reivindicao de direitos interpela a sociedade enquanto exigncia de uma negociao possvel, aberta ao reconhecimento de interesses e das razes que do plausibilidade s aspiraes por um trabalho mais digno, por uma vida mais decente e por uma sociedade mais justa (Paoli e Telles, 2000; Dagnino, 2004). No entanto, ainda com universo destas realizaes inacabado, nos anos 90 iniciaram novos processos que minaram algumas possibilidades de realizaes de direitos. Mesmo que se tenha entrado nos anos 90 com uma democracia consolidada, aberta ao reconhecimento formal de direitos sociais, garantias civis e prerrogativas cidads, continuo-se a viver cotidianamente com a violncia, a reiterada violao dos direitos humanos e o desrespeito a legislao. Foi como se tivesse passado a existir um mundo que encena o avesso da cidadania e das regras de civilidade, um mundo que a d a medida do que O'Donnel (1993) define como legalidade truncada' que garante os direitos polticos democrticos, mas no consegue fazer vigorar a lei, os direitos civis e a justia no conjunto heterogneo da vida social (Paoli e Telles, 2000:103-104). Foi precisamente nesta conjuntura contraditria de emergncia de movimentos sociais construtores de um espao pblico de realizao cidad dos anos 80 e a subseqente incapacidade de fazer valer a lei, os direitos e a justia dos anos 90, que emergem os agricultores familiares como sujeitos de direitos. Visando explorar como se realizou o reconhecimento de direitos aos trabalhadores rurais, como um todo, e como os agricultores familiares, em especfico, alcanaram o reconhecimento como categoria produtiva, este artigo tem objetivo de analisar a emergncia dos agricultores familiares como sujeitos de direitos na sociedade brasileira
contempornea. Para alcanar este objetivo se abordar, num primeiro momento, os processos de formao do sindicalismo rural e de expanso da legislao trabalhista para os trabalhadores rurais como forma de realizao de uma cidadania regulada (cf. Santos, 1979) at a dcada de 1970; num segundo momento, se focar os processos de questionamento do sindicalismo oficial, a estruturao de um novo sindicalismo e a emergncia de novos atores sociais no campo, que possibilitaram a ampliao dos espaos de cidadania no perodo de redemocratizao do Brasil; e, num terceiro momento, se tratar da crise do novo sindicalismo, da criao de novas estruturas sindicais por fora da estrutura oficial (sindicalismo da agricultura familiar) e da emergncia dos agricultores familiares como sujeitos de direitos na era neoliberal. O caminho metodolgico adotado para explorar a trajetria de constituio dos direitos dos trabalhadores rurais no Brasil, at chegar emergncia dos agricultores
familiares como sujeitos de direito, inspira-se na noo de experincia de Thompson (1987). Essa abordagem sugere que se parta de um ponto de chegada, de uma situao concreta (a existncia de direitos, leis, instituies e reconhecimento pblico dos direitos) para investigar sua trajetria passada, o seu "fazer-se", permitindo supor que essa situao concreta fruto das lutas polticas travadas pelos agentes sociais concretos (organizaes de trabalhadores e camponeses e seus oponentes). Com a recuperao dessa trajetria se pode revelar a natureza desses direitos e a sua originalidade na sociedade brasileira.
2. A criao do sindicalismo rural e a cidadania regulada
At meados do sculo XX os trabalhadores da agropecuria no Brasil no criaram identidades polticas de mbito nacional. Eram denominados de forma diversa em cada regio (na maioria das vezes pejorativas): caipira em So Paulo, Minas Gerais, Gois, Paran e Mato Grosso do Sul; caiara no litoral paulista; tabaru na regio Nordeste; caboclo em vrias regies do pas; colono na regio Sul; entre outras. As primeiras tentativas de formao de identidades poltica para mobilizar os trabalhadores do campo ocorreram na dcada de 1950, atravs das identidades de lavrador, trabalhador agrcola e campons. Entretanto, com o processo de criao do sindicalismo dos trabalhadores rurais, estruturado principalmente a partir dos anos 60, se consolidou a identidade de trabalhador rural, como genrica de vrias situaes de trabalho no campo (pequenos proprietrios, arrendatrios, assalariados etc.) (Martins, 1983; Medeiros, 1989). Na dcada de 50 e nos primeiros anos da de 60 os trabalhadores do campo brasileiro (camponeses e assalariados) experimentaram o aumento de sua importncia poltica no cenrio poltico nacional. Importantes atores sociais os organizavam nessa poca, tais como: as Ligas Camponesas e a Unio dos Lavradores e Trabalhadores Agrcolas do Brasil (ULTAB) com o auspcio do Partido Comunista Brasileiro (PCB); a Igreja Catlica; e o Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER) com apoio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).(8) Estes atores foram formados para dar encaminhamento s lutas dos diversos segmentos de trabalhadores do campo. Mesmo que cada atore teve caractersticas que os diferenciava dos outros, no possvel afirmar que mobilizavam segmentos sociais especficos e no mobilizavam outros. Todos atuavam na organizao de arrendatrios, dos posseiros, dos assalariados e dos pequenos proprietrios. O que diferenciava a atuao de cada organizao eram as suas relaes polticas, os seus
programas e as pautas de luta que levantavam em nome das bases: enquanto as Ligas, o MASTER e a ULTAB defendiam centralmente a reforma agrria como forma de propiciar acesso terra aos arrendatrios e posseiros e a extenso dos direitos trabalhistas para os assalariados do meio rural; os setores mais conservadores da Igreja atuavam principalmente entre os pequenos proprietrios para formar sindicatos cristos e levantavam a bandeira da defesa da pequena propriedade familiar contra as propostas de reforma agrrias dos outros atores (exemplo disso o caso do Rio Grande do Sul onde a Igreja formou a Frente Agrria Gacha para promover a sindicalizao rural em oposio ao MASTER). Alm disso, deve-se considerar que entre as Ligas Camponesas, a ULTAB e o MASTER havia diferenas quanto a relao destes com a legislao sindical proposta pelo Estado. Enquanto a ULTAB e o MASTER atuaram na formao de sindicatos de trabalhadores rurais visando ocupar este espao oficial que se abria, as Ligas se opuseram a esta forma de organizao propostas pelo Estado (Silva, 1994; Maduro, 1990). Como resultado das lutas e das experincias organizativas (associaes, ligas, crculos, cooperativas, etc.) destes atores, no incio dos anos 60, promoveu-se forte presso pela legalizao do sindicalismo rural. O sindicalismo rural brasileiro foi estruturado, de forma efetiva, no incio da dcada de 1960 mais precisamente durante o governo de Joo Goulart (1961-1964) e o incio da ditadura militar (19641985) cerca de trinta anos depois de terem sido implantados no meio urbano. Em 1963 foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural (que reuniu a legislao para regular as relaes trabalhistas no campo e o sindicalismo rural) e em 1964 foi promulgado o Estatuto da Terra (que estabeleceu providncias para polticas de reforma agrria e de desenvolvimento rural). Mesmo se reconhecendo que a criao dessa legislao foi uma conquista de longos processos de lutas dos trabalhadores do campo, deve-se enfatizar que o sindicalismo rural brasileiro foi criado como parte de uma estrutura sindical que lhes anterior: o sindicalismo varguista, constitudo pelos sindicatos municipais,
federaes, confederaes, Justia do Trabalho e Ministrio do Trabalho, cuja caracterstica que mais se destacou foi a forte tutela exercida pelo Estado. Tal tutela foi estabelecida inicialmente pela chamada investidura sindical, que significava a necessidade de reconhecimento prvio do sindicato pelo Estado, o qual ocorria atravs de uma carta de reconhecimento sindical. Ou seja, neste modelo de sindicalismo oficial era o Estado que outorgava s entidades sindicais a representatividade de um determinado segmento de trabalhadores e o poder de negociao com os rgos patronais. A segunda caracterstica desse sindicalismo a unicidade sindical, que representava o monoplio legal da representao sindical
concedida pelo Estado ao sindicato oficial ou seja, do sindicato nico estabelecido por lei, o que significava que s poderia haver uma organizao sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econmica, na mesma base territorial. Por fim, a terceira caracterstica refere-se as contribuies sindicais obrigatrias estabelecidas por lei imposto sindical, taxa assistencial e contribuio
confederativa. Tais contribuies constituam uma espcie de poder tributrio concedido pelo Estado aos sindicatos oficiais (Boito, 1991; Coletti, 1998). Este modelo de sindicalismo acabou unificando em uma mesma categoria de classificao rgida, a de trabalhador rural, uma diversidade de situaes de trabalho no meio rural brasileiro. Mesmo que no incio dos anos 60, previu-se a existncia de quatro categorias de sindicalizao trabalhadores assalariados da lavoura, trabalhadores assalariados da pecuria e similares, trabalhadores assalariados da produo extrativa rural, produtores rurais autnomos (pequenos proprietrios, arrendatrios e trabalhadores autnomos que explorem atividade rural, sem empregados, em regime de economia familiar ou coletiva) (Portaria 355-A do Ministrio do Trabalho, 1962) acabou predominando durante o regime militar a opo de unificao dos trabalhadores assalariados, trabalhadores autnomos e dos pequenos proprietrios numa mesma categoria genrica de trabalhador rural (Portaria 395 do Ministrio do Trabalho, 1965). Com a definio desta legalizao de sindicalizao rural e as experincias de organizao de agricultores instituiu-se uma verdadeira corrida entre as diferentes foras polticas que atuavam no campo em busca do reconhecimento dos seus' sindicatos (Medeiros, 1989:78), uma vez que a legislao s permitia a existncia de um sindicato por municpio e uma federao por estado. Duas foras polticas principais disputavam, nessa conjuntura, a fundao do maior nmero possvel de sindicatos e federaes no campo: o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a Igreja Catlica.(9) A fundao da Confederao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), como rgo mximo do sindicalismo dos trabalhadores rurais, ocorreu em dezembro de 1963 a partir das Federaes Estaduais de Trabalhadores na Agricultura (FETAG's) existentes.(10) Inicialmente a direo poltica majoritria da CONTAG coube ao PCB, mas tambm contou com participao catlica (Medeiros, 1989). Uma caracterstica a ser destacada sobre o modo de constituio do sindicalismo rural brasileiro que esta luta travada entre foras polticas para conquistar a hegemonia do movimento sindical rural acabou por deixar em segundo plano a participao efetiva dos trabalhadores ou agricultores no processo de constituio dos
sindicatos. Ou seja, a constituio do sindicalismo rural no se tratou de um movimento surgido dos prprios trabalhadores (de baixo para cima), mas pelo contrrio, constituiu-se na formao de sindicatos que convertiam os trabalhadores ou agricultores, na maioria dos casos, em sujeitos passivos diante das disputas travadas entre as foras polticas atuantes no campo. Os anos que se seguiram ao golpe militar e nos quais se deu a estruturao efetiva da CONTAG e da ampla rede de sindicatos que a compem se deram em marcos desfavorveis ao sindical de contestao e crtica. Como destaca Medeiros (1989), os conflitos continuavam a ocorrer, entretanto, seu carter isolado no permitia fazer frente dura represso do perodo. Diante dessa conjuntura, a CONTAG procurou criar formas de conduzir a multiplicidade de conflitos segundo sua estrutura e projeto poltico-sindical herdados do perodo anterior ao golpe de Estado. Dentre as pautas mais importantes herdada estavam a defesa da reforma agrria e dos direitos trabalhistas. Essas duas pautas traduziram a leitura que esse sindicalismo fazia do conflito agrrio no perodo e unificaram nas duas dcadas seguintes as reivindicaes dos trabalhadores rurais. Nesse perodo, se constituiu um padro de ao sindical marcado por certa prudncia e pelo respeito aos limites estipulados pelas leis, mesmo que essas fossem ambguas: reconheciam a existncia de conflitos agrrios, formas de encaminhamento desses conflitos, porm tambm deixavam claros os limites da ao sindical de questionamento. Alm disso, como o sindicato de base municipal era responsvel por programas de assistncia social do Estado (sade, previdncia social, etc.), este sindicalismo foi impulsionado em todo Pas. Ento, foi com esses limites da ao sindical, com prticas de assistencialismo e tutela do Estado que se constitui a ampla rede do sindicalismo dos trabalhadores rurais no Brasil. O pressuposto dessa prtica legalista da CONTAG era o de que a lei, graas s suas contradies, poderia converter-se, sempre, num autntico campo de disputas. Este modelo de atuao legal motivou posicionamentos ambguos. De um lado, um exemplo de relativo sucesso deste modelo de atuao da CONTAG foram as greves dos canavieiros de Pernambuco, de final dos anos 70 e incio dos 80, realizadas totalmente dentro das exigncias da lei de greve do regime militar. (11) Estas greves alcanaram forte respaldo poltico e deram impulso a reemergncia do sindicalismo rural crtico no Nordeste brasileiro (Sigaud, 1980). Porm, por outro lado, esse legalismo enraizou-se de tal maneira no sindicalismo rural que, no IV Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, em 1985, (mais de vinte anos aps a aprovao do Estatuto da Terra) a CONTAG continuava defendendo o Estatuto da Terra contra as correntes articuladas em torno do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e da Central nica dos Trabalhadores (CUT) que, com o argumento de que o
objetivo primeiro do Estatuto da Terra era combater a reforma agrria que vinha surgindo da prpria ao dos trabalhadores, pregavam a sua recusa (Medeiros, 1989). Deve-se ressaltar tambm que a legislao constituda no incio da dcada de 60 tambm possibilitou alguns avanos importantes para a categoria dos trabalhadores rurais. O reconhecimento social, operado legalmente pelo Estatuto do Trabalhador Rural, e a possibilidade de interveno estatal na questo agrria, aberta pelo Estatuto da Terra, permitiram a elaborao e aplicao de polticas prprias para os grupos que compunham o setor agrcola. O campons o trabalhador rural tornou-se objeto de polticas, o que at ento era impensvel, criando-se condies para o esvaziamento das funes de mediao entre camponeses e Estado, at ento exercidas pelos grandes proprietrios ou por suas organizaes (Palmeira e Leite, 1998:129). Assim, o sindicalismo rural contribuiu de modo decisivo para enfraquecer os padres tradicionais de dominao. Esta legislao reconheceu o trabalhador rural como uma categoria profissional (como parte do mundo do trabalho) e a existncia de uma questo agrria, de interesses conflitantes dentro do que, at ento, era tratado com um todo indivisvel: a agricultura ou a classe rural (Palmeira e Leite, 1998). Contudo, mesmo com essa breve anlise do sindicalismo tutelado no meio rural, fica evidente que os movimentos sociais que emergiram nas dcadas de 50 e 60 foram enquadrados pela legislao sindical. Esta foi constituda para frear a ao das organizaes camponesas, tirar sua capacidade de autonomia e, com isso, limitar suas possibilidades de proposio poltica para a sociedade nacional. Assim, os sindicatos funcionaram como aparelhos consentidos para reconhecer alguns direitos sociais (fundamentalmente assistenciais) e para limitar as demandas polticas dos trabalhadores. Essa situao permite considerar que os direitos at ento vigentes para os trabalhadores rurais eram limitados e dificultavam bastante as possibilidades de manifestao de suas demandas. Com isso, estes eram cidados limitados, no podiam requerer direitos para alm daqueles que as leis permitiam e o Estado autorizava. Contavam com uma cidadania regulada, que estabelecia limites reivindicao de direitos e ao poltica. No final dos anos 70, diversos segmentos sociais do campo com suas demandas reprimidas, no hesitariam em acompanhar a emergncia de novos movimentos questionadores da ordem. Assim, numa conjuntura de crise econmica e de questionamento do governo autoritrio ocorreu uma verdadeira imploso da categoria, de enquadramento rgido, trabalhador rural e, com ela, do sindicalismo rural oficial. Surgem desde oposies sindicais reivindicando um sindicalismo menos assistencial e mais combativo, at novas formas organizativas desvinculadas da
legislao sindical, como os movimentos sociais de luta por terra, dos seringueiros, das mulheres trabalhadoras rurais, entre outros.
3. Novo sindicalismo rural, novos atores e ampliao dos espaos de manifestao cidad na redemocratizao do Brasil
O movimento sindical brasileiro teve, em fins dos anos 1970, o momento mais significativo de sua histria. Reestruturado aps os anos de represso do regime militar, emergia um chamado novo sindicalismo de corte progressista cobrando a ampliao dos espaos para a representao dos interesses da classe trabalhadora. A possibilidade histrica de ascenso do movimento sindical neste perodo, segundo Antunes (1995), pode ser explicada pela constituio tardia (em relao aos pases desenvolvidos) de uma expropriao da mo-de-obra operria, cuja manifestao mais eloqente aconteceu na regio do ABC paulista (Estado de So Paulo), dando origem s greves ocorridas no final dos anos de 1970, de onde foram projetadas liderana que mais tarde estariam frente da criao do Partido dos Trabalhadores (PT) e do novo sindicalismo da Central nica dos Trabalhadores (CUT). Desse processo, pode-se considerar que do perodo que se abriu com o vigoroso movimento grevista do ABC paulista, em maio de 1978, at o fim da dcada de oitenta, inmeras transformaes ocorreram na sociedade brasileira: a retomada das aes grevistas, a exploso do sindicalismo rural, o nascimento das centrais nas fbricas, o aumento dos ndices de sindicalizao, as mudanas e as conservaes no mbito da estrutura sindical ps-Constituio de 1988 etc. (Antunes, 1995:11). Este novo sindicalismo se construiu com prticas que indicavam sua novidade no interior da trajetria do sindicalismo brasileiro, mais do que representar uma etapa no processo organizativo e de luta dos trabalhadores, este sindicalismo pretendeu ser uma ruptura com as prticas estabelecidas no passado (principalmente de 19451964). Os discursos que tentavam definir o novo ressaltavam o lado no assistencial, prximo das bases, democrtico, reivindicativo e, por vezes, revolucionrio. A definio e a afirmao deste novo modelo foi dada em oposio ao sindicalismo do passado, caracterizado como assistencial, populista,
burocrtico, pelego ou, o que tambm se convencionou chamar, atrelado(12) (Souto Jr, 2000; Santana, 1998). Neste momento de construo do novo sindicalismo, formavam-se na esfera sindical dois blocos concorrentes: de um lado, os chamados sindicalistas autnticos reunidos em torno dos sindicalistas metalrgicos do ABC paulista, agregando
sindicalistas de diversas categorias (dentre eles, os rurais) e partes do Pas, os quais, com os grupos integrantes das chamadas oposies sindicais,(13) compunham o autodenominado Bloco Combativo(14) e constituiriam o novo sindicalismo; de outro lado, estavam os chamados de moderados que compunham a Unidade Sindical (ou tambm chamados de Bloco da Reforma) que agrupava lideranas tradicionais no interior do movimento sindical, muitos deles vinculados aos setores denominados pelas oposies sindicais de pelegos, e os militantes de setores da esquerda tradicionais, tais como: o Partido Comunista Brasileiro (PCB), o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Movimento Revolucionrio 8 de Outubro (MR8) (Rodrigues, 1990; Santana, 1998).(15) A criao da CUT, em 1983, um marco histrico do sindicalismo brasileiro nos anos 80, sendo ela considerada ainda atualmente a central sindical mais poderosa em nmero de entidades filiadas e em capacidade de organizao e mobilizao de trabalhadores (Rodrigues, 1990; Boito, 1991; Pochmann, 2005). No que se refere a novidade poltica da CUT, esta, para se diferenciar do antigo sindicalismo, se constituiu com inteno de ser independente tanto dos patres e do governo, quanto dos partidos polticos e dos credos religiosos (Rodrigues, 1990). Seguindo este caminho, o I Congresso Nacional da CUT, realizado em agosto de 1984, aprovou um conjunto de princpios que deveriam nortear a discusso e elaborao de um novo modelo de organizao sindical a ser implantado em substituio ao modelo corporativo anterior. Segundo Rodrigues, estas medidas dariam base para constituir uma nova estrutura, que deveria ser: democrtica , de modo a permitir a mais ampla liberdade de discusso e expresso das correntes internas; classista e de luta, combatendo a colaborao de classes e no compactuando com os planos do governo que firam os interesses dos trabalhadores; com liberdade e autonomia sindical , quer dizer, independente com relao classe patronal, o governo, os partidos polticos, as concepes religiosas e filosficas; organizada por ramo de produo , quer dizer, os trabalhadores, segundo foi votado, criaro suas formas de organizao desde os locais de trabalho at a central sindical, seu rgo mximo. Todos os trabalhadores tero sua organizao sindical tanto no setor privado como no setor pblico a qualquer nvel. As assemblias de trabalhadores decidiro sobre seus estatutos, obedecendo aos princpios aqui expostos. Um cdigo mnimo de trabalho substituiria a CLT. (Rodrigues, 1990:10) Seguindo trilhas semelhantes, o novo sindicalismo rural tambm surgiu em oposio ao sindicalismo oficial da CONTAG (representante do sindicalismo oficial no campo). Segundo Medeiros (2001:105), em meados dos anos 70 comearam a se esboar
crticas prtica sindical contaguiana e s aes dos sindicatos: a ao da CONTAG era apontada como ineficaz, por ser voltada principalmente para a denncia de situaes concretas aos poderes pblicos, mas pouco efetiva no sentido de estimular a organizao e mobilizao dos trabalhadores para presses. Muitos sindicatos eram considerados assistencialistas e, portanto, incapazes de dar consistncia luta por direitos pregada pela prpria Confederao. Dentre os principais agentes motivadores de crticas estava a Comisso Pastoral da Terra (CPT, criada em 1975), um segmento da Igreja Catlica adepto da Teologia da Libertao e que tinha trabalho eclesial disseminado pelo Pas. Com sua legitimidade e sua vinculao institucional, fornecia uma legitimao teolgica para as demandas emergentes e para as aes de resistncia, formava quadros polticos, atravs da ao das pastorais e viabilizava espaos e infra-estrutura para encontros e gestao de organizaes, num perodo em que o prprio ato de reunir era posto sob suspeita pelo regime militar. Atravs de um trabalho molecular nas comunidades de agricultores a Igreja foi um dos principais responsveis pelo aparecimento de oposies sindicais, portadoras de crticas no s estrutura sindical vigente, mas tambm s prticas cotidianas dominantes no sindicalismo. Inicialmente dispersas, as oposies articularam-se a novas redes, constituindo laos com o novo sindicalismo urbano e com os temas centrais das lutas polticas nacionais (liberdade e autonomia sindical,
redemocratizao, eleies diretas, etc.). Em outro trabalho (Picolotto, 2006), contatamos que a adeso s oposies sindicais no Sul do Brasil parece ter se constitudo tambm com base na percepo dos pequenos agricultores de que a estrutura sindical vigente (contagiana) no estava em condies de promover o devido encaminhamento aos problemas vivenciados com modernizao da agricultura e aumentados com a crise econmica dos anos 80. Aliado com o surgimento do novo sindicalismo no campo, outros atores sociais tambm entram na cena poltica nacional (tambm sob motivao de agentes catlicos) mobilizando segmentos especficos de pequenos produtores, posseiros, arrendatrios, assalariados etc. Surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), entre outros. A emergncia destes novos atores alm de ter tirado a exclusividade da representao poltica dos trabalhadores rurais da CONTAG, fez com que a categoria poltica unificadora trabalhador rural fosse implodida. Assim, aps um perodo de relativa homogeneizao da identidade poltica de trabalhador rural, consentida pelo Estado (durante o regime militar) e manifestada atravs do sistema
sindical oficial (capitaneado pela CONTAG), esta identidade foi fragmentada pelos novos atores sociais do campo que passam a criar vrias identidades especficas. Ocorre uma valorizao da especificidade de cada ator social emergente, pois estes nasciam de necessidades singulares e se propunham resolver problemas particulares que afetavam segmentos de agricultores ou trabalhadores. Segundo Navarro (1996) e Medeiros (2001), com a estruturao de diversos atores sociais no campo surgiram vrias identidades especficas, que se tornavam fundamentais ao poltica, a saber: a identidade de sem-terra, a de atingido por barragem associadas a lua por terra e por reforma agrria; a de mulher trabalhadora rural ou mulher agricultora relacionada a afirmao do sujeito mulher na agricultura; e dentro da lgica sindical foram criadas categorias especficas como: empregados rurais, pequenos agricultores, fumicultores, suinocultores, entre outras. Mesmo muitos dos sindicatos que continuaram como de trabalhadores rurais reorganizaram-se internamente, criando secretarias especficas para tratar de temas relacionados aos assalariados, aos pequenos agricultores e luta por terra, reconhecendo e legitimando a diversidade de situaes e interesses emergentes, adequando a eles a organizao interna dos sindicatos. Nesse processo, a CONTAG deixou de ter o monoplio de representar os trabalhadores do campo, passando a disputar sua representao e bandeiras de luta com outras formas sindicais (como o Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT DNTR, formado em 1988, e a Federao dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de So Paulo, FERAESP, fundada em 1989) e no sindicais (como o MST, MAB, CNS e MMTR). A base social do novo sindicalismo rural abrangia, segundo Favareto (2006), uma diversidade de situaes de trabalho no campo da agricultura de base familiar com alguma insero no mercado e nas polticas pblicas at situaes de convivncia direta com a violncia fsica e de privao de bens e equipamentos sociais dos mais bsicos e um conjunto de situaes que geograficamente cobria boa parte do pas, dando-lhe um porte nacional. Entretanto, o novo sindicalismo da CUT teve por base privilegiada os agricultores de base familiar do eixo noroeste riograndense / oeste catarinense / sudoeste paranaense, e os produtores de base familiar da Amaznia, em particular do Par (Favareto, 2006:32). A heterogeneidade da sua base social apontava para uma potencial disperso de pautas e frentes de luta. Entretanto, a bandeira do fim da ditadura colocava-se como fundamental e unificadora. O Estado ditatorial era identificado como opressor e, ao mesmo tempo, como indutor da modernizao agrcola, que causava a excluso social
e era identificada como promotora de grande parte dos problemas enfrentados pelos trabalhadores do campo. Reforma agrria, nova poltica agrcola, direitos trabalhistas e fim da violncia no campo eram, assim, as reivindicaes bsicas e traziam para o mesmo campo de oposies o latifndio, o patronato, e os agentes da violncia, como as empresas colonizadoras (Schmitt, 1996; Favareto, 2006). Por fim, a crtica estrutura sindical oficial da CONTAG, vista como instrumento de manipulao de restrio das lutas dos trabalhadores, completava o conjunto de temas e bandeiras unificadores que conduziram a criao e a consolidao do novo sindicalismo no meio rural. O saldo do novo sindicalismo rural nos anos 1980 carrega um conjunto contraditrio tanto avanos poltico-organizativos, quanto de novidades da legislao sindical e de construo de novas demandas por direitos. No campo poltico-organizativo estruturaram-se bases slidas com a consolidao da CUT, como central sindical, e do DNTR, como departamento dos rurais, dando ao novo sindicalismo expresso nacional e enraizamento em todo o territrio nacional, abrangendo uma
heterogeneidade de situaes produtivas e de trabalho, das modernas lavouras do centro-sul ao campesinato do norte e nordeste. Porm, deve-se destacar que o sindicalismo da CUT no conseguiu romper com o modelo organizativo do sindicalismo de base municipal, unitrio e com pouco enraizamento nas bases. Somente conseguiu dar alguns passos no sentido da diversificao da representao sindical no campo atravs da formao de uma Federao especfica de empregados rurais no estado de So Paulo (com a FERAESP), separa da organizao dos pequenos produtores. Entretanto, a grande maioria dos sindicatos cutistas no campo permaneceu representando tanto trabalhadores assalariados quanto pequenos produtores. No bojo dos processos que propiciaram a estruturao do novo sindicalismo, foram alcanadas algumas alteraes na legislao sindical com a Constituio de 1988. No que se refere s exigncias para a fundao de sindicatos a Constituio, em seu artigo 8, inciso I, acabou com a necessidade prvia de reconhecimento do sindicato pelo Estado, que ocorria atravs da carta de reconhecimento sindical. Diz o citado artigo: a lei no poder exigir autorizao do Estado para a fundao de sindicato, ressalvado o registro no rgo competente, vedadas ao Poder Pblico a interferncia e a interveno na organizao sindical. Porm, em seu inciso II, a Constituio manteve a unicidade sindical e, no inciso IV, no s manteve os impostos sindicais existentes (imposto sindical e taxa assistencial), como criou a possibilidade de existncia de mais uma contribuio, mais tarde denominada de confederativa (Coletti, 1998). primeira vista, a partir do que diz o inciso I do artigo 8 da
Constituio de 1988, pode parecer que a tutela do Estado sobre as entidades sindicais oficiais foi eliminada, o que no corresponde totalmente realidade. O controle estatal sobre os sindicatos, que com a legislao varguista era um controle administrativo (exercido pelo Poder Executivo, atravs do Ministrio do Trabalho) e antecipado (sem a carta de reconhecimento sindical, assinada pelo Ministro do Trabalho, no era possvel constituir o sindicato enquanto tal), com a Constituio de 1988 passou a ser um controle jurisdicional (exercido pelo Poder Judicirio) e realizado a posteriori (funda-se o sindicato, registra-se no rgo competente e, se houver algum pedido de impugnao feito por outra entidade sindical, ser o Poder Judicirio que decidir, posteriormente, se o sindicato fundado ou no legtimo, se est ou no quebrando o princpio da unicidade sindical). Com estas alteraes, os sindicatos, que anteriormente necessitavam de aval estatal (do Executivo) para iniciarem a operar, com a Constituio de 1988, puderam operar sem aval prvio do Estado, porm ainda com necessidade de aval estatal (do Judicirio) para serem reconhecidos legalmente, caso seja questionada sua legalidade. Outra questo a ser destacada que, mesmo com as modificaes estabelecidas pela Constituio de 1988, os sindicatos continuam organizando os trabalhadores por categoria profissional (Antunes, 1995), ou seja, o sindicalismo dos trabalhadores rurais continuou a ser o representante de todos os trabalhadores rurais, sejam assalariados, sejam pequenos proprietrios. No que se refere ao saldo dos direitos consolidados neste perodo de redemocratizao, de constituio de um espao pblico e de emergncia de novos atores no campo, pode-se destacar centralmente a conquista, por parte dos setores populares, do direito de reivindicar direitos. Ou seja, segundo Paoli e Telles (2000), a principal conquista dos atores populares neste perodo foi o fazer-se reconhecer como sujeitos capazes de proposio e interlocuo pblica. E, ao fazerem isso, estes atores coletivos produziram o efeito de desestabilizar ou mesmo subverter hierarquias simblicas que os classificavam em lugares subalternos. Assim, puderam trazer para o debate pblico questes que antes eram silenciadas ou no consideradas como pertinentes para a deliberao poltica. Assim, essas arenas pblicas produziram um alargamento do campo poltico atravs de uma noo ampliada e redefinida de direitos e cidadania. Segundo Dagnino esta nova noo de cidadania ampliada criada pelos movimentos sociais inclui a inveno/criao de novos direitos, que surgem de lutas especficas e de suas prticas concretas. Nesse sentido, a prpria determinao do significado de direito' e a afirmao de algum valor ou ideal como um direito so, em si mesmas, objetos de luta poltica. Assim, complementa Dagnino, o direito
autonomia sobre o prprio corpo, o direito proteo do meio ambiente, o direito moradia, so exemplos (intencionalmente muito diferentes) dessa criao de direitos novos. Alm disso, essa redefinio inclui no somente o direito igualdade, como tambm o direito diferena, que especifica, aprofunda e amplia o direito igualdade (Dagnino, 2004:104). Como os novos atores polticos do meio rural surgiram neste mesmo caldo cultural tambm lanaram, neste perodo, novas demandas por direitos que vo alm dos direitos trabalhistas e do acesso a terra (bandeiras clssicas). Primeiramente, conquistaram o reconhecimento de poderem expressar demandas por outras vias que no o sindicalismo oficial. Com isso, os movimentos (MST, CNS, MMTR, MAB, CUT rural) puderam expressar suas demandas autonomamente e diretamente com os rgos do Estado. Em segundo lugar, cada movimento pode traduzir suas demandas em lutas por conquista de direitos especficos de sua base social. O MMTR, por exemplo, passou a reivindicar o reconhecimento da profisso de agricultora ou trabalhadora rural para estas terem direito a cidadania efetiva. Uma das pautas que mais destacou a ao deste movimento foi a luta e a conquista da previdncia social para as mulheres trabalhadoras rurais no processo da Constituinte (Schaaf, 2003).(16) O CNS, alm de lutar por reforma da estrutura agrria na Amaznia, tambm incluiu em sua luta a pauta de criao de reservas extrativistas para preservar os seringais nativos, pois em sua tica a floresta tem mais valor em p do que derrubada (Medeiros, 1993). Assim, ampliou suas reivindicaes para o campo ambiental. O MST e o MAB centraram-se mais nas lutas por terra, mas tambm procuraram estabelecer lutas que vo alm deste campo, quando alcanaram assentamentos e enfrentaram o desafio de viabilizar os assentados. Da surgiram lutas por assistncia tcnica, por crdito subsidiado para produo, para comercializao, etc. O sindicalismo da CUT rural tambm desenvolveu lutas por viabilizao produtiva dos pequenos produtores. As lutas por crdito subsidiado, por renegociao das dvidas, reajuste dos preos mnimos e pela criao do seguro agrcola, eram centrais.(17) Dessa forma, os novos atores polticos do meio rural ampliaram as tradicionais bandeiras de luta do sindicalismo da CONTAG, possibilitando a luta e a conquista de novos direitos para estes segmentos sociais.
4. Reestruturao do sindicalismo e a emergncia dos agricultores familiares como sujeitos de direitos
As transformaes no mundo do trabalho que se disseminaram no Brasil a partir dos anos de 1990 a introduo de novas tecnologias de produo e de gesto, o desemprego estrutural, a flexibilizao das relaes trabalhistas, o trabalho temporrio, a terceirizao e o trabalho informal significaram uma crescente heterogeneizao, fragmentao e complexificao da forma de ser e de viver da classe trabalhadora, com influncias diretas na ao sindical. Nesse processo, ocorreu uma inflexo na agenda sindical em relao dcada anterior, substitudo a centralidade da luta salarial, pelas lutas por emprego e trabalho (Antunes, 1995; Mattos, 2005). Essas mudanas desafiaram o sindicalismo a se reestruturar buscando ampliar sua base social para alm da situao de assalariamento e dar um tom mais propositivo para a ao sindical em contraposio as aes reivindicativas do perodo anterior (Favareto, 2006). O sindicalismo rural foi influenciado por este leque de condicionantes, acrescido de alguns outros que lhe so especficos. No mbito das medidas de reestruturao do Estado, foram extintos rgos que controlavam polticas para culturas especficas (como a cana-de-acar e caf). A empresa que congregava os servios de extenso rural nacionalmente, a EMBRATER, foi extinta em 1991, tendo sido transferidos suas obrigaes para os estados. A desregulamentao dos mercados de trigo e leite e a eliminao de subsdios ao trigo levaram a um incremento nas importaes destes produtos. A criao do Mercosul em 1994, ampliou as possibilidades de relaes comerciais com os pases vizinhos membros do acordo, dos quais o Brasil veio a tornar-se um importador de produtos agrcolas (Cordeiro et al., 2003:13). Com essa nova situao de desobrigao estatal, em vez de um padro em que o Estado assumia para si as orientaes de produo e a mediao das situaes de conflito, passa a haver uma seleo das demandas, definida tanto pela importncia que elas representam para a economia, quanto pelo poder de presso dos atores demandantes (Favareto, 2006).
4.1. Crise e reestruturao do sindicalismo rural
Acompanhando tais mudanas, o sindicalismo rural da CUT aps anos de debates, no incio dos anos de 1990, fez uma importante redefinio no que tange seu projeto poltico. Quanto s dubiedades da estrutura sindical (presente nos anos 80), o novo sindicalismo decide reconhecer a estrutura sindical oficial ao mesmo tempo em que adotou a ttica de conquistar e transformar a CONTAG por dentro de sua estrutura. Com relao s bandeiras de luta, o novo sindicalismo diminui a importncia de
algumas antigas como a reforma agrria e os direitos trabalhistas e passou a assumir centralmente outras como a construo de um Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural, ancorado na expanso e fortalecimento da agricultura familiar-. O segmento da agricultura familiar passa a ser considerado prioritrio na nova estratgia de ao do sindicalismo cutista (Medeiros, 2001; Favareto, 2006). No incio dos anos de 1990, tanto o projeto sindical da CONTAG, quanto o do setor rural da CUT se encontravam em situao de crise, vivendo dilemas que exigiam readequaes e atualizaes. A CONTAG chegava nessa dcada com uma estrutura de ampla capilaridade (3.280 sindicatos), reconhecimento social como organizao sindical, capacidade de interlocuo com o Estado em diversos nveis. Entretanto, a CONTAG inicia esse perodo sofrendo o desgaste de sua forma passiva de se relacionar com o Estado e a dificuldade em promover atualizaes mais profundas em seu projeto sindical, seja nas suas bandeiras de luta e nas suas formas organizativas, seja nas caractersticas da ao sindical ainda em muito pautada pelo legalismo. O novo sindicalismo cutista, por sua vez, tambm gozava de forte reconhecimento social, grande capacidade de expresso e mobilizao, apresentava contedos e prticas renovadores da tradio sindical anterior. Os limitantes, da ao sindical da vertente cutista, estavam na dificuldade em firmar-se como o interlocutor privilegiado perante o Estado e em ampliar sua insero entre os sindicatos da base contaguiana (Favareto e Bittencourt, 1999; Favareto, 2006). Nesse quadro de crise do sindicalismo rural, ocorre, em 1995, a filiao da CONTAG CUT e o incio de um novo ciclo no sindicalismo rural brasileiro, com a adoo da nova identidade poltica de agricultor familiar e do projeto alternativo de desenvolvimento rural elaborado, inicialmente, pela CUT e, logo em seguida, tambm adotado pela CONTAG. Acompanhando estas mudanas na estrutura do sindicalismo rural brasileiro e procurando superar a crise da categoria trabalhador rural ocorre a emergncia de uma nova categoria que passou a unificar grande parte do movimento sindical: a agricultura familiar. (18) Para Medeiros (2001), a afirmao da categoria agricultura familiar, a partir de meados dos anos 90, deveu-se a uma ordem de fatores: o aumento da importncia dos pequenos produtores no interior do sindicalismo (com declnio da importncia poltica dos assalariados) e a reivindicao destes por um novo modelo de desenvolvimento; as organizaes sindicais realizaram algumas atividades de formao e intercmbios com outras organizaes de pases latinoamericanos e europeus visando conhecer suas experincias (promovidas
principalmente pela Igreja e por ONG's); criao de polticas pblicas especficas (como o PRONAF). Dessa forma, para Medeiros:
Esses elementos somados ao crescimento do debate intelectual sobre a importncia econmica e social da agricultura familiar, debate esse que, por meio da ao de assessorias rapidamente passou a circular no meio sindical, num exemplo caracterstico da reflexividade a que se refere Giddens (1991), colocou, no centro da discusso sobre polticas pblicas para o campo, o agricultor familiar' (Medeiros, 2001:117). Estas alteraes possibilitaram tambm a renovao da agenda do sindicalismo rural. Com a adoo da categoria agricultura familiar: temas que antes eram considerados de menor importncia, tais como a discusso de alternativas de comercializao, a experimentao de formas de produo associadas, o estmulo constituio de agroindstrias, o significado e implicaes das escolhas tecnolgicas, as dimenses ambientais da produo agrcola, passaram a ser valorizados e a ganhar novos significados como sinalizadores de novos caminhos possveis (Medeiros, 2001:117). A adoo do termo agricultura familiar pela CONTAG se deu em um momento em que suas histricas bandeiras de luta perderam importncia e/ou foram assumidas tambm por outros atores. A luta por reforma agrria foi, ao longo dos anos de 90, cada vez mais associada ao o MST, mesmo que em algumas regies (como no Nordeste) o sindicalismo da CONTAG, nesse perodo, tenha passado tambm a ocupar terras. A defesa dos direitos trabalhistas acabou perdendo parte da sua fora originria, com a diminuio do nmero de greves e tambm com a concorrncia de outros atores que passaram a congregar somente os assalariados rurais, como o caso da FERAESP (em So Paulo) (Coletti, 1998). Diante deste quadro, essas bandeiras perderam boa parte da sua capacidade de unificar reivindicaes de vrios segmentos na Confederao, abrindo espao para a afirmao de demandas e de identidades mais especficas. Estas mudanas nos projetos do sindicalismo rural causaram mudanas tambm nas suas articulaes polticas. Promoveram um realinhamento do sindicalismo rural da CUT em relao ao conjunto dos movimentos sociais rurais, marcadamente um certo afastamento em relao a parceiros histricos como a CPT e o MST-(19) e uma certa aproximao com o sindicalismo contaguiano, at ento um ferrenho oponente (Favareto, 2006, Picolotto, 2007). Esta tendncia de aproximao da ao sindical da CONTAG e da CUT comeou no incio dos anos 90 com a realizao dos Gritos da Terra. Estas mobilizaes dos Gritos da Terra conjugaram uma ttica de ao espetacular, operacionalizada com articulao do sindicalismo e dos movimentos
sociais em aes unificadas, sob a bandeira da valorizao dos pequenos agricultores (Medeiros, 2001). Os Gritos da Terra foram relativamente eficientes no que tange negociao de polticas pblicas com o Estado, pois propiciaram a conquista de polticas pblicas significativas para os agricultores, como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), criado em 1996. Estes eventos e, principalmente, suas conquistas, mostraram a fora e a capacidade de mobilizao do sindicalismo rural unificado.
4.2. PRONAF: poltica especfica para a agricultura familiar
No que se refere ao PRONAF, vale destacar que a criao desta poltica possibilitou o incio do reconhecimento da nova categoria poltica agricultura familiar no meio rural. Conforme destaca Wanderley, com a criao do PRONAF a agricultura familiar foi oficialmente reconhecida como um ator social em contraponto com as caractersticas absentestas da agricultura latifundiria. Antes vistos apenas como os pobres do campo, os produtores de baixa renda ou os pequenos produtores, os agricultores familiares so hoje percebidos como portadores de uma outra concepo de agricultura, diferente e alternativa agricultura latifundiria e patronal dominante no pas (Wanderley, 2000:36). Martins (2003) tambm destaca que, em meados dos anos 90, apesar da grande rivalidade poltica que caracterizava o cenrio das lutas dos pequenos agricultores e sem-terras frente ao Estado (governo Fernando Henrique Cardoso - FHC), estabeleceram-se novos horizontes pequena agricultura. Dentre os fatores importantes levantados pelo autor, se destacam: a criao do PRONAF e, principalmente, atravs deste, o reconhecimento da identidade social da agricultura familiar como protagonista de um projeto econmico vivel. Assim, a emergncia da identidade da agricultura familiar possibilitou um rpido reconhecimento desta categoria como sujeito a ser fortalecido e para isso, beneficiado com polticas pblicas subsidiadas. O sindicalismo rural tambm reconhece que o PRONAF foi fundamental para a emergncia da categoria agricultura familiar. Segundo as palavras de uma liderana sindical cutista da Regio do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, foi com a criao do PRONAF que se comeou a marcar o que viria a ser a agricultura familiar: Em 1994-95 com as lutas feitas [...] se criou o diferencial que ns comeamos a marcar a agricultura familiar que foi com a criao do PRONAF. O PRONAF hoje a
agricultura familiar. Ento, eu diria que ali que comeou a se diferenciar e a agricultura familiar ganha fora. [...] Se no se tivesse criado o PRONAF, com subsdio, tanto o custeio quanto o investimento, olha eu no imaginaria o que seria da agricultura.(20) No entanto, deve-se destacar que apesar da conquista do PRONAF ser bastante valorizada tanto pela literatura acadmica, quanto por algumas organizaes de agricultores familiares, existem outras posies que so crticas a esta poltica. Para alguns autores o PRONAF estaria, na verdade, gerando prejuzos, no apenas para a economia de base familiar, como tambm, para o processo de organizao dos trabalhadores, fomentando entre elas uma competio por recursos (Teixeira, 2002). Viso semelhante destacada por Vigna e Sauer (2001), que identificam no programa uma srie de limitaes, seja por ter sido pensado como uma poltica assistencial de combate a pobreza (poltica aliada ao programa Comunidade Solidria), seja pela quantidade insuficiente de recursos disponibilizado aos agricultores e a pela sua incapacidade de atender os agricultores menos capitalizados. Estes ltimos autores, ainda chamam ateno para o fato de que o PRONAF, na proposta inicial do sindicalismo "tinha como objetivo no s combater a pobreza ou dar uma sobrevida a esse segmento, mas impulsionar um desenvolvimento rural em novas bases" (Vigna e Sauer, 2001). Este objetivo, segundo os autores, no foi atingido com a implantao do Programa.
4.3. Sindicalismo da agricultura familiar
Motivada pela constituio do PRONAF, na regio Sul, foi desencadeada uma dinmica de constituio de cooperativas de crdito dos agricultores familiares para acessar esta poltica. Constitui-se, ento, o sistema CRESOL (Cooperativa de Credito com Interao Solidria), iniciado no ano de 1995, no sudoeste do Paran e espalhado rapidamente para grande parte da regio Sul. Outro ramo de cooperativas que apostavam na diversificao da produo, atravs da atividade leiteira, tambm ganhou impulso com o PRONAF e alcanou forte expresso na regio; criou-se uma rede de comercializao das agroindstrias familiares do Oeste Catarinense (UCAF), um sistema de certificao solidria, atravs da Rede EcoVida, que potencializou uma forte articulao entre as ONGs que atuavam com nfase na agroecologia e destas com outras organizaes associativas de agricultores familiares agroecolgicos (Bonato, 2003:27-28). Assim, desencadeou-se um processo dinmico de organizao e fortalecimento dos atores da agricultura familiar na regio Sul.
Seguindo este processo de estruturao regional e com o relativo fortalecimento da identidade poltica da agricultura familiar, no final dos anos 90, o sindicalismo rural da CUT na regio Sul do Brasil inicia um novo processo de rompimento com a CONTAG ao criar em 1999 a Frente Sul da Agricultura Familiar, como uma organizao promotora da agricultura familiar na regio (esta organizao articulava sindicatos, cooperativas e ONG's); e, em 2001, funda a Federao dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Regio Sul (FETRAF-Sul), como uma organizao sindical da agricultura familiar da regio, com vinculao cutista. O surgimento da FETRAF-Sul, segundo Cordeiro et al. (2003:119), refora duas tendncias do sindicalismo nos anos 90: a primeira diz respeito ao surgimento e fortalecimento de novas identidades polticas e sociais, neste caso, a de agricultor familiar, em detrimento da identidade genrica de trabalhador rural. A segunda, tendncia aponta para a potencial quebra da estrutura sindical oficial, e sua substituio por um sistema mais plural, capaz de dar conta das especificidades econmicas, polticas e sociais das diferentes categorias de trabalhadores rurais. Como derivaes destas tendncias deve-se destacar, de um lado, que a afirmao da identidade poltica da agricultura familiar tambm trouxe implicaes para o projeto poltico do sindicalismo da agricultura familiar. Em um documento publicado a FETRAF-Sul afirma seu projeto contrapondo-o com o da pequena produo marginal do capitalismo: Pequena produo revela uma formulao que deriva da compreenso de uma pequena produo capitalista incompleta e no desenvolvida . Ou seja, os pequenos agricultores so produtores atrasados e marginalizados no capitalismo , como so explorados fazem parte do proletariado agrcola e, portanto, so uma classe com potencial revolucionrio para construo de uma sociedade socialista. [...]. J a expresso agricultura familiar procura designar uma forma de produo moderna e mais eficiente sob o ponto de vista econmico, social e ambiental. [...] existem diferentes concepes sobre os rumos da sociedade entre os que acreditam no papel estratgico da agricultura familiar (FETRAF-Sul, 2003:16). Nesta busca de diferenciao entre pequena produo e agricultura familiar evidencia-se que a FETRAF objetiva colocar-se como agente ativo na sociedade atual, que almeja fortalecer o segmento social da agricultura familiar tanto para adequar-se ao modo capitalista de produo vigente, quanto para ser uma forma concreta de agricultura em uma possvel sociedade socialista. A construo da identidade da agricultura familiar, ento, busca livrar-se do carter atrasado, imperfeito e incompleto da noo de pequena produo e elaborar uma ressignificao cultural
da pequena agricultura dando-lhes novos adjetivos, tais como: produtora de alimentos, moderna e eficiente. O lema da FETRAF Agricultura Familiar: as mos que alimentam a nao corrobora com essa anlise. Por outro lado, a fundao da Federao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF-Brasil), em 2005, como fruto do esforo da FETRAF-Sul e de outros setores cutistas de diferentes regies do Pas, refora a tese de quebra da estrutura sindical oficial, apontada por Cordeiro et al. (2003). O processo de criao da FETRAF-Brasil, como fruto da experincia histrica dos agricultores familiares, destacada pela prpria Federao: Este processo de reorganizao do sindicalismo rural iniciou-se pela Regio Sul, com a fundao da Federao dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Santa Catarina FETRAFESC/CUT em 1997. Mas a criao da Federao dos Trabalhadores na Agricultura Familiar - FETRAFSul em 2001, nos Estados de Rio Grande do Sul, Paran e Santa Catarina que foi dado o grande impulso a este processo. Posteriormente vieram as Federaes da Agricultura Familiar FAF's em So Paulo e Mato Grosso do Sul; e as FETRAF's na: Bahia, Rio Grande do Norte, Cear, Piau, Pernambuco, Distrito Federal e Entorno, Minas Gerais, Maranho, Par, Gois e nos estados de Mato Grosso, Amazonas, Paraba, Alagoas, Tocantins e Sergipe esto em fase de consolidao. [...] No ms de julho de 2004, mais de 2.000 agricultores/as familiares provenientes de 22 Estados do pas participaram em Braslia do 1 Encontro Nacional Sindical da Agricultura Familiar, no qual decidiu-se por aclamao aprofundar e estender por todo o Brasil o processo de reorganizao e re-estruturao sindical da Agricultura Familiar atravs da Federao dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil- FETRAF-Brasil/CUT . [...] O nascimento se deu num grande momento: o Congresso de Fundao realizado nos dias 22 a 25 de novembro de 2005, em Luziania, Estado de Gois, com a presena de 1200 (mil e duzentos) delegados(a) e 250 convidados. Entre os convidados estiveram o Presidente Lula, vrios Ministros, Deputados, Senadores, ONGs, o Presidente da CUT Nacional, Movimentos Sociais e uma grande delegao Internacional. Eles foram os padrinhos do nascimento deste instrumento que os agricultores familiares do Brasil decidiram criar (FETRAF-Brasil, 2007). O sindicalismo rural cutista desde sua origem vinha questionando a estrutura do sindicalismo oficial (sistema STR's, FETAG's, CONTAG), porm, at a criao da FETRAF-Sul e posteriormente da FETRAF-Brasil, no havia criado uma estrutura sindical paralela. Com esta opo de criar uma estrutura sindical por fora do
sindicalismo oficial e, mais do que isso, optar por representar politicamente a agricultura familiar', a FETRAF se constituiu a revelia da legislao sindical. A FETRAF justifica esta opo por entender como um avano romper com a cultura sindical imposta pelo sindicalismo oficial. Os avanos promovidos por essa ruptura so destacados em documento: Ruptura com a regra (cultural e/ou legal) da unicidade sindical: tanto no sentido da unicidade da categoria trabalhadores rurais', construindo a categoria agricultura familiar', quanto na unicidade de base geogrfica, possibilitando a existncia da organizao sindical cutista da agricultura familiar em base geogrfica demarcada' por outro sindicato, construindo a unidade em torno dos princpios de uma central sindical (FETRAF-Sul, 2002:21). Segundo o mesmo documento, a FETRAF esta buscando formar uma estrutura sindical menos burocratizada e mais gil nos processos de mobilizao, para isso, deve ter unidade em torno dos princpios da central sindical (CUT), ou seja, o que importa a unidade poltica do sindicalismo da agricultura familiar, no importando a forma de organizao dos sindicatos. Seguindo esta orientao a Federao vem buscado constituir uma outra estrutura sindical baseando-se tanto em sindicatos municipais (STR's) conquistados, quanto em novas organizaes sindicais de base regional (por exemplo, os Sindicatos dos Trabalhadores na Agricultura Familiar SINTRAF's regionais de Pinhalzinho, de Pinho, de Concrdia e de Chapec em Santa Catarina, e o Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar SUTRAF no Alto Uruguai Gacho), assim como, a criao da Federao dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina (FETRAFESC), em 1997, que rompeu com a estrutura oficial no estado (Rodrigues, 2004; FETRAF-Sul, 2007). Alm destes, ainda existe o reconhecimento por parte da FETRAF de outras formas representativas, como as associaes de agricultores familiares, que tambm so vinculadas Federao (so exemplos as associaes das regies de So Miguel do Oeste em Santa Catarina e Alegrete e Santa Maria no Rio Grande do Sul). No entanto, deve-se reconhecer, por um lado, que estas novas formas organizativas articuladas pelo sindicalismo fetrafiano (ainda) no possuem o reconhecimento legal e, em funo disso, enfrentam restries legais ou no tm reconhecimento por parte de rgo do Estado.(21) Por outro lado, em funo desta forma mais flexvel de organizao, esta Federao sindical vem crescendo tanto em capacidade organizativa (articulao de variadas formas de organizao), quanto em nmero de sindicatos/associaes de agricultores familiares associados em nvel nacional.(22)
Como conseqncia desse processo, vem aumentando sua capacidade de articulao poltica perante o Estado (com a conquista de polticas pblicas). Isso fica evidente na fala de um dirigente da FETRAF referindo-se a fora atual da Federao: quanto mais agricultores ns representamos, melhor ns somos recebidos em Braslia.(23) Neste aspecto, pode-se fazer uma aluso a discusso que Santos (1997) faz de pluralismo jurdico, como formas de organizao de sistemas de direitos no-oficiais, elaboradas pelos segmentos populares a partir de normas prprias para resoluo de conflitos. No caso do sindicalismo da FETRAF, o pluralismo ocorre na forma de organizao de um sindicalismo paralelo a estrutura oficial, sem o reconhecimento oficial do Estado, mas que tem alcanado sucesso na representao poltica da categoria agricultura familiar, seja em negociaes diretas, seja atravs de suas organizaes associadas, como as cooperativas de crdito e de leite. Dessa forma, est se criando no Brasil uma nova estrutura sindical que alcanou certo grau de legitimidade poltico-social, mesmo tendo se construdo a revelia de legislao sindical. Nesse sentido, alm do sindicalismo no-oficial da FETRAF estar quebrando a unicidade sindical prevista pela legislao, ele est tambm criando possibilidades de quebrar a legislao sindical, pois est criando canais, que esto sendo legitimados, de representao poltica dos agricultores familiares (por lei pertencentes categoria trabalhador rural) por fora do sindicalismo rural reconhecido legalmente pelo Estado. Em uma analogia a noo de pluralismo jurdico de Santos (1997), pode-se referir a este fenmeno como pluralismo sindical, visto que este est criando toda uma estrutura sindical paralela legislao existente, com regras prprias.
4. Lei da Agricultura Familiar: reconhecimento da categoria produtiva
Se existem paradoxos na relao do sindicalismo da agricultura familiar com relao legislao, no que se refere ao reconhecimento legal da agricultura familiar como categoria produtiva (atravs da Lei 11.326 de 24 de julho de 2006) no diferente. A Lei da Agricultura Familiar como ficou conhecida estabelece as diretrizes para a formulao da Poltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais e, dentro de suas atribuies, institui oficialmente o que entende por agricultura familiar em seu Artigo 3: considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - no detenha, a qualquer ttulo, rea maior do que 4 (quatro) mdulos fiscais; II - utilize predominantemente mo-de-obra da prpria famlia nas atividades
econmicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econmicas vinculadas ao prprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua famlia. Alm disso, como efeitos possveis da Lei, estabelece, em seu Artigo 5, que para atingir seus objetivos, a Poltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais promover o planejamento e a execuo das aes, de forma a compatibilizar as seguintes reas: crdito e fundo de aval, infra-estrutura e servios, assistncia tcnica e extenso rural, pesquisa, comercializao, seguro, habitao, legislao sanitria, previdenciria, comercial e tributria, cooperativismo e
associativismo, educao, capacitao e profissionalizao, negcios e servios rurais no agrcolas e agroindustrializao. Do disposto na Lei possvel se fazer algumas avaliaes. A definio de agricultura familiar contida nesta Lei parece ter se baseado na classificao da agricultura brasileira em dois tipos familiar e patronal proposto pelo Relatrio do Convnio FAO/INCRA (1994). Nesse documento, a agricultura familiar definida como: um tipo de agricultura em que predominam relaes ntimas entre o trabalho e a gesto da propriedade, o proprietrio conduz o processo produtivo, a produo mais diversificada do que a patronal, o trabalho assalariado usado somente como complementar ao trabalho da famlia e as tomadas de deciso so imediatas e ligadas s imprevisibilidades do processo produtivo (FAO/INCRA, 1994). Estas caractersticas definidoras da agricultura familiar tambm deram base para a formulao do PRONAF,(24) em 1996, e, mais recentemente, aparentemente, tambm inspiraram a criao da Lei da Agricultura Familiar. Tambm possvel observar que em muitas das reas de ao da Poltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais j existiam polticas pblicas direcionadas aos agricultores familiares mesmo antes de promulgada a Lei, tais como: o PRONAF, criado ainda em 1996 e, desde 2003 (governo Lula), foram criados vrios programas, destacando-se: poltica nacional de assistncia tcnica e extenso rural (PNATER); programa de habitao rural da agricultura familiar; seguro agrcola; programas de educao de jovens e adultos (Terra Solidria, Projeto Mulher, Projeto Jovem, no mbito da FETRAF); poltica de scioeconomia solidria (cooperao e comercializao); poltica de apoio as agroindstrias familiares; eletrificao rural (Luz Para Todos); entre outros. Dessa forma, diante de tais evidncias, pode-se supor que esta Lei foi promulgada para dar maior suporte legal
aos programas que j existiam e dar maior fora legal para as polticas direcionadas a esta categoria produtiva. Ao se analisar os casos da constituio do sindicalismo da agricultura familiar por fora da legislao vigente (gerando uma situao de pluralismo sindical) e o caso da criao de programas de governo de apoio a agricultura familiar mesmo antes do reconhecimento legal da categoria, pode-se fazer uma relao com a discusso acerca das possibilidades de transformao do que Bourdieu (2005) chama de campo jurdico.(25) Para Bourdieu (2005:211), o direito e o campo jurdico no so neutros (como afirma a doutrina positivista) ou auto-referentes (como quer fazer crer a teoria dos sistemas). Este campo se constitui como universo relativamente independente em relao s presses externas, mas, ainda assim, sujeito a influncias de outros campos como o da poltica, da religio, da cincia, etc. Alm disso, Bourdieu ainda destaca que como mostra a histria do direito social, o corpus jurdico registra em cada momento um estado de relao de foras (Bourdieu, 2005:212). Dessa forma, cabe aos agentes fazer reconhecer suas pretenses de direitos.
A partir destas formulaes de Bourdieu fica claro que o campo da legislao permevel a disputa poltica e pode se transformar com a ao dos agentes. Nesse sentido, pode-se supor que o reconhecimento legal da agricultura familiar como categoria produtiva e como sujeito digno de polticas pblicas especficas se deu principalmente pela fora poltica adquirida por esta categoria, notadamente a partir dos anos 90. Como se apontou acima, a conquista do PRONAF se deu atravs das mobilizaes unificadas (Gritos da Terra) do sindicalismo rural (CUT e CONTAG) e do MST, aes essas que mostraram o potencial poltico que essas mobilizaes adquiriram. Alm disso, as outras polticas de estmulo a esta categoria foram criadas pelo governo Lula, que conta com participao de integrantes tanto do sindicalismo da FETRAF e da CONTAG, quanto do MST na administrao. Ou seja, pelos indcios apontados, a criao de polticas pblicas de estimulo agricultura familiar e o reconhecimento legal da categoria, comeou com a fora poltica adquirida pela unificao do sindicalismo rural e sua articulao com o MST (nos anos 90) e, se consolidou, no governo Lula, atravs da participao destes movimentos no governo e, com isso, as oportunidades que se abriram. Corrobora com esta anlise a avaliao positiva que o sindicalismo da FETRAF faz destas polticas para a consolidao da agricultura familiar. Como destaca: agricultura familiar se consolida na medida em que fortalece a organizao, discute a realidade e as necessidades e busca polticas diferenciadas para continuar produzindo alimentos. (FETRAF-Sul, 2007:02). Uma liderana da FETRAF, quando questionada
sobre a importncia das polticas pblicas para a agricultura familiar, destacou os avanos no cotidiano do agricultor: As polticas que ns temos hoje foram fruto desse trabalho do movimento sindical, do movimento cooperativista e tal. [...] por isso, que ns ainda temos agricultores na roa sobrevivendo e vivendo at bem, por mais que a gente sabe que o agricultor reclama bastante, n. Mas, se nos comparar a agricultura de dez anos atrs com hoje, mudou muito, a tecnologia, a comodidade, o conforto, hoje no tem quase nenhum agricultor que no reformou a casa, que no tem telefone, que no tem o conforto necessrio pr se viver. Se ns pega a dez anos atrs ningum tinha isso quase. Uma boa parte ainda no tinha luz ou no tinha recurso pra gastar, pra ir em festa e tal. E hoje o pessoal tem essa oportunidade, eu diria que essa comodidade. Por mais que eu s um defensor de que falta muita coisa pra agricultura ainda. Mas eu diria que avanamos bastante. (26) Pelo exposto, as organizaes da agricultura familiar (notadamente a FETRAF) avaliam que o quadro institucional melhorou no ltimo perodo (ps-PRONAF). Chegam mesmo a afirmar que esto em um estgio de consolidao da agricultura familiar. Esses parecem ser indcios de que o reconhecimento dos agricultores familiares como sujeitos de direitos tem propiciado a este segmento social, alm do auto-reconhecimento de sua consolidao enquanto categoria produtiva, tambm pensar-se como sujeito ativo da sociedade nacional. Nesse sentido, os avanos, quando comparados com os perodos anteriores, so notrios.
5. Algumas consideraes sobre a relao do sindicalismo da agricultura familiar com outros atores e com o Estado
Depois de apontar esta situao de auto-reconhecimento dos avanos conquistados pelo sindicalismo da agricultora familiares ainda parece oportuno fazer algumas consideraes sobre as relaes deste sindicalismo com o Estado e com outros movimentos sociais do campo. Para isso, deve-se resgatar que desde o processo de redemocratizao no Brasil, completado oficialmente com a Constituio de 1988, constituram-se, na sociedade brasileira, dois grandes projetos polticos antagnicos entre si: um de inspirao democrtica, participativa representado pelos movimentos populares surgidos no perodo da redemocratizao e que visou a participao mais ativa da sociedade civil, a expanso da cidadania e a descentralizao do poder -o PT, a CUT e Lula foram os principais representantes-; e outro de inspirao neoliberal, baseado no Consenso de Washington, (27) que buscou a reduo do Estado atravs
da desobrigao estatal -representado principalmente pelos presidentes Fernando Collor e FHC- (Dagnino, 2004). Do desdobrar do conflito entre estes dois projetos foi gestado o ambiente para a emergncia dos agricultores familiares como sujeitos de direitos. bem verdade, como se apontou acima, que a luta por reconhecimento de direitos no campo iniciou-se muito tempo antes, porm, foi neste perodo (psConstituio de 1988), que estes agricultores constituram-se mais efetivamente como sujeitos polticos, foram reconhecidos pela academia e pelo Estado. Disso, o que se quer destacar, que a emergncia da categoria agricultura familiar, que comeou oficialmente no governo FHC (de inspirao neoliberal) com a criao do PRONAF, bastante contraditria quando comparada com o quadro geral das polticas deste governo (que visavam a extino e privatizao de empresas pblicas, terceirizao de servios, etc.). Esta poltica contraditria pode ser facilmente atribuda face social-democrata do governo FHC (como poltica assistencial, ligada ao programa Comunidade Solidria, cf. Vigna e Sauer, 2001) ou, como sugerem Teixeira (2002), pode ser considerada como uma poltica compensatria do governo face s conseqncias negativas provocadas pelas mudanas produzidas pelo ajuste neoliberal no campo. Porm, como aponta Medeiros, o reconhecimento do agricultor familiar' como ator social relevante no pode ser entendido sem considerar as mobilizaes dessa categoria, as relaes destes com o Estado e com outros atores populares, o que implica avaliar as disputas em torno de quem deveria ser o pblico preferencial para as aes governamentais no campo (Medeiros, 2001:120). Alm disso, assevera Medeiros que na origem da formulao do PRONAF houve a inteno do governo (que estava embaraado com a pauta da reforma agrria) em buscar novas bases de apoio no campo, para isso, os agricultores familiares eram uma opo. Assim, da confluncia entre o interesse estatal de formar novas bases no campo e das lutas do sindicalismo nos 90 comeou a ser reconhecida a categoria agricultura familiar. Com o incio do governo Lula (em 2003), como era de se esperar pela sua tradicional vinculao ao projeto democrtico-popular (cf. definio de Dagnino, 2004), ocorre um certo aumento de polticas destinadas aos setores marginalizados do campo (como destacadas acima), entre eles os agricultores familiares. Neste governo, ocorrem contradies muito mais complexas do que a apontada do governo FHC, notadamente, a convivncia (ou confluncia) entre os projetos polticos democrticopopular e o neoliberal, no entanto, no ser possvel entrar em maiores detalhes sobre essa questo neste trabalho. O que se quer chamar ateno sobre este governo se refere s possibilidades abertas (mesmo que limitadas tendo em vista a convivncia com a orientao neoliberal) de participao dos movimentos sociais em postos
estatais. Com essa participao possibilitou-se a criao de um conjunto de polticas pblicas que vo de encontro com as aspiraes dos movimentos, tendo em vista, que estes, por participarem do governo, so agentes ativos na construo das polticas. Referindo-se a casos de co-participao dos movimentos em governos democrticopopulares Dagnino (2004:105) destaca que essas experincias expressam e contribuem para reforar a existncia de cidados-sujeitos e de uma cultura de direitos que inclui o direito a ser co-participante em governos locais. Ademais, esse tipo de experincia contribui para a criao de espaos pblicos onde os interesses comuns e privados, as especificidades e as diferenas, podem ser expostas, discutidas e negociadas. Dessa forma, a oportunidade de participao dos movimentos sociais no governo Lula, tem possibilitado a estes atores, alm de pensarem polticas para os seus iguais, disputar e negociar com outros setores sociais (os diferentes), criando, assim, um espao pblico de manifestao de demandas. Alm disso, essa oportunidade de participao nesse governo tem desafiado os movimentos sociais, dentre eles, notadamente o sindicalismo da agricultura familiar, a aprender a lidar com a situao de, ao mesmo tempo, ser governo e ser movimento social. Essa situao, muitas vezes, pode ser confundida e os movimentos sociais perderem sua autonomia, virando assim clientes do Estado, burocratizando-se e, com isso, esvaindo-se sua capacidade de serem cidados-sujeitos. No caso dos movimentos sociais do campo, a experincia de participao destes no governo Lula pode estar contribuindo para a afirmao de uma tendncia que vem se fortalecendo desde meados dos anos 90, a diferenciao e formao de atores concorrentes no campo, tendo em vista que se constituram duas formas conflitantes de conceber a relao dos movimentos com o Estado. Em outro trabalho (Picolotto, 2007), apontamos que o reordenamento do sindicalismo rural (aproximao entre CUT e CONTAG) e o reconhecimento da categoria da agricultura familiar, em meados dos anos 90, deu incio a um processo de afastamento entre as organizaes sindicais e os outros movimentos sociais. Este processo ficou mais evidente com a criao de duas novas organizaes de agricultores: a FETRAF (criada em 2001) e a seo brasileira da Via Campesina, que articula o MST, MPA, MAB, MMC (criada em 1999).(28) Estes duas organizaes passaram a adotar estratgias diferenciadas de atuao poltica. De um lado, a FETRAF tem procurado transformar as instituies existentes segundo os interesses dos agricultores familiares, para isso, a participao nos governos democrtico-populares torna-se fundamental (para propor polticas de incentivo a este segmento social). De outro lado, os movimentos da Via Campesina tm priorizado o enfrentamento das instituies e da ordem estabelecida, visando priv-las de legitimidade e construir novas formas socioeconmicas
descomprometidas com as atuais, para isso, a participao nos governos (mesmo que democrtico-populares) tem carter instrumental de acumulo de foras
(fundamentalmente para angariar recursos).(29) Estas estratgias diferentes trazem implicaes nos projetos polticos destas organizaes. A FETRAF, como apontado acima, visa, fundamentalmente, promover os agricultores familiares como sujeitos, buscado reconhecer estes como produtores de alimentos para o mercado interno. Os movimentos da Via Campesina, por priorizarem o enfrentamento das instituies e da ordem, articulam um projeto de transformao das estruturas socioeconmicas com um resgate cultural das formas de produzir e viver dos camponeses (categoria entendida em sentido amplo).(30) Dessa diferenciao de projetos polticos, sumariamente descrita, fica evidente que enquanto o sindicalismo da agricultura familiar tem inteno clara de procurar reconhecer os agricultores de suas bases como sujeitos de direitos (nisso tem relativo sucesso, segundo sua prpria avaliao), os movimentos da Via Campesina, tm procurado atravs da confrontao da ordem socioeconmica afirmar outros sujeitos que vo alm dos agricultores familiares. Estes movimentos procuram afirmar como sujeitos de uma nova ordem, a ser construda, os camponeses (assentados, pequenos agricultores, quebradeiras de coco babau, catadores de caranguejos, pescadores artesanais, povos da floresta, caboclos, etc.). Dessa forma, como se percebe, com a ampliao de categorias feitas pela Via Campesina, tambm ocorre uma ampliao de possveis demandas de realizao de sujeitos, nesse sentido, a categoria agricultura familiar parece no comportar todas as demandas. Diante dos elementos apontados fica evidente que os movimentos sociais do campo, mesmo diante das conquistas de polticas pblicas apontadas e do reconhecimento dos agricultores familiares como sujeitos de direitos, esto permeados de contradies e de novas possibilidades histricas. Surgem novas demandas e projetos de transformao que parecem estar renovando as energias utpicas e que podem estar reascendendo discusses sobre novas possibilidades emancipatrias. Nesse sentido, a histria est aberta.
Notas (1) O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi criado em 1996 atravs do Decreto Presidencial n 1.946 de 28 de julho de 1996. Deve-se destacar que o PRONAF, atualmente, no a nica poltica destinada aos agricultores familiares. Tratarei das outras polticas no decorrer deste artigo.
(2) A denominada Lei da Agricultura Familiar refere-se a Lei N 11.326, de 24 de julho de 2006 que estabelece as diretrizes para a formulao da Poltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. (3) Na maioria das vezes a literatura sobre os movimentos sociais brasileiros separa a trajetria dos movimentos urbanos dos rurais. Neste artigo, procuraremos relacionar algumas das conquistas dos trabalhadores urbanos e dos rurais sem procurar esgotar estas relaes. (4) Deve-se destacar que muitos autores, como Paoli (1993) e Antunes (1990), identificam inspirao fascista na legislao trabalhista brasileira. Porm, existem outros autores, como Biavaschi (2005), que procuram desconstituir esta tese, afirmando que a legislao brasileira fruto da experincia histrica dos trabalhadores brasileiros e de elaboraes jurdicas dos governos de Getulio Vargas (1930-1945 e 1951-1954). (5) Para Santos (2001:140) a constituio do direito moderno se deu sob uma tenso entre regulao social e emancipao social. Identifica que com o avanar da modernidade esta tenso vai sendo gradualmente substituda por uma utopia automtica de regulao jurdica confiada ao Estado. (6) A chamada nova cidadania , ou cidadania ampliada, segundo Dagnino, se inspira na luta pelos direitos humanos [...] como parte da resistncia contra a ditadura, essa concepo buscava implementar um projeto de construo democrtica, de transformao social, que impe um lao constitutivo entre cultura e poltica. Incorporando caractersticas de sociedades contemporneas, tais como o papel das subjetividades, o surgimento de sujeitos sociais de um novo tipo e de direitos tambm de novo tipo, bem como a ampliao do espao da poltica, esse projeto reconhece e enfatiza o carter intrnseco da transformao cultural com respeito construo da democracia. Nesse sentido, a nova cidadania inclui construes culturais, como as subjacentes ao autoritarismo social como alvos polticos fundamentais da democratizao (Dagnino, 2004:103). (7) Segundo Paoli e Telles (2000:109) a Constituio de 1988 Alm de incorporar uma agenda universalista de direitos e proteo social, o novo texto legal traduz uma exigncia de participao na gesto da coisa pblica e acena com possibilidades de construo partilhada e negociao de uma legalidade capaz e conciliar legalidade e cidadania. (8) Para maiores detalhes sobre estes movimentos ver Martins (1983) e Medeiros (1989), entre outros. (9) O PCB, a partir de sua Declarao de maro de 1958, passou a defender as formas legais de luta e de organizao para os trabalhadores do campo, enfatizando a grande importncia da defesa jurdica dos direitos j assegurados aos camponeses. Alm disso, para os comunistas, as justificativas das vantagens dos sindicatos sobre outras formas de organizao (as Ligas Camponesas, por exemplo) estariam ligadas concepo do papel primordial exercido pelo proletariado no processo de transformao social. (cf. Declarao sobre a poltica do P.C.B. (maro de 1958) apud Coletti, 2005:63). J as motivaes da Igreja Catlica, que a levaram a investir na fundao de sindicatos no campo, estavam ligadas,
sobretudo, ao perigo que para ela representava a expanso comunista no campo (Coletti, 1998). (10) Na fundao da CONTAG participaram vinte e seis Federaes Estaduais de Trabalhadores na Agricultura (FETAG'S) com direito a voto, assim distribudas: dez delas seguiam a orientao do PCB, oito eram orientadas pela AP (Ao Popular, constituda pela esquerda catlica), seis eram vinculadas a grupos cristos conservadores do Nordeste e duas colocavam-se como independentes. O PCB, atravs de um acordo com a AP, ficou com a presidncia e a tesouraria da nova Confederao, enquanto coube AP a secretaria (Medeiros, 1989). (11) No final dos anos setenta, em 1979, a Federao dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco (FETAPE) e a CONTAG organizaram, respeitando todas as exigncias legais, a maior greve de trabalhadores rurais da histria do pas, mobilizando cerca de 250 mil canavieiros na Zona da Mata que se levantaram em busca de seus direitos trabalhistas. No ano seguinte se repetiu a mobilizao (Sigaud, 1980). (12) Todos esses termos so valorativos e se referem aos sindicatos prximos ao governo ou que defendem a manuteno da estrutura sindical brasileira. importante salientar que esses termos so imprecisos e, na maioria das vezes, so utilizados pelos grupos para desqualificar os adversrios no jogo poltico (Souto Jr, 2000). (13) Agrupando militantes egressos ou no da experincia da luta armada e/ou militantes ligados Igreja progressista, estes setores apresentava uma plataforma que tinha como centro o combate estrutura sindical corporativa a partir de um intenso trabalho de base via comisses de fbrica. Sua maior expresso estava na Oposio Sindical Metalrgica de So Paulo (OSM-SP) e podia apresentar posies que iam desde a aceitao do trabalho conjunto com o sindicato oficial , at aquelas contrrias este tipo de articulao (Santana, 1998). (14) Vale dizer que s a partir das greves de 1978, e no perodo que se segue at a constituio da CUT, que os sindicalistas autnticos e o movimento das Oposies Sindicais vo se consolidando enquanto um bloco, em um processo que no se deu sem tenses. Em sua maioria estas foras, junto outras, estaro presentes tambm na formao do PT (Santana, 1998). (15) Estes dois blocos seriam as bases de sustentao dos organismos intersindicais de cpula. O primeiro, da criao da CUT; e o segundo, da Coordenao Geral da Classe Trabalhadora (CONCLAT). Esta passaria, em 1986, a ser a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) que depois tambm se dividiria em duas CGTs (uma, Central; a outra, Confederao) (Santana, 1998). (16) Segundo Schaaf (2003:422): A mudana de maior impacto e mais concreta ocorrida para as agricultoras, a partir da fundao do movimento, foi a garantia dos direitos sociais na Constituio de 1988, que atingiu a toda a categoria das trabalhadoras rurais e mudou radicalmente a posio da mulher rural. Pela primeira vez, foi concedido o direito previdncia s mulheres rurais, consistindo na aposentadoria, no salrio-maternidade e no auxlio-doena, que entraram em vigor no incio da dcada de 90. Os homens beneficiaram-se com a reduo
do limite de idade, que passou de 65 para 60 anos, e o aumento do benefcio, de meio salrio para um salrio mnimo. (17) Schmitt (1996) destaca que os pequenos agricultores, no final da dcada de 80, reivindicavam: reajuste dos preos mnimos, reduo dos juros, devoluo da correo monetria paga durante o Plano Cruzado, prorrogao das dvidas, extino do PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuria) e a criao de um novo seguro agrcola, entre outros itens. (18) Favareto e Bittencourt (1999:370) afirmam que no meio sindical a noo de agricultura familiar passou a ser utilizada a partir de 1993. Para os autores, a idia contribuiu tambm para ressignificar as lutas e projetos sociais para o campo brasileiro: A adoo do termo agricultura familiar para designar o pblico prioritrio do sindicalismo rural tem como marco a 1 Plenria Nacional do DNTR/CUT, realizada em 1993. A partir da, esse segmento, assim definido, passa a ocupar a centralidade dos processos de negociao e mobilizao, principalmente a partir da edio dos Gritos da Terra Brasil (manifestaes anuais que acabaram por se transformar numa espcie de data-base dos agricultores e que eram organizados, em suas primeiras verses, conjuntamente com a Contag, MST e demais organizaes do campo). Posteriormente, no congresso da Contag de 1995, quando ocorreu a filiao CUT, tambm as teses apresentadas pela CUT/Rural foram vitoriosas, fazendo com que a opo pela agricultura familiar viesse a renovar as bandeiras de luta da Contag. (19) A reconstruo histrica das relaes entre o setor rural da CUT que deu origem a FETRAF em 2001 e o MST bastante complexa, no cabendo nos marcos deste trabalho. Em outros trabalhos, tais como Picolotto (2006, 2007), j fizemos esforos no sentido de compreender as relaes entre estes dois atores. (20) Entrevista feita pelo autor em 2006 com liderana da FETRAF no Alto Uruguai do Rio Grande do Sul (RS). (21) No caso do SINTRAF de Pinho/SC, destacado por Rodrigues (2004:66), observa-se que apesar deste ter se constitudo como rgo de representao poltica dos interesses de suas bases, a legalidade no garantida somente pela organizao do grupo de trabalhadores, e porque os processos jurdicos exigem a carta sindical. Neste caso, o SINTRAF de Pinho tornou-se uma entidade jurdica, mesmo ainda no tendo o reconhecimento do Ministrio do Trabalho. Segundo relato de uma liderana apresentado por Rodrigues (2004), esta condio de ilegalidade pode ser um fator de instabilidade e de disputa poltica entre os STR's e os SINTRAF's. O relato ilustrativo: ns temos um estatuto registrado, ns temos o CNPJ, falta s mesmo a carta sindical que ns no temos. At esses dias ns tivemos uma audincia no Frum, que a gente recebeu a notificao. E, o STR vinha dizendo que a gente era um sindicato clandestino. Na verdade, a gente teve que ir provar para a promotora que a gente no era. Ainda segundo Rodrigues, Este processo ainda no est definido, principalmente pelo fato da entidade federativa a FETRAF tambm no ter obtido at hoje sua carta sindical, a legalidade junto ao Ministrio do Trabalho.
(22) Segundo divulgado no site da CUT (2007: sn) A FETRAF-BRASIL/CUT nasceu com uma base de representao em 14 (quatorze) Federaes distribudas em dezesseis Estados com mais de 1000 (mil) sindicatos filiados. (23) Entrevista realizada pelo autor com Liderana sindical na regio do Alto Uruguai do RS em 2006. (24) Segundo Banco do Brasil (2004), para acessar o PRONAF os agricultores familiares devem se enquadrar cumulativamente no seguintes critrios: a) explorem a terra na condio de proprietrio, posseiro, arrendatrio, parceiro ou concessionrio do Programa Nacional de Reforma Agrria; b) residam na propriedade ou em local prximo; c) possuam, no mximo, quatro mdulos fiscais (ou seis mdulos, no caso de atividade pecuria); d) tenham o trabalho familiar como base da explorao do estabelecimento; e) tenham renda bruta anual no superior a R$ 60.000,00. (25) O campo jurdico o lugar de concorrncia pelo monoplio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa distribuio ( nomos ) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de competncias ao mesmo tempo social e tcnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre e organizada) um corpus de textos que consagram a viso legtima, justa, do mundo social. (Bourdieu, 2005, p.212) (Grifos do autor). (26) Entrevista realizada pelo autor com Liderana sindical na regio do Alto Uruguai do RS em 2006. (27) O Consenso de Washington constituiu-se de um conjunto de medidas, de forte inspirao neoliberal, formulado no final dos anos 80 pelas instituies financeiras baseadas em Washington, como o Fundo Monetrio Internacional, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e que passou a ser "receitado" para promover o "ajustamento econmico dos pases em desenvolvimento. (28) O MMC (Movimento das Mulheres Camponesas) herdeiro poltico do MMTR. E o MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) surgiu em 1996 como uma dissidncia do sindicalismo cutista na regio Sul. (29) No ser possvel desenvolver mais este processo de diferenciao da FETRAF e da Via Campesina, tendo em vista as limitaes deste trabalho. Em outros trabalhos (Picolotto, 2006; 2007), desenvolvemos mais detalhadamente as relaes entre estes atores. O detalhamento das relaes destes atores com a CONTAG ficar para outra oportunidade. (30) Segundo Carvalho (2005:171) Essa diversidade camponesa inclui desde os camponeses proprietrios privados de terras aos posseiros de terras pblicas e privadas; desde os camponeses que usufruem dos recursos naturais como os povos das florestas, os agroextrativistas, a recursagem (extrao de recursos naturais pelos lavradores locais), os ribeirinhos, os pescadores artesanais lavradores, os catadores de caranguejos e lavradores, os castanheiros, as quebradeiras de coco babau, os aaizeiros, os que usufruem dos fundos de pasto at os arrendatrios no capitalistas, os parceiros, os foreiros e os que usufruem da terra por cesso; desde camponeses quilombolas parcelas dos povos indgenas j
camponeizados; os serranos, os caboclos e os colonizadores, assim como os povos das fronteiras no sul do pas (Bavaresco, 2004). E os novos camponeses resultantes dos assentamentos de reforma agrria.
Bibliografia ABRAMOVAY, Ricardo. 2000. O capital social dos territrios: repensando o desenvolvimento rural. En: IV Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Poltica. Porto Alegre. ANTUNES, Ricardo. 1990. Classe operria, sindicatos e partidos polticos no Brasil. So Paulo: Cortez/Ensaios. 3 ed. ANTUNES, Ricardo. 1995. O novo sindicalismo no Brasil. Campinas: Pontes. 2 ed. BANCO DO BRASIL. 2004. O atendimento agricultura familiar. Revista de poltica agrcola. Nmero 4. p. 26-35. BAVARESCO, Paulo R. 2004. Diversidade cultural na fronteira. So Miguel do Oeste: Unoesc. BIAVASCHI, Magda Barros. 2005. O direito do trabalho no Brasil 1930/1942: a construo do sujeito de direitos trabalhistas. Tese de doutorado. Campinas: Unicamp. BOITO Jr., Armando.1991. Reforma e persistncia da estrutura sindical. En: BOITO Jr., Armando (org.). O sindicalismo brasileiro nos anos 80. Rio de Janeiro: Paz e Terra. BONATO, Amadeu. 2003. O Sindicalismo e as organizaes da agricultura familiar da regio Sul. En: FETRAF-SUL. 2003. Mutiro da agricultura familiar. Chapec: FETRAF-Sul/CUT. BOURDIEU, Pierre. 2005. A fora do direito: elementos para uma sociologia do campo jurdico. En: BOURDIEU, Pierre. Poder simblico. Rio de Janeiro. 8 ed. CAMPANHOLA, Ceyton; Jos Graziano da SILVA. 2000. O novo rural brasileiro. Campinas: Unicamp/Embrapa. CARVALHO, Horcio Martins de. 2005. O campesinato no sculo XXI: possibilidades e condicionantes do desenvolvimento do campesinato no Brasil. Petrpolis: Vozes. CENTRAL NICA DOS TRABALHADORES (CUT). 2007. FETRAF-Brasil. CUT. Disponvel em: http://www.cut.org.br . Acessado em: 20, jan, 2008. COLETTI, Claudinei. 1998. A estrutura sindical no campo. Campinas: Unicamp. COLETTI, Claudinei. 2005. A trajetria poltica do MST: da crise da ditadura ao perodo neoliberal. Tese de Doutorado. Campinas: Unicamp. CORDEIRO, ngela; et al. 2003. Organizaes sociais rurais diante do ajuste: o caso do Brasil. [Relatrio FAO]. Disponvel em: www.fetrafsul.org.br/ . Acesso em: 23, maio, 2005. DAGNINO, Evelina. 2004. Sociedade civil, participao e cidadania: de que estamos falando? En: MATO, D. (coord.). Polticas de ciudadana y sociedad civil en tiempos de globalizacin. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela. DOIMO, Ana Maria. 1994. A vez e a voz do popular. Rio de Janeiro: Relume Dumar/ANPOCS. FAO/INCRA (ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS PARA AGRICULTURA E
ALIMENTAO/ INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA). 1994.
Diretrizes de poltica agrria e desenvolvimento sustentvel. Verso resumida do Relatrio Final do Projeto - UTF/BRA/036. FAVARETO, Arilson. 2006. Agricultores, trabalhadores: os trinta anos do novo sindicalismo rural no Brasil. Revista brasileira de cincias sociais. Volmen 21. Nmero 62. p. 27-45. FAVARETO, Arilson; Gilson BITTENCOURT. 1999. Agricultura e sindicalismo nos anos 90: notas para um balano. En: TEDESCO, Joo C. (org.). Agricultura familiar: realidades e perspectivas. Passo Fundo: EDIUPF. FEDERAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR (FETRAFBRASIL). 2007. Quem somos. FETRAF-Brasil. Disponvel em: http://www.fetraf.org.br . Acessado em: 20 jan 2008. FEDERAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIO SUL (FETRAF-SUL). 2002. Agricultura familiar, desenvolvimento e o novo sindicalismo: da vida que vem da terra, a semente de um novo Brasil... semente do novo sindicalismo. Chapec: FETRAF-Sul. FEDERAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIO SUL (FETRAF-SUL). 2003. Mutiro da agricultura familiar. Chapec: FETRAF-Sul/CUT. FEDERAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIO SUL (FETRAF-SUL). 2007. A ousadia na luta e na organizao construindo um novo desenvolvimento. Semear em revista : semente do novo sindicalismo. Nmero 2. HOBSBAWM, Eric. 1987. O operariado e os direitos humanos. En: HOBSBAWM, Eric. Mundos do trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Terra. MADURO, Accia M. R. 1990. A prtica sindical da FETAG (Federao dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul). Porto Alegre: UFRGS Programa de Ps-Graduao em Sociologia Rural (Dissertao de Mestrado). MATTOS, Marcelo Badar. 2005. Novas bases para o protagonismo sindical na Amrica Latina: o caso do Brasil. En: LEHER, Roberto; Mariana SETBAL (org.) Pensamento crtico e movimentos sociais. So Paulo: Cortez. MARTINS, Jos de Sousa. 1983. Os camponeses e a poltica no Brasil. Petrpolis: Vozes. 2. ed. MARTINS, Jos de Sousa. 2003. O sujeito oculto: ordem e transgresso na reforma agrria. Porto Alegre: Ed. UFRGS. MARX, Karl. 2005. A questo judaica. So Paulo: Centauros. 5. ed. MEDEIROS, Leonilde Servolo de. 1989. Histria dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: FASE. MEDEIROS, Leonilde Servolo de. 1993. Reforma agrria: concepes, controvrsias e questes. Disponvel em: http://www.dataterra.org.br/Documentos/leonilde.htm . Acessado em: maro de 2005. MEDEIROS, Leonilde Servolo de. 2001. Sem terra, assentados, agricultores familiares: consideraes sobre os conflitos sociais e as formas de organizao dos trabalhadores rurais
brasileiros. En: GIARRACCA, N. (org.). Una nueva ruralidad en Amrica Latina? Buenos Aires: CLACSO. NAVARRO, Zander (org.). 1996. Poltica, protesto e cidadania no campo. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS. O'DONNEL, Guilhermo. 1993. Sobre o Estado, a democratizao e alguns problemas conceituais. Novos estudos. Nmero. 36. p.123-146. PALMEIRA, Moacir; Sergio P. LEITE. 1998. Debates econmicos, processos sociais e lutas polticas. En: COSTA, Luis F.; Raimundo SANTOS (org.). Poltica e reforma agrria. Rio de Janeiro: Mauad. PAOLI, Maria Clia. 1993. Trabalhadores e cidadania: experincia do mundo pblico na histria do Brasil moderno. En: SOUSA, J. Geraldo; Roberto A. R. AGUIAR (org.). Introduo crtica ao direito do trabalho. Braslia: UnB (Srie o Direito Achado na Rua, v. 2). PAOLI, Maria Clia. 1994. Os direitos do trabalho e sua justia: em busca das referncias democrticas. Revista USP. Nmero 21. p.101-115. PAOLI, Maria Clia; Vera da Silva TELLES. 2000. Direitos sociais: conflitos e negociaes no Brasil contemporneo. En: ALVAREZ, Sonia; Evelina DAGNINO; Arturo ESCOBAR. Cultura e poltica nos movimentos sociais latino-americanos: novas leituras. Belo Horizonte: Ed. UFMG. PICOLOTTO, Everton L. 2006. Sem medo de ser feliz na agricultura familiar: o caso do movimento de agricultores em Constantina-RS. Santa Maria: UFSM Programa de PsGraduao em Extenso Rural (Dissertao de Mestrado). PICOLOTTO, Everton L. 2007. Processos de diferenciao dos movimentos sociais do campo no Sul do Brasil: identidade, articulao poltica e projeto. Razes. Revista de Cincias Sociais e Econmicas. Volumen 26. p. 46-58. POCHMANN, Mrcio. 2005. Desafios atuais do sindicalismo brasileiro. En: TOLEDO, E. G. (org.). Sindicatos y nuevos movimientos sociales em Amrica Latina. Buenos Aires: CLACSO. RODRIGUES, Lencio M. 1990. CUT: os militantes e a ideologia. Rio de Janeiro: Paz e Terra. RODRIGUES, Almir Santos. 2004. A Federao dos Trabalhadores na Agricultura Familiar: um novo sindicalismo em construo. Curitiba: UFPR Programa de Ps-Graduao em Sociologia (Dissertao de Mestrado). SADER, Eder. 1988. Quando novos personagens entram em cena. Rio de Janeiro: Paz e Terra. SANTANA, Marco Aurlio. 1998. Entre a ruptura e a continuidade: vises da histria do movimento sindical brasileiro. XXII Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu. SANTOS, Boaventura Sousa. 1997. A sociologia dos tribunais e a democratizao da justia. En: SANTOS, Boaventura S. Pela mo de Alice: o social e o poltico na ps-modernidade. So Paulo: Cortez. 3. Ed. SANTOS, Boaventura Sousa. 2001. Para uma concepo ps-moderna de direito. En: SANTOS, B. S. A crtica da razo indolente : contra o desperdcio da experincia. So Paulo: Cortez. 3. Ed.
SANTOS, Wanderley Guilherme. 1979. Cidadania e justia. Rio de Janeiro: Campus. CHAAF, Alei Van der. 2003. Jeito de mulher rural: a busca de direitos sociais e da igualdade de gnero no Rio Grande do Sul. Sociologias. Nmero 10. p. 412-442. SCHMITT, Cludia Job. 1996. A CUT dos colonos: histria da construo de um novo sindicalismo no campo no Rio Grande do Sul. En: NAVARRO, Zander (org.). Poltica, protesto e cidadania no campo. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS. IGAUD, Lygia. 1980. Greve nos engenhos. Rio de Janeiro: Paz e Terra. SILVA, Lyndolpho. 1994. A construo da rede sindical rural no Brasil pr-1964 (entrevista de Lyndolpho Silva concedida a Luiz Flvio de Carvalho Costa). Estudos Sociedade e Agricultura. Nmero 2. p. 67-88. SOUTO JR, Jos Fernando. 2000. Prticas assistenciais em sindicatos do novo sindicalismo': a persistncia da roda. En: XXIV Encontro Nacional da ANPOCS. Petrpolis. TEIXEIRA, Gerson. 2002. PRONAF: instrumento de excluso e alienao . ABRA. Disponvel em: www.abrareformaagraria.org.br/artigo03.htm . Acessado em: 22 ago 2002. THOMPSON, Edward P. 1987. A formao da classe operria inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra. VIGNA, Edlcio; SAUER, Srgio. 2001. Os financiamentos dos programas agrrio e agrcola do BIRD e do BID. En: REDE BRASIL (org.). As estratgias dos Bancos Multilaterais para o Brasil (2002/2003). Rede Brasil. WANDERLEY, Maria Nazareth B. 2000. A valorizao da agricultura familiar e a reivindicao da ruralidade no Brasil. Revista Desenvolvimento e meio ambiente. Nmero 2. p. 29-37.
Fecha de recibido: 30 de abril de 2008. Fecha de publicado: 23 de julio de 2009.
Você também pode gostar
- 30 - Ebo de OdunsDocumento9 páginas30 - Ebo de OdunsDerllyLorenzo08100% (9)
- Caderno de Orientações para Execução Do TS PNHRDocumento37 páginasCaderno de Orientações para Execução Do TS PNHRrogerio rodrigues100% (2)
- Restaurante Manioca Menu2018janDocumento1 páginaRestaurante Manioca Menu2018janRicardo Leandro MachadoAinda não há avaliações
- Mapa Quantidades 28-16Documento6 páginasMapa Quantidades 28-16Eloi Carlos GoveAinda não há avaliações
- 2as Reduções Do TapeDocumento2 páginas2as Reduções Do TapeAmanda Rios Sleifer100% (1)
- Bases Ecológicas para Agronomia e SilviculturaDocumento96 páginasBases Ecológicas para Agronomia e SilviculturaBruno Serrão100% (2)
- Convibra 2023 PirolenhosoDocumento5 páginasConvibra 2023 PirolenhosoalmeidadeniAinda não há avaliações
- Cajueiro - Cap. 1 - Clima, Solo, Nutricao Mineral e Adubação PDFDocumento20 páginasCajueiro - Cap. 1 - Clima, Solo, Nutricao Mineral e Adubação PDFArlington Ricardo RibeiroAinda não há avaliações
- Instrução Normativa #37 de 1º de Outubro de 2018 Diário Oficial Da União Imprensa NacionalDocumento16 páginasInstrução Normativa #37 de 1º de Outubro de 2018 Diário Oficial Da União Imprensa NacionalGamer BoyAinda não há avaliações
- Experimentos SoloDocumento8 páginasExperimentos SoloThamires BenicioAinda não há avaliações
- "Plantadores de Água": Uma Experiência de Construção Coletiva de Saberes AgroecológicosDocumento5 páginas"Plantadores de Água": Uma Experiência de Construção Coletiva de Saberes AgroecológicosAndré BogniAinda não há avaliações
- Breve Hist CEASADocumento47 páginasBreve Hist CEASAJonas Nunes VieiraAinda não há avaliações
- EscorvaDocumento11 páginasEscorvaAlamAlmofreyAinda não há avaliações
- Resumo de Geografia 8 AnoDocumento5 páginasResumo de Geografia 8 AnoRosália FernandesAinda não há avaliações
- Pragas Armazenamento CaféDocumento55 páginasPragas Armazenamento CaféLorrannyRBAinda não há avaliações
- NufosateDocumento25 páginasNufosatesousa ltAinda não há avaliações
- Legislação GranolaDocumento6 páginasLegislação GranolaAhmad HassanAinda não há avaliações
- Alimentos Ricos em CarboidratosDocumento12 páginasAlimentos Ricos em CarboidratosElionai AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Lista de FrigoríficosDocumento5 páginasLista de FrigoríficosFrederico Venâncio50% (2)
- Raças BovinasDocumento27 páginasRaças BovinasAndeson Rodrigues da CostaAinda não há avaliações
- Ctic5 em Ficha Avaliacao 5Documento4 páginasCtic5 em Ficha Avaliacao 5Ana GomesAinda não há avaliações
- APR6 Modulo2Documento42 páginasAPR6 Modulo2MICHEL MARTINS ARAUJO SILVAAinda não há avaliações
- Acidez Titulável - EmbrapaDocumento1 páginaAcidez Titulável - EmbrapaLuis Eduardo M FariaAinda não há avaliações
- Texto 1 Sustentabilidade e Produção de AlimentosDocumento4 páginasTexto 1 Sustentabilidade e Produção de AlimentosRicardo AlvesAinda não há avaliações
- Licor de PimentaDocumento7 páginasLicor de PimentatanousboulosAinda não há avaliações
- Trator Stmax 180Documento4 páginasTrator Stmax 180franz albert condori mondaqueAinda não há avaliações
- Relatório AVALIAÇÃO DO TEOR DE CINZAS EM FARINHA DE TRIGODocumento4 páginasRelatório AVALIAÇÃO DO TEOR DE CINZAS EM FARINHA DE TRIGOMarcos Cirilo SanaAinda não há avaliações
- Manejo de Pragas - CANA DE ACUCAR - 4543Documento98 páginasManejo de Pragas - CANA DE ACUCAR - 4543rcralencarAinda não há avaliações
- Criacao de BufalosDocumento135 páginasCriacao de BufalosGabriely Veiga Da SilvaAinda não há avaliações
- TCC - Kristina Versão Final 17 12 21Documento20 páginasTCC - Kristina Versão Final 17 12 21brunobonifacio007Ainda não há avaliações