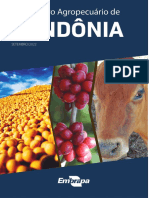Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Hídrico Climatológico e Desmatamento de Porto Velho
Hídrico Climatológico e Desmatamento de Porto Velho
Enviado por
Fernanda Albuquerque LimaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Hídrico Climatológico e Desmatamento de Porto Velho
Hídrico Climatológico e Desmatamento de Porto Velho
Enviado por
Fernanda Albuquerque LimaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
65
CARACTERIZAO DE PARMETROS PLUVIOMTRICOS, TRMICOS DO BALANO HDRICO CLIMATOLGICO E DESMATAMENTO DE PORTO VELHO - RO Ricardo Braz Bezerra1 Avenildson Gomes Trindade2 RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo o estudo da caracterizao dos parmetros climticos: precipitao e temperatura, desmatamento e balano hdrico climatolgico do municpio de Porto Velho-RO. Utilizou-se como base metodolgica o modelo de Thornthwaite e Mather (1955), tendo como referencia a capacidade mxima de reteno de gua no solo de 125 mm, baseando-se em vrios trabalhos j realizados para algumas localidades da regio norte. Os dados de precipitao e temperatura mdia do ar foram fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No balano hdrico do municpio de Porto Velho-RO trabalhou-se com a srie histrica de 1945 a 2003, dividida em dois perodos de 1945 a 1973 e 1974 a 2003. Os resultados obtidos mostraram que no municpio de Porto Velho no se encontrou nenhuma evidncia de tendncia na diminuio do regime de precipitao; entretanto, a deficincia hdrica apresentou maior discrepncia de um perodo para outro, chegando a uma reduo de 51,5%. A variabilidade interanual da temperatura mdia do ar dos anos atpicos indicou correlao com os eventos de El Nio e La Nia. Nos balanos hdricos de 1945 a 1973 e 1974 a 2003, no perodo de junho a agosto, a temperatura mdia do ar teve uma reduo que variou de 0,7C a 1,2C de um perodo para outro, ocasionado pelo excesso de fumaa, em conseqncia do desmatamento e queimada praticada por pecuaristas e agricultores que utilizam tcnicas primitivas no preparo da terra para as atividades econmicas primrias. Seus subprodutos so emitidos na interface superfcie-atmosfrica e interferem indiretamente na temperatura mdia do ar durante o perodo de estiagem. Palavras-chave: deficincia hdrica, evapotranspirao, variabilidade da precipitao e temperatura, balano hdrico.
CHARACTERIZATION OF THE CLIMATIC PARAMETERS PRECIPITATION, TEMPERATURE, DEVASTATE AND WATER BALANCE CLIMATOLOGICAL IN PORTO VELHO - RO ABSTRACT: The current research has had the following aim: the study of the characterization of the climatic parameters precipitation, temperature, devastate and water balance climatological in Porto Velho-RO. Actually deforestation has been causing some impact in the parameters of precipitation, in the average temperature of the air, and in the precipitation parameters, medium temperature of the air and water balance climatological. By, Thornthwaite and Mather model has been used as methodological base (1955). Some precipitation data and the average temperature of the air hare been supplied by National Institute of Meteorology (INMET). Concerning a maximum capacity of retention of water the soil about 125 mm, considering other projects carried out in the north. With reference to water balance in Porto Velho there been two distinct periods such as: from 1945/1973 and 1974/2003. Of all studies under consideration there has not been any evidence of tendency of decrease of precipitation regime and in the parameters of water balance however, water deficiency has had the greatest discrepancy between periods and reaching 51,5 %. Then the interannual variability of the average temperature of the air has had an important correlation
1
Gegrafo. Mestre em Meteorologia. Professor da Faculdade Interamericana de Porto Velho. Endereo: Av. Mamor, n 1520. Cascalheira, Cep.: 78919-541 - Porto Velho-RO, Telefone: (69) 32195000. E-mail: rcabrazz@pop.com.br Gegrafo. Mestre em Geocincias e Meio Ambiente. Professor da Faculdade Interamericana de Porto Velho, Porto Velho-RO. E-mail: avenildson@gmail.com
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
66
with the action of El Nio and La Nia. And between June and August the average temperature of the air related to water balance 1945/1973 and 1974/2003 reached a reduction of 0,7 and 1,2 C. In short, of a period for other, caused by the excess of smoke, in consequence of the deforestation and burned, practiced by cattle farmers and farmers that use primitive techniques in the preparation of the earth for the primary economical activities, where your by-products emitted in the surface-atmospheric interface that interfere indirectly in the medium temperature of the air in the winter. Keywords: water deficiency; evapotranspiration; variability of the precipitation and temperature; water balance.
INTRODUO As variaes climticas, em particular sobre os principais municpios da Regio Norte, tem sido objeto de estudo de diversas reas do conhecimento, desde as cincias sociais, econmicas, biolgicas, agronmicas, geogrficas at as cincias exatas, principalmente atravs das cincias atmosfricas. A meteorologia a cincia que procura, entre outros aspectos, entender as flutuaes sazonais e interanuais do clima. No caso especfico da Regio Norte do Brasil, muitos estudos j foram realizados para entend-la, entre eles, Franken et al. (1982); Leopoldo et al. (1982); Marques Filho et al. (1983); Nimer (1989 e 1991); Souza et al. (2000), pesquisaram a climatologia local e a relao da evapotranspirao da floresta com a dinmica da troposfera Amaznica. Tais estudos baseiam-se em dados de determinadas localidades fornecidos por estaes meteorolgicas de superfcies ou torres montadas na reserva florestal Ducke em Manaus-AM; na reserva biolgica de Jar e stios experimentais montados na faixa nordeste do estado, na rea de influncia dos municpios de Ji-Paran e Ouro Preto DOeste, ambas em Rondnia. Um outro tipo de investigao est voltado analise das possveis mudanas micro ou macro-climticas pela alterao da cobertura superficial por stios de pastagem ou pela formao de reservatrios das hidreltricas, no qual citamos, como exemplos, os estudos de Fisch et al. (1990); Alves et al. (1999); Ferreira da Costa et al. (1998); Nobre e Gash (1997); Marengo (2001). A anlise de vrios anos destas observaes climatolgicas, conjuntamente com a observao e anlise desses mesmos dados em tempo quase real, permite uma extrapolao futura do clima, quer seja numrica, estatstica ou conceitual. A comunidade cientfica, em consenso, constata que a Floresta Amaznica reconhecida amplamente como importante fonte de energia e umidade para os processos que ocorrem na atmosfera tropical; entretanto, a regio vem sofrendo com o desmatamento de grandes reas de floresta tropical densa para a extrao de madeira, pastagem e
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
67
agricultura. Esta substituio da cobertura vegetal de floresta por atividades econmicas primrias modifica as interaes entre o sistema solo-planta-atmosfera. Se grandes extenses so desmatadas, pode-se esperar mudanas afetando os sistemas atmosfricos causadores das variaes no tempo, os quais, integrados por um longo perodo, formaro um novo clima.
METODOLOGIA No presente estudo utilizou-se dados meteorolgicos referentes temperatura mdia mensal do ar e precipitao mdia mensal da estao meteorolgica de superfcies do municpio de Porto Velho-RO, pertencente rede de observao do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao perodo de 1945 a 2003. Na verificao da variabilidade anual do municpio de Porto Velho, tanto para precipitao anual como para a temperatura mdia anual do ar, calcularam-se a normal climatolgica, os desvios padres positivos e negativos do perodo de 1945 a 2003, possibilitando a elaborao de grficos. E para os anos que se encontraram acima e abaixo do desvio padro, comparou-se com as ocorrncias dos fenmenos ocenico-atmosfrico El Nio e La Nia, disponvel em <http://www.Cptec.inpe.br/enos> em tabelas. O clculo do balano hdrico foi realizado com a utilizao de um software do mtodo de Thornthwaite e Mather (1955) elaborado por Glauco de Souza Rolim e Paulo Csar Sentelhas do Departamento de Fsica e Meteorologia ESALQ/USP (1998). O armazenamento tem como hiptese bsica que a perda de gua pelo solo funo da gua armazenada pelo mesmo; ou seja, medida que o solo vai secando, a perda de gua vai diminuindo proporcionalmente. O tratamento matemtico dessa hiptese resulta em que o [ARM] estimado por: ARM = CAD * EXP[NEG/CAD]; sendo que o negativo acumulado (NEG) dado pela equao: NEG = Ln [ARM/CAD] *CAD CAD = capacidade de gua disponvel; ARM = armazenamento de gua no solo.
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
68
RESULTADOS E DISCUSSES
Precipitao O municpio de Porto Velho encontra-se localizado a sudoeste da Regio Norte do Brasil e ao norte do Estado de Rondnia. Segundo o IBGE (2001), compreende uma rea de 34.082 Km2 e possui uma populao de 353.961 habitantes. De acordo com a classificao de Kppen seu clima do tipo Am, tropical chuvoso, quente e mido com regime pluviomtrico superior a 1600 mm/ano, distribudo irregularmente em moderado perodo de estiagem de junho a agosto que raramente ultrapassa 60 mm/ms. Na Figura 1 encontra-se a variabilidade da precipitao de Porto Velho-RO no perodo de 1945 a 2003, evidenciando os desvios positivos e negativos.
8 00 6 00 4 00 2 00 0 -2 00 -4 00 -6 00 -8 00 1945 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 196 9 197 2 197 5 197 8 198 1 19 84 198 7 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 Anos Desvio d a precip itao Desvio Padro + D esvio Pad ro -
Figura 1 - Variabilidade da Precipitao anual de Porto Velho-RO no perodo de 1945 a 2003.
Nos anos de 1947, 1949, 1953, 1972, 1974, 1989, 1993, 1994 e 2001 a precipitao com desvio positivo variou de 328 mm/ano a 573 mm/ano, sendo que a mdia do perodo foi de 2287 mm, o que corresponde a uma oscilao entre 14,3% a 25%. Os
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
69
anos de precipitao com desvios negativos foram de 1950, 1952, 1971, 1987, 1988, 1995 e 1998, na base de 346 mm/ano a 661 mm/ano que corresponde a uma oscilao entre 15,1% a 28,9%. Conforme a Tabela 1 os desvios da precipitao anual de Porto Velho no evidenciam uma correlao predominante entre a precipitao anual e a ocorrncia de El Nio e La Nia, pois os casos de desvios positivos e negativos ocorreram nas trs situaes descritas na referida Tabela.
Tabela 1 - Desvios positivos e negativos de precipitao mais significativo do perodo de 1945 a 2003 com a ocorrncia de El Nio/La Nia do Municpio de Porto Velho-RO. (F = forte, M = moderado, Fr = fraco, DP = desvio positivo e DN = desvio negativo). Ano 1947 1949 1953 1972 1974 1989 1993 1994 2001 Fonte: CEPETEC Desvio positivo (mm) 426 328 573 380 528 548 357 514 453 Fenmenos El Nio - M La Nia - F El Nio - Fr El Nio - F La Nia - F La Nia - F El Nio - F El Nio - M Normal Ano 1950 1952 1971 1987 1988 1995 1998 Desvio negativo (mm) 356 661 374 429 610 346 468 Fenmenos La Nia - M Normal La Nia - Fr El Nio - M La Nia - F La Nia - Fr El Nio - F -
Entre os desvios de precipitao negativa e positiva, nos binios de 87/88 e 93/94, ocorreu (em magnitude de decrscimo e acrscimo) uma precipitao de 1.039 mm e 971 mm, em relao mdia dos 59 anos que foi de 2.287 mm; sendo que no binio de 87/88 e 93/94, o total de precipitao anual foi 1.857,3 mm/1987 e 1.676,6 mm/1988 e 2.643,5 mm/1993 e 2.800,2 mm/1994, com destaque para o ano de 1988 que obteve desvio positivo de precipitao acima da mdia mensal nos meses de fevereiro e maro, totalizando 70,6 mm. Nos demais meses do ano ocorreu uma oscilao abaixo da mdia mensal entre 24,6 mm a 219,7 mm. Do total de 134.908,9 mm de precipitao acumulada no perodo de 1945 a 2003, 4.107 mm foram para desvios positivos e 3.244 mm para desvios negativos,
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
70
distribudos conforme pode ser observado na Tabela 1. Nos anos de 1950, 1952, 1971, 1987, 1988, 1995 e 1998 onde a precipitao anual ficou abaixo de 2.000 mm, oscilando entre 1.676,6 mm a 1.940,3 mm, o regime de precipitao anual do municpio de Porto Velho foi distribudo em um perodo chuvoso e outro de estiagem. O perodo de chuva acima de 150 mm mensal estende-se de outubro a abril e o de estiagem com precipitao abaixo de 60 mm mensal, de junho a agosto, tendo os meses de maio e setembro como meses de transio entre um perodo e outro. De acordo com os resultados obtidos por Coelho e Ambrizzi (1998), para os episdios de El Nio de 82/83 e 86/87, h grande variabilidade entre os mesmos quanto aos padres de circulao e de precipitao sobre a Amrica do Sul no vero do Hemisfrio Sul. Tambm os trabalhos de Chagas e Assis (2003), Diniz et al. (1998), Marengo e Oliveira (1998), Fedorova et al. (2002), Campos e Acosta (2003), e Minuzzi et al. (2003), ainda no apresentam uma idia concreta de como os fenmenos El Nio e La Nia podem afetar a precipitao na Amrica do Sul e, em particular, na Regio Norte do Brasil, pois, segundo Grimm e Ferraz (1998), as anomalias podero deslocar-se para norte ou para sul de um evento para outro, podendo com isto, alterar o sinal em relao ao evento anterior. Na Tabela 1 os anos de 49/50, 52/53, 71/72, 87/88, 88/89, 93/94 e 94/95, destacam-se tambm pela ocorrncia de desvios interanuais opostos e semelhantes nas trs situaes (El Nio, La Nia e Normal), com amplitude variando entre 754 mm e 1234 mm. Nos referidos pares de anos ocorreram, em ordem cronolgica, os seguintes agrupamentos: (La Nia/La Nia, DP/DN), (Normal/El Nio, DN/DP), (La Nia/El Nio, DN/DP), (El Nio/La Nia, DN/DN), (La Nia/La Nia, DN/DP), (Nio/Nio, DP/DP e (El Nio/La Nia, DP/DN). Observa-se, ento, sete situaes distintas que ocorreram no municpio de Porto Velho na qual podemos afirmar que no existe nenhum
correlacionamento predominante s para aumento ou diminuio no desvio da precipitao anual ocasionado pelo fenmeno ocenico-atmosfrico El Nio ou La Nia que dentro dessa srie histrica de 59 anos, os dezesseis desvios em destaque podero ocorrer em anos de El Nio, La Nia e Normal.
Temperatura Mdia do Ar A temperatura do ar , das componentes meteorolgicas, a mais vulnervel e de resposta mais imediata a qualquer alterao do sistema biofsico, por ser uma varivel contnua e de registro permanente. Ela est sujeita constante variabilidade, no tempo e no espao, diretamente relacionada com a energia solar e o conseqente aquecimento do solo.
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
71
A heterogeneidade natural do aquecimento e da temperatura do ar de cada ponto da superfcie est correlacionada com os movimentos de rotao e translao, com a inclinao da Terra e com os sistemas atmosfricos que atuam em cada localidade. No municpio de Porto Velho, por se encontrar na zona intertropical, variao anual da temperatura do ar determinada basicamente pelo regime anual da radiao solar global e por outros fatores locais so: a altitude, continentalidade e caractersticas da cobertura do solo. A temperatura mdia do ar do municpio de Porto Velho no perodo estudado teve a normal climatolgica de 25,5 C; sendo, setembro, o ms mais quente, com mdia de 26,2 C e julho, o ms menos quente, com mdia de 24,6 C. As maiores e as menores temperaturas mdiais anuais do perodo ocorreram em 1970 (26,5 C), 1975 (24,8 C) e 1976 (24,8 C), computando-se nesses anos de menores temperaturas mdias anuais, onze eventos abaixo da normal climatolgica e s um acima, durante cada ano, sendo os de maiores ocorrncias no ms de julho, com desvio negativo de 2,7 C em 1975 e 1,6 C em 1976. Dos cinqenta e nove anos de anlise, as dcadas consideradas mais frias em relao a normal climatolgica foram: 45/54, com mdia de 0,3 C, oscilao entre 0,1 C a 0,5 C; 75/84, com mdia de 0,4 C, oscilando entre 0,1 C a 0,7 C; e 85/94, com mdia de 0,1 C, oscilando entre 0,1 C a 0,3 C. As dcadas consideradas mais quentes foram: 55/64, com mdia 0,1 C, oscilando entre 0,1 C a 0,6 C; 65/74, com mdia de 0,4, oscilando entre 0,3 C a 0,9 C; e 95/03, com mdia de 0,3 C, oscilando entre 0,2 C a 0,7 C. Na Figura 2 destacam-se os anos de 1961, 1967, 1969, 1970, 1998, 2002 e 2003 com valores de temperaturas do ar mdias anuais superiores a 26,0 C. Fica, ento, evidenciado que nestes anos, principalmente nos anos de 1969, 1970 e 1973 houve influncia do fenmeno ocenico-atmosfrico El Nio nesse aquecimento, de acordo com a Tabela 2, considerando a intensidade deste fenmeno. Outro destaque importante so os anos de 1975 e 1976 por registrarem as menores temperaturas do ar mdias anuais; evidenciando, assim, uma grande influncia do fenmeno ocenico-atmosfrico La Nina (Figura 2 e Tabela 2). perceptvel na anlise das temperaturas mdias anuais que as mesmas apresentam dois perodos bastante distintos com relao superao da variabilidade anual acima do desvio padro: o primeiro com dezessete anos 1945/1961 e o segundo com vinte e cinco anos 1974/1998, para que a temperatura mdia anual atingisse valor superior a 25,9 C.
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
72
26,6 26,4 26,2 26,0 Temperatura (C) 25,8 25,6 25,4 25,2 25,0 24,8 24,6 1945
1948
1951
1954
1957
1960
1963
1966
1969
1972
1975 Anos
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
Mdia anual
Mdia de 1945/2003
Desvio +
Desvio -
Figura 2 - Variabilidade da temperatura mdia anual de Porto Velho-RO no perodo de 1945 a 2003.
Tabela 2 - Desvios positivos e negativos de temperatura mdia anual mais significativa do perodo de 1945 a 2003 com a ocorrncia de El Nio/La Nia de Porto Velho-RO. (F = forte, M = moderado, Fr = fraco).
Ano 1961 1962 1967 1969 1970 1973 1998 2002 2003 Desvio positivo (C) 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 0,9 0,6 0,7 0,6 Fenmenos Normal Normal Normal El Nio - M El Nio - M El Nio - F El Nio - F El Nio - M Normal Ano 1949 1975 1976 1978 1980 Desvio negativo (C) 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 Fenmenos La Nia - F La Nia - F La Nia - F El Nio - Fr Normal -
Fonte: (*) disponvel em < http://www.Cptec.inpe.br/enos> acesso em 21/01/04
No se pode afirmar que o processo cclico, por falta de uma srie temporal mais longa, com dados referentes s temperaturas mdias do ar da localidade de no mnimo 100 (cem) anos. Por outro lado, busca-se uma explicao baseada na interao superfcieatmosfera e na relao de impactos ocasionados na temperatura mdia anual do ar pela
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
73
ao dos fenmenos ocenico-atmosfricos El Nio e La Nia que esto relacionados, tambm, com os desvios positivos e negativos das temperaturas. De maneira geral, as distribuies espaciais das queimadas na Amaznia tm seguido a evoluo dos desmatamentos, refletindo a utilizao de derrubadas e o fogo para o estabelecimento de atividades agropecurias e outros fins, inclusive a grilagem de terras pblicas, com a utilizao do fogo, de forma repetida, para a limpeza da vegetao secundria em extensas reas de pastagens mal-manejadas que resultam em impactos ambientais significativos (solos, recursos hdricos, liberao de gases de efeito estufa e ente outros desequilbrios ambientais, MAPA, 2004, p. 14). Nos trabalhos de Nobre (1992 e 1989) e Fisch et al. (1997), sobre possveis impactos climticos ocasionados por desmatamentos, h indicadores (atravs de simulaes climticas) de que o desmatamento completo da Floresta Amaznica provocaria, na regio, um aumento de 0,6 C a 2,0 C na temperatura do ar, e uma diminuio de 20 a 30% nas taxas de precipitao e de evapotranspirao, e estaes secas mais prolongadas. Em outros trabalhos, como de Alves et al. (1999), Ferreira da Costa et al. (1998) e Feitosa et al. (1998) possvel comparar elementos climticos registrados em reas desmatadas (pastagem) e de floresta ombrfila (regio de Ji-Paran-RO), demonstrando de que forma o desmatamento afeta o microclima; onde a temperatura mdia do ar, de janeiro de 1992 a outubro de 1993, foi de 24,6 C na floresta e 24,1 C na pastagem. O maior valor registrado para a floresta est associado a uma menor amplitude trmica diria nesse stio, caracterizado por temperaturas diurnas menores e temperaturas noturnas maiores. No perodo seco, a temperatura mdia do ar foi de 23,9 C na floresta e 23,0 C na pastagem; e no perodo chuvoso, de 24,5 C na floresta e 24,3 C na pastagem. Houve uma reduo no valor mdio da temperatura do ar no perodo seco em ambos os stios. Este resultado influenciado pela ocorrncia de frente fria na regio (denominado localmente de friagem). Durante a ocorrncia de friagem, a temperatura mxima diria pode ser 10 C mais baixa que a mxima temperatura no dia anterior ao evento (Fisch et al. 1997). De acordo com o mesmo autor, a temperatura pode demorar de 2 a 3 dias para retornar aos valores registrados antes da passagem da frente.
Desmatamento O acesso por rodovias ao municpio de Porto Velho ocorreu, de forma mais intensa, a partir de 1968, com a consolidao da BR-364 que permitiu nas dcadas
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
74
subseqentes, principalmente as de 1970 e 1980, uma ocupao desenfreada, levando o Estado de Rondnia a um crescimento populacional de 69.792 habitantes, na dcada de 1960, para 111.064 habitantes, na dcada de 1970, e para 491.069 habitantes, na dcada de 1980. No municpio de Porto Velho o crescimento populacional passou de 50.996 habitantes, na dcada e 1960, para 84.048 habitantes, na dcada de 1970, e 134.621 habitantes, na dcada de 1980. De acordo com o censo 2000, o Estado de Rondnia possua uma populao de 1.377.792 e Porto Velho 334.585 habitantes (IBGE, 2003). Ocorreu um crescimento de 164% na populao de Porto Velho, entre as dcadas de 1960 e 1980; e decorrente deste aumento demogrfico, surgiram os desmatamentos e queimadas que, at hoje, so prticas comuns entre agricultores e pecuaristas de pequeno e grande porte, tornando a atmosfera local receptora de grande quantidade de partculas que contribuem para a interferncia na temperatura mdia do ar. Apesar de a ao antropognica ser bastante intensa no municpio de Porto Velho, devido ao desmatamento para o uso da terra em atividades agropecurias, e pelo prprio processo de urbanizao que levou o desmatamento aos ndices apresentados na Tabela 3, no houve evidncias que pudessem sustentar esses impactos na precipitao anual e na temperatura mdia anual do ar, pois, como se observa nas Tabelas 1 e 2, os anos de desvios positivos e negativos, na sua maioria, ocorreram em anos de El Nio e La Nia.
Tabela 3 - Desmatamento do Municpio de Porto Velho-RO em Km2 Ano rea Km
2
At 1996 3396,95
1997 199,63
1998 85,47
1999 122,68
2000 228,67
2001 222,50
2002 206,65
2003 455,87
Fonte: SEDAM/NUSER (1996/1997); IBAMA (1998 a 2000); INPE (2001 a 2003).
No caso da precipitao anual, conforme a Tabela 1, evidenciam-se dois eventos normais em relao ao fenmeno ocenico-atmosfrico ocorridos nos anos de 1952 com desvio negativo e 2001 com desvio positivo. Para a temperatura mdia anual do ar, mesmo tendo registrado cinco eventos em anos normais, trs foram no perodo de 1961, 1962 e 1967, anos em que a densidade demogrfica no municpio era de apenas 0,67 habitantes por km2. Isso evidencia que os desvios positivos da temperatura mdia anual do ar
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
75
ocorreram pelo prprio processo natural de dinmica da circulao atmosfrica, nesse curto perodo. Fica claro que em Porto Velho, mesmo tendo um percentual de 14,2% de rea desmatada em relao rea do municpio (34.082,0 Km2), ainda no se encontrou nenhuma evidncia que sustente a interferncia da ao antropognica nos desvios da precipitao e da temperatura mdia anual do ar, pois os mesmos ocorreram associados por fatores de carter ocenico-atmosfricos.
Balano Hdrico de Porto Velho O balano hdrico de uma localidade est diretamente relacionado com o comportamento temporal e sazonal do clima, pois na interao superfcie-atmosfera o ganho de gua da superfcie implica na perda de gua da atmosfera pelos processos de entrada e sada de gua, atravs da precipitao pluviomtrica e evapotranspirao. O
equacionamento do balano hdrico, seja climatolgico ou seqencial, uma ferramenta que caracteriza mensalmente o armazenamento de gua no solo em um determinado perodo. Apesar de existir vrios trabalhos em balano hdrico, recentemente tenta-se observar o seu comportamento influenciado por fenmenos El Nio e La Nia e tambm pelo desmatamento, entre eles, os trabalhos de Chagas e Assis (2003), Galina et al. (2003), Salati (2000) e Zepka (2002). Segundo Marengo (2001) observa-se, na Amaznia, algumas mudanas sistemticas de chuvas dos componentes do balano hidrolgicos desde 1975/1976, mas isto pode associar-se s mudanas decenais com perodo de 20-30 anos de clima, mais que uma tendncia sistemtica unidirecional de queda ou aumento de longo prazo. As Tabelas 4 (a) e 4 (b) caracterizam o comportamento do balano hdrico de Porto Velho nos perodos 1945-1973 e 1974-2003. Estudando as modificaes do microclima, devido ao desmatamento na Amaznia (regio de J-Paran-RO), Alves (1999, p. 401) obteve para a evapotranspirao mdia os valores de 4,1 mm.dia-1 em stio de floresta e 3,1 mm.dia-1 em stio de pastagem. No perodo seco, 4,5 mm.dia-1 em stio de floresta e 3,4 mm.dia-1 em stio de pastagem e no perodo chuvoso, 3,6 mm.dia-1 em stio de floresta e 2,7 mm.dia-1 em stio de pastagem. Os maiores valores da evapotranspirao no stio de floresta foi influenciado pela maior energia disponvel para os processos evaporativos. No primeiro perodo do balano hdrico climatolgico Tabela 4 (a) a mdia diria da evapotranspirao potencial na estiagem de junho a setembro, oscilaram entre 3,7
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
76
mm.dia-1 e 4,5 mm.dia-1, sendo seus extremos ocorridos nos meses de junho a setembro. No segundo perodo conforme Tabela 4 (b) a mdia diria da evapotranspirao potencial oscilaram entre 3,3 mm.dia-1 e 4,3 mm.dia-1, sendo que, seus extremos ocorreram nos meses de junho e outubro. Como a evapotranspirao potencial est diretamente relacionada com a forante energtica, os 56,4 mm a mais encontrada de junho a setembro na Tabela 4 (a) em relao Tabela 4 (b) explicado pelas maiores mdias mensais de temperaturas encontrados na Tabela 4 (a) em relao Tabela 4 (b). A componente do balano hdrico que teve a maior discrepncia entre os dois perodos de anlise conforme as Tabelas 4 (a e b) foi a deficincia hdrica, registrada no primeiro perodo o valor de 189,2 mm, e no segundo perodo o valor de 97,5 mm, apresentando uma diferena de 91,7 mm. Essa discrepncia, de 51,5% entre os perodos, pode ser melhor explicada pela forante de sada (evapotranspirao potencial) do segundo perodo do balano hdrico, conforme mostra a Tabela 4 (b), com registros menores que a do primeiro perodo nos meses de estiagem, refletindo nos valores da deficincia hdrica mensal entre os perodos. Os menores registros de evapotranspirao potencial dos meses de junho a setembro do segundo perodo, em relao ao primeiro perodo, conseqncia dos registros das menores temperaturas mdias do ar, cuja diferena entre os referidos meses, em ambos os perodos, oscilaram de 0,7 C a 1,2 C. Levando-se em considerao que a ocupao acelerada da cidade de Porto Velho deu-se a partir da dcada de 70 e at as duas ltimas dcadas do sculo XX; e que, trouxe como conseqncia o desmatamento, conforme a Tabela 3, e ainda, como subproduto, a emisso de fumaa para a atmosfera local, principalmente no perodo de inverno possvel considerar que neste perodo est havendo uma interferncia na temperatura do ar que reflete na diminuio da evapotranspirao potencial mostrada nas Tabelas 4 (a e b). Atravs das Tabelas 4 a e 4 b, verifica-se que existiu retirada de gua do solo nos perodos de junho a setembro, respectivamente. Isso evidencia que o ms de maio j pode ser considerado crtico do ponto de vista agropecurio para Porto Velho, embora a retirada de gua do solo nos meses de maio a setembro do perodo de 1974 a 2003 tenha sido um pouco inferior a 100 mm, quando comparado aos meses de junho a setembro do perodo 1945 a 1973, cujo valor foi de 113,9 mm. Considerando os valores mdios anuais, verifica-se que houve saldo positivo no perodo 1974 a 2003 da ordem de 975,2 mm; enquanto que o saldo foi de 979,5 mm para o perodo anterior, evidenciando que o aumento de 55,9 mm na precipitao contribuiu para um pequeno aumento da evapotranspirao real de 60 mm, no segundo perodo.
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
77
Tabela 4 (a) - Balano hdrico climatolgico de Porto Velho RO do perodo de 1945 a 1973, com CAD de 125 mm. Ms Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Totais Mdias T (C) 25,2 25,1 25,3 25,4 25,3 25,2 25,1 26,4 26,6 26,2 26,0 25,6 307,5 25,6 P (mm) 311,1 311,3 314,2 241,8 134,4 35,5 17,7 30,0 105,2 209,5 240,7 306,9 2258,2 188,2 ETP (mm) 118,5 108,9 121,1 117,1 116,7 109,5 111,6 134,7 135,8 135,1 130,0 129,1 1468,0 122,3 P ETP (mm) 192,6 202,4 193,1 124,7 17,6 - 73,9 - 93,9 - 104,7 - 30,6 74,4 110,7 177,8 790,2 65,8 NEG AC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 73,9 - 167,8 - 272,5 - 303,2 - 47,5 0,0 0,0 ARM (mm) 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 69,2 32,6 14,1 11,1 85,5 125,0 125,0 1087,5 90,6 ALT (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 55,8 - 36,5 - 18,5 - 3,1 74,4 39,5 0,0 0,0 ETR (mm) 118,5 108,9 121,1 117,1 116,7 91,3 54,2 48,5 108,2 135,1 130,0 129,1 1278,7 106,6 DEF (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 57,4 86,2 27,6 0,0 0,0 0,0 189,2 15,8 EXC (mm) 192,6 202,4 193,1 124,7 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 177,8 979,4 81,6
Tabela 4 (b) Balano hdrico climatolgico de Porto Velho RO do perodo de 1974 a 2003, com CAD de 125 mm. Ms Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Totais Mdias T (C) 25,5 25,6 25,6 25,7 25,3 24,5 24,2 25,2 25,8 26,1 25,9 25,7 305,1 25,4 P (mm) 347,6 327,0 298,3 244,0 113,8 41,9 31,2 58,7 110,2 181,5 217,5 342,5 2314,1 192,8 ETP (mm) 124,6 116,3 126,8 121,9 117,1 99,4 98,2 115,2 122,4 134,4 129,3 130,7 1436,4 119,7 P ETP (mm) 223,0 210,7 171,4 122,1 - 3,3 - 57,6 - 67,0 - 56,5 - 12,2 47,1 88,2 211,7 877,7 73,1 NEG AC 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 - 60,8 - 127,9 - 184,4 - 196,6 - 67,2 0,0 0,0 ARM (mm) 125,0 125,0 125,0 125,0 121,8 76,8 44,9 28,6 25,9 73,0 125,0 125,0 1121,1 93,4 ALT (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 - 3,2 - 44,9 - 31,9 - 16,3 - 2,7 47,1 52,0 0,0 0,0 ETR (mm) 124,6 116,3 126,8 121,9 117,0 86,8 63,1 75,0 112,9 134,4 129,3 130,7 1338,9 111,6 DEF (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 35,1 40,2 9,5 0,0 0,0 0,0 97,5 8,1 EXC (mm) 223,0 210,7 171,4 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2 211,7 975,2 81,3
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
78
Os outros componentes do balano hdrico tiveram os seus valores totais influenciados mais pela forante de entrada do que a forante de sada. O mesmo teve uma variao muito pequena, considerada insignificante de um perodo para outro, na qual refletiu os resultados dos mesmos. Portanto, os ndices de desmatamento mostrado na Tabela 3, ainda no esto interferindo no aumento ou na diminuio da precipitao em Porto Velho, pois a normal climatolgica dos 59 anos de 2286,6 mm, e os desvios positivos e negativos em relao aos perodos de 1945 a 1973 e 1974 a 2003, no ultrapassaram 28 mm.
CONCLUSES E RECOMENDAES De acordo com os objetivos propostos nesse estudo e, diante dos resultados obtidos, conclui-se que: 1) Em Porto Velho, os desvios positivos e negativos de precipitao tiveram ocorrncia em eventos tanto de El Nio e La Nia e em anos considerados normais, mostrando que no existe uma predominncia para aumento ou diminuio da precipitao, em nenhum dos trs casos, podendo ocorrer nas trs situaes. Com relao temperatura mdia do ar os desvios positivos e negativos esto em consonncia com os fenmenos ocenicoatmosfricos El Nio (predominncia de desvio positivo) e La Nia (predominncia de desvio negativo). 2) No municpio de Porto Velho, mesmo passando por um processo acelerado de desmatamento, no foi evidenciada alguma influncia significativa no regime pluviomtrico; sendo que houve aumento na temperatura mdia anual do ar no perodo de 1977-2001, embora o inverno no perodo de 1974-2003 tenha contribudo em sentido contrrio. 3) Os balanos hdricos em Porto Velho mostraram sazonalidade entre as componentes de excedente e deficincia hdrica no seu ciclo, sendo a componente deficincia hdrica mais representativa quanto discordncia de valores entre os balanos hdricos, ocasionada pela reduo da temperatura mdia do ar no perodo de inverno, considerado seco ou de pouca precipitao pluviomtrica. Finalmente, sugerimos a realizao de trabalhos semelhantes para outros municpios da regio que tenham passado pelo processo de ocupao acelerada, analisando a temperatura, umidade relativa do ar e precipitao, durante e depois dos efeitos causados por desmatamento e queimadas.
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
79
REFERNCIAS ALVES, F. S. M.; FISCH, G. I.; VENDRAME, I. F. Modificao do Microclima e Regime Hidrolgico Devido ao Desmatamento na Amaznia: Estudo de um caso em Rondnia (RO), Brasil. Acta Amazonica. n. 29, v. 3, p. 395 409, 1999. CAMPOS, C. R. J.; ACOSTA, J. F. Comportamento Sazonal da Temperatura Mnima Mdia e Mxima na regio de Pelotas em anos de La Nia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 8, 2003, Santa Maria. Anais... Santa Maria, 2003. CD-ROM. CHAGAS, A. N.; ASSIS, S. V. A influncia do fenmeno El Nio no balano hdrico climatolgico de Pelotas, RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 8, 2003, Santa Maria. Anais... Santa Maria, 2003. CD-ROM. COELHO. C. A. das S.; AMBRIZZI, T. Estudos climatolgicos das influncias dos extremos negativos da oscilao sul durante dezembro, janeiro e fevereiro de 1982/83 e 1986/87 sobre a precipitao na Amrica do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10.1998, Braslia. Anais... Braslia, 1998. CD-ROM. CENTRO DE PESQUISA TECNOLGICA - Dados de ocorrncia de El Nio e La Nia disponvel em: <http://www.Cptec.inpe.br/enos> Acesso em 21/01/2004. DINIZ, G. B.; SANSIGOLO, C.; SALDANHA, R. L. Influncia do evento El Nio no regime de precipitao da cidade de Pelotas-RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10, 1998, Braslia. Anais... Braslia, 1998. CD-ROM FEDOROVA, N.; GOMES, R. G.; PEDROTTI, C. B. M. Climatologia das geadas ocorridas em pelotas associadas aos fenmenos El Nio e La Nia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 12, Foz do Iguau. Anais... Foz do Iguau, 2002. CD-ROM FEITOSA, J. R. P.; FERREIRA DA COSTA, R.; FISCH, G.; SOUZA, S. S.; NOBRE, C. A. Radiao solar global em reas de floresta e pastagem na Amaznia. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v. 6, p. 1-7, 1998. FERREIRA DA COSTA, R.; FEITOSA, J. R. P.; FISCH. G.; SOUZA, S. S.; NOBRE, C. A. Variabilidade diria da precipitao em regio de floresta e de pastagem na Amaznia. Acta Amazonica. v. 28. n. 4, p. 395-408, 1998. FISCH, G.; LEAN, J.; WRIGHI, J. R.; NIBRE, C. A. Simulao climtica do efeito do desmatamento na regio amaznica: estudo de um caso em Rondnia. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 12. n. 1, p. 33-48, 1997. GALINA, M. H.; SANTOS, M. J. Z. dos. S.; SENTELHAS, P. C. Mudanas climticas de curto prazo: tendncia do balano hdrico nos municpios de Ribeiro Preto, Campinas e Presidente Prudente SP no perodo de 1969 2001. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 8, 2003, Santa Maria. Anais... Santa Maria, 2003. CD-ROM. FISCH, G. F.; JANURIO, M.; SENNA, R. C. Impacto ecolgico em Tucuru (PA): climatologia. Acta Amazonica, v. ?, p. 49-59, 1990. FRANKEN, W.; LEOPOLDO, P. R.; MATSUI, E.; RIBEIRO, M. N. G. Interceptaes das precipitaes em floresta amaznica de terra firme. Acta Amazonica, v. 12, n. 3, p. 15-22, 1982. GRIMM, A. M.; FERRAZ, S. E. T. Sudeste do Brasil: uma regio de transio no impacto de eventos extremos da oscilao sul. Parte I: El Nio. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10, 1998, Braslia. Anais... Braslia, 1998. CD-ROM IBGE. Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstico. Anurio Estatstico do Brasil. Rio de Janeiro. IBGE, 2001.
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
BEZERRA, R. B.; TRINDADE, A. G. Caracterizao de parmetros pluviomtricos, trmicos do balano...
80
IBGE. Fundao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstico. Estatstica do Sculo XX do Brasil. Rio de Janeiro. IBGE, 2003, CD-ROM. LEOPOLDO, P. R.; FRANKEM, W.; MATSUI, E.; SALATI, E. Estimativa da evapotranspirao da floresta amaznica de terra firme. Acta Amazonica. v. 12, n. 3, p. 2328. 1982. MAPA. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Avaliao preliminar da evoluo do desmatamento da Amaznia. Boletim de Pesquisa Preliminar. 2004. Disponvel em: <http://www.mapa.gov.br> Acesso em 13 de dezembro de 2004. MARQUES FILHO, A. de O.; RIBEIRO, M. de N. G.; SALATI, E. Evapotranspirao de floresta da regio amaznica. Acta Amazonica, v. 13, n. 3-4, p. 519-529. 1983. MARENGO, J. A.; OLIVEIRA, G. S. Impactos do fenmeno La Nia no tempo e clima do Brasil: desenvolvimento e intensificao do La Nia 1998/1999. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 10, 1998, Braslia. Anais... Braslia, 1998. CD-ROM MARENGO, J. A. Mudanas climticas globais e regionais: avaliao atual do Brasil e projees de cenrios climticos do futuro. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 16, n. 1, 01-18, 2001. MINUZZI, R. B.; SEDIYAMA, G. C.; COSTA, J. M. N.; RIBEIRO, A. Anomalias de precipitao durante o perodo chuvoso no Estado de Minas Gerais em eventos El Nio e La Nia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 8, 2003, Santa Maria. Anais... Santa Maria, 2003. CD-ROM. NIMER, E.; BRANDO, A. M. P. M. Balano Hdrico da Regio dos Cerrados. Rio de Janeiro, IBGE, 1989. 166 p. NIMER, E. Clima. In: Geografia do Brasil - Regio Norte, v. 3, Rio de Janeiro: IBGE/Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, p. 46-54, 1991. NOBRE, C. A.; SHUKLA, J. SELLERS, P. J. Impactos climticos do desmatamento da Amaznia. Clima anlise. Boletim de Monitoramento e Anlise climtica, v. 4, n. 9, p. 4455. 1989. NOBRE, C. A. Alteraes climticas globais e suas implicaes para o Brasil. Revista Brasileira de Energia. 1992. 36 p. (Especial). NOBRE, C. A.; GASH, J. Desmatamento muda clima da Amaznia. Cincia Hoje, v. 22, p. 32-41, 1997. SALATI, E. Desmatamento e Alterao do Balano Hdrico da Bacia Amaznica. In: Atlas Nacional do Brasil, 3. Ed. Rio de Janeiro, 2000. 172 p. SOUZA, E. B.; KAYANO, M. T.; TOTA, J.; PEZZI, L.; FISCH, G.; NOBRE, C. A. On the influences of the El Nio, La Nia and Atlantic dipole pattern on the Amazonian rainfall during 1960 - 1998. Acta Amazonica, v. 30, n. 2, p. 305-318. 2000. ZEPKA, G.S. Anlise do Balano Hdrico para a Cidade de Pelotas, RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 12, Foz do Iguau. Anais... Foz do Iguau, 2002. CD ROM.
Geografia - v. 15, n. 1, jan./jun. 2006 Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geocincias
Você também pode gostar
- Técnico (A) de Logística de Transporte Júnior - ControleDocumento111 páginasTécnico (A) de Logística de Transporte Júnior - Controlemarianaximenes175% (4)
- Peixes Do Rio MadeiraDocumento402 páginasPeixes Do Rio MadeiraPatrícia GiongoAinda não há avaliações
- Cartilha EducativaDocumento9 páginasCartilha Educativaromulo salgadoAinda não há avaliações
- DalPoz1988 CLarga Laudo - SMorena - 2va 17.45286 V PDFDocumento35 páginasDalPoz1988 CLarga Laudo - SMorena - 2va 17.45286 V PDFJoão Dal PozAinda não há avaliações
- Aviso de Convocacao N 4 Smo - Esc Pes 12 RM - 2022Documento24 páginasAviso de Convocacao N 4 Smo - Esc Pes 12 RM - 2022Clysmare RochaAinda não há avaliações
- Caderno ParaCasa CorDocumento118 páginasCaderno ParaCasa CorKelly ErmitaAinda não há avaliações
- Publicado 98142 2023-04-13Documento2 páginasPublicado 98142 2023-04-13Pedro SilvaAinda não há avaliações
- InstNorm 47 2016Documento66 páginasInstNorm 47 2016Wesley MachadoAinda não há avaliações
- Adriano L. Saraiva - Festejos e Religiosidade PopularDocumento132 páginasAdriano L. Saraiva - Festejos e Religiosidade PopularAna Rita CorrêaAinda não há avaliações
- Mario Roberto VenereDocumento204 páginasMario Roberto VenereLígia MoscardiniAinda não há avaliações
- Assistência Educacional Nos Estabelecimentos Penais: EstudoDocumento31 páginasAssistência Educacional Nos Estabelecimentos Penais: EstudoMarcos JesusAinda não há avaliações
- Geo02 Livro Propostos PDFDocumento56 páginasGeo02 Livro Propostos PDFJunior MarioAinda não há avaliações
- Atlas ANA Vol 02 Regiao Norte PDFDocumento32 páginasAtlas ANA Vol 02 Regiao Norte PDFSarah Castro NogueiraAinda não há avaliações
- 4 Convocacao Posse - Concurso Publico SEDUC Professor - 2010 - FUNCAB - 2011Documento20 páginas4 Convocacao Posse - Concurso Publico SEDUC Professor - 2010 - FUNCAB - 2011Patricia TerraoAinda não há avaliações
- Pre Projeto IepamDocumento18 páginasPre Projeto IepamMilton MagnoAinda não há avaliações
- CPRM-Projetos RondôniaDocumento54 páginasCPRM-Projetos Rondôniabrissa senraAinda não há avaliações
- Corte Ilegal Atinge 40% Da Madeira Da Amazônia - Brasil - Valor EconômicoDocumento4 páginasCorte Ilegal Atinge 40% Da Madeira Da Amazônia - Brasil - Valor Econômicoasdfg86Ainda não há avaliações
- Informativo Agropecuario N 9Documento38 páginasInformativo Agropecuario N 9Fabio NettoAinda não há avaliações
- Avaliação de Geografia 7º Ano 4º Bim.Documento3 páginasAvaliação de Geografia 7º Ano 4º Bim.Tatiane NunesAinda não há avaliações
- Edital PC Ro 2022Documento71 páginasEdital PC Ro 2022FernandaAinda não há avaliações
- Implantação Do CacaueiroDocumento77 páginasImplantação Do CacaueiroMarcio Felipe Dos SantosAinda não há avaliações
- FGV 2Documento14 páginasFGV 2Keronlline GomesAinda não há avaliações
- Texto - Regionalização - MILTON SANTOSDocumento5 páginasTexto - Regionalização - MILTON SANTOSIhelena BernardesAinda não há avaliações
- Livro O Lugar Da História e Dos Historiadores PDFDocumento350 páginasLivro O Lugar Da História e Dos Historiadores PDFNelson Arryn Lothlorién100% (1)
- f07 T Soldador Funileiro PintorDocumento6 páginasf07 T Soldador Funileiro PintorLeonardo SilvaAinda não há avaliações
- Prova Concurso Engenharia CivilDocumento20 páginasProva Concurso Engenharia CivilLourena PaivaAinda não há avaliações
- Nossas Águas, Nossos Rios Uma Proposta deDocumento117 páginasNossas Águas, Nossos Rios Uma Proposta deRamane SouzaAinda não há avaliações
- Garimpagem e Mineração No Norte Do BrasilDocumento176 páginasGarimpagem e Mineração No Norte Do BrasilFrance RodriguesAinda não há avaliações
- Manual Panela Elétrica SuggarDocumento2 páginasManual Panela Elétrica SuggarAlex TrompetistaAinda não há avaliações