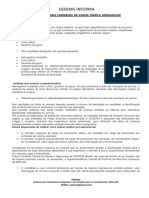Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Individuo Liberdade e Igualdade No Pensamento Liberal e em Marx
Individuo Liberdade e Igualdade No Pensamento Liberal e em Marx
Enviado por
Heather MartinTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Individuo Liberdade e Igualdade No Pensamento Liberal e em Marx
Individuo Liberdade e Igualdade No Pensamento Liberal e em Marx
Enviado por
Heather MartinDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Perspectivas, So Paulo, 11: 1 - 1 9 , 1 9 8 8 .
INDIVDUO, LIBERDADE E IGUALDADE NO PENSAMENTO LIBERAL E EM MARX
Walquiria Domingues L E O R E G O *
RESUMO: O presente artigo pretende realizar um breve balano bibliogrfico em tomo de algumas categorias do pensamento de Tocqueville, Stuart Mill e Bentham para confront-las com o pensamento de Marx e realizar, assim, uma reflexo sobre a poltica em cada um deles. UNITERMOS: Liberdade; igualdade; indivduo; revoluo; capitalismo.
Este trabalho pretende realizar um breve balano bibliogrfico em tomo de algumas categorias do liberalismo clssico, tendo em vista confront-las com o pensamento de Marx. C o m i s to, conduzir a exposio para uma reflexo sobre o significado da poltica em cada um d e s s e s universos tericos. Este confronto pretende ser histrico e categorial. O liberalismo de que falo aqui sobretudo o do sculo XIX, o de Tocqueville, John Stuart Mill e Jeremy Bentham - autores que,cada um a seu modo,so fundamentais para o tratamento do tema em questo. No c a so de Marx, procedi a uma espcie de mapeamento da temtica, objetivando apreend-la principalmente em s u a obra fundamental, ou seja, O Capital. C o m o ponto de partida, parece-me necessrio fazer referncia categoria de indivduo. No caso do liberalismo, sabido que esta se constitui na categoria articuladora de seu discurso. Por isto, a s noes de liberdade e igualdade repousam numa concepo individualista de s o ciedade. O indivduo como valor em s i , o direito (o indivduo soberano) como instrumento de suas relaes sociais. Estas consideraes so evidentemente de ordem geral. Todavia, mister equacionar alguns problemas, tendo em vista a necessidade de preparar o terreno para que s e compreenda a superao que Marx realiza da viso liberal. sempre bom lembrar que as premissas do liberalismo e a s de Marx so inteiramente diferentes. E, para no correr o risco de desfigurar o s dois universos, introduzindo arbitrariamente premissas e categorias a eles estranhas, considero primordial esclarecer tanto quanto possvel o s problemas acima referidos. Dentro desta perspectiva que inicio a discusso da noo de indivduo no universo liberal. Antes de tudo, preciso delimitar as relaes entre o liberalismo e a histria. O liberalismo constitui um momento grandioso da histria d a humanidade, como resultado de um longo proc e s s o de lutas e conquistas e da emergncia de um novo mundo. Nele, o indivduo deve reinar
Departamento de Sociologia - Instituto de Letras, Cincias Sociais e Educao - U N E S P - 14800 - Araraquara, S P .
soberano. O triunfo do liberalismo como movimento histrico, como corpo doutrinrio, s ganha inteligibilidade s e o apreendermos no corao da histria. O cho histrico de seu nascimento o mundo feudal, com s u a rigidez estamental, os privilgios de nascimento, as restries ao exerccio da poltica, a coero das corporaes, a no-liberdade de movimento. Tudo isto c i mentado juridicamente pela religio catlica. A s prescries teolgicas gozando frum de direito pblico. Neste universo onde a tradio e o costume reinam despoticamente [J. Stuart Mill fala do despotismo do costume (17:136)], no existe lugar para a p e s s o a , o indivduo, o sujeito, a inovao individual. De um modo geral, todos esto submersos no mundo das tradies e das uniformidades. Diante desta imensido, destas incontveis cadeias que aprisionam as p e s s o a s , que emergir a prpria noo de indivduo. bom sublinhar que uma genealogia de idias no possui um desenvolvimento em linha reta. No caso do liberalismo, seu desenvolvimento s e entrecruza com idias, doutrinas de diferentes origens, assim como as revolues e as guerras estiveram presentes no seu parto. Lembro aqui o humanismo da Renascena, as revolues teolgicas, a Reforma e especialmente o utilitarismo individualista presentes j no puritanismo ingls (26'passim). S e m poder mencionar em profundidade, impe-se, entretanto, pelo menos referir o papel do jusnaturalismo na preparao de terreno construo do princpio da cidadania poltica. Isto posto, cabe ainda considerar que o liberalismo, tomado em sua generalidade - sem levar em conta seus diferentes matizes e suas diferentes circunstncias - , consagra num corpo doutrinrio a questo dos direitos individuais liberdade de movimento, liberdade de associao, liberdade de pensamento. A s s i m como cuida de estabelecer limites autoridade dos governos ao livre jogo das atividades individuais. De um modo geral, o liberalismo encarna o princpio da razo na histria. Esta ltima no est mais predeterminada, no obra da vontade providencial, mas obra da razo dos homens. C o m isto, o racionalismo liberal pretende libertar os homens do medo, livrando o mundo da tirania, transformando os homens em senhores de sua prpria vontade. O princpio da "racionalidade demolidora" de que falam M. Horkheimer e T. Adorno (1:90-91) ao se referirem ao racionalismo iluminista, de algum modo nutre o liberalismo do sculo XIX. Todavia, a razo demolidora do liberalismo apropria-se tambm da idia abstrata de homem em geral. Por isto, as categorias gerais de indivduo, liberdade, igualdade aparecem sem predicativos histricos determinados. no campo da predicao destas noes que se travar a vigorosa critica de Marx ao liberalismo. Devo ainda circunscrever mais precisamente os autores liberais que selecionei para a discusso, pois, a despeito das diferenas existentes entre eles, h um ponto que os une e este fundamental: todos so homens do sculo XIX, que rompem com o contratualismo (o contrato originrio de direitos) para postular a construo de instituies polticas que assegurem a liberdade individual, onde a lei, o direito, se consubstanciam como os instrumentos fundamentais das relaes entre eles. De outro lado, faz-se mister sublinhar o carter anti-revolucionrio que permeia o liberalismo do sculo XIX, que se encontra dividido entre a admirao pelas revolu e s sociais e o temor a elas. A revoluo - e sobretudo a francesa - converte-se ento numa espcie de "paradigma do mal" a ser sempre evitado. Afinal, a tirania havia feito a s u a mais terrvel apario na modernidade, vestindo as perucas empoadas do jacobinismo francs, ou os andrajos dos sans-cullotes das s e e s parisienses (penso especialmente no atormentado liberalismo do Tocqueville).
Afinal, o povo, j na revoluo inglesa de 1640 e depois na francesa de 1789, havia tomado em suas mos a tarefa de executar o "trabalho sujo" de destruir os smbolos do antigo regime a execuo pblica dos monarcas reinantes (19:passim). Desta maneira, o terror revolucionrio, que no caso francs assegurou as fronteiras da nao francesa, encarna o momento da "exploso das paixes revolucionrias" (Tocqueville), mas tambm o momento da anarquia subversiva, da irracionalidade. Um mundo de instituies polticas estveis, atravessado pelo princpio da liberdade de ao individual, deveria sobrepor-se com veemncia a toda e qualquer veleidade revolucionria. E neste sentido que o liberalismo triunfar hegemnico, pelo menos at meados do sculo XIX, precisamente at as revolues de 1848. Entretanto, as ameaas de conspirao e revoluo pairam como fantasmas que, de tempos em tempos, realizam suas assombraes por todo o sculo. preciso sublinhar que 1848 tambm se consubstanciar num. momento paradigmtico para o liberalismo, pois os fantasmas deixam de apenas a s s o m brar e adquirem materialidade corprea na figura do proletariado industrial. Este irrompe no palco da histria no pas-bero do liberalismo e do capitalismo, como coadjuvante do livre-cambismo ingls, mas realizando a ampliao da cidadania, ao universalizar a questo dos direitos polticos, reivindicando o sufrgio universal. E, no bojo desta luta, impe-se a conquista da reduo da brutal jornada de trabalho. No caso da Frana, o proletariado irrompe na cena histrica insurgindo-se contra a monarquia de julho e clamando pela repblica. No mais a "repblica das simpatias gerais", nas palavras de Marx, mas a no menos vaga "repblica social". S e os princpios da liberdade e igualdade de indivduos proprietrios haviam inflamado os espritos de 1789, agora (1848) o princpio da propriedade privada - princpio fundante do liberalismo que posto prova. A argcia do liberal Tocqueville j desvendava a natureza da tempestade que se avizinhava: "... Olhai o que se p a s s a no seio d e s s a s classes operrias, que hoje eu o reconheo esto tranqilas. verdade que no so atormentadas pelas paixes polticas propriamente ditas, no mesmo grau em que foram por elas atormentadas outrora; mas no vedes que as suas paixes, de polticas, se tornaram sociais? No vedes que pouco a pouco se propagam em seu seio opinies, idias, que de modo nenhum iro apenas derrubar tal lei, tal ministro, mesmo tal governo, mas a sociedade, a abal-la sobre as bases nas quais repousa? No ouvis que entre elas se repete constantemente que tudo o que se a c h a acima delas incapaz e indigno de govern-las? Que a diviso dos bens feita at o presente no mundo injusta? Que a propriedade repousa em bases que no so equitveis? E no credes que, quando tais opinies tomam razes, quando se propagam de uma maneira quase geral, quando penetram profundamente nas massas, devem cedo ou tarde, no sei quando, acarretar as mais temveis revolues? Tal , senhores, minha convico profunda; creio que dormimos no momento em que estamos sobre um vulco, disso estou profundamente convencido" (24:582). E o vulco irrompe violentamente: em seis m e s e s , praticamente a Europa toda foi abalada por insurreies populares, quase todos os governos caram ou foram severamente abalados. As bandeiras de 1848 contm tanto o democratismo radicai de inspirao rousseauniana ou at mesmo Babeuf, quanto um liberalismo parlamentar. Este ltimo muito matizado evidentemente, mas unido no princpio da nao organizada constitucionalmente. A afirmao da nao p a s s a necessariamente pela luta contras a s foras sociais restauradoras da velha ordem, desde que, adverte Cavour - o arquiteto da unificao italiana - , o princpio da propriedade sobre o qual repousa a sociedade no seja profanado (8:35). O amplo espectro de alianas entre diferentes foras sociais que se efetua no incio dos acontecimentos de 1848 modifica-se substancialmente no curso do movimento revolucionrio. De um modo geral, o proletariado urbano das grandes capitais europias, que ergue barricadas em quase todas elas, sofre pesada derrota.
Muitos de seus aliados iniciais, tal qual profetiza Cavour, o abandonam, na mesma medida em que a repblica social - principal bandeira dos revolucionrios - ameaa efetivamente a nao. Tronos s o restaurados em quase todos o s lugares. O ano de 1848, tanto para liberais como para o ainda incipiente movimento socialista, marcado a ferro e sangue. O frgil liberalismo poltico alemo desembarca nos poderosos portos dos Junkers prussianos, selando um compromisso de c l a s s e s profundamente antidemocrtico. Tanto que 1848 designado na historiografia alem como o "ano louco" (9-passim). De maneira geral, 1848 revela mais uma v e z que os pobres podem s e converter em sujeitos da "anarquia e da subverso", que encarnam durante muito tempo o s demnios a serem exorcizados da esfera poltica. Sobre isto, rios de tinta sero derramados pelo liberalismo europeu. Ser sobre este terreno histrico que o liberalismo conseguir, nos anos que s e seguem a 1848, seus grandes triunfos doutrinrios, assim como dominar a maior parte dos grandes e s pritos do sculo. Entretanto, importante assinalar que, principalmente nos vinte anos que se seguem a 1848, fundamentalmente de 1850 a 1870, o capitalismo industrial conhece seu apogeu (a grande expanso). Praticamente todo o planeta s e incorpora ao capitalismo pela via do mercado mundial. De uma maneira ou de outra, o mundo do capital s e universaliza. N a Europa, os trabalhadores urbanos s e fazem cada dia mais presentes na cena poltica; no mais possvel ignor-los. So derrotados em 1848, mas ampliam seu espao poltico, conquistando, ampliando e redefinindo o princpio da cidadania. S u a participao crescente na poltica alarga o universo institucional: p a s s a - s e das coligaes operrias episdicas, descontnuas, organiz a o de instituies permanentes como os sindicatos, emergncia dos grandes partidos polticos trabalhistas. E m suma, " a s revolues de 1848 deixaram claro que a classe mdia, o liberalismo e a democracia poltica, o nacionalismo e mesmo as classes trabalhadoras eram, daquele momento em diante, presenas permanentes no panorama poltico" (8:46). De certo modo, excluindo a "repblica social", as reivindicaes polticas so realizadas na maioria dos pases capitalistas desenvolvidos. O novo ciclo expansivo do capitalismo ps-1848 traz uma euforia geral no mundo d o s negcios. A Inglaterra exibe sua condio de "oficina do mundo". O s tempos so de construo de instituies polticas slidas, dispostas a consolidar e s s a "era de progresso". A poltica revolucionria hiberna; instala-se nos coraes e mentes uma nova perspectiva de fazer poltica, percebida como caminho seguro para a conquista das liberdades civis e dos direitos sociais. Todavia, de diferentes maneiras e fundamentalmente de premissas tericas conflitantes, o s grandes espritos do sculo percebem que, no obstante a grande prosperidade, a questo democrtica, ou seja, o problema da igualdade, permanece sendo o grande desafio do pensamento na histria. A ordem social que sucede ao feudalismo e que triunfou com pompa e tragdia na revoluo de 1789 converte-se numa sociedade onde o s homens s e encontram profundamente divididos. O conservador e penetrante Balzac j punha nos lbios de seu personagem de Os camponeses, o velho campons Fourchon: "... v o c s no perceberam ainda que o s burgueses sero piores do que o s nobres?" Sobre esta nova diviso que cindia profundamente b tecido social importante registrar, en passant, que o pensamento socialista tentar articular algumas respostas. N o pretendo resumir a trajetria deste pensamento e suas diferentes respostas aos novos problemas advindos do desenvolvimento da sociedade moderna. O UTILITARISMO BENTHAMIANO C o m o s e sabe, o pensamento de Jeremy Bentham constitui-se na formulao terica mais influente do sculo XIX. Toda a construo repousa no individualismo e sua proposta dirige-se
construo da maior felicidade possvel para os indivduos. Tal felicidade a substncia do princpio da utilidade. O que vem a ser este princpio? S e u objetivo, diz Bentham, "construir o edifcio da felicidade atravs da razo e da lei". O prprio Bentham explicita que o princpio da maior felicidade mais preciso que o da utilidade, pois " a palavra 'utilidade' no ressalta as idias de prazer e de dor com tanta clareza como o termo 'felicidade' (happiness, felicity)" (4:3). Quais as categorias que fundamentam o pensamento benthamiano? A de "gnero humano" sem "senso histrico", como lembra C . B. Macpherson (10:passim), pois, diz Bentham, nas primeiras linhas de s u a obra: "A natureza colocou o gnero humano sob o domnio de dois s e nhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono d e s s e s dois senhores est vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que certo do que errado, e, por outra, a cadeia das causas e dos efeitos" (4:3). A ao humana preconizada por Bentham ser, portanto, a ao utilitria, por isto podendose entender uma conduta finalista motivada. O motivo da ao configurar sua localizao no campo do certo e do errado. A conduta humana encontra s u a razo de ser nas relaes dor/felicidade. A prpria utilidade da ao humana est referida ao efeito de benefcio, vantagem, prazer, bem, felicidade, que determinada ao pode proporcionar aos indivduos de per si ou comunidade. A infelicidade, a dor, o mal possveis na conduta humana devem ser impedidos, pois seus efeitos s sero danosos se contrariarem " a parte cujo interesse est em pauta: se esta parte for a comunidade em geral, tratar-se- da felicidade da comunidade, ao passo que, em se tratando de um indivduo particular, estar em jogo a felicidade do mencionado indivduo" (4:4). O que a comunidade para Bentham? "A comunidade constitui um corpo fictcio composto de pessoas individuais que se consideram como constituindo os seus membros. Qual , neste caso, o interesse da comunidade? A soma dos interesses dos diversos membros que integram a referida comunidade" (4:4). Por sua vez, o interesse da comunidade s ser inteligvel se, antes, for compreendido o interesse do indivduo. Vrias questes se impem e quase se atropelam umas s outras. O que Bentham define como interesses individuais? E mais, "interesses em pauta"? evidente quando lemos Bentham que sua concepo de sociedade individualista. Isto salta aos olhos do mais benevolente leitor. S e , entretanto, o indivduo o centro de seu sistema, qual a funo da lei e do governo? Como estes papis se definem em relao questo dos tais "interesses em pauta" e, mais ainda, da ao utilitria (princpio da maior felicidade)? Quanto funo de governo, Bentham extremamente vago mas coerente com seu princpio da utilidade. Governar para ele "apenas (...) uma espcie particular de ao, praticada por uma pessoa particular ou por pessoas particulares" (4:4). Ele no discorre sobre quais a s formas especficas de governo que possam assegurar a realizao da "maior felicidade" do maior nmero de indivduos na comunidade. Todavia, Bentham incisivo: "A misso dos governantes consiste em promover a felicidade da sociedade, punindo e recompensando" (4:19). Logo, a lei desempenha um papel decisivo no sistema benthamiano porque "o objetivo geral que caracteriza todas as leis - ou que deveria caracteriz-las - consiste em aumentar a felicidade global da coletividade; portanto, visam elas em primeiro lugar a excluir, na medida do possvel, tudo o que tende a diminuir tal felicidade, ou seja, tudo o que pernicioso" (4:60). Em suma, o governo e as leis regulam a natureza humana que por si m e s m a criou o s motivos necessrios vida dos homens, por exemplo, o medo da morte pela fome como estmulo natural ao trabalho produtivo que assegura a reproduo da vida. Neste sentido, o motivo na-
tural das aes deriva dos castigos e recompensas naturais e, por isto, conduz os homens a garantir s u a prpria subsistncia sob pena de perecerem. Estas contingncias quebrotam da prpria natureza precedem a prpria idia das leis. Ento, por que a necessidade das leis? Elas podem pela s u a prpria natureza punitiva prevenir a "conduta danosa" (J. Stuart Mill retomar isto depois), alm de, como j vimos, garantir a felicidade geral. Esta possui uma referncia na "tica privada" (o mximo de felicidade individual possvel) - a arte do auto-governo - , uma tica pblica - a arte da legislao - e porque a ao individual no pode ser danosa coletividade dos indivduos. Da a melhor legislao ser aquela que prev a melhor distribuio dos direitos e deveres. " E s s e fim mais geral das leis podia, segundo Bentham, ser dividido em quatro fins subordinados: 'garantir a subsistncia, ensejar abundncia, favorecer a igualdade, manter a s e g u r a n a ' " (10:32). Um conjunto de questes pode-se fazer ao sistema benthamiano. Vejamos: se o fim ltimo das aes humanas (sejam elas comuns, legislativas ou governativas) construir "o edifcio da felicidade", o suposto individualista bvio. Entretanto, mesmo definindo a felicidade como o mximo de prazer e o mnimo de dor, as consideraes so abstratas, metafsicas, supem um "ser no mundo" desprovido de historicidade. De que indivduo fala Bentham? Qual o seu predicativo? um sujeito abstrato? A que tempo histrico ele est se referindo? Portanto, cabe indagar sobre o contedo histrico real do "edifcio da felicidade", da liberdade individual e da igualdade. claro que a lgica circular de Bentham contm uma coerncia interna perfeita. Quando se indaga, por exemplo, sobre liberdade de quem e para quem, a resposta ciara: liberdade de todos os indivduos que compem a comunidade, ou seja, todos so livres para lutar pelo mximo de felicidade possvel. Quanto igualdade, a mesma coisa: todos so iguais nos "motivos naturais" - na s u a liberdade de satisfazer-se com o mnimo de dor e o mximo de prazer. M a s , o indivduo benthamiano predicado sim, o proprietrio, o burgus moderno e triunfante. "A civilizao impossvel, diz Bentham, sem a segurana da propriedade dos frutos do prprio trabalho. Ningum faria um plano de vida ou empreenderia qualquer tarefa .cujo produto no pudesse imediatamente tomar e utilizar. Nem mesmo o simples cultivo da terra s e ria empreendido se algum no estivesse seguro de que a colheita seria s u a . As leis, portanto, devem garantir a propriedade individual. E, dado que os homens diferem entre si em capacidade e energia, alguns obtero mais propriedade que outros. Qualquer pretenso da lei de reduzi-las igualdade destruiria o incentivo produtividade. Da, na alternativa entre igualdade e segurana, a lei no pode ter hesitao absolutamente alguma: 'A igualdade deve c e der" "(4:38). O argumento poderoso enquanto tal, mas Bentham transige com ele quando, como lembra Macpherson, "prossegue com uma proposio bem diferente: deve ser garantida aquela segurana de qualquer espcie de propriedade existente, inclusive aquela que talvez no seja dos frutos do trabalho de cada um" (4:36). notrio o endosso de Bentham propriedade privada burguesa - que supe, necessariamente, a apropriao dos frutos do trabalho alheio - e, por conseguinte, sociedade burguesa, desde que dotada de um sistema de leis e de governo que assegurem a maior liberdade possvel aos proprietrios, no livre jogo do mercado. necessrio sublinhar enfaticamente que a premissa sobre a qual se ergue a construo utilitarista o de uma natureza humana imutvel e imperativamente voltada para "maximizar seu prazer, e da seus bens materiais sem limite, e em detrimento de outros" (4:36) (quase o estado de guerra hobbesiano?) A s conseqncias de tais premissas so por demais conhecidas. S para plagiar Macpherson, lembremos a critica que ele faz a Bentham por este no possuir "senso histrico". Marcpherson tambm demonstra os limites que o sistema benthamiano coloca prpria realizao da democracia liberal (10:passim).
Entretanto, no nvel dos princpios gerais e abstratos, a s formulaes benthamianas so extremamente sedutoras. Afinal, ele postula um governo das leis que "ensina como uma coletividade de pessoas, que integram uma comunidade, pode dispor-se a empreender o caminho que, no seu conjunto, conduz com maior eficcia felicidade da comunidade inteira, e isto atravs de motivos a serem aplicados pelo legislador" (4:68). Afora a ausncia de "senso histrico" j referida anteriormente, salta aos olhos do leitor mais complacente a velha metafsica. O universo benthamiano se move no mundo das abstraes mais gerais, o princpio da felicidade, do indivduo. A empiria mais vulgar o fundamento do seu sistema. A o s e enredar na imediatez dos fatos, s pode confundir o particular com o universal. Isto , aquilo que singular, fruto de um determinado tempo histrico - o indivduo, o burgus proprietrio e seus "motivos" - , portanto, uma realizao particular, pensado e projetado como universalidade. O passo seguinte pode ser o discurso apologtico de uma determinada "ordem do tempo" - a ordem burguesa da livre concorrncia. O LIBERALISMO ATORMENTADO: ALEXIS DE TOCQUEVILLE Discutir a obra tocquevilliana no cenrio do liberalismo europeu do sculo XIX constitui tarefa difcil e (por que no dizer?) temerria. Seu pensamento s e move em vrias direes: de um conservadorismo quase romntico a um liberalismo no qual a liberdade um valor absoluto. Esta mescla de conservadorismo e liberalismo faz de Tocqueville um pensador singular no quadro poltico e intelectual da Frana em meados do sculo XIX. A ele devemos um dos mais penetrantes estudos sobre a revoluo de 1 7 8 9 , 0 antigo regime e a revoluo, onde a revoluo examinada no s como momento de "exploso das paixes revolucionrias", mas como resultante de um longo processo histrico em que s e forjam pouco a pouco a s instituies polticas e administrativas centralizadoras, sob a gide do absolutismo {25-passim). Entretanto, essas instituies adquirem seu carter definitivo e mais trgico com o triunfo da grande revoluo. Na anlise de Tocqueville, percebe-se por vezes um tom extremamente crtico para com a revoluo, e especialmente para com o terror, a repblica jacobina, ao lado de uma profunda compreenso da natureza do processo revolucionrio. Podemos mencionar, por exemplo, suas belssimas pginas sobre a questo camponesa, o s privilgios aristocrticos e, sobretudo, a questo dos sentimentos e paixes que animaram o terceiro estado. Dentre a s paixes, ele destaca "a paixo pela igualdade". no terreno da questo democrtica que o discurso tocquevilliano tentar resolver o dilema da igualdade, articulando-o de uma forma dramtica com o princpio da liberdade. Para ele, um princpio absoluto. claro que se nos coloca de imediato a questo: qual a natureza da igualdade e da liberdade para Tocqueville? a categoria de indivduo que articula o s o s dois princpios (liberdade e igualdade)? Qual o indivduo tocquevilliano? Como sabido, para Tocqueville, a contemporaneidade (como poca histrica) veio ao mundo e instaurou a "era da igualdade"; e s s a tem a fora de uma "paixo irresistvel". Tal tendncia, todavia, traz em suas entranhas o germe d a servido. O igualitarismo crescente pode constituir uma temvel ameaa liberdade dos homens. Muito embora a liberdade seja um ato volitivo, depende da vontade e da ao humanas e, principalmente, do seu amor por ela. E s s e fruto de um duro aprendizado. E m suma, para serem livres, o s homens precisam lutar penosamente. Somente assim a liberdade s e plantar nos coraes humanos, encarnar em instituies polticas e sentimentos, e, fundamentalmente, constituir-se- em costume. A liberdade jamais nasce de coraes apticos e gelados: "ela nasce em geral no meio de tempestades" (21:124).
no campo da poltica que se faz o aprendizado da liberdade. A poltica o focus do aprendizado e do exerccio das "virtudes pblicas". Tocqueville, a cada pgina de A democracia na Amrica, no oculta o seu temor pela igualdade como "paixo irresistvel" dos novos tempos, e isto constitui o ncleo do seu argumento libertrio. Ou seja, o dilema no se resolve na sua formao antinmica. Ou se resolve? A igualdade se estendendo para todo o povo pode engendrar uma sociedade massificada, "homogeneizada", at amorfa. E da ento constituir-se numa fatal limitao liberdade, gerando neste processo o fenmeno do despotismo da maioria. Entretanto, este drama quase hamletiano que fascina o leitor de Tocqueville, pois sua escritura fortemente impregnada do tormento "ser livre ou ser igual?". possvel a combinao de ambos os princpios na constituio de uma dada ordem social? Vejamos como o drama tocquevilliano se desenrola e quais so os atos necessrios ao seu desenvolvimento. C o m o j foi dito anteriormente, a liberdade, para Tocqueville, tem um valor absoluto, um "imperativo categrico". A esfera de ao da liberdade refere-se autodeterminao individual, restringindo o mximo possvel a ingerncia do poder estatal. Oe certo modo, esta a formulao liberal clssica e tambm o terreno pantanoso da lgica antinmica. Como salvaguardar a liberdade da ameaa igualitarista, que traz em seu bojo o perigo de um Estado tutelar. De outro lado, como a liberdade pode triunfar em meio desigualdade. A meu ver, Tocqueville tem perfeita conscincia da dificuldade de resolver o dilema, como se sabe, clssico do liberalismo. S u a aguda percepo o torna uma espcie de "conscincia liberal dilacerada". A s solues por ele propostas so sempre, no momento mesmo da enunciao delas, carregadas de apreenso quanto possibilidade de desembocarem em alguma espcie de despotismo. Este um fantasma sempre passvel de ressurreio. Tocqueville postula a igualdade de condies (entenda-se igualdade de oportunidades de participao poltica). Para ele, " a igualdade na propriedade, na riqueza, a igualdade econmica em geral no configuram necessariamente uma situao de igualdade de condies; esta a s segurada pela igualdade de sentimento. O exemplo mais notvel o dos pioneiros americanos que possuam a igualdade de condies - despossudos - , que se combinava com a igualdade de sentimentos - viso de mundo - que lhes era dada pela igualdade religiosa, no c a s o , puritanismo". Todavia, "a liberdade no est necessariamente vinculada democracia", embora seja "prprio das sociedades democrticas que s nelas a liberdade pode atingir todo o povo. portanto o processo igualitrio que a faz expandir-se para ir atingindo as diferentes camadas da populao" (24: 35 e 124). Mas a advertncia sempre reiterativa: "A primeira e mais viva das paixes que a igualdade das condies faz nascer , no preciso que o diga, o amor a e s s a m e s m a igualdade". Este amor pode ser muito mais tenaz, mais ardente que o amor pela liberdade. Eis o perigo! A liberdade poltica exige aprendizado, paixo e, fundamentalmente, cuidado: "para perder a liberdade poltica, basta no conserv-la, para que ela fuja" (24:383-384). Tocqueville enfatiza de diversas maneiras que a tendncia dominante nas sociedades democrticas a igualdade tornar-se o imperativo categrico e, enquanto tal, abafar a liberdade. nos Estados Unidos que ele consegue detectar " a igualdade como princpio gerador da s o ciedade civil e do governo democrtico" (21:35). esta sociedade que lhe serve tambm para aguar a percepo do risco de as instituies polticas livres e igualitrias degenerarem em novas formas de despotismo, como, por exemplo, o despotismo administrativo - este referido crescente tendncia de centralizao administrativa que ele j verificava na sociedade americana daquele momento. "O homem, portanto, no se apega igualdade apenas porque lhe cara; aferra-se a ela ainda porque cr que deve durar sempre. Que a liberdade poltica pode, nos seus e x c e s s o s ,
comprometer a tranqilidade e o patrimnio, as vidas dos particulares, no se ho de encontrar homens to limitados e levianos que no o descubram. Peto contrrio, somente as pessoas atentas e clarividentes percebem os perigos com que a igualdade nos ameaa e, via de regra, evitam assinal-los. Sabem que as misrias que temem esto remotas e se gabam de que s atingiro as geraes vindouras, com as quais quase no se preocupa a gerao presente. O s males que a liberdade s vezes traz so imediatos; so visveis para todos, e todos, mais ou menos, os sentem. O s males que a extrema igualdade pode produzir s s e manifestam pouco a pouco; insinuam-se gradualmente no corpo social; apenas de longe em longe nos dado v-los e, no momento em que se tornam mais violentos, o hbito j fez com que no os sintamos" (24:385). A valorao absoluta da liberdade mais de uma vez evidente. Veja-se: "A liberdade manifestou-se aos homens em diferentes ocasies e sob diferentes formas; nunca s e ligou exclusivamente a um estado social e podemos encontr-la tambm fora das democracias. Por isso, no poderia formar o carter distintivo dos sculos democrticos. O fato particular e dominante que singulariza estes sculos a igualdade de condies; a paixo principal que agita os homens em tais ocasies o amor por e s s a igualdade". E m suma, a liberdade um valor perene da humanidade; a igualdade, uma paixo historicamente circunscrita aos "sculos democrticos", isto , um valor particular de um singular tempo histrico - a modernidade. E m numerosas passagens, Tocqueville argumenta privilegiando a liberdade em detrimento da igualdade. A liberdade poltica sem dvida um valor superior, vivido por pessoas superiores. "A liberdade poltica d, de vez em quando, e a certo nmero de cidados, sublimes prazeres. A igualdade proporciona todos os dias uma multido de pequenos prazeres a cada homem" (24: 384 e 385). Todavia, o prprio Tocqueville demonstra o tempo todo perceber que s u a reflexo oscilante pode enveredar por um caminho limitado e at aristocrtico. M a s imediatamente tenta resolver esta tenso entre os dois princpios (liberdade e igualdade) em frmulas belssimas, porm c o mo mximas apriorsticas, abstratas, generalizantes do tipo: "os homens sero perfeitamente livres, porque sero todos inteiramente iguais; e sero todos perfeitamente iguais porque sero todos inteiramente livres" (24:383). Aquilo que seria necessrio acontecer na histria, s atos do drama para que este tivesse aquele desfecho, move-se num terreno escorregadio. O u seja, a igualdade perigosa, pode suprimir a liberdade. E m suma, as sociedades podem ser democrticas, mas no liberais; podem ser liberais, mas no democrticas. Este sistema de oscilaes faz da histria o lugar da incerteza e no o domnio de um sentido, de uma necessidade, donde a liberdade no se configurar como tributria da necessidade. A liberdade um valor perene e absoluto. O indivduo, em Tocqueville, definido de modo muito singular: ele o centro de suas reflexes. Por outro lado, Tocqueville o cerca de apreenses, sempre no sentido de evitar s u a degenerescncia no indivduo egosta. Vejamos como se expressam suas preocupaes: "O individualismo uma expresso recente, que nasceu por causa de uma idia nova; um sentimento refletido e pacfico, que dispe cada cidado a isolar-se da m a s s a de seus semelhantes e a retirar-se para um lado com sua famlia e seus amigos, de tal sorte que aps ter criado para si, dessa forma, uma pequena sociedade para seu uso, abandona de bom grado a prpria grande sociedade". Enquanto "o egosmo nasce de um instinto cego, esteriliza os germes de todas as virtudes, o individualismo, de incio, s faz secar a fonte das virtudes pblicas; mas, depois de algum tempo, ataca e destri todas as outras e vai, afinal, absorver-se no egosmo". A distino entre individualismo e egosmo se faz sempre na "trama do tempo". O primeiro filho de um tempo histrico - a era democrtica; o segundo " um vcio to antigo quanto o mundo" (24:386). Entretanto, o perigo de o individualismo converter-se em egosmo - individualismo
pernicioso - est sempre presente nas sociedades democrticas. Poder-se-ia perguntar: em qual campo esta terrvel metamorfose poderia ser evitada? A meu ver, a resposta de Tocqueville : no campo d a participao poltica, da cidadania, por esta entendendo a prtica associativa. A s associaes constituem condio d a liberdade dos cidados e principalmente o lugar do exerccio e do aprendizado das virtudes pblicas. Neste sentido, o melhor antdoto contra o individualismo egosta, a "mediocridade tumultuosa e sem profundidade" (3:39), a ao poltica constante, que, garantida pela liberdade, transformar os indivduos em cidados. E cidadania significa o exerccio dos direitos polticos. Somente assim a virtude constituir-se- em componente fundamental do mundo poltico. J O H N STUART MILL: A SOBERANIA DO I N D I V D U O Desnecessrio dizer que muito se escreveu sobre a tumultuada trajetria intelectual e poltic a de John Stuart Mill. Herdeiro do utilitarismo de Bentham e James Mill, ele o redefine luz dos novos imperativos sociais de seu tempo. John Stuart Mill conheceu uma sociedade capitalista bem mais desenvolvida do que a de Bentham e Tocqueville. Isto no tem um significado meramente econmico, mas sobretudo social e poltico. O proletariado industrial ingls j havia marcado s u a presena definitivamente na sociedade. O s antagonismos sociais s e definiam com mais nitidez. O s novos atores sociais h muito j haviam perdido seu perfil nebuloso s e apresentavam sociedade inteiramente despidos. Tal transparncia aterrorizar muitos, que se refugiaro n a idealizao do passado perdido, " a gloriosa e velha Inglaterra", e a outros s e impor como desafio tanto da reflexo como da ao poltica. Ser este o campo da disputa entre o liberalismo e um visionarismo romntico como o de Thomas Carlyle, para quem a Inglaterra "est cheia de riquezas de todas a s c l a s s e s (...), mas na Inglaterra s e morre de fome. S e u s trabalhadores deveriam ser os mais fortes, o s mais hbeis, o s mais voluntariosos. Entretanto, sobre o fruto de seus trabalhos pesa 'o nefasto imperativo do encantamento'. Eles no podem tocar, desfrutar daquilo que produzem, pois s e trata de um fruto enfeitiado" (5:1 e 8). John Stuart Mill s e alinhar, at certo ponto, com aqueles que aceitam o desafio da realidade to tragicamente exposta por Carlyle, no s e conformando com ela, mas acreditando ser possvel remedi-la, ou melhor, redimi-la no mbito da ao poltica. A soluo do drama ingls que expressava tambm, em graus variados, o drama das sociedades modernas - poderia ento derivar de um bom governo. Este deve ser, antes de mais nada, o promotor das virtudes, o educador do povo, pois s um povo instrudo ser capaz de ter uma boa opinio. Portanto, a necessidade de formao e propagao de uma opinio pblica virtuosa e iluminada. A opinio de per si um poder, "uma das maiores foras sociais ativas" ( 1 8 : 1 5 , 1 6 e 22). Neste sentido, a opinio pblica torna-se condio d a liberdade, bem como sua guardi. AJiberdade prerrogativa do progresso: como princpio, ela "no s e aplica a qualquer estado d coisas anterior ao tempo em que os homens se tornaram capazes de progredir por meio da discusso livre e igual" (17:69). Somente cidados educados podem ser livres, conviver com opinies diferentes e serem assim iguais na s u a condio de civilizados, podendo participar na conduo dos negcios coletivos da comunidade. Para Mill, vivia-se numa sociedade de indivduos. E o problema fundamental da liberdade individual estar posto na natureza das relaes dos indivduos com a sociedade, no sentido da compulso e do controle, quer se lance mo da fora fsica sob a forma de penalidades legais, quer se aplique a coero moral da opinio pblica. O contedo d a liberdade, para Mill, repousa fundamentalmente na perspectiva da liberdade de opinio, que deve "circular livremente pela sociedade". Entretanto, as aes no podem ser
to livres como as opinies: "at mesmo as opinies perdem a imunidade quando as circunstncias que lhes presidem expresso resultem em instigao positiva a algum ato prejudicial". Tanto a liberdade de opinio como a de ao encontram seus limites no dano que possam provocar a terceiros. Neste caso, Mill admite a interferncia ativa da sociedade no sentido do controle, que se realiza atravs da coero moral da. opinio pblica. na forma desta, e no papel que ela desempenha na vida social, que se medir o grau de civilidade atingida por uma dada sociedade. Todavia, tal opinio tem por base o indivduo; este, por direito, deve ser sujeito de uma independncia absoluta, bem como " soberano sobre o prprio corpo e esprito" (17: 69,11 e 68). Entretanto, s u a liberdade no uma liberdade de vontade, mas se consubstancia em liberdade civil ou social. Da a importncia de se estabelecer os limites do poder que a s o ciedade pode exercer legitimamente sobre o indivduo. O autodesenvolvimerto do indivduo reside essencialmente na liberdade de opinio. Por sua vez, a constituio da "individualidade" um dos elementos do bem-estar social e civil. Neste momento, torna-se imperiosa a pergunta: o que esta opinio? Qual a s u a verdade? Mill dir: a sua utilidade. "Considero a utilidade como o ltimo recurso em qualquer questo de tica". O recurso utilitrio-tico so os interesses perenes do homem como "ser progressista", isto , o homem instrudo, herdeiro dos mais altos padres de civilidade conquistados pela humanidade, isto, para Mill, potencializa um alto nvel de moralidade pblica. Da a possibilidade de liberdade e igualdade se tocarem. Este entrelaamento se far no mbito de uma sociedade plural (variedade de situaes), onde a nica igualdade possvel ser no campo da cultura e da virtude. Todos os homens civilizados se movero no mundo como homens virtuosos, capazes de construir o bom governo, o sistema representativo - o governo da lei - , o mais adequado aos "ditames eternos e imutveis da razo" (17: 69 e 121). O qual consiste no desenvolvimento mais elevado e mais harmonioso das faculdades humanas. A nfase de Mill na formao da opinio virtuosa como finalidade do governo e, ao mesmo tempo, condio e contedo da prpria liberdade, o conduzir a opor radicalmente o princpio do progresso (o autodesenvolvimento humano) ao princpio da tradio e do costume. E m s u ma, o princpio do progresso s poder triunfar se for capaz de se emancipar do jugo do costume (17:136); e a luta entre os dois constitui o principal interesse da histria da humanidade. Neste ponto, Mill se conduzir para um perigoso terreno onde acabar justificando o despotismo e, por conseguinte, o colonialismo e a sua "barbrie civilizatria". O despotismo como forma de governo ser necessrio aos povos que permanecerem imersos e incapazes de resistir ao argumento do costume. Ou seja, que ainda no saram da barbrie, deste patamar histrico onde no possvel a existncia de homens capazes dos deveres da razo. Para estes deserdados da histria, o governo desptico tem uma funo constitutiva da sociedade - a virtude civilizatria. " s vezes a virtude indispensvel a um governo fazerse obedecido. E, neste caso, sua constituio deve ser aproximadamente ou mesmo completamente desptica (a civilizao de tribos)". O despotismo constitui-se na condio necessria para despertar os povos, disciplinando-lhes o esprito "para os hbitos exigidos pela sociedade civilizada" (18: 56 e 51); s ento poder triunfar a verdadeira liberdade, que nada mais do que a capacidade opinativa para a discusso livre e igual. E a igualdade? Tanto quanto Tocqueville, Mill teme a tendncia igualitria, tambm identificada como homogeneizao e empobrecimento gerai. Como se viu, ele a contrape idia de "variedade de situao", que significa " a liberdade plena dos produtores e vendedores, sob a nica restrio de igual liberdade aos compradores de comprarem onde bem entendam" (18:163). Ou seja, o mercado, a livre concorrncia o mbito de realizao da liberdade e da igualdade dos indivduos.
Quanto ao indivduo, qual o limite de sua soberania sobre si mesmo? Como se sabe, o limite esbarra na "conduta danosa". Uma v e z que esta s e configure, seja para o indivduo, seja para o pblico, a liberdade individual c e s s a , para o caso (conduta danosa) vir colocar-se no mbito da moral e da lei. C o m e a a a autoridade da sociedade - o reino d a cidadania e no de indivduos egostas. O que Mill estava impedido teoricamente de perceber que o mercado - o lugar da liberdade e d a igualdade - exatamente o templo, o santurio do "dano aos interesses de outrem". Werner Sombart lhe diria que mercado, para o "sujeito econmico moderno", o lugar em que se proclama " a superioridade do valor lucrativo sobre todos o s demais valores. J no existem obstculos, nem escrpulos de tipo moral, esttico ou sentimental"; nele, "o comerciante, o negociante, o industrial, reivindicam o direito de proceder sem escrpulos na eleio dos meios" (22: 190-191). E m suma, a "conduta danosa" compe o "esprito capitalista moderno" e, portanto, o universo d a moralidade e da lei burguesas. Entretanto, a biografia de John Stuart Mill demonstra que s u a sensibiliade e inteligncia o conduziram a tentar superar o "nefasto imperativo do encantamento" de seu tempo histrico. quando ele no s luta pelo sufrgio universal feminino, mas tambm prope e deposita suas esperanas na organizao de cooperativas de produtores e na educao d a classe operria. No consegue ir mais longe, mas no se conforma com a profunda diviso dos homens existente n a sociedade moderna. Portanto, foi um pensador, e no um apologeta vulgar do "mximo da felicidade possvel" como princpio regulador da vida social, este sim a proclamao do individualismo egosta e pernicioso. MARX: O S I N D I V D U O S NUS - O I N D I V D U O DESNATURADO O triunfo do capitalismo foi saudado por Max Weber como desencantamento do mundo, isto , inaugurao de uma era onde a racionalidade estendia progressivamente seu sentido e sua lgica a todo o devir histrico da humanidade. Por seu turno, Marx sada o capitalismo (nas palavras quase eufricas do Manifesto Comunista) como um momento especial d a histria, um perodo histrico de transformaes to profundas e velozes que revolucionavam de um modo nunca visto todas a s antigas formas de produo econmica, bem como todas a s velhas concepes sobre o mundo em geral. Agora se podia falar enfaticamente de uma histria universal. Todos os povos nos mais longnquos recantos do planeta seriam arrastados por esta avalanche irresistvel que era o mercado mundial capitalista. Isto tornaria possvel a universalizao do mundo burgus, no sentido amplo d a palavra. M a s , diferentemente de Max Weber, o capitalismo para Marx, s e significava de um lado um inusitado progresso e a vitria de uma determinada razo, de outro fazia emergir das profundezas da histria um reino enfeitiado e desumano. Afinal, o capital como relao social (acumulao primitiva) veio ao mundo escorrendo "sangue e sujeira por todos os poros, d a cabea aos p s " (11:879). S e , na nova ordem social, o indivduo emergia como sujeito de seu prprio destino, o tecido social que engendraria seria necessariamente produto d a trama das aes e vontades individuais. A nova era estava aberta ao talento individual e o mercado seria o locus privilegiado de realizao e expresso destas individualidades soberanas. A s s i m afirmava o discurso apotogtico. A ordem competitiva consagrava o livre jogo das aes racionais; e s s a s deveriam ser dirigidas, tudo somado, ao "bem comum". Estava, ento, realizada na histria uma espcie de viso panglossiana - o melhor dos mundos possveis havia enfim chegado. O que era imperativo agora? A s u a consolidao e estabilidade. Isto s e faria numa especfica esfera: a d a ao poltica. O instrumento mais eficaz para a consecuo daquelas finalidades residia na capacidade de os indivduos institurem o bom governo. E s s e , de um modo geral, deveria ser o pro-
motor do bem comum, mas, antes de tudo, guardio da propriedade individual e da liberdade a ela referida. Marx investir com fria no desnudamento d e s s a particular categoria - o indivduo. De um lado ele reconhece s u a importncia como noo indispensvel ao triunfo da nova ordem social. Portanto, o indivduo como noo e como realidade histrica uma conquista revolucionria do pensamento e da histria. Marx porm indagar: as prerrogativas liberais de "indivduo livre e soberano" se colocam para quem? Para todos os seres humanos que compem a nov ordem? Se o homem portador intrnseco de uma dignidade (um valor interno absoluto), como queria Kant, o que dizer da imensa maioria dos homens que emergem na grande revoluo industrial - tanto as originrias como a inglesa, ou as tardias como a alem - livres e nus? E m que sentido esta "liberdade se entrelaa com a nudez"? E m primeiro lugar, para Marx, o capital uma relao histrica; na gnese desta relao, vamos encontrar o qu? U m gigantesco movimento de expropriao dos produtores diretos (trabalhadores), que percorreu vrias fases em momentos diversos e em pocas histricas diferentes. Constituiu-se,, assim, indubitavelmente, uma enorme m a s s a de homens livres, "trabalhadores livres em dois sentidos, porque no so parte direta dos meios de produo, como escravos e servos, e porque no so donos dos meios de produo, como o campons autnomo, estando, assim, livres e desembaraados deles" (11:830). A nudez e a liberdade esto, pelo menos para a grande maioria dos homens, configuradas na destituio da propriedade. Contraditoriamente, sero os "destitudos de propriedade e direitos" que constituiro a m a s s a de homens livres da nova ordem. Desta feita, " a relao do trabalho com o capital, ou com as condies objetivas do trabalho presentes como capital, pressupe um processo histrico que dissolve as diversas formas nas quais o trabalho proprietrio ou o proprietrio trabalha" (12:76). As condies inorgnicas e naturais (a terra) se metamorfosearam em capital, isto , em propriedade privada burguesa, individual, que supe necessariamente para se reproduzir como capital, como existncia ativa, a separao do trabalho da propriedade. A liberdade e a individuao do homem moderno pressupem de um lado sua disponibilidade como pessoa - livre das coeres corporativas e servis e da dissoluo de todos os seus laos comunitrios - p a ra vender seus msculos e nervos a outrem. Da s u a nudez patentear-se, ento, como a c o n dio sine qua non de sua liberdade como indivduo. Convm sublinhar que a propriedade privada burguesa, para Marx, constitui uma forma histrica e, como tal, no configura o espao livre das vontades individuais: pelo contrrio, a propriedade privada supe a "esfera privativa de uma vontade particular com a excluso de todas as demais vontades" (11:707). Neste sentido, o carter privativo de uma vontade - a propriedade privada - , longe de configurar o momento da liberdade, converte-se na s u a negao, isto , no lugar do despotismo do proprietrio. Em suma, a propriedade a anttese da liberdade. Ela no uma "coisa", uma cristalizao sem vida, mas consubstancia relaes sociais. nesta perspectiva que Marx demonstrava que a "escravido e a servido so s desenvolvimentos posteriores da propriedade baseada na organizao tribal" (12:70). A propriedade no , pois, uma categoria abstrata, vazia, mas sim uma categoria histrica porque suporte de relaes entre homens historicamente determinados. A base social do indivduo - a propriedade privada como razo de ser de sua autonomia e independncia - de imediato exclui a grande maioria da populao que chega "civilizao" destituda de propriedade, mas livre para tornar-se disponvel "livre vontade" de alguns indivduos, daqueles que possuem, por serem proprietrios, um interesse fixo e permanente neste
reino, como dizia o general Ireton, porta-voz dos "grandes", a um dos lderes dos levellers, coronel Rainborough, na revoluo inglesa de 1648 (23: 24,25). De que maneira a questo do indivduo-sujeito equacionada por Marx? S e os indivduos esto nus, como se realiza ento sua liberdade e sua igualdade? Em que esfera da vida social os indivduos se constituem como sujeitos da sua liberdade e de sua igualdade? No mundo da troca, na esfera da livre escolha econmica e poltica. A troca supe vontades soberanas e iguais, que se defrontam para intercambiar equivalentes. A equivalncia o contedo real das vontades soberanas. Isto posto, vejamos o que se p a s s a neste "reino encantado" - o mercado. " C a d a sujeito um trocador, isto , tem com o outro a mesma relao socia^que este tem com ele. Considerado como sujeito da troca, sua relao , pois, de igualdade, ou (...) as mercadorias que estes indivduos intercambiam so equivalentes" (13:179). O suposto histrico o capitalismo, onde possuidores de mercadorias diferentes mas equivalentes s e defrontam como "livres compradores e livres vendedores", se encontram para trocar onde quiserem (J. Stuart Mill). no ato da troca, portanto, que os sujeitos esto postos precisamente como indivduos, como iguais. tambm no ato da troca que os sujeitos se confirmam ao mesmo tempo como iguais e como indiferentes entre s i . pois no mbito do mercado que se concretiza a relao social, onde aos sujeitos pressupostos como iguais " s e agrega a noo de -liberdade". "Neste ponto, aparece a noo jurdica de pessoa e, na medida em que se acha contida naquela, a de liberdade (ningum se apodera da propriedade do outro pela violncia)". O reconhecimento recproco da igualdade e da liberdade dos sujeitos constitui a condio natural da troca. "No ato da troca, o indivduo, cada um deles, se reflete em si mesmo como sujeito exclusivo e dominante daquele ato. Com isto est dada a liberdade total do indivduo: transao voluntria, nenhuma violncia de ambas as partes" (13:182-183). De fato, no mundo da troca, no intercmbio dos valores de troca, a igualdade dos sujeitos no uma iluso; se afirma como necessidade. O contedo, tanto individual como coletivo desta igualdade, coloca impositivamente a liberdade. "No s se trata, pois, de que a liberdade e a igualdade so respeitadas, no intercmbio baseado em valores de troca, seno que o intercmbio de valores de troca a base produtiva, real, de toda igualdade e liberdade". Neste momento, Marx chama a ateno para um ponto importante, ou seja, e s s a s noes de liberdade e igualdade so essencialmente referidas a um perodo histrico determinado. No so universalidades abstratas. Por exemplo, "a igualdade e a liberdade neste sentido constituem precisamente o contrrio de liberdade e igualdade na antigidade, que no tinham como base o valor de troca desenvolvido" (13:183). (Como se sabe, a pergunta dos antigos versava sempre a respeito do modo de propriedade atravs do qual seriam criados os melhores cidados). Afinal, se a troca o mundo da propriedade, da liberdade e da igualdade, portanto do indivduo livre e soberano, em suma, o que a troca? "Sem a anlise dos imperativos das iluses formais, o comportamento efetivo seria ininteligvel" (6:245). Ultrapassemos, pois, o "imperativo das iluses formais". Efetivamente, a troca consagra o mundo da coero. Sua coercitividade impregna e se impe sobre todas as vontades que a constituem. Esta coero " por um lado a indiferena dos outros ante minha necessidade enquanto tal, ante minha individualidade natural, por conseguinte, ante sua igualdade comigo e s u a liberdade, as quais, todavia, so o suposto das minhas". Quem so os indivduos que intercambiam? Eles existem sob determinaes diferenciadas de comprador e vendedor. Um compra uma mercadoria particular, natural, a fora de trabalho (msculos, nervos etc.), e o outro vende sua prpria pele (sua alma tambm no?). E a indiferena constitutiva d e s s a relao est reportada no suposto da equivalncia; afinal, o dinheiro (como coisa) circula, ora em umas
mos, ora em outras. Esta indiferena (o dinheiro como equivalente universal) d materialidade igualdade. " C a d a um aparece ante o outro como possuidor de dinheiro, como dinheiro personificado, se se tem em conta o processo de troca" (13:183). Enfim, o que sucede com o indivduo como existncia natural na troca? "O indivduo s existe enquanto produtor de valor de troca, o que implica a negao absoluta de s u a existncia natural". Configura-se, pois, o momento da desnaturao do indivduo, porque, demonstra Marx, a relao em que isto ocorre " histrica, sendo que o mundo da mercadoria no suposto nem da vontade nem da natureza imediata do indivduo, seno que histrica" (13:187). Nesta medida, a liberdade e a igualdade postas de um modo geral pelo pensamento liberal, porque no referidas a um tempo histrico particular e a indivduos histricos particulares (o capitalista, o proletrio, o campons e t c ) , consubstanciam determinaes abstrato-formais porque assim que primeiro aparecem. N a s profundezas d a histria, ocorrem processos c o m pletamente diferentes. C o n v m sublinhar que, para Marx, estas aparncias no so iluses, mas sim fenmenos constitutivos do real (donde Giannotti denomin-las de "aparncias atuantes"): norteiam efetivamente a prtica de todos os agentes sociais envolvidos, e impemse ante suas conscincias como exterioridades imperativas - reificao de todas a s relaes sociais. LIBERDADE E P O L T I C A NO REINO DO F E I T I O Como por demais sabido, Marx, ao analisar o processo de produo do capital (livro I de O capital), prope-se, entre tantos outros objetivos, a desvendar a natureza social do capital como relao social, como forma determinada de sociabilidade entre o s homens. Neste m o mento, ele desvenda o contedo das formas sociais que aparecem na superfcie da sociedade como dotadas de vontades autnomas, independentes do processo que lhes d origem. A s s i m que Marx, no captulo XVII do livro I - "Transformao do valor ou do preo d a fora de trabalho em salrio", demonstra como a identificao do salrio com o "preo do trabalho" aparece e atua na sociedade como tal. Todavia, o que o salrio? uma forma (ele a denomina de forma transmutada) que envolve misticamente, e igualmente, seus agentes principais, o capitalista e o proletrio - o envoltrio que apaga "todo vestgio da diviso da jornada de trabalho em trabalho necessrio e trabalho excedente, em trabalho pago e trabalho no-pago. Todo o trabalho aparece como pago" (11:622). Tal forma transmutada, tal categoria fenomnica, possui existncia real, ativa. Mas o que ela oculta? Oculta o seu fundo, ou seja, a relao social (capital) na qual ocorre a mais-valia. "Nessa forma aparente que torna invisvel a verdadeira relao e ostenta o oposto dela, repousam todas a s noes jurdicas do assalariado e do capitalista, todas a s mistificaes do modo de produo capitalista, todas as suas iluses de liberdade" (11:623). No ser possvel nos limites deste trabalho proceder minimamente s reconstituies do pensamento' de Marx sobre este assunto. De qualquer modo, mister assinalar que ser nos livros II e III d'O capital que Marx expor s u a anlise d a esfera da circulao do capital (no como coisa, mas como relao social). Neste ponto, demonstrar como a s formas de que o valor s e revestir s e movimentam autonomamente, eclipsando todos os nexos causais das relaes que lhes do origem. A s mediaes desaparecem para dar lugar dana das formas reciprocamente autnomas, e da ser a esfera d a circulao o momento de engendramento das determinaes formais-abstratas. Escolhi para ilustrar estas consideraes a anlise que Marx procede no captulo XLVIII do livro III, " A frmula trinitria". Nesta trindade econmica - capital = lucro do empresrio mais juros; terra = renda fundiria; trabalho = salrio - encontramos a frmula "em que s e encer-
ram todos os mistrios do processo social de produo" (11:935). Nela, os juros aparecem como produto natural do capital, ou seja, dinheiro que gera mais dinheiro, e isto parece "to prprio ao capital nesta forma de capital-dinheiro quanto crescer natural s rvores". Ora, os juros aparecem como valor de troca autnomo, com origem e movimento prprio, um valor que se autovaloriza. Por isto, Marx v no capital produtor de juros D-D' a forma fetichista mais pura, ou seja, a mistificao do capital na sua forma mais contundente, onde a relao social inscrita no capital "reduz-se relao de uma coisa, o dinheiro consigo mesmo" (11: 450-451). No caso da renda fundiria, a terra aparece naturalmente como produtora de renda, a mediao - propriedade privada da terra e arrendamento capitalista (mais-valia extra apropriada pelo proprietrio territorial sob a forma de renda fundiria) - adquire a forma fantasmagrica de uma renda fundiria brotando do cio da terra. A mesma coisa se d com o salrio: ele aparece como preo do trabalho, assim como o lucro do empresrio aparece como salrio independente do capital. Esta frmula surge tanto mais natural "quanto mais nelas se dissimulam os nexos causais". Ou seja, trabalho no-pago, valor excedente (mais-valia) capitalizado, configurando a valorizao do capital, isto , a acumulao capitalista, colocam-se de certo modo como terra e trabalho, enquanto formas fsicas comuns a todos os modos de produo, elementos perenes de todo o processo produtivo, e no como formas sociais historicamente determinadas. A esfera da circulao o momento privilegiado de ocultamento das relaes de produo originrias do valor. Por exemplo, o lucro, que mais-valia capitalizada, aparece ante a conscincia do empresrio como produto da "venda lucrativa", "do logro, da astcia, do conhecimento tcnico, da habilidade e de mil fatores conjunturais de mercado" (11:939 e 950). A reificao das relaes sociais adquire formas cada vez mais refinadas, mais autnomas, na mesma medida em que se desenvolve e se complexifica o prprio capitalismo e, sobretudo, na relao da sociedade civil com o Estado. Quanto mais avanado o capitalismo, mais ficam invisveis os nexos causais internos s relaes sociais. Eqivale a dizer: mais difcil fica estabelecer as mediaes capazes de recompor, ao nvel da reflexo, a unidade do processo real de produo e do processo de circulao do capital. Capitalismo avanado eqivale a forte centralizao de capitais e correspondente transfigurao do Estado, que agora no assume mais o carter de representante do "interesse geral". C a d a vez mais ele (Estado) invade a arena da sociedade civil como Estado-grande-patro. "Borra-se a ntida distino entre o pblico e o privado, a violncia do Estado extravasa as antigas comportas e a luta de classes p a s s a a contar com um novo contendor, os funcionrios do Estado, n e s s a ambgua posio de representantes do todo e agentes do particular" (6:299). O que vem a ser a liberdade neste mundo (o capitalismo) que Marx detectou como "o mundo enfeitiado, desumano e invertido, onde os manipansos, o senhor capital e a senhora terra, protagonistas sociais e ao mesmo tempo coisas, fazem suas assombraes"? Onde a reificao das relaes sociais, a personificao das coisas, patenteiam-se numa verdadeira religio do cotidiano (11: 950 e 953). A liberdade aqui se inscreve num possvel histrico que persegue necessariamente certos passos determinados. Que determinaes so estas? So aquelas advindas do prprio desenvolvimento do capitalismo e das necessidades de sua superao. Efetivamente, trata-se da emancipao do trabalho e de toda a ideologia que o acompanha (tica calvinista,etc). Isto coloca de imediato a questo da relao entre reino da liberdade e reino da necessidade. Onde comea ento o reino da liberdade? "Comea onde o trabalho deixa de ser determinado por necessidade e por utilidade exteriormente imposta". Ou seja, a liberdade, para triunfar, supe a
superao do reino do imprescindvel - a produo e a reproduo da vida. Supe, portanto, um desenvolvimento das foras produtivas capazes de satisfazer as sempre novas necessidades humanas, como tambm ampli-las, alargando ao mesmo tempo os modos de satisfazlas. "A liberdade nesse domnio s pode consistir nisto: o homem social, os produtores a s s o ciados regulam racionalmente o intercmbio material com a natureza, controlam-na coletivamente, sem deixar que ela seja a fora cega que os domina; efetuam-no com o menor dispndio de energias e nas condies mais adequadas e mais condignas com a natureza humana". Este monumental esforo est situado nos limites do reino da necessidade. Somente na superao dele "comea o desenvolvimento das foras humanas como um fim em si mesmo, o reino genuno da liberdade, o qual s pode florescer tendo por base o reino d a necessidade" (11:942). Esta dialtica, pois, entre a liberdade e a necessidade est fundada na histria de homens reais e concretos. O incio desta longa e penosa travessia pressupe a luta poltica. E s t a luta se inicia, antes de tudo, com a conquista de direitos sociais pelos trabalhadores. Efetivamente, e a comear pela condio fundamental desse desenvolvimento humano que a reduo da jornada de trabalho. E a esfera da poltica, para Marx, o momento da universalidade, ou seja, a passagem e a superao do particular. Pode-se apreender isto quando ele procede distino entre o movimento social dos trabalhadores como sendo inicialmente particularista, parcial, episdico e descontnuo (do ludismo s primeiras coligaes de trabalhadores por lutas salariais) at sua configurao em movimento poltico. Este ltimo configurando o momento das associaes permanentes, o partido poltico, por exemplo. Neste momento colocam-se questes poltico-institucionais que transcendem o movimento operrio tomado de per si. Refiro-me ao sufrgio universal masculino. O cartismo ingls referido por Marx como o momento em que uma perspectiva imediatista, particularista, superada por uma concepo mais universalizante da ao poltica. O u seja, o movimento operrio redefine o princpio e a prtica da cidadania (14: 148-149). Deste ponto em diante, a cidadania alarga-se cada vez mais e redefine seu prprio sentido. Com isto, imps-se cada vez mais, e com maior nitidez, a necessidade de ampliar o leque de alianas do movimento operrio com outros grupos sociais que, de algum modo, so sufocados nas suas liberdades pela crescente expanso do capital. A propsito, veja-se a spera critica de Marx ao quarto ponto do Programa de Gotha, no qual se afirma que: "A libertao do trabalho deve ser obra da classe operria, frente a qual as restantes c l a s s e s s constituem uma massa reacionria". Marx investe contra a excluso d a dita " m a s s a reacionria", afirmando: "Acaso durante as ltimas eleies se qualificou aos artesos, aos pequenos industriais, etc, aos camponeses, dizendo-lhes: para ns constituis somente uma m a s s a reacionria, junto com a burguesia e os feudais?" (15: 36, 38). [As eleies a que Marx se refere foram as parlamentares (Reichstag) realizadas em janeiro de 1874.] O que a histria demonstra no seu desenvolvimento posterior que o crescimento eleitoral, por exemplo, do Partido Social Democrata Alemo acontece na medida em que ele amplia seu programa poltico, incorporando demandas de outros grupos sociais. A s s i m , o partido esteve na dianteira da luta por direitos sociais e polticos como a igualdade de direitos da mulher em matria de direito eleitoral, como tambm nas lutas por direitos sociais extensivos a uma populao trabalhadora que no se inseria exclusivamente nos quadros clssicos do proletariado industrial (2: 45 e seg.). No possvel, por motivos bvios, analisar os dramticos desdobramentos do Partido S o cial Democrata Alemo. Mas gostaria de assinalar que em momento algum, para Marx, a reali-
zao histrica do "desenvolvimento humano como um fim em si mesmo" e que supe o "livre desenvolvimento de cada um no livre desenvolvimento de todos", poderia ser realizado pelo "aperfeioamento das instituies polticas nos marcos do modo de produo capitalista". Marx fez uma crtica ao capitalismo, tendo no horizonte a revoluo que realizaria o incio do processo de superao desse "mundo enfeitiado e desumano". Por outro lado, no consigo ver em Marx uma negao da necessidade da luta poltica pela criao de instituies polticas democrticas, capazes de possibilitarem a formao de uma cultura democrtica para o conjunto dos trabalhadores. Alis, a ausncia desta ltima na Alemanha (a misria alem) que ele tanto lamentou. "O ltimo dos holandeses sempre cidado de um Estado em comparao com o primeiro dos alemes" (16:45). Por isto, nos dias que correm em pases em que sequer os direitos civis, polticos e sociais foram conquistados e, mais importante, assegurados e praticados efetivamente, a construo da esfera institucional liberal-democrtica constitui um imperativo histrico. Todavia, nesta altura da histria mundial do capitalismo, no podemos desconhecer o risco de reificao das instituies. Elas podem nos mergulhar perigosamente no mundo obscuro e invertido das iluses formais. Habermas nos lembra que "o imprio da lei assegura a autonomia dos particulares, a liberdade de contrato, de ofcio, de testamento, os fundamentos de uma sociedade de proprietrios privados autnomos" (7:377). Informados pela experincia da histria sobre os limites e alcances do Estado de Direito na sociedade burguesa, parece-me, entretanto, que pelo menos entre ns a instituio desse E s tado se faz imperiosamente necessria. Somente isto poder potencializar a criao de uma cultura poltica democrtica indispensvel luta pela construo do reino da liberdade. No se trata de engalanar o liberalismo. Marx j advertira uma vez: "o traje de gala do liberalismo caiu ante os olhos de todo o mundo e apareceu, em toda a sua nudez, o mais repugnante despotismo" (16:45). Evidentemente, o "despotismo desnudado" a que Marx se refere diz respeito ao fato de que a tirania da propriedade imanente sociedade de proprietrios privados. Esta tirania pode potencialmente estender-se s objetivaes institucionais derivadas da propriedade. Mais claramente, isto quer dizer o seguinte: o mundo das instituies liberais democrticas podem embaraar ainda mais os nexos causais que se produzem nas profundezas do sistema capitalista. Entretanto, importante que se diga que o contrrio tambm pode ocorrer, ou seja, a prtica institucional democrtica conduzir a uma clarificao maior das relaes mais fundas que se produzem nas entranhas do sistema capitalista. Parece-me que o caminho para este destino reside na recuperao da importncia da poltica como um capo de formao de vontades transformadoras voltadas para a construo do futuro. Para isso impe-se redefinir, repensar os caminhos do devir. Falar em "restaurao da dignidade da Poltica" s faz sentido pensando em dot-la, na e s fera das instituies, de contedos universais e histricos, resgatando tambm com isto um sentido para a Histria. AGRADECIMENTOS Diversos colegas discutiram comigo o teor desse artigo e colaboraram para a sua elaborao. Um agradecimento especial devo a Marco Aurlio Nogueira pelas sugestes feitas particularmente no momento da redao final.
LEO REGO, W. D. - Individual, freedom and equality in the liberal thought and in Marx. Perspectivas, So Paulo, 11: 1-19, 1988. ABSTRACT: This article pretends to realize a brief bibliographical balance about some categories of the Tocqueville, Stuart Mill and Bentham's thought in order to confront hem with the Marx's thought and pretends to make a reflexion about politics in each one of them. KEY-WORDS: Freedom; equality; individual; revolution; capitalism.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. ADORNO, T. & HORKHEIMER, M. - O conceito de iluminismo. So Paulo, Ed. Abril, 1980. (Coleo Os Pensadores). 2. ABENDROTH, W. - A Histria social do movimento trabalhista europeu. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. 3. ARON, R. - Tocqueville e Marx. In: Temas da sociedade contempornea. Lisboa, Ed. Presena, 1963. 4. BENTHAM, J . - Uma introduo aos princpios da moral e da legislao. So Paulo, Abril Cultural, 1984. (Coleo Os Pensadores). 5. CARLYLE, T. - Midas. In: Pasf and present London, J . M. Dent & Sons, 1960. So 6. GIANNOTTI, J . A. - Trabalho e reflexo. So Paulo, Brasiliense, 1983. 7. HABERMAS, J . - Participao poltica. In: C A R D O S O , F. H. & MARTINS, C. E. - Poltica e sociedade. Paulo, Ed. Nacional, 1979. 8. HOBSBAWN, E. -A era do capital. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. 9. LUKCS, G. - El desarrollo histrico de Alemania. GriialboSA., 1968. 10. MACPHERSON, C. B . - A democracia liberal (origens e evoluo). Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 11. MARX, K. - O capital. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1975. 12. MARX, K. - Formaciones econmicas pr-capitalistas. Crdoba, Cuadernos de Pasado y Presente, 1972. 13. MARX, K. - El dinero como capital: intercmbio simple relaciones entre los que intercambiam; armonias de la igualdad, de la liberdad, etc. (Bastiat, Proudhom). In: Elementos fundamentals para la critica de la economia poltica (Borrador) 1957-1858. Buenos Aires, Ed. Siglo Vinteuno. Livro I. 14. MARX, K. - A misria da filosofia. So Paulo, Linogrfica Editora, s.d. 15. MARX, K. - Critica do Programa de Gotha. Buenos Aires, Ed. Anteo, 1972. 16. MARX, K. & R U G E , A. -Losanalesfranco-alemanes. Barcelona, Ed. Martinez Rocca, 1973. 17. MILL, J . S. - On liberty. London, Penguin Books, 1983. 18. MILL, J.S.-O governo representativo. Lisboa, Arcadia, s.d. 19. MOORE, B. - Los origines sociales de la dictadura y de la democracia. Barcelona, Ediciones Peninsula, 1973. 20. NISBET, R. - Conservantismo. In: B O T T O M O R E , T. & NISBET, R. - Histria da investigao Rio de Janeiro, Zahar Ed., 1980. sociolgica. In: El asalto a la razn. Mxico, D. F.,
21. SANTOS, Clia G . O. dos - Liberdade e igualdade no pensamento de Alexis de Tocqueville. So Paulo, ' Universidade de So Paulo, 1982. (Tese-Doutoramento). 22. SOMBART, W. -Elburgus. Madrid, AlianzaEditorial, 1982. 23. THOMPSON, E. P. - La formacin histrica de Ia clase obrera. Barcelona, Editorial Lara, 1977. 24. TOCQUEVILLE, A. d e - A democracia na Amrica. Belo Horizonte, Itatiaia, 1962. 25. TOCQUEVILLE, A. de - O antigo regime e a revoluo. Braslia, Editora Univ. de Braslia, 1978. 26. WEBER, M.-A tica protestante e o esprito do capitalismo. So Paulo, Pioneira, 1969.
Você também pode gostar
- Rawls FariasDocumento64 páginasRawls Fariasjorgmarta2952Ainda não há avaliações
- Cliente 8011 Receber 376257 623460012878001636718799Documento1 páginaCliente 8011 Receber 376257 623460012878001636718799Eliana Amaral NascimentoAinda não há avaliações
- 0031092-25.2014 InicialDocumento20 páginas0031092-25.2014 InicialCENVAinda não há avaliações
- Planilha Importação Extrato Bancário ExcelDocumento4 páginasPlanilha Importação Extrato Bancário ExcelamperruAinda não há avaliações
- Ética - CROSPDocumento4 páginasÉtica - CROSPJacinto DalaAinda não há avaliações
- Sistemas de Proteção Internacional de Direitos Humanos - Aula de Direitos Humanos 2Documento38 páginasSistemas de Proteção Internacional de Direitos Humanos - Aula de Direitos Humanos 2Marcos OliveiraAinda não há avaliações
- A Cidade e A Lei - Raquel RolnikDocumento78 páginasA Cidade e A Lei - Raquel RolnikKellen Dorileo LouzichAinda não há avaliações
- Apostila IFRS PMEDocumento122 páginasApostila IFRS PMEBruna DionísioAinda não há avaliações
- Tese Raimundo InacioDocumento228 páginasTese Raimundo InacioSariza CaetanoAinda não há avaliações
- Exames Admissionais Designação 2019Documento3 páginasExames Admissionais Designação 2019SISDEMG100% (2)
- Layout BB CBR653pos7 RemessaDocumento23 páginasLayout BB CBR653pos7 Remessaeverton joel silvaAinda não há avaliações
- Constitucionalismo e NeoconstitucionalismoDocumento7 páginasConstitucionalismo e NeoconstitucionalismoFernanda FerreiraAinda não há avaliações
- Da Redução Proporcional Da Jornada de Trabalho e de SalárioDocumento2 páginasDa Redução Proporcional Da Jornada de Trabalho e de SalárioEduardo LopesAinda não há avaliações
- Arquivo 000Documento36 páginasArquivo 000iogamersniperAinda não há avaliações
- Manual para o Preenchimento Da Planilha de Custos e Formação de Preços (ESAF)Documento302 páginasManual para o Preenchimento Da Planilha de Custos e Formação de Preços (ESAF)Reinaldo Hidalgo GuidolinAinda não há avaliações
- Os Nomes de DeusDocumento14 páginasOs Nomes de DeusMinistério Paz e Vida0% (1)
- Protocolo de Requerimento: INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social GET - Gerenciador de TarefasDocumento12 páginasProtocolo de Requerimento: INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social GET - Gerenciador de TarefasClaudio Corso Da Silva CorsoAinda não há avaliações
- EMPREENDEDORISMODocumento12 páginasEMPREENDEDORISMOGraziinha FerreiraAinda não há avaliações
- Consulta CPF - Camila DutraDocumento2 páginasConsulta CPF - Camila DutraMarlon OliveiraAinda não há avaliações
- Ezentis Brasil S.A. Falido (1º) 0000736-59.2023.5.06.0312Documento10 páginasEzentis Brasil S.A. Falido (1º) 0000736-59.2023.5.06.0312Giovanna rochaAinda não há avaliações
- Valoração Crítica Da Actio Libera in Causa A Partir de Um Conceito Significativo de AçãoDocumento58 páginasValoração Crítica Da Actio Libera in Causa A Partir de Um Conceito Significativo de AçãoThales PeixotoAinda não há avaliações
- Diario Oficial de BOA VISTA RoraimaDocumento52 páginasDiario Oficial de BOA VISTA RoraimaKleberson ArrudaAinda não há avaliações
- 56 Nomeacao08Documento5 páginas56 Nomeacao08lidiane sousaAinda não há avaliações
- Eclesiologia PDFDocumento28 páginasEclesiologia PDFEderVedderAinda não há avaliações
- Ficha de Questões e Problemas - 01Documento3 páginasFicha de Questões e Problemas - 01Lazio BritoAinda não há avaliações
- Ebook ECADocumento9 páginasEbook ECAAliny MartinsAinda não há avaliações
- Diario 3116 Cad 4Documento11 páginasDiario 3116 Cad 4Diego VenezianiAinda não há avaliações
- A Legislacao Radioamadoristica Atraves Dos Tempos (Vol 01 - 1924 A 2000)Documento395 páginasA Legislacao Radioamadoristica Atraves Dos Tempos (Vol 01 - 1924 A 2000)Yosef Mori0% (2)
- Boleto PDFDocumento1 páginaBoleto PDFAnonymous 9GSRyvAinda não há avaliações
- Sepultamento Na IgrejaDocumento3 páginasSepultamento Na IgrejaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações