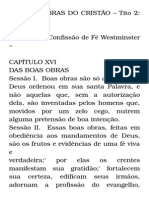Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SERRES Michel Filosofia Mestica
SERRES Michel Filosofia Mestica
Enviado por
Rafael Ribeiro0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
24 visualizações102 páginasTítulo original
109659821 SERRES Michel Filosofia Mestica
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
24 visualizações102 páginasSERRES Michel Filosofia Mestica
SERRES Michel Filosofia Mestica
Enviado por
Rafael RibeiroDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 102
T
odo aprendizado resulta de abertura
para o outro. mistura e mestiagem.
Apesar disso, ao invs de construirmos um
saber tolerante e amigo da diferena, h s-
culos insistimos em buscar uma razo as-
sptica, que aspira imobilidade de uma
perfeio ilusria. Ainda pretendemos ela-
borar filosofias da pureza, no fundo movi-
das no pelo desejo de conhecer, mas pela
compulso a dominar.
A Michel Serres interessa a busca de
um outro saber: uma filosofia mestia. Por
mais judiciosa que uma idia se apresente,
diz, ela se ~ o r n atroz se reina sem partilha.
Nenhuma soluo nica, nem dura para
sempre; nenhuma cincia ou disciplina
tem sentido se no se abre para o que lhe
exterior. Por isso, desde o incio deste livro,
o esprito do sbio no se cobre com o
manto de Salomo, o compenetrado rei-
sol que a tudo subordina, mas com o casa-
co furta-cor de Arlequim, o desengonado
imperador da lua que se mistura com seus
sditos. Os rudos, os desvios, as imper-
feies da experincia integram, legitima-
mente, o processo de conhecimento.
Para Serres, as grandes instituies
universitrias no so capazes de propor
esse aprendizado que valoriza a mestia-
gem. Cultivam condies contrrias ao
exerccio do pensamento, consomem re-
dundncias, repetem imagens velhas e vi-
vem de impressos sucessivamente copia-
dos. Ensinam cincias humanas que no
falam do mundo e cincias naturais que si-
lenciam sobre os homens. No suportam a
sutileza insinuante do saber dirigido para a
inveno, que por isso se torna um saber
solitrio, no entanto imprescindvel para
combater a construo de um mundo ho-
mogneo, loucamente lgico e racional-
mente trgico.
-"
Filosofia
Mestia
Ttulo original: Le Tiers-Instruit
:E:ditions Franois Bourin, 1991
Direitos de edio da obra em lngua portuguesa no Brasil adquiridos pela
EDITORA NOVA FRONTEIRA S.A.
S51f
93-0158
Rua Bambina, 25 - Botafogo - CEP 22251-050
Tel. 286-7822 - Fax 286-6755
Endereo telegrfico! NEOFRONT
Telex: 34695 ENFS BR
Rio de Janeiro, RI
Reviso de traduo
Evelyne Jacobs
Reviso tipogrfica
Tereza da Rocha
.: CIP-Brasil. Catalogao-na-fonte .
Sindito Nacional dos Editores de RJ
f
Serres, Michel
Filosofia mestia::: Le tiers-instruit / Michel Serres; traduo
Maria Ignez Duque Estrada. - Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1993.
Traduo de: Le tiers-instruit
ISBN 85-209-0405-X
1. Cincias sociais e filosofia. 2. Filosofia francesa. I. Ttulo.
CDD - 194
CDU - I (44)
Para Anne-Marie.
Emmanuelle e Stphanie
PUC-RGS
Bl8l
-n "\ c-o
, I '-.. ,t. C::NTRAl
.., ;J"U
- r-'''- ____ .
Loc,o,.W:
._ I'
CONSULTA LOCAl..
Philomuthos, philosophos ps.
Philosophos, philomuthos ps.'"
Aristteles
... Filomito, de certo modo, fIlsofo.
Filsofo, de certo modo, filomito.
Como aconteceu de as cincias humanas ou sociais no
falarem jamais sobre o mundo. como se os grupos per-
manecessem suspensos no vazio? Como as cincias ditas
duras deixam os homens de lado? ( ... ) Como nossos
principais saberes se perpetuam hemiplgicos? Faz-los
aprender a caminhar com os dois ps, a utilizar as duas
mos, me parece ser um dos deveres da fIlosofia: voc
sabe, .le tier-instruit designa os corpos completados de
canhotos ditos contrariados; o elogio dos mestios e das
misturas, que causam horror aos fIlsofos da pureza.
Michel Serres, Eclaircissements, 1992
r
!
Sumrio
Laicidade ............................................................................................ I
CRIAR ................................................................................................ 7
Homenagem ................................................................................ 9
Corpo ........................................................................................... 9
Sentido ......................................................................................... 12
Nascimento do mestio .............................................................. 13
Aprendizagem ............................................................................. 14
Crebro ........................................................................................ 17
Nascimento e conhecimento ...................................................... 18
Escrever........................................................................................ 20
Sexo .............................................................................................. 21
Quimera ....................................................................................... 25
Dobra e n ....................................... c........................................... 28
Primeiras recordaes ................................................................. 30
Roscea ......................................................................................... 32
Trilha, msica ............................................................................. 35
Dana: minueto do lugar mestio ............................................ 37
Magnificncia .............................................................................. 38
Alegria, dilatao, engendramento ........................................... 40
INSTRUIR .......................................................................................... 45
Dia ................................................................................................ 47
Noite ............................................................................................. 51
Claro-escuro ................................................................................ 52
!
I
o lugar mestio ........................................................................... 54
O terceiro homem ...................................................................... 57
60
Instruir ou engendrar ................................................................ .
A terceira pessoa: procedncia .................................................. 62
A terceira mulher: concepo .................................................... 64
66
o mestio instrudo: ancestrais ................................................ .
O mestio instrudo, de nOVO: origem ..................................... 70
79
Engendramento na aurora ...................................................... o
O problema do mal ................................................................... .
81
Guerra por teses .......................................................................... 86
O estilista e o gramtico ............................................................ 89
Paz sobre as espcies .................................................................. 102
Npcias da Terra com seus sucessivos senhores ........ , ............. 102
Paz e vida pela inveno. Encontrar ........................................ 106
Um outro nome para o mestio instrudo .............................. 117
O casal genrico da histria. Morte e imortalidade ............... lI8
EDUCAR ............................................................................................ 131
Lei do rei: nada de novo sob o sol ................. .. .. 133
O novo sob o sol, em outro lugar ............................................ 145
O novo sob o sol, aqui ............................................................... 152
Eu. Noite ...................................................................................... 165
Tu. Dia ......................................................................................... 178
A terceira pessoa: fogo ............................................................... 185
laicidade
De volta de uma inspeo s terras lunares, Arlequim, imperador,
aparece no palco para dar uma entrevista coletiva. Que maravilhas
viu, atravessando lugares to extraordinrios? O pblico est na ex-
pectativa de grandes extravagncias.
- No, no - ele responde s perguntas que o pressionam -,
em toda parte tudo como aqui, em tudo idntico ao que se pode ver
comumente sobre o globo terrqueo. S mudam os graus de grande-
za e beleza.
Decepcionado, o auditrio no acredita: l fora, obviamente,
tem que ser diferente! Ser que ele no conseguiu observar nada du-
rante a viagem? Primeiro mudos, estupefatos, todos comeam a se
agitar, enquarito Arlequim repete doutamente a lio: nada de novo
sob o Sol, nada de novo na Lua. A palavra do rei Salomo precede a
do potentado satlite. Nada mais a dizer, sem comentrios. Real ou
imperial, quem detm o poder s encontra de fato, no espao, obe-
dincia sua potncia, portanto sua lei: o poder no se desloca. E,
quando o faz, a;::ana sobre um tapete vermelho. Assim, a razo s6
encontra a sua regra debaixo dos seus ps.
Altivo, Arlequim desafia a platia com um desdm e uma arro-
gncia ridculos.
No meio da sala, que se torna tumultuada, algum belo e maldoso
esprito se levanta e estende a mo para indicar o casaco de Arlequim.
- Hei! - grita ele - voc a, que diz que tudo em toda parte
como aqui, quer que a gente acredite tambm que sua capa feita de
uma mesma pea, tanto na frente como na traseira?
Atnito, o pblico no sabe mais se deve calar-se ou rir. De fato,
a roupa do rei anuncia o inverso do que ele pretende. Composio
descombinada, feita de pedaos, de trapos de todos os tamanhos, mil
formas e cores variadas, de idades diversas, de provenincias dife-
rentes, mal alinhavados, justapostos sem harmonia, sem nenhuma
ateno s combinaes, remendados segundo as circunstncias,
medida das necessidades, dos acidentes e das contingncias, ser que
mostra uma espcie de mapa-mndi, o mapa das viagens do artista,
como uma mala constelada de marcas? O l-fora, ento, nunca
como aqui. Nenhuma pea se parece com qualquer outra, nenhuma
provncia poderia jamais ser comparada com tal outra, e todas as
culturas diferem. A pelerine-portulano desmente o que pretende o
Rei da Lua.
Vejam com seus prprios olhos esta paisagem zebrada, tigrada,
matizada, mourisca, recamada, entristecida, aoitada, lacunar, ocela-
da, multicolorida, rasgada, de cordes atados, de fitas cruzadas, de
franjas pudas, inesperada em todo canto, miservel, gloriosa, magn-
fica de cortar o flego e de fazer o corao bater.
Poderosa e banal, a palavra reina, montona, e vitrifica o espaoj
soberbo de misria, o traje, improvvel, deslumbra. O imperador
derrisrio, que repete como um papagaio, se envolve num mapa do
mundo com multiplicidades mal ajeitadas. Verbo puro e simples,
roupa compsita e mal combinada, reluzente, bela como uma coisa:
que escolher?
- Tu te vestes como o roteiro de tuas viagens? - diz ainda o
belo esprito prfido.
Todo mundo ri. Eis o rei apanhado e envergonhado.
Arlequim logo adivinha a nica sada para o ridculo da situao:
basta tirar este casaco que o desmente. Levanta-se, hesitante, olha
boquiaberto os panos de seu traje; em seguida, com ar de bobo, olha
para o pblico e de novo para seu casaco, como que tomado de
vergonha. A platia ri, um pouco abobalhada. Ele demora, se faz
esperar. O Imperador da Lua enfim se decide.
2
r
I
Arlequim se despe. Aps muitas caretas e contorses inbeis,
acaba por deixar cair aos seus ps o casaco disparatado.
Um outro envoltrio cambiante aparece ento: por baixo do pri-
meiro vu, ele usa um segundo farrapo. Estupefata, a platia ri de
novo. preciso ento recomear, j que o segundo envoltrio, seme-
lhante ao casaco, se compe de novas peas e de velhos pedaos.
Impossvel descrever a segunda tnica sem repetir, como uma litania:
tigrada, matizada, zebrada, constelada ...
Arlequim continua ento a desvestir-se. Sucessivamente apare-
cem uma outra roupa mourisca, uma nova tnica recamada, em se-
guida uma espcie de vu estriado e ainda uma malha ocelada, mul-
ticolorida ... A sala explode, cada vez mais surpreendida. Arlequim
nunca chega ao ltimo traje, enquanto o penltimo reproduz exata-
mente o antepenltimo: diversificado, compsito. rasgado ... Sobre
si, Arlequim traz uma camada espessa desses casacos de arlequim.
Infindamente, o nu recua sob as mscaras; e o vivo, sob a boneca
ou a esttua inchada de trapos. Decerto, o primeiro casaco deixa per-
ceber a justaposio das peas, mas a multiplicidade e o cruzamento
dos sucessivos envoltrios a mostram, enquanto tambm a dissimu-
lam. Cebola, alcachofra, Arlequim nunca acaba de se desfolhar ou de
escamar suas capas cambiantes, e o pblico no pra mais de rir.
De repente, silncio. Seriedade e at gravidade descem sobre a
sala, eis o rei nu. Retirado, o ltimo disfarce acaba de cair.
Estuporl Tatuado, o Imperador da Lua exibe uma pele multicor,
muito mais ~ r do que pele. Todo corpo parece uma impresso digi-
tal. Como um quadro sobre uma tapearia, a tatuagem - estriada,
matizada, recamada, tigrada, adamascada, mourisca _ um obst-
culo para o olhar, tanto quanto os trajes ou os casacos que jazem no
cho.
Quando cai o ltimo vu, o segredo se liberta, to complicado
como o conjunto de barreiras que o protegiam. At mesmo a pele de
Arlequim desmente a unidade pretendida por suas palavras. Tam-
bm ela um casaco de arlequim.
3
A platia tenta rir ainda, mas no consegue: seria preciso talvez
que o homem se esfolasse. Assobios, apupos ... pode-se pedir a al-
gum para arrancar a prpria pele?
A platia viu e fica em suspenso; poderia ouvir-se uma mosca a
voar. Arlequim no imperador, nem mesmo derrisrio. Arlequim
s Arlequim, mltiplo e diverso, ondulante e plural, quando se
veste e se desveste: nomeado, condecorado porque se protege, se de-
fende e se esconde, mltipla e indefinidamente. Brutalmente, os es-
pectadores, juntos, acabam de esclarecer todo o mistrio.
Ei-Io agora desvendado, entregue sem defesa intuio. Arle-
quim hermafrodita, corpo mesclado, macho e mulher. Escndalo
na sala, perturbada at as lgrimas. O andrgino nu mistura os gne-
ros sem que se possam distinguir as vizinhanas, lugares ou bordas
onde terminam e comeam os sexos: homem perdido na fmea, mu-
lher mesclada com o macho. Eis como ele Ou ela se mostra: monstro.
Monstro? Esfinge, animal e donzela; centauro, macho e cavalo;
unicrnio, quimera, corpo compsito e misturado; onde e como dis-
tinguir o lugar da solda ou do corte, o sulco onde a ligao se ata e se
aperta, a cicatriz onde se juntam os lbios, o da direita e o da esquer-
da, o de cima e o de baixo, mas tambm o anjo e a besta, o vencedor
vaidoso, modesto ou vingador, e a humilde ou repugnante vtima, o
inerte e o vivo, o miservel e o riqussimo, o tolo cabal e o louco vivo,
o gnio e o imbecil, o senhor e o escravo, o imperador e o palhao.
Monstro, verdade, mas normal. Que semblante afastar, agora, para
melhor conhecer o lugar de juno?
Arlequim-Hermafrodita serve-se das duas mos, no como am-
bidestro mas como canhoto completado, destro at do lado esquer-
do, viu-se claramente quando ele se despia, suas capas dando viravol-
tas nos dois lados. Encantos da infncia e rugas prprias dos idosos,
misturados, levam a que se pergunte sua idade: adolescente ou an-
cio? Mas, quando apareceram a pele e a carne, todos descobriram
sobretudo sua mestiagem: mulato, temperado, hbrido em geral, e
em que medida? Um quarto de sangue negro? Um oitavo? E se ele no
brincasse mais de rei, mesmo de comdia, daria vontade de cham-lo
4
I
l
de bastardo ou mestado, cruzado. Sangue misto, marrom, amar-
ranzado, impuro.
Que nos poderia exibir agora o monstro comum, tatuado, ambi-
destro, hermafrodita e mestio sob a prpria pele? Sim, o sangue e a
carne. A cincia fala de rgos, de funes, de Clulas e de molculas,
para finalmente confessar: faz tempo no se fala mais de vida nos
laboratrios; mas ela nunca se refere carne que, precisamente, de-
signa, num dado lugar do corpo, aqui e agora, a mistura de msculos
e de sangue, de pele e de plos, de ossos, de nervos e de funes
diversas, que mescla aquilo que o saber pertinente analisa. A vida
joga os dados e embaralha as cartas. Arlequim pe mostra, para
terminar, a sua carne. Misturados, a carne e o sangue mestio de
Arlequim parecem confundir-se ainda com um casaco de arlequim.
H algum tempo, numerosos espectadores j tinham deixado a
sala, cansados dos golpes teatrais frustrados, irritados com essa vira-
volta da comdia em tragdia, tendo chegado para rir, decepcionan-
do-se por ter que pensar. Alguns mesmo, especialistas eruditos sem
dvida, haviam compreendido, por Sua prpria conta, que cada por-
o do Seu saber parece tambm com o caSaco de Arlequim, cada um
trabalhando na interseo ou na interferncia de vrias outras cin-
cias e, s vezes, de todas, quase. Assim, Sua academia, ou enciclop-
dia, se aproximava formalmente da comedia dell'arte.
Quando todos j estavam virando as costas, quando os candeei-
ros davam si:'}ais de fraqueza e sentia-se que naquela noite a impro-
visao termInaria em fiasco, algum lanou um sbito apelo, como
se algo novo estivesse acontecendo num lugar onde tudo, at ento,
se repetira. O pblico inteiro se voltou de um s golpe e todos os
olhares convergiram para o palco, dramaticamente iluminado pelos
ltimos fogos moribundos dos projetores.
- Pierrl Pierr! - gritaram - Pierr lunar!
No lugar exato do Imperador da Lua erguia-se agora uma massa
ofuscante, incandescente, mais clara que plida, mais transparente
5
que difana, lilicea, nevada, cndida, pura e virginal, inteiramente
branca.
- Pierr! Pierrl - gritavam ainda os tolos, quando a cortina se
fechou.
Eles saram perguntando:
- Como as mil cores do casaco podem se dissolver numa soma
branca?
- Assim como o corpo - respondiam os doutos - assimila e
retm as diversas diferenas vividas durante as viagens e volta para
casa mestiado de novos gestos e de novos costumes, fundidos nas
suas atitudes e funes a ponto de faz-lo acreditar que nada mudou
para ele, tambm o milagre laico da tolerncia, da neutralidade in-
dulgente, acolhe, na paz, todas as aprendizagens, para delas fazer
brotar a liberdade de inveno e, portanto, de pensamento.
6
I
i
I
1
l .
Criar
Homenagem
Corpo
Sentido
Nascimento do mestio
Aprendizagem
Crebro
Nascimento e conhecimento
Escrever
Sexo
Quimera
Dobra e n
Primeiras recordaes
Roscea
Trilha, msica
Dana
Magnificncia
Alegria, dilatao, engendramento
-"
I
i
Homenagem
Obrigado. Meu reconhecimento comovido dirige-se em primeiro lu-
gar ao falecido mestre, cujo rosto, voz e mos permanecero presen-
tes em minha memria at a morte; h algumas dcadas, ele fez de
mim aquilo a que a maioria destra se refere, compassiva, como um
canhoto contrariado, mas que descrevo, alegremente, como uma me-
tade completada. Nenhum acontecimento esculpiu meu corpo com
maiores conseqncias, ningum decidiu por mim mais revolucio-
nariamente o sentido.
Por uma vez, o corpo docente, que se ergue para discursar e
convencer, ou se inclina para escrever, apresenta-se a seu pblico em
sua ingenuidade nua: como um organismo, dando lugar lngua e ao
pensamento com certeza, mas antes de tudo modelado carnalmente
por um mestre annimo, ao qual agradeo.
Corpo
Ningum pe em dvida a bondade da reforma que permitiu aos
canhotos, meus irmos, escrever conforme sua mo. Contrari-los os
teria lanado em uma populao confusa de gagos, perversos ou neu-
rticos, diz a teoria. Em princpio, fao parte desse grupo to doente,
ao qual hoje dou a palavra e represento. Estranha notcia: tudo cami-
nha da melhor forma no melhor corpo possvel.
Como descrever um destro? Como um organismo cortado, so-
frendo de grave hemiplegia. A caneta, a faca, o martelo ou a raquete
se juntam numa s mo, enquanto a outra nada segura. Quentes e
9
flexveis, um lado do prprio corpo e sua extenso vivem arrastando
atrs de si uma espcie de gmeo cadavrico, hirto e frio, desprezvel
e impotente: inconsciente.
Eis somente a metade da verdade. Como descrever, por sua vez,
um canhoto? Como um organismo atravessado por uma rachadura,
paraplgico, doente. Lpis, garfo, bola, tesoura convm sua nica
mo, enquanto a outra pende, adormecida. Alerta, suave, presente,
eis uma face do espao e da vida, enquanto o meio-corpo puxa ou
empurra sem equilbrio possvel um duplo duro, ausente, morto,
peso sem fora, massa inconsciente sem lngua.
Feitas as contas, um vale o outro. Cada um, divorciado, se com-
pe de dois gmeos, dos quais s um, seja qual for, de um lado ou do
outro, tem direito vida, enquanto o segundo nem chegou a nascer.
E ento, dar aos canhotos o direito de assim permanecerem equivale
a fazer com que se tornem destros: outros destros, do outro lado. A
liberao da esquerda me parece agora uma deciso de direita.
Os corpos hemiplgicos se reconhecem entre si e impem a to-
dos a permanncia na tola patologia da diviso.
No, ns no somos um, somos dois. Canhoto ou destro, no
$e compe o corpo de cada um de dois irmos inimigos, gmeos
idnticos embora enantiomorfos, isto , ao mesmo tempo simtricos
e assimtricos, gmeos concorrentes e contrariados, dos quais um
sempre foi morto pelo outro e leva seu cadver a tiracolo, como esses
generais da antiga Roma arrastavam, em seu triunfo, os adversrios
vencidos e escravizados? O uso de apenas a metade de seu corpo,
considerado universal por certos etnlogos, no remontar a ime-
morveis prticas de sacrifcio? Destro ou canhoto jamais toleram
um outro a seu lado, exceto morto ou natimorto.
Eu prego contra a pena de morte neste assunto, prego pelo corpo
reconciliado, pela amizade entre os irmos; a favor, enfim, desta to-
lerncia rara ou, quem sabe, do amor, que se regozija quando o ou-
tro, em sua vizinhana mais prxima, vive feliz e, para assim tornar-
se, tenha tido ao menos a chance ou o direito de nascer.
10
o crebro se divide em duas metades que, por feixes cruzados, se
comunicam com o outro lado do corpo, respectivamente. A hemi-
plegia paralisa ao mesmo tempo ou o lado esquerdo do corpo e o
lado direito do crebro, ou a esquerda deste e a direita do outro.
Parece-me melhor viver, falar ou pensar com todos os rgos do que
amputar do seu conjunto uma metade negra. Ningum d valor a
esse princpio, a despeito de sua bela, harmoniosa e plena evidncia:
COmo explicar a paixo da humanidade - em sua totalidade, parece
- por uma doena que obriga nosso meio-corpo a se colar a um
cadver, como num casamento repulsivo?
Portanto, obrigado, em primeiro lugar, quele que me formou
na plenitude e na saturao prprias a um corpo completo.
Nada confere mais sentido do que mudar de sentido. Relatarei
por meio de imagens a lembrana da mutao.
Ningum sabe nadar de fato antes de ter atravessado, sozinho,
um rio largo e impetuoso, um brao de mar agitado s existe
em uma piscina, territrio para pedestres em massa.
Parta, mergulhe. Depois de ter deixado a margem, voc conti-
.. nuar durante algum tempo muito mais perto dela do que da outra
sua frente, tempo bastante, pelo menos, para que seu corpo se
aplique ao clculo e silenciosamente reflita que ainda pode voltar.
t um certo limiar, voc conserva esta segurana: o mesmo que
dizer que ainda no partiu. Do outro lado da aventura, o p confia na
aproximao, desde que tenha ultrapassado um segundo limiar: voc
est to da margem que pode dizer que j chegou. Margem
direita o'esquerda, no importa, nos dois casos: terra ou cho. Voc
no nada, espera para andar, como quem salta, decola e atinge o
cho, mas no permanece em vo.
Ao contrrio, o nadador sabe que um segundo rio corre neste
que todo mundo v, entre os dois limiares, atrs ou frente dos quais
quaisquer seguranas desapareceram: ali ele abandona toda a refe-
rncia.
11
Sentido
A verdadeira passagem ocorre no meio. Qualquer sentido que o nado
tome, o solo jaz a dezenas ou centenas de metros sob o ventre ou a
quilmetros atrs e na frente. Eis o nadador sozinho. Deve atravessar,
para aprender a solido. Esta se reconhece no desvanecimento das
referncias.
Num primeiro momento, o corpo relativiza o sentido: que im-
porta esquerda ou direita, desde que fique junto terra?, diz. Mas, no
meio da travessia, mesmo o solo lhe falta, acabam os domnios. Ento
o corpo voa e esquece o que slido, no mais na expectativa das
descobertas estveis, mas como instalando-se para sempre em sua
vida estrangeira: braos e pernas entram numa fraca e fluida portn-
da, a pele se adapta ao ambiente turbulento, pra a vertigem da ca-
bea porque doravante ela s6 pode contar com seu prprio suporte;
sob pena de afogar-se, ganha confiana na braada lenta.
O observador de fora facilmente acredita que aquele que muda
est passando de um domnio para outro: de p em Calais como se
estivesse em Douvres, como se bastasse tirar um segundo passaporte.
No. Isto seria assim se o meio se reduzisse a um ponto sem dimen-
ses, como no caso do salto. O corpo que atravessa aprende certa-
mente um segundo mundo, aquele para o qual se dirige, onde se fala
outra lngua. Mas ele se inicia sobretudo num terceiro, pelo qual
transita.
Ele no andar mais nem se erguer mais como quando s sabia
ficar de p ou andar: bpede antes desse evento, ei-Io agora carne e
peixe. No apenas mudou de margem, de linguagem, de costumes, de
gnero, de espcie; tambm conheceu o trao de unio: homem-r. O
primeiro animal desfruta de um domnio, o segundo bicho tambm,
mas o estranho vivente que um dia entrou no rio branco que corre
dentro do rio visvel, e que teve que se adaptar, sob pena de morte, s
suas guas extravagantes, abandonou qualquer domnio.
Por meio desse novo nascimento, ei-Io exilado de verdade. Pri-
vado de casa. Morto sem sepultura. Intermedirio. Anjo. Mensagei-
12
ro. Trao de unio. Para sempre expulso de todas as comunidades,
mas um pouco, e levemente, em todas. Arlequim, j.
Nascimento do
Ele chega outra margem: antes canhoto, agora voc o encontra
destro; outrora gasco, hoje parece francfono ou anglomanaco.
Voc o acredita naturalizado, convertido, virado ao avesso, transtor-
nado. De fato, voc tem razo. Em verdade, ele habita, embora dolo-
rosamente, a segunda margem. Voc o considera simples? No, com
certeza duplo. Tornado destro, ele permanece canhoto. Bilnge no
quer dizer apenas que fala duas lnguas: ele passa incessantemente
pelas folhas do dicionrio. Bem adaptado, mas fiel quilo que foi.
Esqueceu, obrigatoriamente, mas mesmo assim se recorda. Acredita
que ele seja duplo?
Mas voc no leva em conta a passagem, o sofrimento, a coragem
do aprendizado, os tormentos do nufrago provvel, a rachadura
_ aberta no trax pelo estiramento dos braos, das pernas e da
longo trao de esquecimento e de memria que marca o eixo longi-
tudinal desses rios infernais, chamados amnsias por nossos ances-
trais. Voc o cr duplo, ambidestro, dicionrio, e ei-Io triplo ou mes-
tio, habitando as duas margens e vagando pelo meio, ali para onde
convergem os dois sentidos, mais o sentido do rio que corre e o
sentido do vento, mais as inclinaes inquietas produzidas pelas bra-
adas, e as numerosas intenes que provocam decises; nesse rio
dentro do rio, rachadura no meio do corpo, forma-se uma bssola,
ou rotunefa, de onde divergem vinte sentidos ou cem mil. Voc o
acreditara triplo?
Equivocou-se outra vez, ei-Io mltiplo. Fonte ou intercambiador
de sentido, relativizando para sempre a esquerda, a direita e a terra de
onde saem todas as direes, ele integrou um compasso em seu corpo
Tiers: terceiro, tero, outro, estranho, misturado, mestio. Preferimos esta l-
tima acepo, por fidelidade ao pensamento do autor. (N. da T.)
13
lquido. Pensava que ele estivesse convertido, invertido, virado ao
avesso, transtornado? Sim. Mais ainda: universal. Sobre o eixo mvel
do rio e do corpo, estremece, comovida, a nascente do sentido.
Aprendizagem
Ao atravessar o rio e entregar-se completamente nu ao domnio da
margem frente, ele acaba de aprender uma coisa mestia. O outro
lado, os novos costumes, uma lngua estrangeira, claro. Mas, acima
disso, acaba de aprender a aprendizagem nesse meio branco que no
tem sentido para encontrar todos os sentidos. No pice do crnio, em
turbilho, se atarraxa o redemoinho da cabeleira, lugar-meio onde se
integram todas as direes.
-.U niversal significa: aquilo que, embora sendo nico,
os sentidos. O infinito entra no corpo de quem, por muito
tempo, atravessa um rio' perigoso e largo o bastante para oferecer
essas paragens distantes onde, seja qual for a direo que se adote ou
se decida, a referncia permanece indiferentemente afastada. Ento,
o solitrio, vagando sem pertencer a nada, tudo pode receber e inte-
grar: todos os sentidos se equivalem. Ter atravessado a totalidade
concreto para entrar em abstra<[o?
Percebero os mestres que s6 ensinaram, no plenoy _a-.9,ue-
aos quais contrariaram, ou melhor, kQID ....
obrigaram a atravessar?
De fato, nada aprendi sem que tenha __
gum sem convid-lo a deixar o ninho.
Partir exige um dilaceramento que arranca
parte que permanece aderente margem do
-;hana casa e aldeia dos da
ngua e rigidez dos hbitos. Quem no se mexe nada aprende.
Sim, parte, divide-te em partes. Teus semelhantes talvez te conde-
- .. __ .-
nem como um irmo Eras nico e referenciado. Tor-
nar-te-s vrios, s vezes incoerente como o
explodiu, diz-se, com enorme estrondo. Parte, e tudo ento comea,
- - -- '. ". -'.-
14
..!
Eelo menos a tua exploso em mundos Earte. Tudo comea por
este nada .
.Nenhum aprendizado dispensa a viagem. $ob a orientao de
um guia, a fora. Parte, sai. Sai do ventre de
tua me, do bero, da sombra oferecida pela casa do pai e pelas pai-
sagens juvenis. Ao vento, sob a chuva: do lado de fora faltam abrigos.
Tuas idias iniciais s repetem palavras antigas. jovem: velho papa-
gaio. Viagem das crianas, eis o sentido lato da palavra grega pedago-
gia. Aprender lana a errncia.
Explodir em pedaos para se lanar em um caminho de destino
incerto exige um herosmo que sobretudo a infncia parece capaz de
mostrar, embora ela deva ser seduzida para encet-lo. Seduzir: con-
duzir para outro lugar. Bifurcar a direo dita natural. Nenhum gesto
da mo que segura uma raquete obedece a uma atitude que o cor-
po tomaria espontaneamente, nenhuma palavra em ingls emana de
uma forma que uma boca francesa esboaria com facilidade, olhos
bem abertos no garantem a idia da geometria, nem o vento e os
pssaros nos ensinam a msica ... s resta tomar o corpo, a lngua ou
a alma a contrapelo. Bifurcar quer dizer obrigatoriamente decidir-se \
por um caminho transversal um.JugarjgrrQra_lQ._ .So!?te- "*
tudo: jamais tomar a estrada fcil, melhor o rio a nado.
_Partir. Sair. ?m dia
var o exterior, bifurcar em algum lugar. Eis as trs primeiras estra-
nhezas, as trs variedades de alteridade, os trs primeiros
expor. Porque no h aprendizado sem exposio, s vezes
,?-O outro. ,Nunca mais ... ___
vou, por onde passar. Eu me exponho ao outro, s
Por onde, esta a quarta questo, colocada com novos dispn-
dios. O guia temporrio e o mestre conhecem o lugar para onde
levam o iniciado, que ainda o ignora mas a seu tempo o descobrir.
Esse espao existe, terra, cidade, lngua, gesto ou teorema. A viagem
para l. Mas a corrida segue curvas de nvel, segundo um desempe-
nho ou um perfil que dependem ao mesmo tempo das pernas do
corredor e do terreno que ele atravessa, cho pedregoso, deserto ou
15
mar, pntano ou parede. Ele no se apressa, de sada, em direo
meta, ao alvo, tenso em direo sua finalidade. No, o jogo da
pedagogia no jogado a dois, viajante e destino, mas a trs. O lugar
mestio* intervm a como soleira da passagem. Ora, quase sempre
nem o aluno nem o iniciador conhecem o lugar e o uso
Um dia, a qualquer momento, cada um passa pelo meio desse rio
branco, estado estranho de mudana de fase, que se pode chamar de
sensibilidade, palavra que significa a possibilidade ou capacidade em
todos os sentidos. Sensvel, por exemplo, a balana oscila para cima
e para baixo ao mesmo tempo, vibrando, bem no meio, nos dois
sentidos; sensvel tambm a criana que vai andar, quando se lana
num desequilbrio reequilibrado. Observe-a tambm quando mergu-
lha na fala, na leitura ou na escrita, desembaraada e embaraada
entre o sentido e o no-sentido. Quo hipersensveis, afetados, rejei-
tando a afetao, fomos no momento de transpor todos os portais da
juventude. Esse estado vibra como uma instabilidade, uma metaesta-
bilidade, como um mestio no excluso entre o equilbrio e o dese-
quilbrio, entre o ser e o nada. A sensibilidade habita um lugar central
e perifrico: em forma de estrela.
Voc j jogou alguma vez no gol de seu time quando um adver-
srio se preparava, bem de perto, para um chute direto? Descontra-
do, como que livre, o corpo faz a mmica do particpio futuro, prepa-
rado para se distender: para o alto, rente terra ou meia altura, nos
dois sentidos, esquerda e direita; na direo do centro do plexo solar,
uma plataforma estrelada lana seus ramos virtuais em todos os sen-
tidos ao mesmo tempo, como um buqu de axnios. este o estado
de sensibilidade vibrante, desperta, alerta, atenta, chamamento para
a fera que rasteja, espreita, espia, solicitao em todos os sentidos
para toda a admirvel rede de neurnios. Corra para a rede, pronto
No original, tierce place. O tiers-point, em arquitetura, o ponto de intercesso
de dois arcos; em perspectiva, o ponto arbitrrio para onde convergem as
diagonais. O sentido de terce place, intercesses, _ das
__mestiagens. (N. da T.)
16
1
para o voleio: ainda no particpio futuro, a raquete se destina ao
mesmo tempo a todos os golpes juntos, como se o corpo, colocado
em deseqUilbrio por todos os lados, apertasse uma bola de tempo,
uma esfera de sentidos, e liberasse a partir do trax uma estrela-do-
mar. No centro da estrela se esconde o lugar mestio, que outrora
chamei de alma, pressentida na passagem de um desfiladeiro dificil
de atravessar. Ele habita esse plo da sensibilidade, dessa capacidade
virtual, ao mesm tempo que se atira e se retm, quer dizer, se lana
pela metade, ao longo dos ramos flutuantes do astro que explora o
espao, como um sol.
Crebro
Se o corpo ou a alma sabem disso, o crebro no o ignora. Durante o
sono, como durante a viglia, ele vibra e salta em todos os sentidos ao
mesmo tempo, de modo que a curva complexa que deixa sobre o
plano do eletroencefalograma exprime ou imita a sua autonomia em
bola, em buqu, ou em bilhes de estrelas; sob a abbada craniana
cintilam constelaes. Multiplamente sensvel, ele se aproxima da
rede para o voleio; ou, guardio exmio, prepara-se para receber bo-
las de todos os ngulos do espao e em todos os momentos do tem-
po ... balana generalizada, criana audaciosa que se lana numa em-
preitada incerta, boca que vai gaguejar entre o barulho e a palavra,
entre sim e no, o claro e o escuro, a mentira e a verdade, lngua,
lbios e palato abrigam este mestio incluso. O crebro se ativa para
esquadrinhar o espao-tempo: como? Ao que tudo indica, estando l
e c ao msmo tempo, contnua e descontinuamente. Saltando ou
cintilando, ele habita esse lugar mestio, descoberto pelo nado que
atravessa o rio.
Assim como a inteligncia, a promessa de inveno ... permanea
por muito tempo como esse jogador, essa criana, esse vigia, que
balana ou nada, essa virgem que se prepara para decidir. Corpo,
msculos, nervos, sentidos e sensibilidade, alma, crebro e conheci-
mento, tudo converge para esse lugar mestio, em forma de estrela:
17
cuid(;1do esquerda, passe pela direita, ateno para o alto e corra por
baixo ...
,Ele, o lugar mestio, se no tempo e no espao., No meio
da janela que atravessa, o corpo sabe que passou para fora, que acaba
de entrar em outro mundo. O espao e nossas histrias so densos
em tais marcos: eixo do rio, do brao do mar que se ultrapassa ao
nadar. Aqui parece acabar a aventura, quando a viagem atinge um
estdio; mestio incluso certamente, uma vez que aqui alguma coisa
termina e no termina ao mesmo tempo. Eis o local da parede, vari-
vel de acordo com o dia e com aquele que a escala, onde este desco-
bre, certa manh, que passar, mesmo que a tempestade exploda.
Mestio incluso: no chegou, porm conseguiu. Eis o momento de
trabalho em que, de sbito, como por graa, tudo se torna fcil e no
se sabe por qu. Bem no meio, a obra se encaixa. Eis o instante em
que anos de treinamento, de vontade, de persistncia, de repente
entram e se instalam no esquema corporal ou na naturalidade cate-
gorial; neste meio-dia, comeo e termino ao mesmO tempo, sei que
falarei chins mesmo que no o fale ainda, que resolverei as equaes
do problema, recuperarei a sade, terminarei a travessia. To real
este patamar, que s vezes engana: eis a o cume onde comea a
corrida, enquanto o debutante cr que ela finalmente esgotou seus
obstculos; falso meio, s vezes mestio imaginrio.
Nascimento e conhecimento
No sei o que me leva a dizer que essaS provas ou exposies
maiores da pedagogia - estilhaamento do corpo em partes, expul-
so para o exterior, escolha necessria do caminho transversal e para-
doxal, e enfim passagem pelo lugar mestio -, ns j as suportamos
nas primeiras horas de noSSO nascimento, quando foi necessrio, no
sem alguma efuso de sangue, ou esmagamento da cabea, nos arran-
car de um corpo ao qual o nosso se integrava, pois vivamos apenas
como parte do corpo materno, sofrer um empurro irresistvel para
18
r
o frio irrespirvel do lado de fora, ter que tomar um caminho que
nenhuma opresso anterior previa, passar enfim por uma garganta
apertada e recentemente dilatada, pronta para se fechar de novo, sob
o risco de nos abafar, de nos estrangular, de apertar o cordo em
volta do pescoo, sufocar, morrer de asfixia no conduto obstrudo,
estenosado, apertado, fechado ... de modo que, uma vez que est vivo,
cada um, como eu, sabe disso, de tudo isso, dessa agonia de nascer,
essa morte para viver em outro lugar" isto , aqui, em outro tempo,
quer dizer, agora, e que, uma vez que est a, de p com o corao
arfando, j sabe e, portanto, j possvel adaptar-se, apren-
der: morrer-viver como mestio incluso.
Ns todos j passamos por esse colo, esse lugar estranho e natu-
ral da montanha, onde o mais alto dos pontos baixos se iguala exata-
mente ao mais baixo dos pontos altos. J aprendemos que o fim de
uma agonia podia de repente equivaler ao ltimo captulo da vida.
Nascimento, conhecimento: que exposiO mais terrvel ao mais
imenso dos riscos?
No curso dessas experincias, o tempo no brota nem da posio
- nela est o equilbrio das esttuas -, nem da oposio, segunda
estabilidade, da qual nada pode advir, nem da relao das duas, arca
ou arco esttico de imobilidade perene, mas de um desvio do equil-
brio que arremessa ou lana a posio para fora dela mesma, para o
desequilbrio que a exclui de seu repouso, exatamente de um desa-
prumo: a lngua usual o exprime expressamente pela palavra exposi-
o. No eixo do rio cuja corrente se inflama, o nadador, como quem
enfrenta urri' risco qualquer, se expe.
O tempo se expe e, no espao, brota de lugares onde no deve-
ria estar. No espao se disseminam stios de exposio onde o tempo
se estende.
EJicorregadio, o ,lugar mestio expe o passante. Mas nada se
passa sem este escorrego. Ningum jamais se modificou, nem coisa
,3.1g
um
a DO mundo, sem se recuperar de Toda evoluo e
todo aprendizado exigem a passagem pelo lugar mesti50. De forma
19
que o conhecimento, seja pensamento ou inveno, no cessa de pas-
sar de um lugar mestio a outro, se expondo sempre _e
que conhece, pensa ou inventa logo se torna um passante fl?es:
tio. Nem posto nem oposto, incessantemente exposto. Pouco em
equilbrio, e tambm raramente em desequilbrio, sempre desviado
do lugar, errante, sem moradia fixa . .-Caracteriza-o o no-lugar, sim,
o alargamento, portanto a liberdade ou, melhor ainda, o desaJ'rumo,
-;'ta condio constrangedora e soberana da
Eis j quase descrito o mestio instrudo, cuja instruo jamais
termina: naturalmente, e tambm atravs de suas experincias, ele
acaba de entrar no tempo; deixou seu lugar, seu ser e seu ali, sua
aldeia natal, excludo do paraso atravessou vrios rios, consciente de
perigos e riscos; eis que agora decola da prpria terra: habitar ele o
tempo?
No, ningum habita o tempo, porque ele exclui os mestios e
desaloja todo mundo imediatamente. por isso que todos vivemos,
a partir de ento, desalojados.
Escrever
Durante esta viagem de pedagogia, ento, no aconselharei ningum
a deixar que uma criana permanea canhota vontade, sobretudo
para escrever. Trabalho extraordinrio, o escrever mobiliza e recruta
um conjunto to refinado de msculos e terminaes nervosas que,
em comparao, qualquer ofcio manual fino, como a ptica e a re-
lojoaria, grosseiro. Ensinar esta alta capacidade a uma populao
torna-a, em primeiro lugar, uma coletividade de pessoas destras -
observe-se de passagem esta palavra, pela qual os mestres destros
fazem a sua publicidade para hemiplgicos. Eles podero vir a ser
cirurgies do crebro, mecnicos de preciso, qualquer coisa; desco-
brir a alta preciso muscular e nervosa abre para a exatido do pen-
samento.
Estrear neste mundo novo invertendo o corpo exige um abando-
no perturbador. Minha vida se reduz talvez memria desse mo-
20
l'
menta lancinante em que o corpo explode em partes e atravessa um
rio transverso, onde correm as guas da lembrana e do esquecimen-
!o. l!ma parte arrancala, permanece. Descoberta e abertura
cuja cicatrizao diferenciada ser descrita, a seguir, por toda uma
vida profissional ligada escrita.
Essa cicatriz seguir com fidelidade a antiga sutura da alma e do
corpo? O canhoto dito contrariado se torna ambidestro? No, mais
provavelmente um corpo cruzado, como uma quimera: continua ca-
nhoto para a tesoura, martelo, a foice, o florim, a bola, a raquete,
para o gesto expressivo, salvo para a sociedade - neste caso, o corpo
-; nunca deixar de pertencer minoria desajeitada, sinistra, como
se diz em latim - viva a lngua grega que a diz aristocrata! Mas des-
tro para a caneta e o garfo, aperta a mo certa ao ser apresentado _
aqui a alma -; bem educado a vida pblica mas canhoto na ca-
-'rcia e na vida privada. A esses organismos completos, as mos cheias.
/"---Como adquirir enfim tolerncia e no-violncia, seno colocan- - '\',
i do-se no ponto de vista do outro, do Outro lado?
""'------- No aconselharei ningum a privar uma criana dessa aventura,
da travessia do rio, dessa riqueza, desse tesouro que nunca consegui
esgotar, pois e!e virtualmente a o, universo da
t,?lerncia e o cintilamento solar da ateno. Os chamados canhotos
contrariados vivem em um mundo que a maioria dos outros s ex-
plora pela metade, Conhecem limite e privao, enquanto eu sou
completo: hermafrodita lateral.
Sexo
Apenas alguns viventes desfrutam de um sexo, enquanto tudo no
mundo, inerte ou vivo, munido de um sentido. Este vai mais longe,
mais fundo, que aquele. Alm disso, esquerda e direita se dizem mais
coisas do que macho e fmea e separam mais universalmente do que
a distino por gnero.
Os astros giram e avanam orientados, como as partculas em
torno do ncleo do tomo, Cristais e molculas so lateralizados,
21
com simetrias e assimetrias altamente refinadas. Sentido e orientao
no tm origem nos homens nem em suas preferncias, suas inclina-
es, mas no mundo inerte antes do vivo, e no vivo antes da cultura.
As coisas se inclinam: campos de fora, auroras boreais, turbulncias,
ciclones, manchas sobre o planeta Jpiter ... o universo nasceu, diz-se,
de uma ruptura de simetria. O sentido percorre portanto a imensido
do cu, entra na mquina do detalhe e cavalga a seta do tempo. De-
pois passa para as conchas, levogiros, dextrogiros, aos crustceos que
ostentam uma pina grande ao lado da outra, menor, nisto heter6ce-
los, em seguida a todos os corpos, aos nossos, aos olhos, s abas das
narinas, raiz dos cabelos e ao equilbrio algo rompido do peito fe-
minino: o seio esquerdo sobrepuja o seio direito, pelo menos estatis-
ticamente. Atravessa nossos corpos e se coloca nos objetos fabrica-
dos. O canhoto se infiltra com dificuldade na floresta da tecnologia
destra.
A orientao convm enfim a nossas preferncias, a nossas divi-
ses culturais, os vermelhos no poder e os brancos como rus, ou ao
contrrio, pelo hemiciclo das revolues. A poltica, pequena, no fim
da fila, loucamente recomea. Se o tribunal da sociologia me conde-
nasse por no ter dito que o mundo s6 se orienta pela projeo de
suas divises ou pela imposiO de suas escolhas, acho que responde-
ria: e, contudo, ele gira. O mundo lateralizado em toda parte; ele
assim.
A orientao vai do local ao global e do pequeno ao grande,
tomos e astros, da matria inerte ao ser vivo, cristais e conchas, da
natureza cultura, do puro ao aplicado, do espao ao tempo, das
coisas s lnguas: atravessa tudo, at mesmo, sem dificuldade, as pas-
sagens que a filosofia considera as mais delicadas.
Ora, a diviso por gnero diz respeito somente aos viventes se-
xuados, a alguns papis sociais, s vezes linguagem. Pouca coisa, em
suma.
Todo mundo diz, sem saber o que repete, que a bssola, indi-
cando o norte, permite que nos orientemos. E se eu, aquitnio, cali-
forniano, habitante do sudoeste, decidisse me orientar pelo sul? Ou
22
.L
l'
ento: v sempre em frente, nos dizem, sem reparar que a retido
recomenda dobrar a estibordo. Como pode a justia se apresentar
sob a imagem publicitria da balana equilibrada, quando o prprio
termo 'direito' a faz pender sempre para uma mo? Neste caso, leva-
do pela inclinao, o dizer no inclinado pelo gnero.
Em suma, o sexo pesa menos que o sentido, ou o macho que a
direita. Costumamos viver mais mergulhados no turbilho latera-
lizado que na emoo sexual. Esta comparao mostra a experincia
do canhoto, contrariado ou completo, no interior da primeira parti-
lha, como mais intensa e mais ampla que a experincia mtica, do
andrgino, no interior da segunda. O canhoto vai at o objeto, dos
cristais s estrelas, aberto para o mundo, por conseqncia cognos-
cente. O hermafrodita se detm na carne, voltado sobre si, forosa-
mente narcisista.
Nada, ento, na natureza inerte ou animada, nem na cultura da
linguagem ou da imagem, se refere a um espao ou a um tempo
homogneos ou istropos, reversveis, que se possa repartir vonta-
de, de maneira perfeitamente equilibrada ou simtrica. No existe
indiferena balanceada. No h centro nem eixo, inencontrveis ou
ausentes.
A orientao pode ento ser considerada originria, invariante,
irredutvel, to constantemente fsica que se torna metafsica. Por
meio dela, universal, estabelecemos comunicao com o universo
que nasceu, repito, desse clinamen antigo, rejuvenescido por nossas
cincias cOI]:temporneas sob a denominao de ruptura de simetria.
Leibnz chega a identific-la com a razo de ser das coisas: elas
existem em vez de nada. Pode-se assim descrever o princpio da razo
como uma diferencial de sentido e desenh-lo por meio de uma pe-
quena seta partindo do centro ausente e inencontrvel para se dirigir
no importa para onde. Sua inclinao surge ento como um raio,
em lugares e tempos improvveis.
Donde se conclui que o ambidestro no tem razo de ser: nulo,
abaixo do sentido, no zero, indeciso, banal, no codificado, doente
23
de no ter carncias. O destro ou O" canhoto vivem num semimundo
e deitam-se num sentido, de um lado, virados sobre uma metade.
Fracionrios, mas justificados pela razo de ser: cegos, alm disso,
para seu complemento morto, privados do liame virtual com o outro
sentido; o macho procura a fmea que atrai, e o sexo brilha com o
desejo do instante somador, enquanto a partilha do sentido despro-
vida disso. Nada permite direita esperar um encontro com a es-
querda, o pontilhado at ela se apaga. O hermafrodita, raro, se en-
contra to freqentemente quanto os coitos mesmo frustrados, ou as
fmeas grvidas ... enquanto o corpo completo dorme tranqilo, pois
no pode virar do avesso, nem se converter jamais. Universo pleno,
um ou soma de metades.
O ambidestro: neutro; os outros dois: metades; s o canhoto
contrariado perfaz o pleno e a unidade. Zero; duas metades; um in-
divduo indiviso. Um mundo, ou antes um universo, fragmentos ou
nada. Quem no canhoto completo se v constrangido anlise,
porque vive entre a diviso e a destruio.
Quem se sente pleno no v, nem experimenta, o limite. Assim,
no compreende o corte, a falta, o desejo desenfreado de transgredir
uma fronteira inacessvel que ele se pergunte por onde passa. Levei
muito tempo para compreender minha sorte inexprimvel em no
conseguir compreender essas extravagncias.
Como aquela que consiste, por exemplo, em repetir que todas as
sociedades se fundamentam na troca. No: a seta simples, assim-
trica, mais elementar, d ao parasita, sem discusso, o primeiro lugar,
perigoso, trgico, e x p o ~ t o Precisa-se do direito, no mnimo, e da
moral, no mximo, para construir, pacientemente, a seta dupla das
trocas globalmente equilibradas. Em todo canto e sempre, a orienta-
o comea; falta ainda construir os diferentes balanceamentos. A
troca, portanto, fica em segundo lugar.
Da escrita pena, nossa poca passa ao teclado. Nele, a quantos
compositores a mo esquerda faz falta! Esta acompanha, dizem eles,
servial, escrava, sombra da outra. No: as mos fazem amor, ao
24
entrelaarem as notas; que barbrie to habitual deixar uma delas
quase passiva! Andrginas s vezes, em miraculosas partituras que
nos fazem ouvi-las verdadeiramente bilateralizadas.
O prprio piano ilustra o corpo completo, bem plano, codifica-
do em toda parte, o corpo se assemelha mesmo a esta mesa. Teclados
cortados, mesas quebradas, dos quais s se podem ler os fragmentos
ou as anlises, pianos baixos, cujo alto se perderia no cinza, apagado
pelas nuvens, instrumentos agudos, em que o baixo se perde na som-
bra profunda, eis os canhotos ou os destros. Ora, amanh no escre-
veremos mais com esta nica mo que segura o lpis ou a caneta
sobre uma pgina, orientados ou desorientados, mas com duas mos
complementares sobre teclados ou outros consoles. A questo da es-
crita est mudada: quem sabe, teremos que formar tambm destros
completados por sua esquerda. Estamos saindo da civilizao reta do
estilo para entrar na dos teclados, planria, volumosa e descentrada.
Isso nos mudar, corpos e almas, e isso transformar o tempo.
Quimera
Onde soa o centro do piano? Em torno do terceiro l? Oua o xis ou
o ixe da escala ascendente da esquerda para a direita, e encontre, nas
proximidades de algum meio, a cascata de notas escorrendo do alto
para o baixo; escute a quimera e o ponto de encaixe. Neste ponto da
escala, vernal, jaz a encruzilhada, sob a esttua de Hermafrodite; este
lugar primaveril se encontra no corpo, eu o conheo como dor e
como fonte, cicatriz e origem, tesouro e dobra secreta; uma atadura
por ele pasSa, como o curativo de um segundo caminho e deste como
ligadura do primeiro. No rasgue a bandagem da quimera.
Nossos ancestrais procuravam justamente o lugar misterioso on-
de o corpo se ata alma, os laos e as dobras desse n.
O canhoto contrariado se parece com uma quimera que levasse
sua alma direita, porque escreve do lado das obras de cultura, e su
corpo esquerda, porque ali segura a sua ferramenta de trabalho para
ganhar a vida; eis um mundo contnuo, passando por suas entranhas,
25
i
, ,
que une o vivente cultura pura, mo para trabalhar a terra ou catar
o gro, mo para escrever com estilo ou compor msica, entron-
camento para o lugar vernal, onde o trabalho corporal encontra no
penso, como prolongamento normal, o pensamento altamente abs-
trato.
Esse monstro completo, quero dizer, normal, unicrnio, esfinge,
mulher-serpente ou sereia, constri um universo conexo, passando
pelos encaixes do centro, que une a vida privada ao coletivo exterior,
mo para a carcia, lado para o sinal e a saudao, onde se tocam e se
misturam os espaos de jogo e a gravidade refinada, canhoto na bola
e destro na caneta, passagem pelo ponto decisivo, onde o sentido de
sensao se transforma em sentido de significao, onde a solido se
abre, onde a ateno livre torna-se produtiva, onde o riso se mesclar
com lgrimas, onde o rigor se refina em beleza.
O canhoto contrariado-completado escorrega constantemente
sobre o penso ou a conexo, pratic,a,cem vezes por dia a escolha pela
qual o suor industrioso se dirige s singularidades da arte, pelo qual
o trabalho medocre e insistente se expande em obra, pelo qual as
fermentaes putrescentes da terra se extinguem no universal sob
forma pura. <Leogre' ou <tigroa', sado do tigre e ,da leoa, ou da tigreza
e do leo, mestio, Arlequim, animal cruzado, alado desde sempre
destra acadmica, continuando canhoto para a vida banal e de base,
ele liga, ata, costura, articula, cicatriza, harmoniza, teve que passar
por cem mortes e chegar aqui, dilacerado sob a bandagem derrisria,
alma-lago de lgrimas no centro do trax, constri seu jogo de duas
mos, passando, repassando, acariciando e marcando este lugar do
meio curado, vernal, novo, slido, sereno, mais jovem que a infncia
envelhecida.
Deve-se fazer uma cruz para localizar um centro e um caminho
penoso para chegar nele. Uma s reta ou um s lado no bastam.
preciso um corpo cruzado, passando pelos rgos do centro, corao,
ventre, plexo solar, sexo, lngua, nariz de sapincia e de sabor, atra-
vessando o reconhecimento dos lugares axiais, para que a lngua co-
mece de verdade, para que aparea o sexo; como podem, um canhoto
26
ou um destro divididos, localizar seu centro, deitados como esto ao
longo do mesmo leito? Um leito, para os ventos, no forma uma rosa.
Precisa-se de muitos, e tambm que eles se cruzem no centro do
compasso, para que o sentido desabroche. Tero um sexo, uma ln-
gua, os infelizes, como ser que eles ocupam a rosa multiplamente
cruzada de seus crebros?
Uma borda do corpo bem assinalada, to fortemente existente
que se toma como referncia, atrai para si, faz perder o centro; pode-
ramos cham-la de borda de gravidade, sempre levada, como uma
bola descentrada, a tocar o solo do mesmo lado: dolo budista senta-
do sobre as pernas cruzadas. Mesmo a massa global, forte e escura ali,
se desvanece pouco a pouco na neblina, medida que nos afastamos
desse lado, at flutuar, quase ausente, seu peso leve, em tom desbota-
do. O lateralizado se parece com um estandarte tremulando ao vento.
Seu corpo tem terras raras, lugares desconhecidos, locais onde o ma-
pa ainda est em branco. Como dizer de outro modo, seja qual for a
iluminao ou o valor dados s nuances, que seu centro, claro-es-
curo, participa da conscincia e do inconsciente? Lngua entalhada,
sexo cortado. Ou o sexo cortado, seco, ou ele cruzado, intersec-
o. Corpo cortado ou corpo cruzado no definem um centro equi-
valente, nem sequer o mesmo animal.
As duas bandas ou caminhos se encontram no lugar de inter-
seco, mestio, simples, duplo e cruzado: ausente, excludo, podero-
samente presente. O crebro simples, duplo e cruzado, como um
quiasma, como uma quimera: atravs dela, modelo do corpo, que
pensamos, pelo menos organicamente. O canhoto contrariado tem
um corpo modelado por seu prprio crebro, organismo completo
que remete continuamente ao modelo central, em cruz. E a todos os
rgos axiais.
Da mesma forma simples, duplo e cruzado, o sexo assim se no-
meia: seco, porque sua diviso deve fazer aparecer o claro e o es-
curo, o consciente lado forte e o inconsciente lado fraco, no caso
habitual das pessoas lateralizadas; ou ento podemos entend-lo no
27
sentido de interseco, pela dupla orientao. A grande cruz da qui-
mera desenha e produz essa interseco que, mais ainda, quer dizer
produto. Descoberta luminosa: o sentido produz o sexo, os dois sen-
tidos so seus fatores. O desejo, no meio, o encontro agudo, incisi-
vo, vivo, desses dois sentidos que formam o mundo e nos fazem
participar dele.
O crebro simples, duplo e cruzado, interseco e produto. O
sexo simples, duplo e cruzado. A lngua, no centro, simples, dupla
e cruzada, sopra sempre dvida, e tripla, feita para traduzir) cantar o
quimrico. Fendida, a lngua se bifurca, fala com duas vozes, com
dois sentidos. Ela tambm produzida pelo sentido. Baixa, aguda,
forte ou fraca, clara, obscura, verdadeira ou falsa, rigorosa, imagin-
ria, mentirosa ou leal, estrangeira ou verncula, atraente, repugnan-
te, sempre polarizada. Sensata, insensata. Mas, de repente, passando
de um sentido ao outro, e depois ao no-sentido, atravs de um lugar
mestio.
Dobra e n
Sei l, mas sei o que se passa no centro. Conheo o envoltrio, no-
meei-o penso ou curativo, cruz ou cruzamento. Qual faixa fica por
cima, qual por baixo?
Essa pergunta elementar se coloca quando seguramos nas mos
duas hastes e nos preparamos para fazer um n, antiga prtica de
marujos e teceles, ou teoria dos grafos, esta bem nova. Por baixo,
por cima. como se brincssemos de main chaude. '" Penlope, tecel,
entrelaa as malhas assim. Direito, avesso. Todo n complexo se des-
mancha em tantas dobras locais onde a mesma questo- se recoloca.
Por cima, por baixo. Outra maneira de ligar o esquerdo e o direito,
basta inclinar-se um pouco e logo se percebe isso. As duas mos te-
Na brincadeira de main chaude, duas crianas testam seus reflexos, uma ten-
tando retirar sua mo da posio inferior e acertar um tapa na mo da outra,
originalmente colocada sobre a sua. (N. da T.)
28
"
_.
cem ou tricotam juntas, complementares, como ainda agora corriam
sobre o teclado. Simples e duplas, elas se cruzam: em que sentido?
Antes de ensinar as crianas a usar o console e o teclado, ensine-as a
tecer ou tricotar.
Ora ento, caso sigamos atentamente a linguagem, o termo com-
plexo, vindo da dobra e do n, designa e at mesmo descreve uma
situao um pouco mais entravada que a multiplicao. Dedica-
da somente ao nmero, esta no se importa com o lugar, enquanto
aquele o leva em conta. O complexo designa um conjunto de dobras
quando passa da aritmtica, simples desconto, para a topologia, que
no despreza as dobraduras.
Afinal, o complexo sempre descreveu tal situao, e em fsica,
por exemplo, uma rede, eltrica ou de outra espcie, na qual nume-
rosos fios passam alguns por cima de outros, e outros por baixo de
alguns, portanto estes esquerda ou direita daqueles, como se quei-
rai desenho de topologia combinatria, n generalizado, denomina-
do complexo pela primeira vez por J .R. Listing, em lngua alem, e
utilizado por Maxwell em sua teoria dos campos eltricos. Tal rede de
fios ou de foras, interceptada algumas vezes pelas resistncias ou
pelas capacidades, chamada comumente pelos fsicos de ponto de
Wheatstone.
Quando esse ponto se equilibra entre dois bornes, nenhum apa-
relho de medio o consegue detectar. O complexo, ento, inobser-
vvel: nem visto, nem conhecido. Existindo, porm, enorme e emba-
raado s vezes, entravado, entrelaado, entretanto mergulhado em;
por essa nulidade da diferena de potencial, ele s existe em potncia,
como uma memria negra, a meio-caminho entre a presena e a
ausncia, o esquecimento e a recordao, a energia local e a incapa-
cidade global. Ali descoberto, o inconsciente, rede admirvel de ma-
lhas e de ns estranhos, faz parte da famlia lgica dos mestios. Se
existe, jaz nas proximidades do meio e, como ele, tende a se perder no
negrume da memria, e depois a ocupar todo o espao e todo o
tempo.
29
Primeiras recordaes
Dia. Durante o dia, Penlope tece, compe, monta a sua tapearia,
segundo o carto perdido de que ningum fala, mas que segue o
plano e mostra cenas da viagem, ilha de Circe, Nauscaa que joga a
bola na areia da praia. Palifemo cego no interior da caverna, as Se-
reias de seios nus cercando o estreito do encantamento ... pea aps
pea, dia aps dia, tear para a amante, etapa para o amante, ria para
o aedo ou o trovador, dcima de versos para Homero, como se todos
os quatro produzissem juntos, sob a iluminao diurna: um, a sua
corrida vela, a outra, a cena sobre a tela, o escritor sua pgina bem
alinhada, o cantor sua partitura de melodia, a cada um sua tarefa
cotidiana.
Seguimos, escutamos, lemos, vemos os diferentes quadros, mer-
gulhados no encantamento da msica: a feiticeira fatal, a jovem com
suas amigas, o monstro caolho e, enfileiradas sob o vento da melodia,
lbios abertos pelo vento silencioso das vozes, as mulheres-peixes de
busto alto elevado acima d'gua, iluminadas pelo sol.
Noite. Ora, quando desce o crepsculo, quando o marinheiro
empina suas velas e a lira se cala, quando a noite probe o gnio de
escrever e o leitor de ler e ver, diz-se que Penlope desfaz a pea
tecida, apaga Circe, depois sua ilha, a bola desaparece antes dos bra-
os de Nauscaa, o Cclope perde seu nico olho: os fios se desatam,
o tecido desaparece, as notas musicais caem da pauta que se desfia. A
sombra carrega os fantasmas, a melodia involui para o silncio ... no
se vem mais as Sereias nem a boca fona e musical nem os seios
sedutores representados acima da espuma.
Esse desatamento significa que no precisamos nem de tela nem
de mapa nem de partitura gravada nem de poema escrito nem, por
certo, de memria. A vida nos basta e nossas negras entranhas. O que
foi tecido ontem, as cadncias e as estrofes penetraram bem ntidas
na nossa carne e no esquecimento obscuro, enterradas vivas na som-
bra do corpo ou na penumbra da alma, na noite do tempo, sem
30 -"
tomar lugar, no mais embaraosas que um brao ou um rgo qual-
quer. Pode-se desfaz-las sem dano. Elas continuam a sem estar a. A
noite se recorda do dia sem o conter; um nada lembra alguma coisa;
a memria, musical, no ocupa espao. As vozes silenciam e ento
trabalham, no escuro, para a clara inteligncia.
Nossa flexibilidade contm a tapearia demolida, os cartes au-
sentes e a melodia tcita, sem outro estorvo alm dos msculos, dos
nervos, do corao. Derretida, a recordao se faz carne: ela semi-
ressuscita, j vibrante, do mar negro.
Manh. Creio jamais t-las ouvido cantar, nenhuma velha av
me contou sobre elas, vi somente uma vez esse perfil fugaz, li apenas
um resumo malfeito; entretanto, meu corpo, esta manh, sem difi-
culdade, reconstitui, surgidas do mar e de suas grutas profundas, as
ovelhas que saem, enormes, do antro escuro do monstro caolho, a
inquietante Circe que faz emergir marujos de porcos imundos, a bola
que, danante, descreve um arco, para fora do amontoado em que se
acotovelam as companheiras de Nauscaa, as Sereias mudas, de peito
alto sobre as ondas cantantes.
Todos ressuscitam do tmulo vazio, dos fios desmanchados, dos
versos apagados, do silncio, de meus flancos, da ausncia, da carne
calma e palpitante, de meu trax sonoro saindo do mar negro.
Tu que escutas ou vs essas figuras surgirem da sombra sob a luz
refinada da msica, da narrativa escandida ou do ritmo do tecido,
esquece-as sem hesitar, desfaz em ti esta noite sem pena os fios que as
aprisionam ou as notas e as palavras que as evocam, vais cantarolar
um dia ~ as tuas netas, compreendendo enfim, nessa noite, o que
aprendeste outrora cegamente: a fada mgica e uma mocinha ing-
nua jogando bola, um caolho perigoso ou uma vtima cega e, tcitas,
as Sereias canoras de seios alvos acima d'gua. De cor.
Esquecidas em nossos corpos, as Sereias se recordam; cantam o
poema. Sem espao, a msica prende a ns a ilha sem memria.
Diludo na carne, sem deixar qualquer trao, o lugar mestio, em
torno do qual bate o ritmo e vibra a msica.
31
I'
!
Roscea
Treme e vibra no tempo o que se passa no centro.
O voleador e o goleiro sabem esperar e preparar ao mesmo tem-
po e no instante preciso a queda baixa, o pulo fulgurante para um
ponto longnquo, o lance rpido e curto, o salto em altura, o desvio
brusco se o ataque vem de frente ... esquerda, direita, acima, abaixo,
como seus membros conseguem se desatar? Como, eu no sei dizer,
mas sei que o corpo sabe faz-lo, porque dorme e vigia tranqilo.
Ele se coloca em desequilbrio, em desvio, por todos os lados.
Sabe, portanto, prestar ateno. Livre de sentidos. Suas hastes desata-
das, flutuando, com todos os nS abertos e no cortados, braos e
pernas em branco, cabea vazia; circular como uma rotunda, alto
como uma plataforma de causalidade nula, ele se torna, ouso dizer,
possvel. Imvel, com a potncia de mover-se. A tapearia de ainda
agora se desfaz. Dir-se-ia a mancha clara, irradiada em todos os sen-
tidos, da roscea de uma catedral.
Atento, na espera, o corpo se coloca. Os filsofos chamam de
tese o ato de colocar: um objeto, um fato, uma afirmao verdadeira.
O corpo no se coloca como uma pedra ou uma esttua que se imo-
biliza segundo as leis da esttica, repousando sobre seu pedestal e em
torno de um centro de gravidade, estvel, equilibrada, abandonada s
regras do repouso. H quem defina o movimento como uma srie de
equilbrios, como uma seqncia de repousos.
O corpo parece esttua quando dorme e torna-se uma aps a
morte. Nos dois casos, ele repousa, algumas vezes colocado sobre um
dos lados. Canhoto do lado esquerdo, destro do outro. A orientao
desempenha ento o papel de uma segunda gravidade. De p, sinto
minhas pernas pesadas e minha cabea bastante leve. Ps de pele s
vezes calosa, idias voando, palavras emitidas por um sopro. Como
se a sustentao produzisse por si s partilhas longamente disputadas
na arena dos filsofos. O espiritual participa do sopro, leve, o real do
pesado, volumoso. No por um vago sentimento do prprio corpo
que oS teimosos se batem?
32
I
l-
I .
Ora, se O corpo parece esttua, por seu peso dirigido para baixo,
com essa esttua ele esculpe uma segunda, por sua lateralizao para
a direita ou a esquerda. Ele repousa sobre seus ps, mas puxado para
um lado. Seria preciso desenhar uma componente oblqua que daria
a vertical verdadeira do vivente permanentemente atrado por essa
diagonal, que formaria com a normal o ngulo da sua prpria queda.
Tudo pende e se expe do lado em que ele cair.
Quando voc considerado realista, dizem que tem os ps na
terra. Os ps, no as mos nem a cabea. O importante jaz embaixo.
Esquecem-se de indagar que p primeiro: esquerdo ou direito? Qual
dos dois, nico e bem determinado, voc j tem em sua cova? A est
com propriedade a esttua do corpo prprio, inclinada como um
colosso moda antiga, uma perna projetada para a frente, para dar a
iluso de andar. A est sua tese habitual: o repouso. Ele, aquele p na
frente, dorme estirado de um lado. A esto as foras da morte.
Ao contrrio, ele se levanta, desperta: atento, espera. Sado do
repouso, no mais se abandona: aberto a qualquer eventualidade. O
que vir pode chegar de qualquer direo no horizonte. Cuida ento
de apagar todas as foras que faziam de si uma esttua colocada, uma
tese esttica. Contudo, no se move, mas anula o ngulo de queda
fatal, apaga o melhor que pode sua gravidade; inundando de subjeti-
vidade sua elasticidade muscular, esquece rpido que se inclina num
sentido e se coloca diferente, o jogador de tnis subindo rede para
o volejo, o goleiro em estado de alerta, vigilante. Preenche seu espao
equivalentemente: alto, tanto quanto baixo, direita como esquerda,
deixa suas preferncias e determinaes, abandona suas pertinncias
e tanto metllor o faz se muitas vezes atravessou o velho rio branco.
Ei-lo corpo completado.
Donde se v que o teimoso, que grita pela esquerda ou pela direi-
ta, ou pelo baixo real ou pelo alto espiritual, carece verdadeiramente
de ateno. Ele no fica, como um filho um dia pediu ao rei seu pai,
esquerda e direita. O vigilante que espia, ou o pesquisador aplica-
do, em suspenso, torna-se logo um canhoto contrariado.
Este, ao invs, presta sempre ateno, pleno de virtualidade,
33
transbordante de possibilidade e de capacidade; todo em potncia, ao
p da letra, ele se expe em todos os sentidos, como um pequeno sol.
Durante a sua paixo, apagou todas as suas determinaes, ou me-
lhor, as completou. De nenhum modo anjo, nem fera, pois a dupla
negao produz um neutro estpido e nulo, mas anjo e fera juntos,
vagando sem pertinncia, corpo misturado, ascendendo ao possvel.
O existente possvel, em primeiro lugar. O corpO entra em posse de
sua capacidade. Exatamente, ele se eleva em potncia, sobe a mon-
tante de toda passagem ao ato. No falamos aqui do corpo indeciso,
embora este se ponha a montante de toda deciso, embora preceda o
corte. A indeciso exprime uma doena de jusante e a pr-deciso a
potncia da nascente. Pr-eis, * diz-se na melhor linguagem: virgem.
O corpo atento embranquece como a neve virginal. A ateno e a
espera se voltam para a brancura. O corpo inteiro busca a vizinhana
do centro para se enovelar o mais possvel. Impossvel? Ele habita
esses pequenos modelos reduzidos: crebro, sexo, lngua, pequenos
corpos cruzados. Procura a dobra do cruzamento, lugar onde os sen-
tidos se trocam uns com os outros, como se fundidos, acorrentados.
Mude de direo, voc ser forado ateno. E isto se parece com o
sol de rosceas: exposio em todos os sentidos.
Arle:quim se torna Pierr.
O crebro, o sexo, a lngua expem os possveis espera, sendo
eles prprios rgos ou funes do possvel. No ponto de cruzamen-
to, a questo do n, esquerda, direita, embaixo, em cima, no se
coloca mais, antes a sua forma que se expe. A encruzilhada, aberta,
descerrada, translcida em seus caminhos, pertence a todas as suas
vias, de maneira estvel e instvel. Praa branca, rond-point estrelado,
flutuante. Tudo freme em torno do eixo ou do centro transparente e
em suas vizinhanas. O crebro espera, imenso complexo de vigiln-
>I- O prefixo latino eis significa aqum. Pr-eis, portanto, um neologismo que
poderia ser traduzido como "antes de aqum". Prcis, sem hfen, significa pre-
ciso, fixo. (N. da T.)
34
cia, oscilando multiplamente, tremendo, vibrando no tempo como
seu prprio eletroencefalograma. O sexo hesita, branco de espera e de
capacidade; brilhando exatamente de potncia, ele se agitai a lngua
duvida e se embaraa, reticente, branca de possvel, como uma plata-
forma de causalidade nula, oscilante como a msica e os sons que a
transportam, faiscante.
Conjunto de tremores, marcas essenciais, e talvez segredo da
vida, cujo nascimento reconhecido pelas palpitaes, regulares no
caso do corao, caoticamente errticas e complexas para a cabea ou
o sistema nervoso.
Trilha, msica
Voltemos pequena seta diferencial, minsculo desvio fundamental
de nossa razo de ser. Deitar do lado esquerdo ou direito, passi-
vos, afasta-nos muito desta seta. A inquietude, nfima, tremula perto
do centro ausente: desvio originrio do repouso. Destros e canhotos
dormem no fundo do leito com um sentido morto, como se diz a
propsito do leito do vento ou do brao morto de um crrego.
preciso que o canhoto se exponha em direo direita, e o destro em
direo esquerda, para despertar de sua quietude animal ou de seu
sono mortal, para aquecer sua paralisia. Fazendo isso, eles passam
pelo centro.
Aquele que parte de uma margem e a deixa, mas a conserva para
tentar atingir a da frente e habit-la, adot-la, transita pelo eixo, de
modo que <: ..corpo experimenta a rasgadura no trax, ou no ventre,
no meio da boca ou entre os olhos, feita pela seta originria. Esquar-
tejado por seu estiramento, exposto. Como anseia pelas margens da
esquerda e da direita ao mesmo tempo, deve atravessar sem parar.
Assim, sua vida, seu tempo e seu lugar naturais vibram, tremem, se
agitam, palpitam, vacilam, hesitam, duvidam em torno da falha in-
quieta, sempre desperta, soando como uma corda vibrante.
A orientao originria parte do centro ausente e inencontr-
vel, como se ali se enraizasse: o raio que o assinala, e o esconde
35
com suas fulguraes e ocultaes, pisca sobre tudo como um pe-
queno sol.
No encontramos o centro e nos inclinamos a deix-lo. Volta-
mo-nos para a direita, para a esquerda, para nos afastar dele. Temos
medo? No sabemos nem podemos habitar sobre esta falha, este eixo
ou dentro deste turbilho: quem construiria sua casa no meio da
correnteza? Nenhuma instituio, nenhum sistema, nenhuma cin-
cia, nenhuma lngua, gesto ou pensamento se fundar neste lugar
mvel. Que o fundamento ltimo mas nada fundamenta.
Podemos apenas nos dirigir para ele, mas no momento de atingi-
lo ns o deixamos, impulsionados pelas setas que partem dele. Passa-
mos ali no mais que um instante infinitesimal. Tempo e lugar de
extrema ateno.
Voltamos para trs. Pelo mesmo esforo e com o mesmo el, o
mesmo movimento, estamos nos dirigindo, mas em sentido contr-
rio, para ele. E, novamente, carregados, o ultrapassamos no momen-
to de ating-Io. No permanecemos nele mais do que um breve lapso
de tempo. Ento viramos para o outro lado. Retomamos, ao inverso,
o mesmo caminho. atrados por essa ausncia e indefinidamente re-
chaados por ela. Voltamos mais uma vez. Atravessamos sem trgua
o rio, na oblqua na diagonal ou na transversal, em todos os sentidos
possveis do espao e do tempo, volta, ida da direita para a esquerda,
de frente para trs, de alto a baixo, por cima, por baixo.
Assim nascem o ritmo, os balanos, as cadncias, os acalantos, os
refres, as cirandas, a msica, os estribilhos, melopias, a dois tem-
pos e a dois ps, a quatro ps e a trs tempos, breves, longas, breves
novamente, rimas femininas, rimas masculinas, juntas ou alternadas,
a dana, a valsa, o par ou mpar, os rodopios de vertigem, a cama no
mar quando o navio joga entre vagalhes turbulentos, as oraes e os
ritos, o sino que toca com regularidade, todas as vibraes anteriores
lngua; todos os movimentos passam e repassam sobre este centro
ausente, onde coisa alguma jamais se detm, entre o nada e o ser,
plo ou fundao ltima que s desviado de si suporta alguma coisa;
eis porque a experincia, a existncia e o xtase se exprimem pela
36
mesma palavra de exposio que fala do desvio da equivalncia ...
embriagus, deslumbramento, coroando o abalo geminado do amor.
Sol. Tudo acompanha, no duplo sentido, o lugar mestio.
minueto do lugar
Homens e mulheres danam juntos frente frente, mas suas linhas
respectivas so ligeiramente decaladas, de modo que cada mulher fica
diante do espao vazio entre dois homens e s v isso, ao passo que
cada homem responde mesma lacuna entre duas mulheres. Toda
mulher finge gostar desse intervalo furado, enquanto os homens cal-
culam seu amor pela ausncia de mulheres cercada de mulheres. As-
sim, cada qual se encontra s em sua suficincia morna e sua infeli-
cidade.
Ento, cansado de sofrer, cada um abre os braos, como faziam
outrora os suplicantes, e cada mo encontra uma mo sua esquerda
e outra sua direita: uma espcie de cadeia cruzada se forma, alter-
nada. Cada um entretrm uma relao amorosa com os dois cor-
respondentes que contornam o intervalo que ele compreende como
parte de seu destino, mas como as duas outras, elas tambm se rela-
cionam s duas sombras que tm em frente, que enquadram os seus
espaos, nenhum deles v ningum, nem fala a algum, e ningum
lhes responde: esta cadeia de splicas produz a multiplicao da ne-
cessidade de suplicar. Duplo impedimento. Seguem-se da as figuras
da dana, por estaes e passagens, e suas substituies infinitas.
Malha elementar ou trama de relaes humanas reais, nunca reta
mas em mttiplos arabescos, alas, laadas ou hlices nos quartos ou
nas salas, nas praas, essa cadeia se parece um pouco com uma pauta
musical em que as notas tomariam aos poucos o mesmo lugar para
que se possa ouvir uma forma familiar num ritmo regular, galope,
tango, be-bop, minueto;- emana da linha, contnua desde que nosso
mundo mundo, o rumor montono que canta o indefinido mal de
amor.
37
Figura central da dana. A filosofia mestia ama os corpos mistu-
rados. Post coitum omne animal triste; isso define muito bem, de fato,
o animal: aquele que se entristece aps o coito.
Portanto, homem aquele que, aps o coito, ri.
Magnificncia
Reconheo em mim um ser-a tranqilo e estvel, ncleo denso que
no se mexe, como se parecesse o meu centro de gravidade ou a ele se
unisse. Sujeito, certo, pois nada se estende por baixo dele, colocado,
depositado no mais baixo. O prprio corpo se deita ou se encolhe em
torno dessa posio abaixada, mas ainda gira em relao a esse ponto
quando se ergue, se projeta, salta, anda, corre ou nada, passa a bola
ou avana, segura uma ferramenta ou observa, viaja ou presta aten-
o, conhece, inventa.
Quem sou eu, primeiro? Esta pedra negra. Peso resultante e re-
baixado dos vetores da preguia e de minhas passividades caseiras, ele
se dirige para o centro da Terra. Embora localizados diversamente, os
homens como um todo no desfrutam seno de um s ser-a, que faz
seu gnero ou sua espcie, raiz nica de vida e de signo que d ao
homem o nome de hmus. Esta seta de gravidade se dirige para a
morte, comum, sem dvida alojada no mesmo centro.
Alerta! Ateno! Tal acontecimento, tal estado de esprito, um
projeto ou o pensamento passam, exigem, solicitam: ento sobrevm
um deslocamento. Exatamente o desvio da marcha: a criana vai em
busca de fortuna no mundo, avana um p em relao ao outro co-
locado, enraizado, raiz dirigida para o centro da Terra, embora cubra
uma localidade.
Por um desequilbrio sem preocupao nem certeza, com uma
inquietude incoativa, risonha e arriscada, o ser acaba de colocar o ali.
Ele se expe. Deixa o abaixamento e se ergue. Acredita e estende sua
rama. Salta. Deixa o estvel e se afasta. Anda, corre. Deixa a margem
e se atira. Nada. Abandona o hbito para experimentar. Evolui. D.
38
Oferece. Ama. Passa a bola. Esquece sua prpria terra, sobe, viaja,
vagueia, conhece, observa, inventa, pensa. No repete mais. Eu penso
ou eu amo, portanto eu no sou; eu penso ou eu amo, portanto eu
no sou eu; eu penso ou eu amo, portanto eu no estou mais a.
Zarpei do ser-a.
Meamos quantos palmos h entre o p esquerdo e o direito, a
altura do salto, o desnvel da corrida, largura de vistas, volume dos
conhecimentos, o espao que a errncia desenha, o mapa do deserto
atravessado. Essa distncia separa animal e rvore, rvore e areia es-
tvel. O ser-a se enraza deste lugar para o centro comum do mundo
e se apia no mais baixo desse eixo, dir-se-ia um vegetal. Abrir O
espao para esse equilbrio imvel projeta um segundo ponto ou
lugar que merece ser chamado de exposto: deslocamento que inventa
um espao entre a posio e a exposio. Desvio ou deslocamento
no se referem mais ao centro da Terra nem comunidade da inva-
rincia e do peso.
Quem sou eu? Primeiro esta indesenraizvel posio estvel. r-
vore ou vegetal, algum legume. Quem sou eu depois? No estou mais
a, no sou mais eu, exponho-me: sou essa exposio-a. Estou no
outro passo, no mais no enraizamento, mas nas extremidades, m-
veis com o vento, galhos, no cume da montanha, no Outro lado do
mundo onde parto, movimento animal, ondulao rptil, vo, corri-
da ... sou tambm aquilo que conheo, interrogo ou penso, esttua,
crculo ou tu, a quem amo.
Finalmente, quem sou eu, no total? O conjunto do volume entre
o ser-a e o ponto exposto, entre a posio deposta neste lugar, tese
mais comtlmente baixa, e a exposio. Essa distncia cobre no mni-
mo toda a rvore e, s vezes, um enorme espao. Chamo a esta grande
dimenso: alma.
Magni-ficat anima mea: essa grandeza, literalmente, produz,
constri1 faz minha alma. Sempre proporcional exposio. As almas
grandes se expem muito, e muito pouco as pusilnimes. A alegria as
preenche, cumula-as, como podem aprofund-las a misria e a dor.
39
Chamemos magnificncia o trabalho operado dentro do trax
por esse desvio, cuja medida e volume so medocres Ou amplos,
entre os dois plos da posiO, de um lado ponto baixo e estvel do
lugar ou do ali, colocado, descolocado, e ponto alto, no-lugar ou
alargamento da alma, risco e liberao, exploso. No h ser animal,
ou animado, sem esses dois pontos, nem ser humano, mesmo mes-
quinho, sem viagem nesse deslocamento. A morte vem de retornar ao
ser-a, embaixo.
Ao descrever na medida exata a construo da alma, no momen-
to mesmo em que ela se forma, por dilatao ou trabalho no tero de
um novo espao sob a fora de um vivente equivalente ao verbo, o
salmo nomeia esses dois pontos: a humildade da criada, para a parte
baixa, evocando assim o hmus, portanto o homem ao mesmo tem-
po que a terra; e para o Muito-Alto, a santidade de Deus. No deixa
de ter sentido, com efeito, chamar Deus ao conjunto infinito de to-
dos os pontos de exposio. Em troca, ele faz em mim grandes coisas:
fecit mihi magna ... palavras que repetem o magni-ficat identicamente,
mas invertendo sua ordem. Deus magnifica minha alma; minha alma
magnifica Deus; desvio entre nada e tudo, a grandeza faz Deus e
minha alma.
Alegria, dilataso, engendramento
Sobre essa escala ereta, a criada mede duas vezes o volume em forma-
o: para baixo, por sua alegria, exultao, exaltao, nomes verticais
da exposio; para o alto, pelo olhar que o prprio Deus lana para
trs sobre sua humildade; altura, portanto, medida duas vezes, dire-
tamente e em sentido inverso. Resultado quase mtrico: o espao da
alma ocupa o desvio, exaltado ao p da letra, da Terra a Deus.
A mais modesta experincia de alegria confirma que a alma en-
che com seu canto a glria dos cus ou, com seu nada, o mundo. E da
mesma forma para o tempo: a beatitude corre de gerao em gerao,
de modo que a alma beata habita a omnitude despojada do espao e
da histria.
40
~
Acompanhada da alegria, a experincia abre seu espao, que vai
dali para fora e pode ir da Terra a Deus, para construir ou dilatar a
alma, atravs do desbastamento ou da perfurao de uma passagem,
de um patamar, de uma porta, de um porto, pelos quais se acede a
um desses lugares expostos. A experincia os atravessa e se expe.
Entre o nada e o tudo, ela estende um espao e um tempo, como um
brao livre e flutuante. O xtase exprime um fim dessa viagem, um
estabelecimento, temporariamente estvel, ou, melhor, um desvio ao
equilbrio em torno desse ponto exposto, em sua vizinhana, um
diferencial de tempo.
Programado, o instinto bestial se fecha sobre si, colocado. O
animal um ser-a. Expondo-se pela experincia, o homem entra no
tempo e o abre. No h humano sem experincia.
Chamemos alma variedade de espao e de tempo dilatvel de
sua posio natal para todas as exposies. Assim o trax, o tero, a
boca, o estmago, o sexo e o corao se dilatam e se preenchem: de
vento, de vida, de vinho, de canes, de bens, de prazeres, do Outro
ou do reconhecimento: da fome, da sede, da misria e do ressenti-
mento tambm. O estiramento aumenta com a alegria e as desgraas.
Somos costurados com tecidos elsticos. O aprendizado abre no cor-
po um lugar de mestiagens, para ser preenchido por outras pessoas.
Ele se torna gordo.
Alegria. De volta ao vale, habito ainda o cume da montanha que
na ltima semana escalei, dilato-me daqui at o alto, sim, daqui de
baixo em direo ao Muito-Alto; minha alma, baixa, vagueia, em sua
variedade de tempo e de espao, o cume do Gouter, o Mont Blanc e
a geleira dOs Grands-Mulets. No, no me recordo, mas sua magni-
ficncia, penetrada em mim, aqui permanece: meu corpo teve que
crescer, como se alargou outrora s dimenses do macio do Everest.
Et exaltavit humiles ...
Assim armei minha tenda, desde a mais frgil juventude entre as
idealidades matemticas, l no alto, e as longitudes longnquas, alm
da gua. Erro pelo mundo e pelo atrs-dos-mundos, a abstrao ou-
sada, as paisagens, as culturas e as lnguas, as castas sociais ... minha
41
alma se expe em conhecimentos, como se arriscou e se arrisca ainda
deslizando nas geleiras. Abrir a porta, perfurar a parede, em ltima
instncia se expor morte. Uma vida de experincias abre a trilha,
curta ou comprida, estril ou produtiva, do nada morte, transitan-
do pela alegria, indefinidamente dilatada.
No h humano sem experincia, sem essa exposiO que progri-
de at a exploso; no h humano sem essas dilataes.
De repente elas, em pleno meio do corpo, se preenchem com um
mestio, que sou eu sem ser eu. Pelo aprendizado, o eu se engendra.
As grandezas sociais, falsas, aniquilam esse desvio: soberbos, ri-
cos e potentados se colocam eles mesmos sobre seus lugares prprios,
suas sedes, seus bens, seu poderio, sua glria e, afastando-os res-
pectivamente desses lugares, dispersos, de suas riquezas, vazios, e
de ,seu poder, derrubado, Deus de fato os aumenta, os magnifica ...
deposuit potentes de sede ... et divites dimisit inanes ... Somente ento o
desvio se reproduz e eles se tornam grandes, grandes pela disperso
ou pela inanidade, grandes porque depostos, trs medidas verdadei-
ras de grandeza e de volume.
Experimentando, com fome no peito, estmago, tero e corao
(re-cordatus miseri-cordiae, eis ainda uma dimenso medida), o es-
pao imenso de minha alma exposta, recebo, humilde, no ponto bai-
xo do lugar terrestre, os bens espargidos do ponto alto, no-lugar de
Deus, que enchem at a borda ... esurientes implevit bonis ... esse mag-
nfico desvio a que chamamos eu.
O salmo da Virgem inventa a alma como a medida, em grande-
za e volume, dessa dilatao. Ontologicamente, a alma grande; a
grandeza, metricamente, a produz. Psicologicamente, a alma ale-
gria. Eticamente, ao contrrio, a contrao e o apequenamento a
destroem: pecado mortal de pequenez, de pusilanimidade.
Sem conhecer sentido nem direo, nossa errncia vai do ser-a
para a exposio, da humildade, verdadeira essncia do humano, pa-
ra o no-lugar ausente e alto, nossa realizao; e esse movimento cria
o desvio da exaltao, nossa grandeza e nosso ser, distncia vazia ou
plena, miservel e jubilosa. A misria e a alegria juntas preenchem a
42
I
L
experincia fundamental que podemos ter do ser, da vida, do mundo,
dos outros e do pensamento.
Ela se refere pouco a um lugar sujeito, mas sobretudo a esse
espao cujo sujeito, humilde, constitui apenas o lbio ou o bordo
inferior, e cujo segundo lugar, exposto, marca a outra extremidade:
exatamente a borda do outro. Assim minha alma, no lugar mestio,
equivale a essa grandeza que limita, embaixo, o eu local da terra e, em
cima, uma multido de outros de toda ordem.
Nesses lugares altos, expostos, sem os quais no somos nada-
um eu sem alegria -, mora o prprio Deus, apelao omnivalente,
universal, integral, soma cujas verses indefinidas se nomeiam suces-
sivamente cimo do Gouter, tal idealidade, este aeroporto do outro
lado do mundo, tu a quem amo e que me amaste, o mundo cuja
beleza me maravilha e ao qual me dou, o objeto que observo e que me
enche de informao, o pensamento que desenvolvo e a linguagem
que jorra sobre mim, a multido doce desses em torno dos quais
gravito, tu, vocs, estrangeiros ou familiares ... no h portanto ho-
mem sem Deus, sem essa funo- Deus, sem a criao e a experincia
desse abismo exposto, do qual sou apenas a margem baixa, um lbio
local e terroso, sem esse espao alto e grande, dilatvel, que experi-
mento aqui e agora em meu trax, meu corao, meu estmago, meu
tero, minha alma ... sem essa abertura para a soma da alteridade.
O espao dilatado pela aprendizagem preenchido pelo outro
com um ser, um terceiro, eu e no-eu, ao qual um dia no darei luz.
No sujeito, primeira pessoa, os outros engendram uma terceira
pessoa, finalmente bem educada.
Manh. Trevas. Silncio. Despertar. Pequenos gestos j vivos. Ei-
la pronta, a fora nOva. Armada a bomba. Oferecida a alegria. Que
fazer? Sim, empreender e, decerto, com grandeza. Partir alm dos
mares, construir, descobrir ... O entusiasmo traz, na madrugada, a
volta ao mundo, ele e eu de volta manh da criao. Onipotncia:
tudo se torna possvel. Magnificncia: esta potncia tende grandeza.
43
Qual? Onde, como e por qu? Ento, no momento de decidir, na
lembrana da histria, que s promove as grandes coisas por meio
dos mortos, dos ps aos olhos e de um ombro ao outro, meu corpo,
feito por ela, chora a grandeza. Presente, nele, evidente, invasora ...
sem uso.
Nada de social ou de histrico, salvo atravs de crimes e de men-
tiras, nem a vitria que pisoteia mil vencidos, nem a excelncia que
depe a coorte dos medocres, nada a forma, a mostra ou a d.
Ora, com a experincia garantida desde minha infncia, violenta,
pesada, exigente, jaz e se dilata em mim a grandeza. Todos os dias,
ento, ela desperta uma energia pronta, isso j h vrias dcadas, para
se precipitar ao primeiro chamado, vigilante atento, servidor fiel,
devotado at a morte, mas s a ela obediente.
Tal onipotncia matinal livre, tal exigncia imensa, pode se es-
gotar em uma obra; mas esta raramente atinge a grandeza, e sem
dvida anonimamente, pois no se trata de mim, mas dela, que pro-
duz e engravidar de mim. Ento, a potncia sem uso continua in-
tacta, juvenil e fresca at na velhice. Exatamente virginal. Ela canta o
Magnificat.
Ora, nada pode fazer dessa experincia uma exceo. Cada um,
sem dvida, pelo menos um dia, passa por essa dilatao formidvel
do ser, em volume, fora e virtualidade explosivas, essa brisa livre,
essa grandeza desempregada, virgem a despeito do que se faa, a in-
finita punio de ficar margem: a possibilidade infinita de aprender.
Por que teimar em no chamar de alma a essa intensidade vagan-
te, mundo e pensamento possveis em pleno meio do corpo, como
uma roscea ou um pequeno sol?
44
_.
Instruir
Dia
Noite
Claro-escuro
O lugar mestio
O terceiro homem
Instruir ou engendrar
A terceira pessoa: procedncia
A terceira mulher: concepo
O mestio instrudo: ancestrais
O mestio instrudo, de novo: origem
Engendramento na aurora
O problema do mal
Guerra por teses
O estilista e o gramtico
paz sobre as espcies
Npcias da Terra
Paz e vida pela inveno. Encontrar
Um outro nome para o mestio instrudo
O casal genrico da histria
-"
Dia
Nem o sol nem a Terra situam-se no centro do mundo. A filosofia
glorificou outrora a revoluo copernicana por ter expulsado nosso
planeta desse posto, mas Kepler descobriu que o movimento geral
dos astros segue rbitas elpticas, que se referem, certo, quando em
conjunto, ao doador solar de fora e luz. Mas cada uma, alm disso,
tem um segundo foco, do qual no se fala nunca, to eficaz e neces-
srio quanto o primeiro, uma espcie de segundo sol negro. Ao sol
branco, brilhante e nico, correspondem vrios focos obscuros que
podem ser reunidos numa espcie de zona de forma anelar, exposta,
quer dizer, colocada margem do sol.
Alm disso, nenhum desses dois plos se encontra no meio.
O centro real de cada rbita jaz exatamente em um lugar mesti-
o, justamente entre seus dois focos, o globo fulgurante e o ponto
obscuro. No, nem o sol nem a Terra se encontram no meio, e sim
uma zona perdida, mestia, da qual se fala ainda menos do que de
seus parceiros solares.
Da mesma forma, um afastamento mensurvel separa, do sol do
conhecimerito, um segundo foco negro, pelo menos to ativo, embo-
ra escuro. Termo de uso corrente, a pesquisa, cuja raiz latina vem do
crculo, assim como enciclopdia, palavra erudita que o douto Rabe-
lais recopiou, em grego, da precedente, falam juntas da gnoseologia
circular, centrada unicamente num dispensador de luz. Ao falar em
centro de pesquisa, a lngua, redundante, tresvaria e se atrasa, porque
existem, em nossos saberes, segundos focos afastados do primeiro,
que encurvam os ciclos perfeitos de maneira excntrica. Sim, o co-
47
nhecimento funciona elipticamente, como Kepler disse outrora a res-
peito do sistema planetrio.
Os fracos e os simples, pobres ou analfabetos, toda a suave mul-
tido to menosprezada pelos doutos, que no a vem seno como
objeto de seus estudos, os excludos do saber cannico se orientam
com freqncia por esses pontos negros, sem dvida porque eles no
OS cegam nem os sufocam, ou porque os sustentam assim como o sol
deslumbra os filsofos. Alm do mais, reconheceriam os prprios
sbios os momentos solares, os momentos de conhecimento potente,
se no os misturassem s longas horas de sol negro? A verdadeira
intuio se acompanha de uma indispensvel fraqueza? E o que deve
a ela?
Pela claridade, o conhecimento se descentra, como o mundo,
mas, como ele, em seu el, na energia de seu movimento. Ignoramos
o que nos incita a deixar a ignorncia, motivaes e finalidades, e
mais ainda para onde se dirige o saber. A motricidade se encontra
dividida entre a fonte ofuscante de luz e um segundo ponto obscu-
ro. O no-saber contorna o saber e a ele se mistura. Una, concer-
nente ao mesmo mundo e aos mesmos homens, a pesquisa gira, se-
gundo seus objetos, em torno de um centro igualmente distante dos
dois focos.
Medir o desvio constante desses dois plos, considerar o que a
estrela flamejante deve ao ponto cego, e este primeira, buscar as
razes de uma tal distncia, avaliar a produtividade da zona obscura
e mesmo a fecundidade desse par, e no mais simples comando ou
regulao atrativa - o que perderia uma sem a outra? -, eis o pro-
grama da Instruo Mestia, segundo a lei de Kepler.
O que dizer dos novos centros? No passado, chamava-se cento a
um poema cujos versos, ou fragmentos de versos, eram tomados de
diversos autores. Por extenso, deveramos chamar assim toda esp-
cie de obra, literria, histrica, musical ou terica, fabricada com
peas e pedaos copiados. Transcreva um modelo e voc ser acusado
de plgio. Copie cem, e ser doutor. Exemplo: esse estudo das razes
48
.I.
greco-latinas da palavra centro se reduz a um cento. Palavra pouco
usual, na verdade, enquanto o pot-pourri que ela descreve se apresen-
ta com freqncia.
A lngua latina, ento, j conhecia a palavra e a coisa, j se com-
punham essas salsadas tambm chamadas de stiras, donde se v que
a preguia no tem idade. Mas antes de designar uma tal antologia,
para declamar, cantar ou citar, ela chamava cento ao pano feito de
pedaos remendados, um trapo de tecido compsito. Eis de volta o
casaco de Arlequim, comediante situado no centro do palco e deste
livro.
O termo francs, cujo desaparecimento no meio da abundncia
de objetos que deveria designar eu deploro, remete, como seu equi-
valente em latim, ao grego kentrn, que traduz exatamente cento e o
cento, poema feito de pedaos tirados de diversas fontes e casaco
remendado, um desempenhando o papel de imagem do outro. Mas,
antes e em primeiro lugar, kentrn designa o aguilho com o qual o
lavrador estimulava, antigamente, a parelha de bois da charrua, a
arma no ventre da abelha ou na traseira do escorpio, mas tambm
um chicote de pregos, instrumento de tortura.
Ora, a mesma palavra designa o instrumento de punio e aquele
que a sofre ou a merece, a vtima. O centro, portanto, acaba por
indicar o miservel, condenado s esporas ou ao aguilho mortal, e
descreve o seu lgar. Kentrn ento traduz o centro do crculo, o
ponto agudo, a singularidade situados em seu meio. O lugar do pal-
co, onde Arlequim se despiu. No me lembro mais em que cidade de
minha infncia a praa central era chamada com esse nome: praa
dos CenteS.
Sozinha, sem trabalho, a lngua fala com vrias vozes e conta sem
primeira pessoa o desfolhar do preldio. Eis o casaco, cento remen-
dado, mais o relato simplesmente aditivo e compsito da queda das
folhas sucessivas do traje ou das pginas que narram o desvestimen-
to; eis, tambm, o Imperador da Lua no centro, alvo da caoada do
pblico e logo seu saco de pancadas, sob as vaias e os apupos; eis,
enfim, o que Arlequim traz no centro de seu centro, no interior de
49
todas as dobras de suas vestes, ou por baixo de todas as suas roupas
de baixo: o que ele , um e vrios.
Ele o ponto central onde estiver, reunio multicor, em um
pcinto de interseo indivisvel, direes I e mundos em toda volta. O
casaco desse pavo vaidoso cintila com os olhos daqueles que o
olham, olhares azuis e negros, olhadas verdes e castanhas. A palavra
centro por si s descreve ao mesmO tempo o um e o mltiplo, o um
por seu sentido espacial patente, interseco, e o outro, reunio, pe-
las razes lingsticas ocultas; os dois, enfim, em geometria.
Segundo a histria das cincias, a lngua conta que o centro do
crculo ou o centro em geral, esta idealidade pura, longe de designar,
no comeo, o lugar calmo onde se discute em plena igualdade demo-
crtica serena, descreve o trao deixado pelo aguilho, o estmulo sob
um estilo distinto, mas tambm o prego e O chicote do supliciado, o
local do suplcio e lugar do rei ridicularizado: a geometria chega por
ltimo, carregando atrs de si esse passado, como uma negra cau-
da de cometa, atrs do corao brilhante. Algum So Sebastio criva-
do de flechas est cravado ali, perfurado, flagelado, atrs ou sob a
transparncia desse puro conceito de centro, cuja limpidez esconde,
melhor do que uma tela, esses resduos de alta formao arcaica. A
histria das cincias d lugar, incorpora, uma antropologia da geo-
metria como esta, pura, esquecida.
Surge o segundo sol negro, distante do brilhante; nosso deslum-
bramento especulativo diante do centro do crculo oculto. H som-
bra nas vizinhanas desta luz e, sob esse conceito sereno, h dor. No
centro jaz o cento: recoberto de peas, composto de pedaos. nesta
singularidade, no limite pontual e quase ausente, que o mundo intei-
ro se rene e se encontra, se justape muitas vezes, s vezes se funde.
No centro jaz o sujeito, jogado sob essas peas, receptor de infor-
mao e de dor.
Criao, instruo, educao formam esse sujeito central, ima-
gem do centro do mundo. Brilhante e sombrio, o mundo converge
para ele.
50
L
r
Noite
A imagtica astronmica, cujos faustos correm de Plato a Kant e
mais alm, para canonizar as relaes do saber e da luz, do mundo e
do sujeito, raramente repara quanto os observadores, noctmbulos,
trabalham, quase sempre noite.
No s o conhecimento se descentra e reclama apoio junto aos
segundos sis negros, como o prprio centro, meio-lugar quase nulo,
se dissemina subitamente no universo, meio imenso onde o mundo
terrestre, solar e planetrio se reduz a um canto. No curso de longas
noites sombrias observam-se, mescladas, essas luzes e trevas origin-
rias de milhes de sis brilhantes e com buracos ditos negros.
Canonizado pela massacrante realeza do dia, nosso saber erigiu
indevidamente o sistema solar, local, em lei generalizada. Ora, meio-
dia no significa mais que o pequeno principado de uma an prxi-
ma. Ns recebemos de longe a luz de outros sis, alguns deles gigan-
tes, mas afogados na sombra.
No s, segundo a revoluo kepleriana, o sol deixou o centro,
mas existem mirades de sis. Ausente ou quase da primeira figura, o
centro se reproduz, multiplicado, pela totalidade do universo. Seu
quase-nada disseminado indefinidamente. A revoluo astrofsica
perdeu a conta do nmero de vezes.
Existem sujeitos por toda parte, entre a luz e a sombra.
Traduzidos do espao para a temporalidade, a nostalgia ou o
narcisismo, que sonham com um sujeito no centro de tudo, engen-
draram a ..estranha idia de que existem dois anlogos desse centro
no tempo, o comeo e o agora, este ltimo continuamente opti-
mizado como o momento em que sabemos melhor o mximo de
coisas.
Por que, de fato, como o espao, o tempo no semearia em si, ele
tambm, uma infmidade de centros ou instantes capitais? Quantos
comeos e fins tero verdadeiramente lugar neste momento? Sim, o
agora sempre comea um novo destino, ou fecha uma era, ou perma-
51
nece gentilmente indiferente. Escolha entre essas trs verdades equi-
valentes.
Mestio de dois plos, brilhante e sombrio, o centro passa de
parte nenhuma a toda parte, espao ou tempo, e de nada se torna
mltiplo.
Ele no d somente a luz, mas tambm a fora, graas a seu papel
de atratOr. Desde Kepler, cada planeta no se encontra atrado exclu-
sivamente pelo sol, mas tambm pelo outro foco negro. A partir da
passamos a conhecer uma multiplicidade de atratores de formas di-
versas, produzindo ordens caticas.
A pesquisa ou enciclopdia dos conhecimentos, antigamente
considerada redonda, segue uma histria semelhante; torna-se elpti-
ca ou com dois focos atrativos, j em Augusto Comte constitudos
pelas cincias exatas e as cincias sociais, fsica e sociologia, antes de
se dispersar hoje e desfrutar, tambm ela, de vrios centros ou atra-
tores; mudam a forma e o conceito da antiga enciclopdia, mas no
podemos, mesmo assim, denomin-la caopdia!
Isso no significa que se abandonem as leis, maS que a previso
baixe at uma relativa imprevisibilidade. Isso aproxima as cincias e
as prprias coisas, pois ningum sabe nem pode prever a inveno
das leis, ainda que elas habitassem o cmulo da razo e do deter-
minismo. Em ambos os casos, do saber e do universo, existe a hist-
ria, atravs dessa mistura de previso e de imprevisibilidade; inversa-
mente, conceber a histria a partir da torna-se fcil, uma vez que
no cessa em nenhum lugar esse encontro entre a razo determinada
e o caos.
Uma certa desordem favorece a sntese.
Claro-escuro
o sol perde a senhoria sobre o conhecimento: ele no mais seu
ltimo fim e seu primeiro comeo, mas se reduz a um pequeno cone
de poeira clara, sado de uma rachadura na caixa negra do espao. O
52
T
meio-dia produz apenas um ofuscamento oblquo. No samos das
nossas ignorncias e das nossas limitaes. A luz no inunda mais o
volume, no ocupa o espao, no garante para si o lugar inteiro,
como um deus sob o reino daquilo que nunca ser novo, mas nos
chega, como um raio projetado entre mirades, em singulares cores
espectrais. Vinda de um sol, cada faixa interrogada, multicolorida,
tigrada, irisada, zebrada, fornece informaes diferenciadas. O casa-
co de Arlequim, Imperador da Lua, representa tambm este saber de
noite.
Sob o sol nico e total resplandecia a unidade do conhecimento.
Na aurora, sua luz extingue a multiplicidade incontvel de estrelas
diferentes. Desde o leste, nada de novo. Nada de novo desde que esse
fogo nos ilumina, desde as idades da luz: desde o sol grego, o Deus
nico e a cincia clssica, desde Plato, a sabedoria de Salomo, Lus
o Grande e a Aufklarung, esse saber de dia perdera o tempo. Nenhum
desses nomes, dessas eras, ditas novas, nunca mudaram o regime,
sempre o mesmo, da luz, nica e intemporal.
Eis o novo. No mais ingenuamente oposta ao dia, como a igno-
rncia ao conhecimento - que bela chance o ritmo nictemeral para
aquelas simples e cruis divises entre o erro e a verdade, a cincia e
os sonhos, o obscurantismo e o progresso! -, mas semeada de cores
e de negro, a noite faz a soma dos prprios dias do conhecer. Assim,
arlequina e cromtica, a mestia instruo, como as precedentes, vem
dos noctmbulos dos observatrios do espao, que misturam ao dia
a noite que, por sua vez, integra os dias das galxias s noites dos
buracos negros; essa mistura engendra uma terceira luz.
Deixamos para trs o Bem platnico, a idade das Luzes, a vitria
exclusiva da cincia clssica, a histria unitria de nossos pais. Nunca
as religies triunfantes, os polticos em glria, a cincia que se acre-
ditava no apogeu quando apenas comeava, a histria sem falsifica-
o, toleraram imagens de uma tal discrio ou reteno, nem a mis-
tura da qual o tempo nasce.
Eis que chega a idade dos luzires. O conhecimento clareia o lu-
gar. Tremulante. Colorido. Frgil. Mesclado. Instvel. Circunstancial.
53
Penumbroso. Atravancado. No raio de claridade, furta-cor, saturado
de partculas, danam os tomos. O Rei Sol v seus louros pulveriza-
dos. Longe de iluminar o universal, ele pisca sob quantidades de p.
Eis a idade dos clares e das ocultaes locais, a idade do cintila-
mento. Daqui para diante, preferiremos talvez o cromatismo da luz
sua unidade, a velocidade claridade?
Mas, novamente, de onde vem essa sombra necessria, to mis-
turada luz, na mestia instruo?
Vem da dor, como aquela que o centro ocultava?
o lugar mestio
Toda elipse tem um centro e dois focos: a est um trio, um conjunto
de trs. Mas a que chamamos mestio, neste caso? Um terceiro lugar,
um terceiro homem, a terceira pessoa?
Como mestio no meio dos outros, algum pode se encontrar
em posio delicada e ambgua, se no est envolvido - ou se o est
demais - com a situao. Portador, por exemplo, de boas ou ms
notcias, intrprete, ele se aproveita, s vezes imensamente, de uma
situao que, com freqncia, se inverte; ento pode ver-se impiedo-
samente escorraado, excludo como parasita. Aproveitador ou men-
sageiro, muito bem ou muito mal situado, o terceiro, no centro, sofre
ou abusa, entre os dois outros. Expulso por interferir demais, inter-
ceptar, intrometer-se.
E aquele que ocupava lugar demais o perde.
De duas pessoas que se contradizem espera-se que uma esteja
errada e a outra certa: no h terceira opo possvel; diz-se que o
Mestio est excludo; ou melhor: no existe um meio. De verdade?
Notvel a esse respeito, a lngua francesa o define como um ponto ou
um fio quase ausente, como um plano ou uma variedade sem espes-
sura nem dimenso e, contudo, inesperadamente, como a totalida-
de do volume no qual vivemos; nosso ambiente. Nova inverso: do
meio-lugar, pequena localidade excluda, no concernida, prestes a
desvanecer-se, para o meio, como universo em torno de ns.
54
I
L
! .
E o que no tinha mais lugar o ocupa todo.
Como uma corda vibrante que soa, o mestio no cessa de osci-
lar - de cintilar - entre as boas notcias e as ms, entre a vantagem
e o desprezo, a indiferena e o interesse, a informao e a dor, a
morte e a vida, o nascimento e a expulso, o tudo e O nada, o zero e
o infinito, o ponto do qual jamais se fala, entre os dois focos, solar e
negro, e o universo que ele semeia.
No sculo V antes de Jesus Cristo, alguns annimos sbios gre-
gos descobriram, em geometria, a demonstrao apaggica, isto ,
pelo absurdo. Medindo a diagonal de um quadrado de lado igual a
um, eles perceberam que seu comprimento no podia ser expresso
nem por um nmero par nem por um mpar. Desta contradio, o
mestio devia ser excludo. Mas, com isso, no existiria a dita diago-
nal; ora, ela existe, formando um xis, decorando, justamente, o meio-
lugar do quadrado que ela separa em dois sem meio, impondo-se
intuio. Ela existe, portanto, mas inefvel. Dizia-se que era indiz-
vel, irracional, diferente. Ora bem, uma multiplicidade de situaes
semelhantes apareceu, subitamente, nos nmeros e nos grafos: a l-
gebra dos reais, a verdadeira, a grande matemtica acabava de nascer.
Ela surgiu do mestio excludo, desta impossvel situao: nem
isto, nem o seu contrrio; desta fonte indecidvel, do absurdo que
acua a diagonal do quadrado, nem par nem mpar, ausncia de meio
entre essas duas impossibilidades de diz-la. A partir da, a descober-
ta dos reais, jorrando como um giser desta falha ausente, imps a
todos os outros nmeros conhecidos, pelo menos naquela poca, a
reduo a dessa nova forma, de incio um meio-lugar
absurdo, portanto nulo, em seguida invasor, meio quase total. Logo
s se encontrar por toda parte esse mestio, to depressa quanto foi
proclamada a sua excluso. Ele no era nada, e eis que se torna tudo
- ou quase. Absurdo quer dizer surdo: o tumulto que o Gnesis diz
ter precedido a criao no ter vindo depois de semelhante silncio?
Quem ocupava lugar demais o perde; quem no tinha nenhum o
ocupa por inteiro; o nada pode tornar-se tudo, que, por sua vez, pode
55
desmoronar no nada. Lei de transformao com bifurcaes impre-
visveis.
O parasita a segue, pequeno animal que, 'multiplicando-se para
mudar de escala, produz epidemias, levando morte conjuntos gi-
gantescos de animais enormes, mas que, desta forma, se expe a de-
saparecer; o prprio Hermes* a reproduz, em sua conduta habitual
de intermedirio, atravs da qual se espera que transmita mensagens
como um vidro transparente, portanto nulo, mas que transforma
toda a paisagem cultural a cada informao, meio-lugar se fazendo
meio: animal e deus odiosos e indispensveis, anjos bons e maus
juntos, mediadores, operadores da mudana.
Assim enunciada, a dita lei, lio de antigos livros, governa as
transformaes reais e os engendramentos. Poder tambm produzir
o tempo, no aquele dos relgios, mas o nosso, o das nossas almas, de
nossos conhecimentos, o tempo das coisas e da histria?
Da histria, ser? Aqueles que no pertenciam nem nobreza
nem ao clero, eram agrupados pelo Antigo Regime numa terceira
classe: o terceiro estado. ** Ele no era nada, no concernido, fre-
qentemente excludo, e quis tornar-se alguma coisa, com o sucesso
que conhecemos. Hoje, da mesma forma, levado por seu crescimento
demogrfico gigante e sob o risco econmico de morrer, o Terceiro
Mundo*** pede para se desenvolver. Que acontecer?
Ora, no saber e na instruo existe tambm um terceiro lugar,
posio que hoje nula entre duas outras, a cincia exata, formal,
objetiva, poderosa, e do outro lado o que chamamos de cultura, mo-
ribunda. Donde a criao de um terceiro homem, o mestio instru-
,. Na Grcia antiga, Hermes era padroeiro dos viajantes, mensageiros e merca-
dores ambulantes, alm de mediador entre deuses e homens. (N. da T.)
,.,. O tiers tat. Aqui, em vez de "mestio", usamos "terceiro" por fora da ex-
presso consagrada pela histria. Preserva-se, no entanto, a idia de mistura
e mestiagem. No Antigo Regime francs, o terceiro estado designava todos
aqueles que no pertenciam nem nobreza, nem ao clero. (N. da T.)
**" Tiers Monde.
56
l'
do, que no era nada; aparece hoje, torna-se alguma coisa e cresce.
Ele nasce dentro deste livro, no qual lhe desejo, como pai, longa vida.
Eis um aplogo que distingue os dois lugares: ser que voc so-
nha em conquistar, algum dia, o Prmio Nobel em medicina, econo-
mia ou cincias fsicas? Trabalhe ento em uma rica universidade de
lngua inglesa. Mas, para a literatura, tendo em vista a mesma recom-
pensa, vale mais escrever e viver no Terceiro Mundo. Essa tripla dis-
tncia - geogrfica, de fortuna e de especialidade - mostra a di-
menso do desprezo no qual incorre hoje a estima outrora conferida
s letras: culturas da misria e misria da cultura.
Ser possvel retardar o inevitvel confronto entre o Norte, feliz,
sbio, afortunado, e o Sul miservel, com a inveno dessa cultura
mestia? H nisso, ao mesmo tempo, sabedoria, na esfera intelectual,
justia, em matria econmica, a Terra a proteger, assim como a paz,
nosso bem supremo.
A epistemologia e a pedagogia encontram, como vimos h pouco
com o centro, a excluso, a dor, a violncia e a pobreza; o problema
do mal se cruza com o saber. Eis a sombra.
Como Kepler nos ensinou, acreditamos que no centro comum
do mundo brilha o sol universal do saber e da razo, mas que a
sombra se dispersa nos segundos focos dos diferentes planetas; acon-
tece-me hoje pensar, ao contrrio, que o problema do mal passa por
uma involuo no centro comum de todas as culturas e que mil sis
de saberes diversos cintilam no meio comum dessa dolorosa sombra
universal.
Sofro: isto se diz em toda parte desde sempre; ns pensamos: este
cogito, especialista, s concerne s comunidades raras.
Temos que nos instruir sobre o lugar mestio, situado entre esses
dois focos.
o terceiro homem
A terceira pessoa povoa nOSsas palavras e nossas lnguas. Dialogue-
mos, falemos, que o deus Hermes de novo circule entre ns; confie-
57
mo-nos, portanto: eu converso contigo, vocs se dirigem a ns, o do-
miclio lingstico de nosso domnio abriga a primeira e a segunda
pessoas, entendidas no singular ou no plural. To bem-definida e
fechada que permanecemos surdos a tudo, salvo ao que se passa den-
tro dela; essa esfera inclui o mesmo e o outro, enquanto exclui os
terceiros, ausentes, nulos ou ridculos.
No decorrer do dilogo, ele ou ela, aquilo, elas ou eles designam,
justamente como terceiros, a excluso ou o exterior do conjunto fe-
chado de nossa conversa, a no-pertinncia nossa comunicao,
lugar mestio portanto, mais precisamente aquele, aquela, aquilo,
aquelas e aqueles sem os quais, sem o que, ou de quem e de que ns
falamos, mestio excluso e incluso.
Essas terceiras pessoas gramaticais, geralmente derivadas de pro-
nomes ou adjetivos demonstrativos, so ento, exatamente, demons-
trativamente, esses mestios dos quais j conhecemos os avatares l-
gicos, geomtricos e sociais precedentes. Passamos os braos pelas
janelas do domnio, para mostr-los ou design-los com o dedo, l
fora.
Ora, para esses terceiros, novamente, a mesma lei implacvel
descreve uma mesma transformao: o nada pode tornar-se tudo,
que pode desmoronar no nada. A terceira pessoa, excluda, mal situa-
da sobre o fio do meio-lugar, raramente leva o nome de uma pessoa,
j que empresta o seu a um demonstrativo. Mas pode tornar-se o
meio de tudo e, em particular, de ns, que nos debruamos sobre a
linguagem, meio objetivo e intersubjetivo no qual mergulham, desde
sempre, nossas lnguas. Alm disso, e ainda, essa relao do nada com
o tudo revela o segredo do engendramento, do devenir e do tempo.
A partir do mestio excluso ou da terceira pessoa, as figuras no
mais percorrem o espao lacunar dos exemplos precedentes, cuja
origem poder-se-ia atribuir ao acaso de rubricas diversas. Mas, ao
contrrio, elas preenchem, saturam o universo ontolgico. Da mes-
ma forma, neste livro, o retrato do mestio instrudo, eu na primeira
pessoa, tu, qualquer outro, na segunda, de repente abundante e
engendra um, dois, dez modelos, tantos mestios quantos se desejar.
58
i-c
O ensino esta semeadura.
Eis, portanto, a terceira pessoa tornada totalidade do coletivo
social que cerca aqueles que falam dela; neste caso, ela se nomeia: a
gente ou cada um ou todos ou os outros. Ou cheia ou expulsa. Em se-
gundo lugar, ela se torna o conjunto dos objetos ou da objetividade
em geral; em torno de ns, sem ns, o este, isto, aquilo que indicamos
com o dedo. Em terceiro, o mundo como tal, ou fsico, o impessoal,
exatamente denominado na terceira pessoa: chove, troveja, neva; as
intempries designam de novo, e em profundidade, o operador tem-
poral. Em quarto, o prprio Ser: a expresso francesa do ser-a, il y a,
traduz, palavra por palavra, usando justamente a terceira pessoa e seu
locativo, o dasein alemo. Finalmente, a moral: preciso, imperativo
to impessoal quanto o objetivo chove.
A terceira pessoa acompanha, portanto, o contorno ou a sntese
do saber e de seus objetos. Quem at hoje teria sonhado com uma tal
soma? Em segurar com uma s mo os fios de uma tal totalidade?
O Mestio e sua lei vibrante de excluso e de incluso fundamen-
tam assim as cincias, exatas e humanas, as primeiras regulando-se
apenas pela demonstrao rigorosa, baseada no princpio do mestio
excluso (vemos, comprovadamente e, sem dvida, pela primeira vez,
quo fcil passar do demonstrativo lingstico, pronome e adjetivo,
simples gesto do ndice estendido que mostra o lado de fora, o amea-
a ou admira - o iste latino de desprezo torna-se ille de glria _,
demonstrao que conclui decididamente a favor do funcionamento
sob controle cerrado da excluso), e as segundas baseadas no devenir
global da excluso local, que define ou designa, antes de tudo, um
determinado,.indivduo, e depois, subitamente, a totalidade da inclu-
so social; t;ata-se, nos dois casos, do mesmo fundamento e, mais
ainda, eles se fundam um ao outro. Da excluso social e humana,
passa-se ao mestio excluso que, por sua vez, torna rigoro,sa _ belo
duplo sentido - a conduta coletiva e o conjunto de suas conseqn-
cias. Eis finalmente descoberta uma passagem do Norte-Oeste, onde
se nasce com Os dois sentidos, onde os comeos se substituem um
pelo outro e portanto se engendram um ao outro.
59
Eles fundamentam metafisicamente a fsica, ao mesmo tempo
ligando-a demonstrao, dando natureza sua objetividade geral
e fazendo funcionar os fenmenos naturais independentemente da
inteno das pessoas envolvidas no discurso e em seu domnio.
Fundamentam a ontologia do prprio ser e, alm disso, o tempo e
a histria, fornecendo o operador das transformaes. Finalmente,
fundamentam a moral, descobrindo uma lei de conduta no re-
ferenciada a nenhuma vontade particular, exterior esfera da comu-
nicao.
A terceira pessoa - nica e universal, fora de todo sujeito na
primeira e na segunda pessoas - funda ento todo o real exterior,
confere objetividade ao seu conjunto. Eis, fora de qualquer logos, a
razo do realismo, filosofia indemonstrvel sem essa terceira pessoa,
e agora, graas a ela, mais do que demonstrvel, pois est presente na
raiz de todas as demonstraes.
Eis o objetivo e o fim da filosofia da comunicao que leva a
mensagem de Hermes, mestio entre a primeira e a segunda pessoas,
circulando entre suas relaes: nem ela nem seu podem dispen-
sar o que no ela nem ele.
Instruir ou engendrar
Donde o conhecimento, a experincia e a instruo. Antigamente
chamava-se pedagogo ao escravo que conduzia escola o filho da
nobreza. Hermes os acompanhava tambm, s vezes, como guia. O
pequeno deixa a casa da famlia; sada, segundo nascimento. Todo
aprendizado exige eSsa viagem com o outrO em direo alteridade.
Durante essa passagem, muitas coisas mudam.
Amai a lngua que faz do escravo o senhor, e, portanto, da via-
gem uma escola em si mesma, e dessa emigrao uma instruo. O
escravo conhece o estar fora, o exterior, a excluso, o que significa
emigrar; mais forte e adulto, ele chega a se equiparar ao infante mais
sortudo, em uma igualdade temporria que torna possvel a comuni-
cao. Vagueando na floresta, Branca de Neve tambm encontrou
60
,
velhos anes; ancestrais porque velhos, mas crianas pelo tamanho,
quase-igualdade que lhe permitiu ficar protegida e tornar-se proteto-
ra; sempre criana e j madura; me, logo, e filha, ainda; ela vai,
portanto. renascer de si, deles, da floresta, em si mesma e de outra
forma, filha e me de si mesma. No h ensino sem este auto-engen-
dramento. Assim, do alto, a criana rica fala ao pobre escravo adulto
que lhe responde, do alto de sua estatura; talvez eles enlacem as mos
de repente, no vento e na chuva, forados a buscar abrigo sob a
fronde de um carvalho sobre o qual troveja a terceira pessoa: neva,
faz frio. Diferente e vivendo dolorosamente a alteridade, o escravo
conhece o exterior, viveu fora.
Ento, o mundo entra no corpo e na alma do pequeno sabicho:
o tempo impessoal e tambm a singularidade do excludo, iste,
escravo desprezado, e logo o do professor, ille, longe ainda, ao fi-
nal da viagem. Antes de chegar, ele no mais o mesmo, re-nascido.
A primeira pessoa torna-se terceira antes de ultrapassar a porta da
escola.
O consiste numa mestiagem assim. Estranha e ori-
ginal, j misturando os genes de pai e me, a criana s evolui por
novos cruzamentos; toda pedagogia recomea o engendramento e o
nascimento de uma criana: canhoto nato, aprende a se servir da mo
direita, permanece canhoto, renasce destro, na confluncia dos dois
sentidos; nascido gasco, ele assim permanece e se torna francs, de
fato, mestio; francs, viaja e se faz espanhol, italiano, ingls ou ale-
mo; esposa e aprende a cultura deles, sua lngua, ei-Io mestio de
quarta ou oitava gerao, alma e corpo mesclados. Seu esprito se
assemelha.ao casaco furta-cor de Arlequim.
Isto vale tanto para adestrar o corpo como para instru-lo. Neste
caso, o que foi misturado chama-se mestio instrudo. Cientista por
natureza, atrado pelo foco solar, ele entra na cultura. A razo co-
mum remete os focos negros, diferentes, para seus particularismos
culturais. Ora, por uma estranha simetria, o problema do mal -
injustias, sofrimentos, violncia e morte -, culturalmente univer-
sal, ocupa toda a zona do foco de sombra, de onde ele aprende a ver
61
as razes claras, assim como as solues racionais, variveis e separa-
das. Ento O esprito muda seu leque de cores.
Isto vale finalmente para a conduta e a sabedoria, para a educa-
o. J outro, o acompanhante conduz ao encontro de uma segunda
pessoa _ experincia dura e exigente, sob o vento e os relmpagos
_, onde o mesmo engendra em si, sem abandonar sua prpria pes-
soa nem sua unidade, uma terceira pessoa.
Ama o outro que engendra em ti o esprito.
A terceira pessoa: procedncia
Presente em toda parte do universo, mas ausente a ponto de ningum
poder encontr-lo, tanto ele se esconde, tudo e portanto nada, nada
mas tudo, Deus compreende, alm do mais, a lei da encarnao que
faz com que o tudo, no mundo e no tempo da histria; se torne nada,
humilde filho de carpinteiro nascido no interior de um estbulo mi-
servel, condenado morte e crucificado como um escravo, encon-
trando, desposando, assumindo o problema do mal, finalmente tor-
nando-se tudo de novo, sentado, ressuscitado, direita de seu Pai, ou
seja, a segunda pessoa; a terceira pessoa, o Esprito, procede das duas
primeiras.
Representa-se o Pai, onisciente, sentado no trono do poder e da
glria, estvel. No total, ele teria trabalhado oito dias. Desde ento,
descansa em paz. O Filho desce Terra e, mais baixo ainda, aoS In-
fernos, para afinal ressuscitar e depois, na Ascenso, voltar aos cus,
onde ir julgar, nO dia derradeiro, os vivos e os mortos. Os dois mo-
vimentos do Deus que se encarna resultam, ao todo, num equilbrio:
no apenas esttico, mas compensado pela redeno ou a reparao.
Segunda estabilidade: invarincia por variaes, compreendendo de
passagem uma soluo trgica para o problema do mal. Eis a sombra
e a luz, o sofrimento e a oniscincia.
Terceira pessoa da Trindade, o Esprito Santo toma a forma
de um pssaro, de uma pomba, e s vezes a aparncia de uma lngua
de fogo ou de um sopro impetuoso: ele venta, ele troveja, ele produz
62
'1-
relmpagos. Brisa, rudo ou chama, o Esprito se propaga onde e
quando e se assim o quer; cai sobre ns, aqui, ontem ou amanh, de
repente, como as intempries, o raio que bifurca no cu ou a chuva ...
e os volteis s se sustentam graas s turbulncias que se formam
sob as suas asas. Nem no vo nem nos ventos turbilhonantes se en-
contram traos de equilbrio, de estabilidade, de compensao. A
semeadura do esprito depende do calor e do ar, portanto do tempo
que faz, bastante aleatrio, e no do tempo contado, regular; ele pe-
netra no mundo em turbilhes. Nada, tudo; tudo, nada. Um mins-
culo pedao de lngua no interior de uma sala fechada, todas as lin-
guagens do mundo conhecido em praa pblica, eis, novamente, a lei
vibrante, neste caso a do Pentecostes.
Nem o vento, nem o fogo, nem os pssaros em vo conhecem
repouso. A terceira pessoa procede das duas outras e se torna uma na
procisso. Esta ltima palavra descreve um passo frente, com um p
erguido, que se expe. O Esprito se expe fora do Pai e do Filho sem
quebrar sua unidade. Nenhum texto diz que essa procisso pra, que
esse passo lanado encontra seu lugar: donde as figuras da asa e do
vo, que nunca encontram apoios definitivos nos fluidos volteis.
Como, em definitivo, a escora sempre cede, deve-se sempre recome-
ar a buscar apoio naquilo que sempre ceder. O Esprito procede de
modo absoluto: deixa em definitivo as estabilidades, inclusive aque-
las do movimento equilibrado da histria circular, para se aventurar
nas instabilidades movedias dos desvios de equilbrio. Isso quer di-
zer que ele no pra de se expor. Evolui e viaja. Donde sua excen-
trao, independente das estabilidades das duas primeiras pessoas;
donde o sal).er, donde o tempo. Donde a aprendizagem.
Esse tempo real do vento e do fogo, dos elementos e do clima, o
tempo do esprito, equivale quele da criao, da instruo, da inte-
ligncia inesperada e do conselho constante, das transformaes sem
retorno, das lnguas e da cincia, das viagens, das invenes e desco-
bertas, da paz improvvel alm das vinganas, da prescrio, das mis-
turas inesperadas, das ligas ... Entre as duas pessoas estveis em sua
conversao infinita, entre a oniscincia e a exposio ao mal -
63
uma, fogo brilhante, a outra, ardente - estende-se o tempo catico
do esprito, terceira pessoa.
Inversamente, o terceiro homem que nasce em mim, no decorrer
da aprendizagem, esprito.
Numa soluO de proporo ou razo irregulares, o tempo da
histria mistura um tempo circular, fsico e legal, aquele dos dias do
calendrio, que se encarna nos trabalhos, e o tempo errtico e impre-
visvel do esprito. A histria procede, ela tambm, do esprito.
O mundo procede de fato das duas pessoas. Eis a criao objetiva
e a redeno, ou recriao pela redeno. Mas como o esprito proce-
de tambm delas, o resultado que o mundo real a terceira pessoa,
como se viu, ou o prprio esprito, ou que o esprito o prprio
mundo ou a soma do objetivo, aquilo atravs do qual este ltimo
pode ser conhecido, de modo que juntos eles so o tempo, belas
coisas que eu queria no s demonstrar, mas que nascem junto com
a demonstrao.
Pessoa mestia, o conhecido se constri enquanto o cognoscente
se instrui.
A terceira mulher: concepo
Os sbios usaram a palavra "fenomenologia" primeiro em mecnica
celeste, para descrever o movimento dos planetas, suas aparncias e
sua razo; depois em fsica geral, antes que a filosofia se servisse dela
para os avatares do esprito ou o reconhecimento de estabilidades
imersas em perfis volveis. Traduzindo vernaculamente esse vocbu-
lo grego e erudito, pode-se dizer: "a apario fala", frase s vezes
balbuciada, sem saber, pelos excentrados do conhecimento. A pri-
meira expresso solar, a segunda cega, para um mesmo sentido.
Eis um segundo foco.
Numa gruta sombria em Lourdes, a uma pastora analfabeta,
apareceu a Santa Virgem para declarar sua concepo imaculada,
como se se tratasse da sua prpria procisso. Toda a cena piedosa e
ingnua: Ana, a me, ausente, evocada, Maria, filha e me, que surge,
64
I
meio presente, e que fala, e Bernadete, filha, silenciosa, visvel, carnal,
presente ali, camponesa ignorante, constituindo-se numa trindade
feminina nova, pelo menos inesperada numa cultura na qual os deu-
ses ou Deus, brilhantes como sis, se engendravam ou procediam
ainda do masculino. As mulheres, afinal, procedem de si mesmas.
Buracos escuros da terra e simples de esprito que marcam uma
distncia em relao ao saber, na matria do mundo ou na alma dos
homens. Sim, o mito - como dizer? - vive hoje em um desvio
constante em relao cincia e at mesmo s instituies da teologia
maior; e os racionalistas riem. Os sofistas gregos teriam desprezado
tanto o texto da Repblica pela pgina em que ele evoca o mito de
Giges, outro pastor em xtase numa caverna semelhante? Plato se
dava o direito de falar do sol alm da geometria e da dialtica, mas
seu texto tambm fala do campons em sua gruta escura. Sua peda-
gogia se produz em dois focos, ou consente com uma excentrao
que ns recusamos, embora ele tenha pensado antes e ns escreva-
mos depois da revoluo kepleriana.
Ns toleramos a antropologia, mas com a condio de que se
dirija aos outros, aos pobres do Terceiro e do Quarto Mundo, queles
que se mantm como objetos de nossos saberes.
Sim, em Lourdes e na Iugoslvia hoje, a pastores ou a crianas
ignorantes, em cavernas, as aparies falam: fenomenologia da qual
ns prprios no ousamos falar. Ora, a palavra culta e a frase popular
dizem uma nica e mesma coisa - que, recolhidas, as aparncias
parecem falar -, tendo uma origem no foco solar ofuscante e a outra
no buraco ~ e g r o
Das das locues, diga depressa qual a mais atraente e mais
clara.
A procedncia masculina do Esprito imita o engendramento, da
mesma forma que a concepo feminina, virginal ou imaculada; eis
dois bons modelos antropolgicos da instruo, da produo pelo
outro, em mim, de um mestio, verbo ou esprito.
Em mim, o esprito procede ou se concebe virginalmente.
65
o mestio instrudo: ancestrais
Mestia no esprito ou na lngua, a semeadura do saber cientfico na
narrativa ou na meditao vem de uma alta tradio. De Rabelais a
Valry, passando por Moliere, Voltaire ou Balzae, dez escritores mais
ou menos dominaram a cincia de seu tempo. Ela clareia, fortalece as
obras deles que, em troca, a iluminam e a reforam. As sombras e as
foras vm juntas de duas fontes que engendram a obra. A diviso
que distingue os ignorantes cultivados e os instrudos incultos, nos
quais a noite sucede ou se justape ao dia, aparece numa data bem
recente.
O caso mais simples de uma distribuiO to comparvel ao cu
concerne a um corpo idntico: mesmo autor, mesma inveno em
domnios que apenas nossa estreiteza separa. Pascal deixou somente
uma obra e, como ambidestro, ou melhor, corpo completo, a escre-
veu com as duas mos: Tringulo aritmtico e Memorial, Cnicas e
Provinciais, Roleta e Pensamentos procedem juntas de uma mesma
busca, justamente a do centro, inacessvel neste mundo infinito, mas
que o espao sobrenatural faz aparecer. Da mesma forma, Leibniz,
Diderot, Goethe ou Robert Musil, que apenas as nossas limitaes
apresentam como excees monstruosas, deixaram atrs de si mil
textos mestios: mecanismo metafsico, escreve o primeiro, enquanto
o segundo conta o determinismo rigoroso; o seguinte fala do amor e
suas afinidades, tema igualmente em moda tanto na mecnica ou na
geometria das elipses quanto na qumica nascente, e o ltimo prev
as probabilidades de uma meteorologia da histria. Obras de corpo
completo.
Como se espantar com o fato de que a paixo da pedagogia tenha
de tal forma dominado corpos dotados de tanta completude? Amam
engendrar aqueles que amaram seu prprio engendramento. Mode-
los de modelos. Plato, Aristteles, Montaigne ou Rabelais fecundam
sua cultura com todo o saber do tempo, para modelar, por meio
dessa mistura, o homem que viria. Talvez a dupla educativa, Mnon-
Scrates, jovem Telmaco, velho Nestor, ignorante e sbio, forme o
66
l
corpo duplo da instruo; ser possvel saber-se exatamente o que o
segundo deve ao primeiro?
Exmio nos saberes tradicionais esmaecidos pelo tempo, o velho
sacerdote egpcio do Timeu trata os gregos como crianas, no que eu
leio a perptua juventude das cincias, sua maneira metdica de im-
pedir Seu trigo de crescer. A pedagogia conhece o n apertado desses
dois tempos. No sentido usual de sua circulao, dos velhos para os
jovens, transmitem-se as humanidades, arcaicas; deve-se avanar em
idade para compreender sua sabedoria. No sentido exatamente con-
trrio, das crianas para as pessoas maduras, faz-se a passagem das
cincias exatas. Homero representava o av desde a aurora de dedos
rseos do terceiro milnio, enquanto Teeteto, Pascal, Abel ou Evaris-
te Gallois, crianas inventoras de teoremas, morreram sempre na flor
da idade. Os avs de olhos vendados passam cegamente os contedos
da cultura, quase sempre obscuros, enquanto lhes chega o aval das
mensagens claras vindas dos jovens de olhar brilhante. Ensino inter-
rogativamente a minhas netas uma bonomia cuja elevao ainda me
domina, mas, em troca, elas me ensinam os recentes progressos e os
desempenhos das cincias e das tcnicas. Um saber em amadureci-
mento se comporta como um bom vinho enquanto, primaveril, o
segundo se torna cada vez mais verde. Prmio Nobel das cincias
juvenis ao lado dos patriarcas condecorados pela literatura.
Portanto, deve-se aprender, ao mesmo tempo, aquilo que se
compreende e aquilo que no se compreende: no primeiro caso, a
durao vivida desaparece, enquanto o ltimo a produz. O obscuro
projeta um,.tempo que o claro encurta, o claro-escuro faz o prprio
tempo. Crianas, aprendei Homero e La Fontaine de cor - inabor-
dveis nas vossas idades, eles amadurecero lentamente no centro de
vossos corpos - e a matemtica com discernimento.
Esses dois vetores inversos do tempo e da inteligncia afastariam
para sempre de todo ensino os dois corpos da dupla, ignorantes um
do outro, seno para pensar Ou desenhar o turbilho real do tempo
ou as turbulncias do esprito. O que da vida sobe, o que da
entropia desce. No seio dessa turbulncia, enfim na idade adulta,
67
onde o tempo se ata, sobe, cai e parece parar - dir-se-ia uma galxia
_, o Mestio Instrudo projeta o tempo ingnuo da cincia adiante,
e atrs as experincias da cultura, mas anula incessantemente, atrs,
o tempo pelos curtos-circuitos da distino cientfica e constitui,
adiante, o tempo longo da humanidade pela lenta digesto dos con-
tedos tradicionais. Adulto: jovem-velho com a vantagem combina-
da das duas idades.
Estaremos engendrando finalmente a idade da razo?
Em um outro casa mediano, sem dvida mais freqente, o autor
produz com uma s mo, enquanto apenas se informa com a outra:
Zola descreve a famlia Rougon-Macquart e, ao faz-lo, discorre so-
bre a gentica de sua poca; mas, ao contrrio da expectativa, ele
inventa autenticamente as condies fsicas naS quais se colocam os
problemas da reproduO. A chama que anima o descobridor salta os
aceiros. Romancista, ele canta a gesta de uma tribo e as tribulaes de
seuS membros, mas, ao descrever minuciosamente os elementos do
genoma, adota o gesto preciso dos cientistas que os descrevero.
Se as especialidades se dividem, o inventiva continua uno. Na
fornalha da Souliade, o doutor Pascal, geneticista, desvia-se para a
termodinmica, sem que Zola abandone a narrativa por um s ins-
tante. A literatura diz a cincia, que se encontra com a narrativa que,
de repente, se antecipa cincia. Eis, ao vivo, o processo de engen-
dramento.
Este casa mediano se liga ento de maneira fulgurante ao primei-
ro, de modo que os saberes no se delineiam como continentes cris-
talinos ou slidos fortemente definidos, mas como oceanos, viscosos
e sempre batidos: dez correntes, quentes ou frias, os atravessam e
neles produzem gigantescos turbilhes. Nenhuma histria das cin-
cias nem histria em geral, nenhuma instruo possvel, nenhuma
transformaO sem esses turbilhes fluidos.
A .pena no comeo em sua melhor mo, Zola, pouco a pouco,
aprende a escrever com a outra. Ele atravessou o rio; sem o saber,
engendra em si um sbio desconhecido.
68
'.
,
1&
, ..'t
~ f
o caso mais difcil, no fim desse caminho, mas mais interessante,
dificilmente distinguvel, raro, fulminante, leva o escritor antecipa-
o. No falo dos relatos recentes, catalogados sob essa denominao
e freqentemente medocres, mas das intuies sbitas, presentes e
ocultas, perdidas mesmo, em pginas cuja mensagem parece falar em
outro tom, de lagos de premonio, de bolses de sabedoria infundi-
da nos momentos mais preciosos da literatura.
s vezes, um desses relatos - um conto ou um poema - soma,
sem o saber, diversos conhecimentos. Gostaria de dar a cada um
desses textos o ttulo autntico de obra-prima desconhecida, mais
ainda, inconsciente, pois o conjunto das cincias para ela converge
com uma transparncia atravs da qual o olho circula sem nada ver;
assim como as cores do arco-ris se mesclam na limpidez branca da
luz diurna, tambm os conhecimentos se fundem em uma palavra
que se pretende banal. Diderot parece ter compreendido que se devia
chamar de sonhos a tais empreendimentos, quando eles se constroem
intencionalmente, e que se deve acalmar um sbio filsofo, adulto,
sob os olhos e a ateno de um mdico filsofo e sbio, igualmente
homem feito.
Mas o poeta no acalenta nenhum projeto desse tipo quando por
sua vez adormece, irritado ou embalado pelo zumbido de uma vespa
em torno de sua cabea. Tanto O sonho de D'Alembert, sonho falso
sem dvida, afetado, desenhado premeditadamente, projeta a extra-
polao a partir de curvas exatas e reconhecidas pela verdadeira cin-
cia da poca, e faz brilhar as diferentes cores que o prisma do texto
desdobra, quanto Verlaine, em seu soneto Sagesse, "A esperana
brilha como' um pedao de palha no estbulo", ignora tudo de um
saber por vir, quase adormecido, o cotovelo sobre a mesa, o calor
escaldante da hora, durante a siesta meridiana, os ps dentro das po-
as de gua fresca que inundam o piso, mas assim mesmo v um raio
de luz que sai de um buraco e se esfarinha. Quando soa o meio-dia e
a luz do sol platnico penetra s com parcimnia em seu quarto, ele
descreve, como se noite fosse, o rudo de fundo da cinestesia invadin-
do o ouvido enquanto adormece, e o rudo de fundo do mundo
69
paralelo ao do corpo, vos de vespas, poeiras que danam, hastes de
palha no estbulo. O que ainda no sonho e se prepara para tornar-
se um permite observar, em claro-escuro, um caoS indeterminado,
cuja presena constante nos acompanha, organismo quente e univer-
so ruidoso de multiplicidades de zumbidos, onde a cincia, assim
como a vida, a lngua, assim como a poesia, vo buscar seuS comeos.
Intuio vaga mas rigorosa de um saber e de uma epistemologia fu-
turos.
A esto os ancestrais ou os pedagogos, j desde muito tempo
reconhecidos, do mestio instrudo.
Eis a descriO de um segundo engendramento, que parte de
uma segunda excentricidade, de outros contedos de saber, nO mais
proveniente das cincias exatas, mas da histria e das lnguas.
o mestio instrudo. de novo: origem
"Se no me amas, eu te amo ... " Quem no saber cantar o refro de
Georg
es
Bizet? Todo mundo viu Carmen, a pera mais representada
na histria. Por outro lado, quem ter lido a novela de Prosper Me-
rime? Alm disso, sabe-se de fato como ela comea?
Por um monumento de erudio. Nela, a lingstica se combina
com a geografia, a histria e a arqueologia ... e questes precisas e
sutis so colocadas: quem escreveu, paralelamente Guerra da Glia,
a Guerra da Espanha? Mesmo tendo sido em ambas o principal ator,
Jlio Csar nO foi, pelo que se diz, o autOr. Ento? Algum romano,
um espanholl E onde se travou, por exemplo, a batalha decisiva de
Monda, na qual o fim das guerras civis foi decidido entre os dois
filhos do grande pompeu? Em Munda ou Montilla? A filologia, pre-
tensiosa, luta com a toponmia da Andaluzia montanhosa, entre Cr-
doba e Granada. preciso, para compreend-las, t-las estudado,
saber ler os mapas antigoS e os Comentrios latinos.
Merime chega a se referir na obra a um artigo erudito sobre" as
inscries romanas de Baena", que de fato aparecer na ediO de
junho de 1844 da Revue Archologique. Nada mais distante dos amo-
70
res ciganos e das saias rodadas. Sim, Carmen comea pela cincia. As
notas ao p do texto, que tanto desfiguram os volumes, e os algaris-
mos ou asteriscos cujas linhas os crticos surrupiam, remetem, com
arrogncia, s pginas finais, para onde s vezes eles as relegam, at o
incipitda novela. Tola movimentao, que mal consegue captar a boa
inteno.
Eis portanto o bravo Merime trabalhando entre os livros, com-
parando os textos e os mapas, na biblioteca do duque de Osuna ou na
dos dominicanos de Crdoba. Vai ficar ali? Vai sair? Talvez encontre
mulheres fatais danando em meio s estantes ou entre os incun-
bulos?
Uma moral para a histria, to cedo? Que preciso freqentar as
bibliotecas, certo; convm, com certeza, tornar-se erudito. Estude,
trabalhe, sempre ficar alguma coisa. E depois? Para que exista um
depois, quero dizer, algum futuro que ultrapasse a cpia, saia das
bibliotecas e corra para o ar puro; se continuar l dentro, nunca
escrever nada alm de livros feitos de livros. Tal saber, excelente,
contribui para a instruo, mas o objetivo desta alguma coisa que
no est nela mesma. Do lado de fora voc tem outra chance. Qual?
Volte ao incio de Carmen.
Eis Merime por dentro: arquelogo, cartgrafo, l, copia, toma
notas, publicar assim o artigo erudito. Agora o vemos do lado de
fora: fiz uma excurso - diz - para esclarecer minhas dvidas sobre
a localizao do combate travado por Jlio Csar, tendo como nica
bagagem algumas camisas e os Comentrios; seguem-se ainda assim
alguns restos de biblioteca.
Parece.:percorrer o pas andaluz contornando as margens do
Guadajoz. Mas, quanto a mim, duvido muito que essa excurso no
se tenha limitado a um excursus, mais erudito ainda que as anotaes;
tanto as descries do planalto de Crachera e as dos pntanos prxi-
mos repetem com seus erros e defeitos de impresso, dicionrios,
catlogos, elzevires. Eu o pego com a mo na botija: mentiroso! Tam-
bm conheo geografia, e por isso vejo que carregas o fora para o
dentro do dentro, num pedantismo disfarado: finges contar um pas-
71
seio, mas posso mostrar que transcreves um manuscrito! Quando
chegaremos s ciganas e s danas? Quando passaremos do artigo
novela que impede de dormir as jovens e os belos oficiais?
Dia. Entretanto, tudo comea de fato. Dir-se-ia mesmo que o
erudito caminha e sofre. No, ele no copia mais. Queimado pelo sol,
extenuado de cansao, morre de sede - isso no acontece quando
est com o nariz nos livros -, e logo ir beber, deitado sobre o
ventre, como os maus soldados de Gedeo. Para ter o mrito de es-
crever um verdadeiro livro - neste caso, a Bblia - preciso deixar
o Egito e enfrentar a dureza do deserto. sem outra proteo fora o cu
e outra parede fora o horizonte.
Mas antes de conseguir matar a sede, Merime busca ... e enCon-
tra um pequeno charco, cheio de sanguessugas e rs. Esta anotao
no pode noS enganar. Sim, tudo est dito a. Diante de um pntano
onde sanguessugas-vampiras se alimentam com os livros de outrem,
poder-se-ia deduzir que, dirigindo-se a montante, algum riacho que
alimente o pntano, em troca, conduzir nascente, mais pura e sem
parasitas.
Em outras palavras, o arquelogo, o historiador, o latinista eru-
dito, o cartgrado, o fillogo ... muito habitualmente procuram suas
fontes. A terrvel massa de livros revela e oculta o riacho e suas
origens: gosto de dizer que as fontes atraem os sbios porque esto
livres de sbios! Se quisesse passar por douto, chamaria tudo isso de
Quellenforschung. *
Eis ento o viajante subindo corrente acima. Estupor maravilha-
do da descoberta: ao p de uma escarpa, numa depresso tranqila,
sombreada, de uma beleza soberba, est a fonte, que jorra borbu-
lhante em uma bacia de areia branca. Perto dela, sobre a relva fina e
lustrosa, um homem dorme.
:;. Em alemo no original. Quellenforschung quer dizer "o princpio da nascente".
(N. da T.)
72
I
\
J.
Merime no nos estar pregando a mesma pea de Tito Lvio
que, subindo em direo s fundaes de Roma, descobre de repente,
sobre igual relvado macio, o prprio Hrcules adormecido, enquanto
pastam as ovelhas que roubou de Gerio, depois de ter-lhes matado
o dono? Ladro, assassino como ele, e como ele adormecido perto da
fonte descoberta por Merime, no papel de historiador ou por estar
sedento, neste lugar paradisaco no qual se abre a estreita garganta
por onde corre esse riacho, don Jos mantm uma espingarda ao
alcance da mo, como o outro conservava a sua maa, enquanto os
cavalos ao longo do desfiladeiro a jusante se respondem relinchando,
chamados sem sentido que retomam como eco os mugidos surdos
dos bois de Tito Lvio. Fato curioso, um quadro semelhante se ofere-
ce a montante, no incio das duas histrias, similarmente romanas.
Trata-se de uma cena originria na vizinhana mais prxima das
origens?
Merime se expor, da em diante, ao sol, sede, ao deserto,
violncia, privao, aos percevejos dos albergues mal-afamados, s
traies e morte - em suma, ao mal e realidade - ou, ao contr-
rio, ainda mentiroso, continuar copiando, mas agora sem nos dizer,
o prprio pai da histria romana? Deve-se ainda hesitar? Por que
desenhar no comeo uma paisagem anloga, riacho e fonte, povoada
por anlogos atores, deus ou bandido, s s s s ~ n t o e roubo, sono pro-
fundo e animais irracionais, vozes animais privadas de sentido? Tra-
ta-se de histria, de um mito, de uma narrativa?
Onde buscar as fontes desta cena perto das nascentes? Nos limi-
tes da Quellenforschungparece que se deva pensar em algo como uma
auto-referncia: a fonte primeira devia brotar naturalmente; diz-se
mesmo que ela corre da nascente, que ela evidente. Entretanto,
inmeras visitas s nascentes do Garonne, do Vienne e de outros rios
e riachos comprovam bem depressa que o ponto de origem se reduz
a uma coletnea, na qual a bacia rene ou coleta mil pequenas entra-
das d'gua separadas, que vm de montante, de montanhas geladas
ou prados midos, do gelo ou das chuvas. Sempre e em toda parte, a
origem se reporta portanto a um ponto que corre de um fluxo qual-
73
quer, como na reta orientada em geometria; entre esses lugares co-
muns, alguns simplesmente formam uma barragem.
Comparemos as duas histrias. Ladro e assassino, perseguido
pela justia, o bandido basco tomou o lugar de um assassino ladro,
substituio sem muita diferena. Hrcules desperta e mata Cacus;
don Jos no mata ningum ao acordar.
Embora seja apanhado, ou quase, em flagrante delito de assas-
sinato, algum desculpa Hrcules: um certo Evandro, que naquele
tempo desempenhava o papel de governador; encarregado do pro-
cesso judicirio, ele faz crer que julga o heri, mas logo o poupa,
reconhecendo-o como divino; Hrcules matou nossa vista e nossa
vista beneficia-se da impunidade. O assassinado, Cacus, tinha m
reputao ... De repente, Evandro faz a histria se bifurcar para o
mito, e o judicirio para o religioso. Em lugar de enforcar o assassino,
este ser honrado nos altares. Deus em lugar de condenado, outra
substituio quase sem diferena. Merime trata da mesma forma o
banido, com humanidade, enquanto o seu guia se apressar a entre-
g-lo justia; eles constituem, ambos, o personagem de Evandro, de
modo que as duas cenas tratam os homens de maneira equivalente.
Tambm o narrador, aqui, faz a histria ento se bifurcar, libe-
rando-a do judicirio: don Jos continuar a viver livre por um tem-
po, pois os carabineiros, alertados pelo guia, chegaro tarde demais
para prend-lo. Toda a narrativa se faz enquanto ele est livre: entre
sua evaso, no longe das nascentes, e sua captura, seguida de sua
execuo em Crdoba.
Eis Hrcules e don Jos libertados - filhos da boemia, tero
jamais reconhecido a lei? -: mas livres de quem ou de qu? Nos dois
casos, dos juzes, da justia, da sentena. Deixemos o latim e a lngua
espanhola e falemos grego por um momento: os dois homens se li-
bertam do julgamento, quer dizer, da crtica. Em direo s fontes, a
crtica depe as armas.
Em Tito Lvio, o religioso e o mtico se bifurcam do judicirio;
partindo da cincia crtica, a narrativa literria se bifurca, em Meri-
me: nas duas ocasies, no mesmo instante, nas mesmas circunstn-
74
I
r
cias e na mesma proximidade da origem. Em outras palavras, o mito
para o judicirio o que a narrativa para a crtica; e a crtica para
o judicirio o que o mito para a narrativa.
Don Jos fala antes que o carrasco o enforque, Merime adota,
para comear, o traje e o gesto do crtico, o conduz, depois o perde,
no caminho da erudio; poder-se-ia quase dizer que o semeia. Ele o
deixa perto das fontes e bifurca bruscamente.
As duas histrias - mtica, literria - tm em Comum essa
libertao do judicirio. Mas como?
No lugar do acusado, do assassino, Evandro coloca um deus; e
Merime substitui o bandido por um heri. No lugar preciso da bi-
furcao, na ocasio do julgamento, sobre uma balana em equil-
brio, no instante em que se deve cortar o n decisivo, a substituio
ocorre. Hrcules e don Jos saem do tribunal para subir aos altares ou
ao palco. No comeo est a substituio.
Um deus e um heri se mostram assim no lugar de dois cele-
rados, no alto das arquibancadas e dos degraus, entre os vus do
tabernculo ou as cortinas do palco. No comeo est a representao.
Em toda representao, algum substitui um outro: um carneiro
substitui Isaac, um ator o papel-ttulo, um texto uma ao. A es-
tamos.
Quem opera a substituio? Evandro no primeiro caso, Merime
no segundo: o escritor ou o erudito.
Na verdade, no conhecemos ainda a vtima de don JOS: Car-
mencita, que ele amava, que o amava ... se no me amas, eu te amo, e
se eu te amo, cuidado contigo ... Carmencita, eis aquela a quem don
Jos matoti. Ora, no mito sem amor, Evandro, o do bom nome, que
diviniza o mais forte e prejulga mau o mais fraco, tem por me _ ou
mulher - Carmen ta.
Carmen: Carmencita, Carmenta ... as duas histrias, no montan-
te de sua origem, indo alm da prpria nascente _ me ou amante
do juiz, causa de exlio -, se atam no mesmo nome, no mesmo
corpo, na mesma pessoa. Teremos chegado a uma nascente comum?
Sim, cherchez la femme.
75
Evandro, filho de Hermes, inventara a escrita, diz-se, ou pelo
menos a trouxera de Arcdia, s margens do Tibre. Quanto a Car-
menta, sua mulher ou me, ancestral das Sibilas, ela canta magi-
camente.
Escrever, falar, cantar, representar, operaes de invocao ou
de encantamento que substituem pelo software, suave, o hardware,
duro. Ou pelo deserto rido uma biblioteca climatizada ... a guarda
que chega pela guarda que sai.
Merime, erudito, sobe em direo nascente; enfeitiado, des-
ce, recitando. Ele teve que passar por um ponto de intercesso. >I-
Noite. Da nascente brota o Guadajoz, sem dvida, ou um peque-
no tributrio desse afluente do Guadalquivir. Desamos agora o rio
principal, deixando-nos ir de montante a jusante, seguindo a corren-
te, como dizem os marinheiros, das origens pelo fio do tempo e da
histria, intervalo que mede a durao da liberdade de don Jos ...
ento, no cais da margem direita, em Crdoba, ao crepsculo, depois
de soar o ngelus, as mulheres se banham, nuas, e do alto da margem,
nesta hora em que todos os gatos so pardos, ningum consegue
distinguir entre uma velha vendedora de laranjas e uma jovem e bela
rapariga. Voc tomaria uma pela outra. Sada desta cena obscura e da
beira do rio - ser que ela o atravessou a nado? -, pela escada que
serve o cais, perto do autor, de sbito, chega a jovem cigana de saia
negra. Como Afrodite, ela nasce das ondas. A quem substitua essa
Vnus anadiomena?
Carmen, morta e invisvel sob o sol ardente das nascentes, Car-
men em pleno meio do riacho, num momento engendrada, ali senta-
da, visvel em plena noite, bem ao lado do autor, presente, viva, fatal,
bela, poderosa, embriagadora, atraente, malvada, feiticeira, terrvel
Carmen. Fonte de vida e causa de morte.
Eis-nos na origem enfeitiada da histria, romana, espanhola,
pouco importa ... de qualquer histria - assinalemos que esta pala-
* Tiers-point. Ver N. da T. pgina 16.
76
~
_.
vra evoca a um s tempo uma cincia humana e uma bisbilhotice sem
importncia -, da palavra, do canto, da pera, da escrita, da cincia
e da narrativa em geral. Carmen diz tudo ao mesmo temp', como um
curinga.
Relinchos, mugidos desprovidos de sentido, cavalos e bois ... can-
tos mgicos, feitiarias, bom e mau olhado, voz com dois sentidos
opostos ... julgamentos inquos ou justos, amores deliciosos e fatais,
duplo sentido sucedendo ao barulho insensato dos animais ... um
nico sentido enfim para a narrativa que comea e para o riacho que
corre ... Eis que nasce um corpo, nu, nadando, inacessvel e contudo
ali, das nascentes at Crdoba, nas guas do Guadalquivir. Anterior
e fora de qualquer lei, maga, quimera, tirando as cartas vermelhas e
negras, lendo as linhas bifurcadas na escrita natural da mo, anterior
lngua, cantora e danarina, Carmen conserva s para si esta ge-
nealogia.
Toda obra-mestra conta o engendramento de sua prpria arte.
por isso que desfruta desse ttulo: mestra.
A erudio e a arqueologia, a histria e a filologia levam, perto de
uma nascente, a uma substituio cuja causa, a montante ainda, se
chama Carmen; deixando-se descer agora para jusante, ei-Ia nua,
banhando-se nas guas sadas desta nascente, como se o rio a tivesse
engendrado. Para os livros sobre as origens daquelas cincias, um
curso d'gua serve de condutor, e seu movimento, acompanhado no
sentido inverso, no conduz nem biblioteca, nem ao artigo erudito!
Dir-se-ia que um fluxo se bifurcou. Morto, o artigo erudito engendra
a novela viva.
O engendramento concerne tambm ao escritor. Ele renasce du-
plo, erudito e narrador, mestio, como esta mulher atraente e fatal,
como o heri, homicida mas divinizado, como o rio cujos galhos se
desenham sobre a terra.
N eja o duplo foco. A cincia deixa sua clarividncia e a narrativa,
cega, se inicia, ao cair da noite. Tateante, a cincia leva a uma hiper-
vidncia, e a literatura brilhante comea. Quem prevalecer? Existir
uma claridade suplementar na cincia crtica e uma obscuridade no
77
relato, uma vez que ela discorre sobre ele e no ele sobre ela; ora, aqui
o relato fala e parte da crtica e a abandona, como se existisse nele
uma claridade capaz de relegar a cincia sua cegueira: extralcida
Carmen. O que aconteceu com aquele claro-obscuro alternado?
Eruditos, no incluais notas ao p das pginas de Carmen, pois o
incio da novela extraiu delas a prpria essncia do que elas podem
dar; deixai a estria em paz, pois ela diz, melhor do que qualquer
cincia, exatamente o que a cincia jamais saber dizer de si prpria
nem dos textos nem dos homens nem do mundo.
Desenhando redes de bifurcaes, Carmen ensina de modo ex-
celente o mestio instrudo, ao mesmo tempo que uma filosofia da
criao. Subindo o curso de um rio ou do vale em direo monta-
nha, encontram-se tantos confluentes quantos se queira. E, para des-
cer, deve-se escolher: ou se toma a direita, do lado das Inscries e
das Belas Letras, ou a deciso pela esquerda, em direo estria
narrada. Mas em um momento, e mesmo a todo instante, pois as
bifurcaes abundam, a aventura se torna mestia, em equilbrio,
numa origem corrente, entre os julgamentos, o amor e a morte, a
cincia e a literatura, a erudio e a bisbilhotice.
A novela descreve a passagem de um patamar ou de um estreito:
a a cincia sobe e a narrativa desce. Prova exata de que a nascente
brota exatamente na passagem do ponto de intercesso: na depresso
tranqila, de relva macia e areia branca ... Nesse lugar, aonde remon-
tamos hoje, dorme o mestio instrudo.
A lio de Merime mudar nossa vida: erudito, ele sai e no sai
da biblioteca, e nessa hesitao copia seu artigo cientfico; mas, ao
anoitecer, cansado dos trabalhos especializados, desce ao cais do rio,
entre tanoeiros e operrios, e ali encontra aquela que, remontando s
nascentes, inspira desde sempre o que sempre ultrapassa infinita-
mente o erudito: a narrativa fascinante. Como o curso d'gua, o cor-
po do autor se bifurca: com a mo esquerda, Merime se pe verda-
deiramente a escrever e esquece a cincia, recopiada com a direita.
Ele descobre sua origem corrente, enuncia o ttulo e desenvolve
a realizao.
78
-"
!
Dir-se-ia que a literatura consegue passar por onde a percia
encontra um obstculo. Como se, afogado na densidade do sentido,
o no-saber soubesse aquilo que, transbordante de informaes, o
saber no saber jamais. Da mesma forma, se a filosofia consistisse
em esclarecer proposies e transform-las em objeto de debate, ela
seria uma rplica da cincia. A estria passa, cegamente compreendi-
da, enquanto a filosofia repete e no sai do lugar.
Mas s ela pode ir fundo o bastante para demonstrar que a litera-
tura vai ainda mais fundo que ela.
Vejo que o saber claro contm uma cegueira pelo menos to
grande quanto profundo o saber obscuro contido na ignorncia. s
vezes s se compreende sob a condio de diluir sua cincia na nar-
rativa leal das circunstncias. As solues no esto sempre onde as
procuramos. Para ver melhor, preciso sempre que se pague, portan-
to que se aceite saldar por qualquer cegueira essa mudana de lugar.
Engendramento na aurora
Empesteada pelo bodum dos ovinos machos, respingada de leite ta-
lhado em volta dos queijos que escorrem nas peneiras, a obscura
caverna onde dorme o Cclope se protege contra os olhares: mas ele,
o gigante hirsuto e selvagem, v mais e melhor, porque s tem um
olho no meio, do qual sai um raio laser. No adianta aos gajeiros de
Ulisses se esconder nos cantos. As patas peludas do monstro os de-
sencavam e os carregam, arfantes, para seu outro buraco, a boca san-
guinolenta.
Quem cauterizar esta luz implacvel? Quem fechar este segun-
do poo saliente em sua cara? Um homem chamado Ningum. Va-
gando desde muito tempo por mares e ilhas, ele perdeu tudo, e seus
navios, suas sandlias, sua tnica, seus projetos, at seu prprio no-
me o abandonam hoje tambm. Ele no mais levado em conta.
o monstro caolho superlcido, que consegue ver at mesmo
dentro daquele lugar negro, e forte como a montanha sob a qual
79
dorme, tem um nome que exprime vrios ao mesmo tempo: Polife-
mo. Isso quer dizer: o que fala muito, de quem se fala em toda parte,
aedo, ilustre e frtil em argumentos. Ele levado em conta por mui-
tos. Toda sua glria vem do olho. Mais ainda: seu nome comum de
Ciclope significa: circular, que ocupa todo o espao, incontornvel.
Distinguindo tudo sob a luz de seu olho circular e exercendo sua fala
atravs da boca devoradora, ele vive cercado por ovelhas e carneiros,
discpulos, admiradores, lugar-tenentes, sditos, escravos, mensagei-
ros fiis, aos quais vedada a inteligncia.
A luminosidade exclusiva emanada de um buraco alimenta o
segundo, vido.
Ningum, o caminhante, no tem nome: o enciclopedista Palife-
mo dispe de cem mil palavras explosivas ou rigorosas.
Mas quem fala sem parar, quem canta nos banquetes, negocia,
discute, maquina, ganha, perito incontestvel nas lnguas? Ulisses. E
de quem se fala desde a guerra de Tria? Dele, cem vezes mais do que
dos vencidos e dos cclopes. Quem circunavega, visita todos os mares
e terras conhecidos? O prprio. Quem no pode nunca dispensar os
companheiros, os rivais, a corte? Ulisses.
Quem, portanto, senhor do nome do Ciclope Polifemo? O pr-
prio Ulisses.
Quando o navegador cauteriza o olho gigantesco, bem no meio,
com sua estaca pontuda, ele cega a si prprio. Fura seu olho verdadei-
ro, entre os dois olhos j extintos: a sombra sucede luz no meio dos
dois focos. Ele apaga Polifemo, seu prprio nome literrio, seu belo
nome de prestgio, no para adotar um outro apelido, mas para re-
nunciar a todos: ei-Io, invisvel, Ningum. Abandona a glria e o
poder, o fogo e a montanha, os cordeiros balindo, e foge do antro sob
o ventre de um carneiro lanudo, sem que o agarrem ou o vejam. No
visto quando renasce do buraco negro da caverna, de um parto
invisvel e animal.
Ele abandona a lucidez integral, a cincia circular e total, o do-
mnio da linguagem, o imprio feroz sobre os homens, os ttulos
80
I
\
I
-"
I
pomposos, perde a fora para ganhar a humildade: mais que bicho,
sob o bicho de quatro patas e com a cabea baixa. Ningum. Ei-Io
enfim escritor, criador, artista, pelo menos no caminho austero que
conduz a esse ofcio.
Hirsuto, insacivel, nutrido de carne ovina e humana, prfido,
vaidoso, inextinguivelmente dominador, o primeiro duplo de Ulisses
arde sob a embriagus da glria, semideus poderoso sustentando a
montanha, mais que olmpico. O novo depe estes andrajos cegos
para renascer da caverna mortal sob um segundo nome apagado:
Polifemo tornado Ningum, eis o autor autntico, buraco ausente da
obra bela. No mais levado em conta.
Furou seu olho do meio.
Ulisses, ento, acaba de assinar a Odissia.
Diz-se que Homero no enxergava. Que espeto ardente, que pe-
na afiada, furaram seus olhos?
Diga: quem pode reconhecer que a cor rsea da aurora acaricia
como dedos? Quem, a no ser um cego clarividente?
o problema do mal
Em direito universal, de um modo amplo, a cincia parece se opor a
tal cultura, abrangente e enraizada, de fato, num lugar. Um nico
foco brilhante, vrios escuros. Mas, de modo amplo, todo homem
sobre a Terra vive sua prpria cultura, sem a qual no sobreviveria; a
est ela, de direito, universal, oposta por um movimento inverso
cincia, que, dividida em tais e tais especialidades, torna-se, de fato,
abrangente e local, algumas vezes incapaz de ter acesso a problemas
globais. Um nico foco obscuro, vrios claros. A Terra integra o
conjunto das localidades singulares; a cincia, o universo das regies
especializadas.
Universal, a cincia percorre o crculo do que se chamava de
enciclopdia. Por que desenhar este ciclo? Sem dvida, em razo da
ordem e da homogeneidade que se atribuem razo. Ora, em certos
momentos, uma espcie de engrenagem encurva a rbita perfeita na
81
qual aparece uma excentricidade, como se o ciclo perdesse sua super-
fcie lisa ou sua pureza. Acidentes, o da fsica, no momento de Hiro-
shima, da biologia hoje, ou das cincias da Terra, interrompem o
otimismo. Trata-se de crises internas cincia?
A razo cruza a violncia, a guerra, as doenas, a morte, se depa-
ra com o problema do mal, tradicional em filosofia. Erudito, Meri-
me, subindo em direo s origens, descobre, no lugar das nascen-
tes,.o matador de Carmen; o espeto ardente entra no olho do cclope,
espinha do crculo; os buracos negros se disseminam de sbito no
cu estrelado; diante do sol de meio-dia surge o segundo foco negro;
nenhum dos textos mestios acima evocados, dos romances de Zola
aos Pensamentos de Pascal, carece deste cruzamento, deste encontro
sbito da cincia com o mal, o sofrimento, a injustia e a dor.
Que relaes a razo, prejulgada simplesmente luminosa, man-
tm com esse problema engendrador das trevas?
Uma ligao de origem. A razo ocidental no se depara com a
morte nem em Hiroshima nem por ocasio dos importantes riscos
tcnicos dos nossos dias, mas a encontra desde o paraso terrestre; a
rvore do conhecimento ou da cincia induziu nossos primeiros pais
a um pecado original tornado trans-histrico, desde o alvorecer se-
mtico de nossa histria, que, sob cus conjuntos, nasce das pirmi-
des do Egito, tumbas, da guerra de Tria, carnificinas, ou das trag-
dias gregas, violncia e expulsO. Ao contrrio dos indianos e, depois,
dos rabes, de todos os nossos vizinhos prximos ou distantes, que
tambm colocam esse problema mas lhe do uma soluo totalmente
diferente, o Ocidente comea junto com o problema do mal e trava
contra ele um dilogo e um combate consubstanciais. O trgico a
base de sua histria, de sua razo e da histria de sua razo.
Esta no permite a aclimatao do mal, mas o exclui. A cincia
ocidental nasce dessa excluso. Ela emerge do trgico. Da provm as
suas categorias fundamentais: pureza, abstrao, rigor, mestio ex-
cluso ... Repetitiva, sua histria conta os processos de excluso e suas
polmicas mal definidas com a religio e o direito, que se debatem,
ambos, com o problema do mal.
82
~
Ela se orienta por um sol claro que se purga de todas as sombras.
Mas, de sbito, se orienta tambm pelo segundo sol negro. Sim, a
razo ascende ao universal, mas, diante dela, existe um universo cul-
tural induzido pelo problema do mal. Ns somos mestios instrudos
de base.
Bem ou mal, nessa questo a cincia depressa ocupa o lugar de
Deus ou o substitui. Outrora acusvamos a este ltimo, todo-pode-
roso e onisciente, de produzir o sofrimento e a infelicidade. A Teo-
dicia de Leibniz chega a faz-lo comparecer ao processo fundamen-
tal do destino humano. Ora, s sabemos e somos eficientes graas
nossa cincia, daqui para a frente. ento nela e por ela que o univer-
sal no circular da ao e do pensamento reencontra hoje, como na
origem, o escndalo do mal.
E ali descobre a cultura, antes de qualquer julgamento. Nada na
cincia ajuda, de fato, a suportar a finitude, nem a pensar a morte das
crianas, a injustia que atinge os inocentes, o triunfo permanente
dos violentos, a felicidade fugidia do amor nem a estranheza do sofri-
mento ... enquanto para isso colaboravam culturas cujo enraizamento
local deixava, de maneira fcil ou incmoda, a sabedoria entrar na
carne singular.
Nem Leibniz nem seus sucessores assumiram esta revoluo ke-
pleriana que consiste em colocar dois focos para regulamentar o co-
nhecimento, assim como o mundo, dois sis universais, a razo e a
dor.
A cincia vagueia, a cultura se enraza. A primeira no conhece
lugares singulares, e sim espaos inteligveis; colhe, e por conseguin-
te, viaja. Rda. Prosper Merime busca a verdade local das informa-
es livrescas e as obras de arte abandonadas. A cincia universal vai
e vem em busca das fontes, das razes, de sua fundao.
Oh maravilha, eis o lugar paradisaco onde a relva verde atrai o
caminhante ao sono e o cavalo ao pasto, onde a fonte fresca extingui-
r sua sede, cuja beleza favorece o repouso. Finalmente, uma pausa.
No: o guia, inquieto, fareja o perigo, pois j um homem ocupa o
stio. Todos os stios esto sempre ocupados: no foi por essa razo
83
que a cincia iniciou sua errncia, porque os homens, os ces ou os
exrcitos em p de guerra ocupavam desde sempre os parasos poss-
veis? De fato, este homem, mesmo aqui, dorme no longe da sua
espingarda, velho e temvel fuzil. No paraso perdido das nascentes e
da relva verde, o saber universal descobre o mal singular, injustia,
amores frustrados, violncia, crime, fome.
Do lado da engrenagem, onde o singular toma o lugar do ciclo
universal e uniforme, a dor local grita sua estria. Desde que nasceu,
a literatura lamenta a misria e o sofrimento. A cincia ainda no
aprendeu a linguagem desse soluo. Neste lugar trgico comea a
razo instruda com mestiagem.
O sofrimento e a desgraa, a dor, a injustia e a fome se encon-
tram no ponto onde o global toca o local, o universal o singular, a
cincia a cultura, a potncia a fraqueza, o conhecimento a cegueira,
ou o prprio Deus a sua encarnao.
O general observa a batalha de longe, com binculo, e assim
raramente perece; os sbios descrevem ou cuidam da dor, longe de a
lastimarem; nem o global nem o universal sofrem e, se a cincia e o
pensamento se referem a temas coletivos ou formais, apenas o local
carrega o peso do mal. Lanado para baixo, o sujeito o suporta. Eis
porque ele tem esse nome.
Donde dois cogitos. Ns pensamos e sabemos. Eu sofro.
A cincia encontra a cultura quando ela se encarna e descobre ou
produz dor, mal e pobreza. Esse tempo no acaba, pois traz consigo
o mundo e a histria.
Primeiro foco: a razo cientfica universal e clara, sol faiscante;
segundo foco, ardente: todo indivduo encarnado singular sofredor e
que agoniza sob a dureza dos homens, ecce homoj a filosofia no evita
o centro ou a periferia, pessoa instruda com mestiagem, procedente
ou engendrada pela universalidade racional e pela singularidade do-
lorosa, pela universalidade dolorosa e pelas singularidades racionais,
esprito que, ao mesmo tempo, faz ou segue a excentricidade legal do
mundo e que se semeia, multiplicado, no universo. Eis o segredo do
conhecimento: ele funciona como o mundo.
84
~
o conhecimento nos vem pelo pattico e pela razo, insepar-
veis, ambos universais, um no foco da cincia e a outra no das cultu-
ras; ns pensamos porque eu sofro e porque. assim .
Ento o pice do universal atinge o singular, aqui ou ali, tal heri
ou este exemplo; aquele da abstrao lido e visto na paisagem, o
do saber se debrua sobre o concreto; o pice da crtica ou da teoria,
na narrativa; o do monotesmo, no regime do esprito e da vida do
encarnado; o pice da cincia chega ao conhecimento da fraqueza e
da fragilidade.
Donde a idia - nova - de um ciclo de instruo prprio a
preencher o lugar das cincias que expiram porque no avanam
mais e que no avanam porque no formam ningum e porque no
se forma ningum sem as cincias exatas, sem a histria das cincias,
a tecnologia de um lado, e, do outro, sem o direito nem a filosofia,
sem a histria das religies e as literaturas. Em suma, dentro do rela-
tivo e sem a razo de dois focos universais.
O mestio instrudo deve sua criao, sua instruo e sua educa-
o, seu engendramento enfim, razo, sol brilhante que preside os
saberes cientficos, assim como segunda razo, a mesma sem dvida,
mas ardente no segundo foco, que no surge apenas do que pensa-
mos, mas do que sofremos. Esta razo no pode ser apreendida sem
as culturas, os mitos, as artes, as religies, os contos e os contratos.
As cincias humanas morrem por se terem esquecido dos dois
modos fundamentais da razo, o das cincias e o do direito, aquele
vindo do pensamento assim como este, sendo da mesma forma uni-
versal, sob mspirao do problema do mal: injustia, dor, fome, po-
breza, sofrimento e morte, e que produziu os artistas, os juzes, os
consoladores e os deuses.
S existe uma razo autntica. Ela clareia e mobiliza sob duas
formas: sem a primeira, clara, a segunda seria irracional, mas sem a
segunda, quente, a primeira seria insensata.
A igual distncia das duas, o mestio instrudo engendrado pela
cincia e pela compaixo.
85
Guerra por teses
Palavras. A dor, inefvel, ultrapassa o exprimvel. Evitemos dizer que
no podemos dizer: o indizvel, clich montono.
A volta ao dado bruto, paisagem singular, por abandono da lin-
guagem caracteriza ou a ingenuidade fingida ou a tolice verdadeira.
Flexvel, e de fato tortuosa, lbil, onipresente, a lngua se vinga ante-
cipando-se tranqilamente ao idiota pattico ou vaidoso que, en-
quanto pretende ultrapass-la, repete, quase sempre mal, as mesmas
palavras repisadas. Cuidemos para no confundir o inefvel e a insu-
ficincia de vocabulrio: qualquer banco supera, em opulncia, os
magros trocados que cada pessoa fsica deposita semana aps sema-
na; as uvas da Frana prometem melhores vinhos que minha despen-
sa obscura; o sol aquece um espao muito maior que nossos trs
cacos de antracito.
Muito cara, mais do que dispendiosa, exorbitante, a verdadeira
ingenuidade coroa, ao contrrio, a longa pacincia do escritor. De-
pois de abandonar sua prpria fala, faz muito tempo ele armou sua
escrivaninha em pleno dicionrio. Quanto mais rica a sua lngua,
mais leal o seu trabalho. Assim como, para falar de modo honesto do
mar, deve-se t-lo desbastado em todos os sentidos, tambm para
falar na sua lngua convm ter visitado os seus meandros. O escritor
s tem acesso ao estilo depois dessas travessias probatrias, da mes-
ma forma que um filsofo atinge o pensamento depois de longos
priplos pelo pas da enciclopdia. Nenhuma economia, mesmo te-
rica, o dispensa dessas instrues. O pensador deve comear por
aprender tudo, mas uma vez que ele pensa em sua lngua, deve tam-
bm tornar-se escritor, e para isso atravessar em todos os sentidos a
sua capacidade. Como um marinheiro s est feito depois de ter
sentido seu colcho balanar sobre todos os oceanos, formados ou
no de mares locais, assim o pensador experimenta o pensamento
banhando as cincias regionais e assim, tambm, faz o teste de sua
lngua, sem escrpulos de escrever a do trabalhador manual, do ma-
landro, do carpinteiro, do monge, dos sbios, em sua lngua amoro-
86
t
sa, pintor ou msico, do tcnico; dessa forma, passa pelas pginas das
enciclopdias e dos dicionrios, vai alm da cincia e das narrativas;
sim, a metafsica vem depois da fsica, a filosofia comea depois dos
saberes e das literaturas: no s dos conhecimentos, duros ou suaves,
exatos e inexatos, rigorosos e flexveis, vivos e humanos, mas tambm
das palavras, porque no se medita sem elas, de todas as palavras
possveis, porque s se pensa bem com numerosas palavras. Mltiplo
o priplo do pensador, que no deve se contentar com os saberes
cannicos nem com a prova justa, e sim lanar-se nos mitos, contos
e literaturas.
Denominemos jargo linguagem que usa um pequeno nmero
de palavras: lagoa gelada, perdida no meio de uma floresta. Quem
escreve num registro to limitado pode refletir sobre a lngua? Encer-
rado em um idioma especial, poder falar, por exemplo, de tomos,
de barcos a vela, de msica ou de amor, mas de lngua! Ora, eu temo
que as ditas filosofias da linguagem s utilizem, de fato, muito poucas
palavras. Ser que o que se perde em extenso se ganha em refina-
mento ou rigor?
No diga: faa, mesmo quando voc disser. Conquista-se o sen-
tido caminhando. H discurso demais, atos demais, no prprio dis-
curso. Crtica em excesso: quantas obras! O que chamado teoria
oferece sempre o mximo de facilidade com o mnimo de vocabul-
rio. Trabalho paciente do escritor que navega em longo curso na sua
lngua total e que, no tendo medo de nenhuma paragem, a escreve,
e ento a descreve, em suas ribeiras mais distantes, e tenta esgotar as
suas capaddades. Quase sempre a lngua cochila, salvo uma pequena
parte, assim como dormem os nossos neurnios. Infelizmente, as
ferramentas ou as testemunhas de inteligncia permanecem adorme-
cidas no que virtual, espera daquele que escolhe como tarefa
despert-las, definir sua lngua at nas falhas, convoc-la inteira e
pessoal, faz-la pensar ou existir colocando-a num falso equilbrio;
combine, experimente, longas cadeias de sinnimos, todas comple-
xas e incmodas, convergindo de sbito para a perda extrema de uma
87
nuance. E ali encontre aquela que a lngua no capaz de abarcar. Ei-
lo, finalmente, ingnuo. Acuado a olhar, a tocar, ouvir ou saborear,
forado pacincia e sagacidade.
Saber-se-, pelo exemplo mais trivial, que o homo sapiens, pelo
menos em sua espcie de lngua francesa, no usa adjetivos para de-
signar os perfumes, e entretanto sapiens quer dizer em primeiro lugar
cheirar e sentir sabores e fragrncias? Azul e no cor do cu, amarelo
e no tonalidade de mel, isso vale para a viso, muito bem aprovisio-
nada, mas por que cheiro de rosa ou gosto de pra? Cruel penria de
eptetos! Mesmo a esttua de Condillac no percebe essa falta, ela que
parece comear, justamente, pelo odor, sem jamais abandonar as pa-
lavras.
Eis, portanto, o estilo: vibrao singular nos confins da lngua.
L, uma variedade perdida de verde, que vista, requer uma palavra
nova ao velho dicionrio, que no lhe d mais do que as trinta nuan-
ces vizinhas, vibrao do sentido e do mal dito, lugar extremo onde
a lngua, como uma vela, se agita, no limiar. Nada se parece mais com
um pensamento novo do que esse tremular, maneira da solda der-
retida, da junta quebrada, da falha da linguagem.
Assim, um dia qualquer de sizgia, Bougainville emboca pela
concha fora do mapa, onde as orcas e as jubartes, amontoadas diante
do seu tombadilho, o impedem de aportar.
Mergulhar o mais rpido nos dados singulares do mundo, esque-
cidos de uma lngua apenas aprendida, no nos levar jamais inge-
nuidade. Apenas restitui sentimentos usados, falso banho de juven-
tude de onde samos senis; mais vale singrar a lngua, um pedao de
mundo novo poder aparecer num canto do portulano. Com este
evento o novo ingnuo se torna velho.
Toca, ouve, saboreia, respira e sente, v, no fala dos cinco sen-
tidos seno ao fim dos priplos comprovantes nas cincias e nas est-
rias. Tarde, bem tarde. Depois de virada a ltima pgina das enciclo-
pdias e corpus. Sim, a metafsica ou a filosofia vm depois das fsicas
e das poticas. L chegada, sua cabea embranqueceu nos conheci-
88
L
lO
mentos, e ele usou sua lngua em mil palavras. Velho estradeiro dian-
te das ilhas virgens, ele pagou o alto preo da ingenuidade.
Ele pode instruir porque tem a alma branca das crianas. Idoso,
o verdadeiro ingnuo instrui o falso ingnuo, jovem. Eis, novamente,
a dupla educativa: duas ingenuidades no geminadas, a velha autn-
tica, adquirida, sapiente, verdadeira - juvenil -, e a jovem falsa,
tola, fresca, alegre, nativa - decrpita. Procurai o mestio.
Ao trabalho.
o estilista e o gramtico
Por que o filsofo no escreveria? Em nome do que ele deve reduzir
sua meditao aos elementos da gramtica? Com que direito lhe re-
cusar o direito ao estilo?
O estilo e a gramtica, evidentemente distantes, exploram ambos
a lngua, com meios diferentes. A dupla visita o mundo, o conheci-
mento e os sujeitos, s vezes Deus, partindo da lngua, por mtodos
que se pode desejar complementares, cuja oposio causa espanto,
uma vez que um no existiria sem o outro, a gramtica por falta de
material, o estilo por falta de regras. Ela descreve, analisa, procura
fundamentar, s vezes legisla; ele experimenta. A gramtica se quer
terica e o uso experimental. A filosofia, portanto, deveria reservar
para si a gramtica e rejeitar o estilo?
Conhecemos essa distncia que separa ou separou a tradio
acadmica - nascida nas universidades da Europa durante a Idade
Mdia, sobre os fundamentos gregos lanados por um certo Plato e
pela escola de Aristteles, conservados pelos padres latinos, tradio
que perdurou sem interrupo notvel at os nossos dias em todos os
pases ocidentais, inclusive a Frana - e uma outra linhagem, menos
estvel, mais rara, pouco profissionalizada porque ligada a alguns
talentos individuais inimitveis, sem escola nem discpulos, prova-
velmente surgida na Frana, de Montaigne ao sculo XVIII, mas tam-
bm na Alemanha, de Goethe a Nietzsche. A grandeza de Plato e o
89
posto que ele ocupa, na origem da bifurcao, resultam do fato de ter
unido em sua obra o debate do gramtico e a explorao do estilista,
por ter escrito o Teeteto e O banquete.
Essas duas metades da filosofia, progredindo sobre duas verten-
tes, tm pouco desejo de se reunir e, em lugar de se amar, rivalizam
e se cobrem de antemas e de sarcasmos. Em certas obras, entretanto,
elas se desejam e se encontram, hermafroditas, no compreendendo,
no momento da fuso, por que a anlise matemtica expulsaria a
linguagem refinada, por que o escritor, jamais ascendendo por direi-
to ao ttulo de filsofo, ridiculariza quando tem oportunidade Ho-
norius, Marphurius e Janotus de Bragmardo, raciocinadores desvai-
rados.
Poder-se- conceber, com tranqilidade, que tal diviso se torne
complementar? O matemtico conhece melhor o mundo e mesmo a
sua prpria linguagem se adere fsica; o fsico conhece melhor as
coisas e suas prprias ferramentas se se aproxima da tcnica; o tcni-
co, se aprende o artesanato; e o arteso, se chega obra de arte. O
filsofo gramtico conhecer melhor a lngua e o conhecimento e o
mundo se tolera o estilo e se abre s suas proezas. Inversamente,
concebe-se o progresso do artista quando ele se volta para o artesana-
to; o do arteso, quando ele se faz tcnico; o do tcnico ... e assim por
diante, em direo s matemticas e lgica. Estrada de mo dupla
para o filsofo. E assim, como complemento, o estilista sequer escre-
ve sem prvia obedincia gramtica, sem lgica e sem regras do
sentido, sintaxe e semntica. Se escreve, porque as aceita de fato.
Mas ele no explicita nem as regras nem as leis. O gramtico, por
sua vez, nunca desenvolve a lngua, sobre a qual fala, entretanto, com
finura e pertinncia. Um se ope ao outro: a proeza, o desdobramen-
to, implicam a regra que implica toda uma filosofia; mas a gramtica
supe uma lngua que s conseguiu existir por suas odissias. O fato
precede o direito, mas o direito precede o fato. A obra antecipa sua
lgica em um tempo da histria, e a filosofia se ergue quando chega
a noite, mas as regras antecipam sua aplicao no tempo ideal e lgi-
co do saber, e o filsofo desperta com a aurora.
90
Ora, se o estilista raramente tem necessidade da gramtica e po-
de transgredi-la em seu gesto refinado de inveno, se o gramtico
nunca se abandona ao estilo entre suas delicadas mincias de anlise,
o filsofo, presente nas duas frentes, tem necessidade de conhecer o
gesto de ambos e deve tornar-se, se possvel, um e outro. Meio-dia.
Em nome de que princpio ablativo Se reduziria ele teoria dos ele-
mentos, uma vez que o trabalho positivo da lngua consiste tambm
em acompanh-la a seus confins e em direo a seu futuro?
Em razo de seus contedos confusos ou obscuros - em todo
caso, encobertos - o mito, a poesia e a literatura foram expressa-
mente banidos pelo gramtico analista, que busca o claro e distinto,
o explcito, e suscita o debate entre posies diferenciadas. Na sua
opinio, a narrativa no sabe o que diz.
O estilista zomba do gramtico, Rabelais de )anotus, Moliere de
Marphurius, Marivaux de Honorius e Musset de Blazius, a literatura
ri da academia ou esta dos universitrios por ressentimentos mesqui-
nhos que espalham o terror em casos de guerra implacvel, por meras
tolices, em virtude sobretudo do imobilismo. O analista esclarece,
mas no se mexe, explicando indefinidamente, argumentando sem
pausa. A gramtica filosfica de nossa era chegar mais longe que no
sculo XVIII, este ter ultrapassado as teorias medievais, e estas tero
ido alm da Antiguidade? No. Nesses lugares fascinantes, a filosofia
descobre uma espcie de ponto de acumulao, do qual extrai debate
sem trgua como quem extrai gua de um poo, sem poder caminhar
mais que Zeno, estvel em passos largos. Isto ilumina, certo, mas
no se moye. Certamente esclarece, mas ao preo de uma linguagem
tcnica limitada, precisa, fechada, que depressa passa ao algoritmo,
logo inacessvel a quem no a fala, como outrora a escolstica, como
se a escola afastasse, desdenhosa, todos aqueles que no tm condio
de participar da conversao. Ser, ento, que ela esclarece, sendo o
preo a obscuridade mais espessa?
Como se o obscuro tornasse tudo igual, como se o que est em
questo dissesse respeito a todo o mundo. Como se a linguagem se
91
vingasse nos dois casos. Deve-se sempre pagar na proporo daquilo
que se deseja ganhar. Quereis analisar? No deixareis de faz-lo sem
sair do mesmo ponto, como se tivsseis tomado posse de um poo
inesgotvel, de onde a dicotomia renasce dela mesma. Procurais es-
clarecer? No cessareis de trazer a luz, at a extino dos fogos. Que-
reis explicar? No vos detenhais: a implicao retorna inelutavelmen-
te. Quereis debater? O debate se engendra de si prprio, porque a
guerra no gera seno a guerra, passando sobre o ventre dos proble-
mas e das mortes, o p calcando sempre o mesmo lugar. Assim, por
fora da tecnicidade, as filosofias rigorosas da comunicao tornam-
se incomunicveis.
Os esforos ou trabalhos do gramtico e do estilista se asse-
melham, na mesma medida em que se opem. Entregues ao enco-
brimento como a uma vertigem, desenvolvem o obscuro, um na
compreenso, na exatido e na profundidade, o outro na extenso,
amplitude e movimento. Essas explicaes expostas custam caro: nos
dois casos deve-se pagar, embora todos acreditem que no pagam
nada. Ora, tudo se paga - mesmo o progresso, mesmo as liberdades
democrticas, mesmo o atesmo -, e s vezes muito caro. Alm dis-
so, a despesa a aceitar deve ser contada na moeda em curso no mer-
cado em que se fazem os negcios: em dinheiro vivo no mbito do
comrcio, em ternura na troca amorosa, pelo lacre nos contratos
legais, em outros casos s vezes com o sangue ou a vida. Se sempre
preciso gastar ou pagar para conhecer, deve-se por conseguinte acer-
tar a dvida, no caso, pela moeda do conhecimento. A claridade
paga com a estreiteza; a elevaO das opinies, com a impreciso. O
esclarecimento pago com a paralisao e a esterilidade; a inveno
e a rapidez, com a confuso e a obscuridade. At em filosofia nin-
gum jamais conseguiu obter a manteiga e o dinheiro da manteiga ao
mesmo tempo. A cada qual, seus riscos. Um aceita tropear nos ca-
daros, o outro se dispe a tocar o cho apenas de leve. A marcha e a
corrida despendem e perdem um pouco de luz, a anlise abandona a
fecundidade. Questo de escala: o que dissipam e o que ganham o
microscpio e o telescpio, o detalhe e o plano total? Da mesma
92
_.
forma, a liberdade faz seu cmbio em obrigaes, e com certas regres-
ses o progresso pago. preciso ver o saldo, eis tudo.
Cada um conta com a falncia do outro ao lhe declarar amavel-
mente: no compreendo nada do que voc diz. O gramtico ao esti-
lista: fora daqui, mente confusa e irracional. O estilista: tens sempre
razo naquilo em que progrides e propes, concordo. Mas, e depois?
Ardiloso, prudente, rigoroso, circunspecto, progrides meio milme-
tro em um sculo. Enquanto isso, desatento, corajoso, intuitivo, criei
o sentido, sim, o sentido da vida, o mundo, o trgico, o prprio
conhecimento, o amor, as relaes com o vizinho e as andorinhas
trazendo a primavera nas asas. Com o sacrifcio da clareza, fao a
lngua viver. Tu esclareces sacrificando a vida. Se, na hora de correr,
eu analisasse o movimento dos meus ossos, msculos e neurnios,
minhas intenes e objetivos, razes e propores, jamais sairia do
lugar. O gramtico diz: tu no sabes nada. Tu no fazes nada, respon-
de o estilista.
Tanto um como outro esto certos. O filsofo sabe, mas tambm
faz, trabalhando nos dois canteiros em escala mdia.
A anlise recorta, distingue para reconhecer os elementos, da
lngua por exemplo. Mas a dicotomia ou a separao no detm a
exclusividade na busca do elementar. Outras operaes so possveis,
em todas as cincias ou pesquisas, como na qumica: a pesagem, a
mistura de um corpo no outro ou o contato dos dois, as reaes, o
exame ou o controle das variaes de um funcionamento ou processo
etc, respeitam laos e conexes destrudas pela diviso e permitem
reconhecer a presena de um metal, a autenticidade de uma liga, o
bom quilate, em outras palavras, dita a verdade sobre a anlise: m-
todos necessrios se ela fracassa, desejveis mesmo quando ela se
mostra agressiva, pois seccionar as ligaes no deixa as coisas como
eram antes. Assim se passa na filosofia e com a lngua: O filsofo
escritor ensaia.
Ele prova, experimenta. Ele testa, ensaia: dois verbos antigos da
velha qumica, da prpria alquimia, que voltam ao uso corriqueiro.
O francs emprega ainda nos laboratrios a palavra tt, antigo ca-
93
dinho ou pote de argila refratria que servia para o ensaio ou teste do
ouro; mas no conhece mais o ensaio, no sentido da pesagem.
O filsofo escritor experimenta enquanto constri a lngua, as-
sim como o gesto do arteso continua, prolonga a linhagem de sua
arte, pauta musical ou direo de sentido e, na medida em que pode,
progride. O analista se detm, rompe, teoriza; o escritor persegue,
guarda as ligaes, fabrica, porque acredita que no se conhece nada
sem o ter praticado profissionalmente. O jargo d um conhecimen-
to estril de coisas mortas. Saber a lngua exige tambm que se a faa.
Que ela seja testada e ensaiada.
Um ensaio honesto produz s vezes, at com freqncia, um
resultado negativo, oposto, destitudo de sentido. Os objetos se vin-
gam assim como a lngua, como a terra quando no trabalhada. Eles
nos reservam o inesperado, no reagem como previsto. A tentativa
comporta um risco, do imprevisvel, do desconhecido.
A gente se expe quando faz, ou se impe quando desfaz.
Quando se desfaz, com efeito, nunca h engano. No conheo me-
lhor meio para ter sempre razo. No creio conhecer, em troca, me-
lhor definio do homem do que o velho ditado errare humanum est,
ao qual acrescento: humano aquele que se engana. Ele pelo menOS
tentou.
Frgil, nu, sem prumo, o escritor s confia num talento que nun-
ca tem a solidez de um mtodo: sem escola para o proteger pelo di-
logo e a posio referenciada no grupo, sem imitador nem mestre, ele
explora sozinho. Pode, portanto, falhar, se enganar ou se extraviar.
Ele carrega esse erro possvel e eSsa queda eventual como se fossem
ferimentos no flanco de sua obra. Dor, coragem da errncia para
pagar a novidade. Pois todas as manhs se apresentam formas estra-
nhas, imprevisveis, to atraentes e belas que ele se levanta apressado,
ao amanhecer, entusiasmado diante das paisagens a cruzar, ansioso
para retomar a viagem num mundo raramente familiar, quase sem-
pre extraordinrio. No sabe nunca quem vai entrar na pgina se-
guinte. Tanto pior para a queda, ele testa! Se perde, no ter feito mal
a ningum, e se ganha, se regozijar. Ao diabo com os erros, ensaia.
94
I
I'
II
Tereis a audcia de falar do mundo, mesmo se jamais o tiverdes
percorrido? Assim como as coisas diferem imensamente do que delas
dizem os discursos, livros, jornais, revistas, representaes, a lngua
no tem nada a ver com o que dela diz quem no a pratica em toda
a sua extenso.
Quem no o experimentou, acredita de bom grado que no exis-
te diferena entre um discurso sobre o Margaux e o Margaux; pegue
e beba; deguste-o; saboreie-o; teste. Se acredita que um bom atlas
sobre o deserto substitui a vida entre os tuaregues do Saara, parta, v
at l. Que tudo se reduz descrio do jornal. Tire a roupa, desa,
brinque sobre o gramado. Crtica fcil, arte difcil. No, o amor no
se comprova por palavras nem por cartas de amor. Chega de pala-
vras: atos. A histria dita nunca substitui a histria feita, embora ela
traga mais glria e dinheiro com fadiga infinitamente menor, e assim
as estratgias so avaliadas na prtica. Em todo caso, experimente.
Caso contrrio, voc estar mentindo. Mesmo se o que disser for
verdade, mentir, desde que se contente em dizer. Viva, prove, parta,
jogue, faa, no copie. Diante do ensaio, a prpria mentira acaba
recuando.
Acredita-se habitualmente que a lngua analisada pela gramtica
e pela filosofia vale a lngua viva inventada pela escrita. No. O gra-
mtico, o professor, o filsofo no escrevem o bastante para saber.
Voc j observou, nas salas de aula, nas escolas, nos anfiteatros, a
ausncia do verdadeiro exerccio? O examinador ou juiz nunca soli-
cita um poema, uma novela, romance ou comdia, jamais quer me-
ditao, mas sempre crtica ou histria, cpia das cpias. Por qu?
Porque ele.l1o saberia redigir um modelo de dissertao. Ao invs,
exige histria, crtica, anlise. Por qu? Porque pode e sabe copiar.
Por qu? Pela facilidade. O fazer explora, o desfazer explode. No
minta, escreva. Toda a verdade, mas s ela.
Ateno: ela mortal.
Scrates, analista, exige um discurso conciso. Interrompe retri-
cos e rapsodos, grita, caoa deles e os despedaa. Suas perguntas cor-
95
tam discurso em frases curtas de dilogo, e sua dicotomia leva a
proposio extenso minimal de uma palavra.
Por que escreves "exigir", com que sentido, de que exigncia
falas? Que discurso, por que um discurso, comprido, curto, que di-
logo, por que um dilogo, que perdes ao cortar tudo? Seja quem for
pode aplicar a Scrates os golpes que ele dirige a Protgoras ou a seja
quem for. Com que direito impes, aqui e agora, esse tipo de argu-
mentao? Sob que condies? Que queres? Contra quem te bates? A
extenso dos prambulos e das condies requeridas, antes que apa-
rea a fera em qu'esto, d a medida da perversidade. Scrates, como
amas a contenda e a vitria; ters uma alma to baixa? Quem ento
te nomeou advogado geral, procurador implacvel da humanidade?
Por que tomas o lugar daqueles que nos condenam e que, algum dia,
te julgaro? Que ressentimento te leva acusao perptua de todos
com quem te encontras? Com que direito te ds o direito de perseguir
e denunciar? Um terceiro Scrates, se quisermos, pode nascer, por
sua vez, de tais questes colocadas por Scrates para Scrates, e assim
por diante. Eis aberto o poo sem fundo do debate.
Armado com uma espada curta, o infante avana em direo ao
cavaleiro para combat-lo de perto, corpo a corpo, como anseia. Em-
baraado com sua montaria, sua carapaa e seu manto, o sofista es-
critor cai por terra, desmontado, ele que tem o hbito de galopar a
cavalo e no de lutar com os ps no cho, armado de um arco cuja
flecha voa longe, ou de uma lana que ele arremessa. Ei-lo aplastado
na terra, frgil, grudado terra. Scrates o esmaga. Movido por que
dio e com que direito?
Um atomiza o texto por meio de um pequeno clique de esgrima
que corta com preciso a ampla rede de sentidos entrecruzados pelo
outro, e sobre os quais as atraes a longa distncia brincam desde o
exrdio at o final e reciprocamente, sutis.
O mirmido de sabre curto, protegido por uma couraa pesada,
quitinoso inseto, enfrenta, no crculo fechado, o retirio leve, nu,
com sua rede mvel, pssaro volvel. Combate singular o do infante
esttico e slido contra o volteador gil e envolvente: os romanos
96
1
I
apreciavam em outros tempos esses gladiadores, miniaturas da cava-
laria com suas manobras fulgurantes e da infantaria com sua resis-
tncia teimosa, enraizada no solo, que se enfrentam na batalha cole-
tiva, em linha e no campo aberto.
A espada rasga, fura, corta a rede, corta malha por malha nas
falhas do falso sentido. O retirio faz ondular a rede, manta que se
transforma em gaiola, plano e esfera, muro e priso, superfcie obl-
qua e volume mvel: na dimenso zero, ponto ou bola enrolada no
punho do gladiador; na dimenso um, comprida cadeia de razes,
desdobrada sobre seu ombro; dois, trabalho de capa desdobrada
diante do mirmido, como um engodo que um touro encara; trs,
onipresena, em torno do corpo, de laos cruzados que o amarram,
o apertam, o abafam e o levam morte.
Analisada, desfeita pelo sabre, frase por frase, letra por letra,
palavra por palavra, a lngua conservar o mesmo alcance, uma se-
melhante funo ondulante, mvel, conexa, ligada, mudando sem
cessar de aparncia, flutuante com sua composio local, sempre glo-
bal e mesmo densa como a pedra na mo? No ter ela, nos dois
casos, um estatuto polmico ou guerreiro?
Scrates infante desmonta o cavaleiro, Scrates mirmido estra-
alha a rede do retirio, Scrates avante de primeira linha, arremes-
sador, imvel, pescoo de touro para a frente, imerso no tnel negro
do amontoado, artelhos enraizados na lama at o calcanhar, resiste a
todas as ofensivas, imobiliza at lhes cortar o flego os que correm na
terceira linha ou trs-quartos que enganam todo o dispositivo pesado
com uma mudana de andamento imperceptvel. O avante luta cor-
po a corpei, o mdio de abertura, mudando de p, reorienta toda a
trama do jogo do lado fechado para o aberto com um leve ou invis-
vel desvio do equilbrio, os zagueiros enganam-se nos contraps.
Quando o analista distingue direita e esquerda, segundo o prin-
cpio do mestio excluso, o estilista j pousou sobre a poeira, como
que acariciando a terra, uma terceira pata de pomba, despercebida,
que faz a rede estourar na direo das tribunas populares, quando o
lado presidencial a esperava. Combate curto ou longo: mudana de
97
escala. Um avante de primeira linha avana passo a passo, metro aps
metro de terra custosamente conquistada, uma torso nos rins, fin-
gida, ou um repuxo nas costas, um pontap na bola e a jogada pula
para sessenta metros dali. Sobre que vazio te debruas aqui, analista,
a questo repercutiu to distante sobre as longas geodsicas da lin-
guagem ... Ergue a cabea acima do amontoado, enxerga alto e longe.
O touro mope, pescoo baixo sobre a areia acre, arremessa suas
toneladas e seus chifres, em rbita retilnea, em direo ao toureiro
em traje morturio de luz, em viravoltas por trs de adereos verme-
lhos, ancas altas, finas, frgeis, trmulas, virilha e arcada crural ex-
postas, punho inteligente para a mnima solicitao. Quando e para
onde a inclinao, em milmetros, em meio segundo quase? Qual dos
dois, infante quadrpede ou corredor de p gil, vai morrer, na cele-
brao de um momento decisivo na histria da besta humana. qual
dos dois, pata ou contrap, vai matar, nesta comemorao do instan-
te em que o coletivo passou, sem o saber ou decidir, do sacrifcio
humano ao sacrifcio animal?
Scrates touro, olhos salientes, fronte calva, focinho de fauno,
feio de meter medo, desmonta com uma cabeada o fantoche sofista
desarticulado. Que instante ele comemora neste parricdio odiento?
Que momentos desaparecidos comemoramos quando o avante der-
ruba o trs-quartos, quando o retirio estrangulava, apertando junto
terra, o mirmido vencido, quando o infante desmontava o cavalei-
ro, quando o analista convence o filsofo escritor de seu no-senso?
Embora passemos do assassinato ao espetculo, da guerra ginstica,
do rito linguagem, do sangue derramado filosofia, as condutas
continuam estveis, bem como as paixes.
No h engano possvel sobre o que distingue corpos ginastas e
naturezas atlticas, dizem os bons treinadores. Estas correm, saltam,
jogam, enquanto aqueles lutam ou se equilibram em aparelhos, como
outrora os mestres gajeiros. Nenhum atleta se sente vontade num
trapzio ou nas barras, poucos ginastas descem pista ou ao campo.
Musculatura curta, encolhida, fora nos braos e na cintura escapu-
98
r'
lar, ou ento forma longilnea e fora no alto das coxas, mola. O re-
crutamento militar apreciava, acredito, estas duas populaes. Cons-
crito, Scrates sobressai entre os ginastas.
O professor, bom treinador de inteligncias, no se engana, ele
tambm, quanto mesma diferena do lado do conhecimento. Ob-
serva as duas populaes paralelas: trabalhadores persistentes, de
vontade empedernida, horizonte curto e idias raras, eficazes e est-
veis, ganhadores, voltando incansveis ao mesmo assunto, fixos e
obsessivos, javalis; intuitivos rpidos de olfato sutil, numerosas idias
passageiras, inventores prolficos destitudos de domnio sobre sua
prpria fecundidade, ineficientes, instveis, enamorados da beleza,
raposas. Exploradores realistas e aristocratas arruinados. O inseto
cavador e o pssaro migrante, o gramtico e o estilista. Dom Quixote
e Sancho Pana. Hoje em dia, Pana faz fortuna na cincia, e na
literatura ordinria Dom Quixote arrasta a sua misria.
Scrates e Plato. No h filosofia sem esta dupla em paz, sem
este par unido que nunca existiu. Sempre em duelo, em resumo.
Plato - mas por onde ento andava ele, medroso, na hora da morte
de seu mestre, o grande ausente do Fdon? -, Plato escreve, passado
processo, sobre cadver de Scrates, hirto e frio, depois das an-
lises sutis da alma; Plato droga Scrates com cicuta para escrever
muito e bonito, mergulha no torpor o prprio torpedo, administra-
lhe um narctico para que ele prprio no seja torpedeado, imobili-
zado, incessantemente forado dicotomia exaustiva e to infinita
em seu gnero quanto o discurso mais diludo. Que grande oportu-
nidade manter a gramtica distncia sem os latidos do gramtico,
seguir a lei":depois da morte do jurista, mas que tristeza trgica
comemorar sempre o mesmo combate para a mesma execuo.
Quando escreve, o touro est morto. Mas ele nunca escreveu
porque Scrates nunca pde escrever: esgotado pela anlise.
Velha filosofia selvagem, em que a paz no pode intervir seno
entre um Scrates derrisrio, sentado sobre seu asno, e um belo Pla-
to abatido, encara pitado num rocim, dando rdeas s idias puras,
Dom Quixote e Sancho Pana. BIBLIOTECA CENTR.",c.
PU-C - RS.
99
Se o escritor der gramtica o seu demnio e a ironia leve, a
altura da viso, a amplitude de campo, se o analista emprestar ao
estilo uma s o l i e ~ sem falha, renascer a filosofia. Garantir seu p na
vizinhana imediata, mas prever de longe: ningum orienta seus
passos na montanha, seu cavalo numa estrada, seu corpo, e em geral
sua vida, sua alma, sua famlia, seu oramento, nem seu carro, seu
pensamento, dispensando este preceito simples e necessrio, que re-
ne em uma nica olhada o local e o global, o universal e o singular,
mas cuja disjuno produz uma tolice nica e risvel, queda ou imo-
bilidade, Quixote nos moinhos e o abatimento, Sancho cultivando a
banalidade.
No h filosofia sem essa dupla apaziguada, rindo dos combates
inteis e que se tornaram apenas rituais, pela comemorao. Mas
agora que nos lembramos dos cadveres que jazem entre ns, o do
galo sacrificado sobre o de Scrates condenado, do touro ou do ma-
tador, do retirio e do mirmido, do infante e do cavaleiro, agora que
lembramos do pecado original das disputas linguageiras, da execuo
arcaica, para que serve o ritual da comemorao? Para que fazer com
que combatam na arena da linguagem o estilista e o gramtico?
Se a filosofia, amiga da sabedoria ou, mais gramaticalmente,
portanto com mais elegncia de estilo, sbia em amor, tem por obje-
tivo o que pretende com seu ttulo, ela dir amanh, de uma s vez,
a lngua, e pedir apoio, mais ainda que anlise e retrica juntas,
aos mitos e s religies, s tcnicas e s cincias, ao mestio incluso.
Nesse dia, a aventura recomear.
Uma recordao da juventude: Leibniz conclui seu Discurso so-
bre a conformidade da f e da razo com os funerais de Bayle. Meu
adversrio, diz, agora v Deus face a face - e v que eu tenho razo.
Um pouco antes, ele citara grandes predecessores, entre os quais
Abelardo, que sofreram na carne o preo de suas discusses. Leibniz
vence, porque Bayle est morto. O tribunal anuncia a condenao e
enfim compreende-se o peso da pena: dantesca. A Divina Comdia se
vinga post mortem, nos trs espaos sobrenaturais distinguidos pela
100
sentena. A vingana da escrita e da filosofia, Como a bomba atmica,
supermata.
No apenas mata. Ainda aps a morte, condena ou salva. Nas
cincias, as teorias mudam, no pelo maravilhoso poder de suas ver-
dades, mas porque os detentores das teorias contrrias recuam, mor-
rem para os colquios e para a administrao; e sempre se encontra
algum historiador para desenterrar os cadveres e de imediato con-
denar este ou aquele inventor esquecido a errar sem descanso no
inferno do erro e das sombras decepcionantes. Histria: poo de res-
sentimentos.
Aqui, o que est em jogo no discurso - a conformidade da razo
e da f - se acerta aps a morte. Porque se a razo raciocinadora e
belicosa acua o adversrio at a morte, a f, por sua vez, nos revela o
que acontece depois dela. Portanto a conformidade, quero dizer a
coisa e a causa que tm em comum a f e a razo, ainda a morte. Do
ponto de vista especulativo, bem-entendido, mas tambm na prti-
ca, na discusso escrita entre Leibniz e Bayle, at os esplndidos fune-
rais do segundo, imolado na entrada do tribunal da Teodicia. Por
trs do tribunal, ao qual o prprio Deus comparece como acusado,
est aquele onde o filsofo, escritor, triunfa.
Leibniz, ento, constri o pretrio e nele defende a causa di-
vina. Tem os ps - e se apia - sobre o tmulo de Bayle, ele o fi-
lsofo santo e sensato que vai resolver a questo e obter a sentena
favorvel. Assim como Plato se ergue sobre os funerais e o tmulo
de Scrates. Essa posio estar prxima de todos os filsofos? A
razo filosfica ter sempre necessidade de um assassinato para to-
mar p?
Recentemente ocorreu uma alterao importante: meus ps no
se apiam sobre o tmulo - cheio - de nenhum corpo particular,
mas sobre o cenotfio - vazio - do gnero humano em sua totali-
dade, desde "a Tanatocracia", Esttuas e o Contrato natural. No tri-
bunal da razo e da cincia, hoje em dia, o filsofo defende a so-
brevida dos homens e da Terra pela longa vacuidade da abominvel
caixa negra.
101
Nenhuma execuo singular, mas a exigncia da vida especfica:
no nos batemos mais seno contra ns mesmos. No estamos, nem
uns nem outros, em oposiO uns aos outros. Vivemos todos como
mestios.
Uma certa histria termina. Ser que uma nova est comeando?
Paz sobre as espcies
Uma estrada contorna a Universidade de Stanford; no interior do
cinturo, quinze mil mulheres e homens escrevem, lem, pesquisam,
imprimem, calculam, se renem para falar, com freqncia, e pen-
sam s vezes, voltados para as lnguas e os cdigos. Fora do limite,
crestadas quase sempre, eventualmente verdes, trs suaves colinas
servem de refgio a passeantes que, se ficarem em silncio e pisarem
levemente, podem ali encontrar gaios azuis e falces, raros crtalos e
algumas serpentes inocentes, um milhafre e uma enorme tarntula,
alm de um rebanho de novilhas, rplica tcita dos alunos e pesqui-
sadores dali de baixo.
No se v nada mais do que o solou a lua, a baa ao longe, a falha
de Santo Andr bem prxima. S se ouve o vento, o piado cannico
de um pssaro to fcil de imitar que o cantor responde imediata-
mente, complacente; a gente se comunica de uma forma que dispensa
as lnguas: ser esse um dos lugares de um outro saber?
Recusando transportar a lngua de um para o silncio do outro,
passeante solitrio tentaria, ao invs, levar o ltimo, antigo, quela,
nova; discpulo de So Francisco, ele fala aos pssaros, mas sobretudo
os escuta.
Eis ento que os animais se calam.
Npcias da Terra com seus sucessivos senhores
Retardatrios, deslumbrando ainda a Terra com sua juventude, desa-
jeitados, afetados, engomados, sua idade no ultrapassando alguns
milhes de anos, portanto mal adaptados, vaidosos de sua cincia
102
mida, os hominianos se acreditam os primeiros, porque chegaram
por ltimo. Matria inerte, flora e fauna quase sempre mais velhas do
que eles. Parecem ignorar que sua histria, nova e recente, repete mil
ciclos antes encerrados.
Assim . Logo que cada uma das espcies vivas veio luz, as
outras a viram tentar ativamente a conquista de toda a Terra, a flora
e a fauna, em geral, presentes e passadas, o espao, o tempo, a ener-
gia, todo o alimento, o sol nas entranhas do globo.
Plantas, peixes, rpteis, pssaros, insetos, mamferos, cada um a
seu turno e a seu tempo, por vagas sucessivas, arrancaram vida o
domnio e o imprio, segundo seus respectivos meios e por sua estra-
tgia, tamanho, potncia, fora, nmero, astcia e maldade, at o
esgotamento da potncia e da glria.
E todos, sem exceo, do verme ao touro, da samambaia se-
quia, do mosquito vaca, da serpente baleia, era aps era, torna-
ram-se reis: o lobo, o rato, o ocelote, o cervo ... Se nos aproximarmos
deles, ainda reconheceremos hoje, sob sua vestimenta ou seu tronco,
por seu porte ou por sua estatura, a majestade do reino e sua antiga
dignidade. Ei-los no auge.
Ento, de repente, foi preciso decidir. Cada espcie, especializa-
da, tendo chegado aos limites extremos da apropriao, fez oscilar o
inerte, geral, em sua estreiteza oblqua. O novo senhor invadiu a
Terra inteira: a superfcie do globo se viu de sbito fervilhante de
bilhes de lagartos ... nada de novo sob o sol; a reproduo racional
recobre o real mltiplo e profuso; ou ainda, segundo quem assume a
supremacia, no cupinzeiro nico e generalizado, a trmita s encon-
tra para comer uma trmita idntica.
Atingido seu cume, essa espcie elimina todas as outras e destri
a Terra, colocada em desequibrio e em risco de morte por essa sim-
plificao; esta ltima, ento, por sua vez pe a espcie reinante sob
risco de extino, em virtude mesmo de seu triunfo, excessivo. Quan-
do no existir mais do que ratos, com efeito, como os ratos podero
continuar a existir apenas entre ratos?
Neste patamar vertiginoso, no decurso dos tempos e de milhes
103
de milnios, uma a uma, de cada vez, se apresentaram as espcies: e
a Terra as julgou.
Aqui e ali, no universo, outras terras talvez desapareceram neste
desafio, nesta sua luta final contra o senhor temporrio, mas a pre-
sena constante e hiperarcaica de nossa Terra, c embaixo, mostra
que neste patamar temporal, incessantemente repetido em nossa
evoluo, ela tem sempre a ltima palavra.
Cada reino recuou diante da Me.
Espcies desapareceram e outras se humilharam, ao p da letra.
Aquelas que subsistem ficaram porque renunciaram ao domnio ex-
clusivo, potncia e glria, concorrncia temvel, diante do ann-
cio da morte coletiva que sucederia de imediato vitria definitiva.
Ento, para sobreviver, em si mesmas e por si mesmas, elas tomaram
esta deciso muda, tacitamente impressa em seu cdigo gentico.
Nisso est a marca de sua humildade.
Sim, elas se humilharam diante da Terra, deixaram o cume e
entraram nela: obedientes a suas exigncias, mergulharam para se
fundir nas profundezas dos mares, -ou deslizaram sob sua superfcie
sem a perturbar, conformando-se s vagas, furaram galerias escuras
no hmus ou nos rochedos, desapareceram nas turbulncias das altas
regies do ar ou se ligaram, imveis, em uma rede inextrincvel de
lianas e de galhos, para formar a massa das florestas pluviais ou equa-
toriais ... todas enfim dissolvidas, mescladas, fundidas na natureza,
assim denominada porque dava nascimento, silenciosamente, comu-
nitariamente, quelas que recm-abandonavam para sempre a arro-
gncia de seu antigo destino, o projeto paranico de tomar a Terra
inteira s para si; renunciando sua alta estratgia para aderir
sabedoria subordinada do instinto, dobra harmoniosa sem falha da
Terra-Me, que, ento, as salvaguardou.
Diante do homem, hoje, o animal parece inclinar-se, humilhado.
Nosso esquecimento induz a esta iluso estpida. A obedincia refle-
te, em todos os lugares e tempos, a imagem do comando.
Jovens demais, retardatrios, mal chegados a alguns milhes de
anos, nunca adquirimos a memria dos reinos anteriores: a era da
104
L
I'
liana, a da aranha, do escaravelho, O reino do mamute, da mosca ou
da vaca. Mas a lngua se recorda: pois o nome que o homem recebeu
vem da humildade.
Orgulhoso, arrogante, enamorado da potncia e da glria ou
tendendo ativamente para elas, homo humilis parece ignorar q ~ seu
destino, escrito em sua denominao, da mesma forma que a deciso
inicial, final e definitiva das plantas e dos animais se inscreveu, muda,
no genoma das espcies, o levar um dia a se humilhar. A se fundir,
a se mesclar, a se esconder no hmus, nosso primeiro pai, diante do
risco da morte e do sepultamento. Inclinados demais a comandar,
inclinar-nas-emas todos, quando chegar a nossa vez, diante desta
Terra que tem o mesmo nome que ns.
Contrariando nossas iluses, se os animais se humilham, a cabe-
a na terra e os olhos baixos, eles nos indicam deste modo que, tempo
aps tempo, tambm desempenharam, cada qual a seu turno, o papel
de homens.
Humilhados, todos os viventes se chamaram homens um dia.
Foram homens. Desfrutaram do apogeu, reis, lanaram o desafio viril
da supremacia, antes da retirada definitiva. Nossa lngua o repete, o
olhar da foca o exprime, contado nas raias da pelagem do tigre, lido
na mancha vermelha da viva-negra ou decifrado na sinuosidade
calma da anaconda.
Todos os humanos, antes de sua dissoluo no hmus e no ins-
tinto, conservam atrs de si seu verdadeiro pecado original, estabili-
zado para sempre em seu genoma: terem sido homens, portanto reis,
novos, gloriosos, poderosos e to loucamente competidores que se
esqueceraI11 da Terra. Obedientes agora por terem comandado tanto,
eles abandonaram essa inteligncia em prol da animalidade. Selva-
gens e sbios.
Todos conservam este pecado, fixamente, por trs, e toda a sua
existncia instintiva continua a se catalogar em sua memria - mas
ns o temos frente, como nosso projeto coletivo. De fato, nada
original: terminal. Prximo, final: mas no primitivo.
105
I
!
Eis-nos aqui, por nossa vez, os ltimos, no apogeu da potncia,
no minuto exato em que cometemos o erro. Deixaremos o paraso?
Devo dizer a meus netos que me lembro ainda de uma infncia
num campo tranqilo que dava frutos deliciosos e fartos.
Escolher: o imprio ou a Terra? Esta vem ganhando at hoje.
Busco um caminho mdio entre a inteligncia real arrogante im-
becil e o instinto harmnico polido humilhado, obedecendo com
simplicidade animal por ter comandado com desvario.
Ento, no abandono mais a estrada - mestia - que segue a
crista entre as instituies de cincia e as colinas do silncio.
Paz e vida pela inveno. Encontrar
Aprendizado, esquecimento. Colocados parte os casos rarssimos,
menos de dez, certamente, nos quatro milnios de histria conheci-
da, cujos nomes assinam quase sempre obras de matemtica e de
msica, duas linguagens de mil valores porque privadas de sentido
discursivo, no se encontra um gnio natural, imediato e selvagem.
Quem espera pela inspirao nada produz alm de vento, e ambos
so aerofgicos. Tudo vem sempre do trabalho, inclusive o dom gra-
tuito da idia que surge. Entregar-se, aqui e agora, de repente, a seja
o que for, sem preparao, leva arte bruta, cujo interesse se restrin-
ge psicopatologia ou moda: bolha efmera, para teatros de feira e
saltimbancos.
Obra de arte, examinemos a palavra. A obra tem como autor um
operrio de formao artesanal, que se tornou especialista em sua
prpria matria, formas, cores, imagens, para alguns, em lngua, no
meu caso, mrmore ou paisagens em outros. Antes de pretender pro-
duzir pensamentos novos, preciso, por exemplo, ouvir as vogais:
um operrio, um arteso da escrita as distribui na frase e na pgina
como um pintor faz com os vermelhos e os verdes, ou um composi-
tor com os metais sobre a percusso, nunca de qualquer maneira.
Igualmente as consoantes ou as subordinadas: tarefa rdua sobre o
106
_.
papel furado como o tonel das Danaides, to infinita que nela se
passa a vida. Criar: no se dedicar seno a isso, da aurora agonia.
O que pressupe a melhor sade: devorando o corpo com seu
abrasamento, a criao esgota at a morte e mata na flor da idade
quem no lhe resiste com fora tenaz: Rafael, Mozart, Schubert, por
volta dos trinta anos, Balzac e So Toms de Aquino, pelos quaren-
ta. Antes de lanar-se rima, o velho Corneille se despia e se enro-
lava, completamente nu, sob cobertas de burel que o faziam suar
abundam ente, como numa sauna: a obra genial transpira do corpo
como uma secreo. Sai das glndulas. Dezenas de quilmetros, to-
dos os dias, caminhavam Rousseau e Diderot. As idias novas ema-
nam dos atletas. O apelido Plato significa, em grego: ombros lar-
gos. Deve-se imaginar os grandes filsofos como jogadores de rugby.
Atravs do cordame do veleiro na rota de Saint-Malo a Baltimore,
Chateaubriand suplantava os gajeiros na ginstica acrobtica e no
volteio.
Perguntava-se a Malebranche como e por que Ele criara o mun-
do, com seu cortejo de penas e tormentos, de crimes e iniqidades,
esse Deus infinito que to facilmente teria podido descansar, desfru-
tando eternamente de sua inteligncia e de felicidades renovadas; a
isso tinha o filsofo o costume de responder que ningum cria seno
atravs de um suplemento de potncia: assim, o universo nasce do
excedente de potncia do seu Criador. Na prtica, nada mais verda-
deiro. Sendo a fora maior, a obra vem; mas da fraqueza, nada.
Por isso encontramos poucos gnios doentes, drogados, fracos
ou melanclicos. Desconfiados, sim; patolgicos, no. Muitos mu-
los estrei,.:foram produzidos pela publicidade romntica e mentiro-
sa em favor do inventor louco, fora dos eixos ou desequilibrado, cuja
obra movida pela neurose ou pela qumica: nada sai de uma injeo
nem de uma garrafa de lcool. Ou melhor: supondo que o operrio
comece, fraco e abatido, a obra, pequena e crescente, esta logo fun-
ciona para ele como um apoio, e sem cessar lhe d foras. A obra
mora na fora, depois a potncia se aloja na obra; uma se nutre da
outra, que nela tem seu repasto, de modo que as duas, em simbiose
107
,.
!
,
espiralada, crescem uma por meio da outra, enquanto aumenta a
resistncia de ambas atrao da morte.
O que se chama de imortalidade das obras-primas resulta sim-
plesmente desta voluta positiva que se alimenta e se amplia renun-
ciando a si, como um turbilho ou uma galxia. A sade vital produz
por si prpria, em seguida o produto repercute sobre a vida, at
vencer tanto a morbidade quanto a mortalidade. Assim vive ainda
intensamente o que nasceu faz dois mil anos. Se a obra tem necessi-
dade do operrio, num dado momento este tem necessidade s dela:
por lhe dar seu corpo e sua vida, ela retribui com benefcios. Donde,
em ltima instncia, tem-se a vitria sobre a morte.
Existe portanto uma higiene, sim, uma diettica da obra. Os des-
portistas de alto nvel vivem como monges; como eSses atletas, os
criadores. Quer inventar ou produzir? Comece pela cultura fsica, as
sete horas regulares de sono e o regime alimentar. A vida mais severa
e a disciplina mais exigente: ascese e austeridade. Resista ferozmente
aos discursos em volta que afirmam o contrrio. O que debilita, este-
riliza: lcool, fumaa, noitadas e farmcia. Resista no s s drogas
narcticas mas sobretudo qumica social, de longe a mais forte e,
portanto, a pior: s mdias, aos modismos. Todo mundo diz sempre
a mesma coisa e, assim como O fluxo da influncia, desce junto o
maior despenhadeiro.
A obra de arte constitui uma barragem diante desse desmorona-
mento. Vitria sobre a morte, ela se identifica vida, e a nica vida
conhecida a individual. Singular. Original. Solitria. Teimosa. A
obra faz uma espcie animal s para si, pois sua rvore filogentica
produz frutos ou botes individuados, livros, msicas, filmes ou poe-
mas. Ela vem, ento, da disposio nica dos neurnios e dos vasOS
sanguneos. Jamais da banalidade coletiva. Inverso da moda, inverso
do que se diz, ela resiste por definio s mdias, ou melhor, mdia.
A meta da instruo o fim da instruo, quer dizer, a inveno. A
inveno o nico ato intelectual verdadeiro, a nica ao inteligen-
te. O resto? Cpia, impostura, reproduo, preguia, conveno, ba-
108
,
_.
......
talha, sono. S a descoberta desperta. S a inveno prova que se
pensa de verdade a coisa que se pensa, seja qual for esta coisa. Penso,
portanto invento; invento, portanto penso: nica prova de que um
sbio trabalha ou de que um escritor escreve. Para que trabalhar, para
que escrever, se no assim? Nos outros casos, eles dormem ou se
batem e se preparam mal para morrer. Repetem. S O sopro criativo
d vida, pois a vida inventa. A ausncia de inveno prova, pela con-
traprova, ausncia de obra e de pensamento. Aquele que no inventa
trabalha em outro lugar que no a inteligncia. Burro. Em outro
lugar que no a vida. Morto.
As instituies de cultura, de ensino ou de pesquisa, aquelas que
vivem de mensagens, de imagens repetidas ou de impressos copiados,
os grandes mamutes da Universidade, das mdias ou da edio, os
ideocratas tambm, cercam-se de um amontoado de artifcios slidos
que impedem a inveno ou a quebram, a temem como o pior peri-
go. Os lhes fazem medo, como os santos punham em
perigo suas igrejas, cujos cardeais, por se sentirem constrangidos, os
expulsavam. Quanto mais as instituies evoluem para o gigantismo,
melhor se formam as condies contrrias ao exerccio do pensa-
mento. Quereis criar? Estareis em perigo.
A inveno, leve, ri do mamute, pesado; solitria, ela ignora o
gordo animal coletivo; suave, evita o dio que mantm unido esse
coletivo; eu admirei durante toda minha vida o dio inteligncia,
que produz o contrato social tcito das instituies ditas intelectuais.
A inveno, gil, rpida, sacode o ventre flcido do lento animal; sem
dvida, a thveno dirigida para a descoberta carrega consigo uma
sutileza insuportvel para as organizaes inchadas, que s podem
perseverar em seu ser sob a condio de consumir a redundncia e
proibir a liberdade de pensamento.
Chama-se informao a uma quantidade proporcional rarida-
de. Exatamente cientfica, esta definio surpreende a quem v a ou-
tra informao se expandir e difundir at a redundncia. Ora, a est
109
o contra-senso: o que se propaga e se torna provvel, fazendo curvar-
se a nuca dos obedientes, se chama entropia; inversamente, a neguen-
tropia cresce como o improvvel. A informao, neguentrpica e
portanto pouco provvel, sobe o curso irreversvel da entropia, que
ento desmorona para a desordem e a no-diferenciao.
Este ltimo fluxo desgasta o relevo, nivela-o, dissolve as rochas
de todos os tipos e as mistura, o rio carrega para o mar, misturada a
guas cada vez mais lentas e amareladas, a areia indistinta, enquanto
a barragem, rara, cria a diferena; ela resiste descida que a lngua
antiga designava pelo verbo avaler, despencar para jusante. Nessas
barragens se juntam todas as nascentes conhecidas. Porque a inven-
o, como se diz, corre naturalmente; preciso que essa resistncia
intervenha, em qualquer tempo e em qualquer lugar; sem dvida,
isso o bastante. A entropia desce, a informao sobe, a primeira em
direo ao mais provvel, a segunda para o raro.
Resistir. correnteza, queda, dissoluo, desordem, ao
tempo. O punhado de acar no pode se defender da gua que o
dissolve, mas que no danifica o diamante. O trabalho poderia ser
perfeitamente definido como o conjunto de operaes que permiti-
riam tirar o acar, extra-lo e cristaliz-lo a partir da gua na qual ele
tivesse entrado em soluo: dissolv-lo na gua, ao contrrio, faz ver
o inverso do trabalho. No primeiro caso, a energia necessria, mas
no no segundo. Como se diz, isto se faz por si mesmo.
Uma vez que obra e operrio pertencem mesma famlia que a
palavra energia, que obra o operrio faz? Um banco de energia, um
depsito de potncia como um lago a montante de uma barragem,
uma mina de carvo, um lenol de petrleo, um capital qualquer. Em
todos esses casOS: o tempo acumulado. Saturada de informao, inu-
svel, a obra de arte no s resiste ao tempo que passa, mas tambm
o remonta.
Mede-se sem dificuldade a diferena temporal entre a obra de
arte e o objeto de luxo, por exemplo: este custa muito carO no mo-
mento em que a moda o introduz, mas alguns anos depois revendi-
do a duras penas e a preo vil; seus quadros, em troca, no salvaram
110
,
I
J..
I
I
nem Van Gogh da indigncia, nem Gauguin da misria mais terrvel,
mas cem parasitas os disputam desde ento, ao peso do ouro ou do
yen. Na equao em que o tempo vale dinheiro, uma sobe e o outro
desce.
A se define um mundo diferente daquele em que vivemos: a
Terra e os astros nele giram em sentido inverso. A cada dia Moliere
rejuvenesce e faz minhas netas rirem, e a nova pera da Bastilha,
antes de nascer, apresenta um feio ar envelhecido. Resistir no basta,
pois nunca houve uma ponte que num dia de calamidade no fosse
carregada por um rio, nem virgem assustadia que no cedesse
insistncia de um fauno bem peludo. O tempo no pra o seu traba-
lho de eroso, de modo que, para engan-lo, preciso correr rio
acima. Vinda da nascente, a gua faz subir o nvel do lago da barra-
gem, sem descer a jusante.
Voc reconhecer a obra e o operrio autntico por este sinal
infalvel: ambos parecem rejuvenescer. Morrero crianas, como re-
sultado de sua corrida para a origem do mundo. Criar significa ir
para as mos do operrio divino no alvorecer das coisas. Inverter o
tempo.
No sentido da raridade, a informao corre portanto na direo
oposta da informao no sentido da difuso. Ou ento: a ordem
que compe o cristal, o pentgono das rosceas, a clula geminada de
onde nasce um projeto de homem inverte a ordem que faz se curva-
rem paralelamente todas as nucas obedientes. Como se certas coisas
remontassem um curso por onde descem as ordens que os homens se
do. Uma exige energia, trabalho e potncia e a outra cai por si mes-
ma. Dois mundos, dois fluxos ou rotaes de astros, dois tempos: o
da obra de arte acompanha a vida, o outro tomba com a morte e a
histria. Ns reencontramos os dois focos.
Em virtude da invarincia, resistir no basta; preciso inverter o
sentido, ato de movimento.
Ame, se procura criar: as nascentes, as cascatas, as pedras precio-
sas, os altos cumes das montanhas, as cascas da cebola, as folhas de
alcachofra, o olhar da foca, as clulas germinais, as crianas, empan-
111
turradas a ponto de estourar de informaes como as supergigantes
azuis. E fuja dos prdigos das cestas furadas: os jornais, o que cha-
mado de notcia, o boato que se espalha.
Entretanto, certas obras fizeram sucesso: para conquistar de re-
pente este favor, devem ter acompanhado o gosto mais provvel. Sim
e no, e, afinal, provavelmente no.
Para resistir s pesquisas de opinio, distingamos dois tipos de
sucesso. Sim, o primeiro segue a moda e de fato logo o comprova,
transformando-se no dia seguinte em fiasco. Em geral, no resiste um
ms, s vezes nem uma semana, em geral no resiste ao tempo. Quan-
tos livros, ontem em voga temporria, amontoam-se hoje nos cestos
de saldos? O sucesso no acarreta a sua sucesso.
Ao contrrio, como por milagre, o outro mergulha at o fundo
das obras vivas no momento, adivinha-as, domina-as, desperta-as,
liberta-as, suscita-as. Este segundo triunfo perdura. Eu o desejo a
todos. Mas no se engane: nada mais difcil do que descobrir em
que consiste o presente de nosso tempo. O que todo mundo diz,
longe de o esclarecer, o recobre e esconde. No se esquea de que as
mdias repetem o que aqueles que as controlam hoje diziam quando
tinham vinte anos: esto, portanto, com um atraso de uma gerao,
seno de duas. preciso ento buscar apaixonadamente o que voc ,
e no o que dizem que voc . No escute ningum. Resista torren-
te, s influncias, s condecoraes.
Eis o nico modo de libertar o presente, que se define justamente
pelo encontro, raro, miraculoso, saturado de informao, da obra e
das foras vivas latentes que a condicionam, mas que somente ela
pode desencadear. O momento contemporneo criado pela obra de
arte mais ainda do que esta fabricada por ele. O tempo, que sempre
dorme, desperta pela criao, como Deus suscitou Eva cujo sonho
palpitava sob a costela de Ado. Ento o sucesso garante e engendra
a sucesso: a do tempo acompanha a da obra, e no o inverso.
Achar o contemporneo, coisa difcil. Descobrir o que se , in-
veno mais rara ainda.
112
t
Parece-me que s se pode criar no fio reto da cultura que se
encarna na carne de sua carne. Eu me atrapalho ao falar numa lngua
que no seja a minha, enquanto minha exatido busca e encontra
para dizer em francs qualquer coisa que meu corpo carrega desde
milnios em minha lngua materna, meio entre o espanhol e o ita-
liano, as duas outras folhas de um trevo com pednculo latino, mas
desabrochado em terra celta, mais a oeste que a leste, portanto mais
ingls que mediterrneo. Eis a imagem que ilustra meu braso, a
tatuagem de minha pele, a marca de meu cdigo gentico, mestio.
No se inventar nada de novo que no saia das mais profundas
razes? Como um relmpago, a idia presente conecta a terra negra e
esquecida irrespirvel estratosfera do porvir. Ser preciso ento fa-
lar da nossa especificidade.
Na ordem da raridade, a tradio francesa, exigente, irnica e
sutil, erudita porm frvola, reservada sob ltotes, a altitude e o segre-
do, mantm sempre a dianteira sobre Suas rivais ou mulas, mas um
primado quase sempre ignorado, em virtude de sua natureza dura,
mais exatamente de Sua quantidade de informao oculta sob a reser-
va. Roma, Florena ou Veneza se abrem mais facilmente que Paris,
cidade mais sublime do que amvel e difcil de compreender. Da
mesma forma, Couperin e Corneille, infinitamente rduos, so ouvi-
dos muito menos facilmente que Beethoven e Shakespeare, que no
hesitam diante de qualquer meio espalhafatoso de captar a compla-
cncia. Recusamos acordos e comodidades, de forma que passamos
por inabordveis e, s vezes, por arrogantes. O pudor se mostra orgu-
lhoso, eis o nosso paradoxo! Assim, sempre em risco de deixar o
sucesso para os sedutores mais rpidos e mais seguros, a Frana se
arrisca, mortalmente, a se esquivar aos prprios franceses, cuja cultu-
ra vive sob incessante ameaa de runa por causa deste excesso ou
deste desvio. Quando a debilidade torna-se moda, nossa lngua, por
exemplo, rara, exigente, artista, perde. A Coca-Cola sempre derrota o
Sauternes. De modo arrasador.
Alm disso, nos criticamos a ns mesmos at a exasperao e a
excluso, de forma que num sculo em que a publicidade nunca es-
113
pera que algum mais o elogie, ns lutamos contra ns mesmos em
todas as competies, agora mundiais.
No concerne apenas s belas-artes esta altivez inverossmil que
nos torna a vida to dificultosa: no amamos as meias medidas em
nada. Nossas equipes jogam o futebol e o rugby divinamente, ou em
geral se afundam quando os rarssimos talentos faltam. Tanto nos
estdios como em outras praas, uma cultura deixa ver a sua nature-
za. A nossa, a mais difcil, exige uma austeridade que mil outras
dispensam, em troca de sua satisfao.
Nada portanto mais difcil do que criar na Frana, mas estamos
condenados a produzir com essa diferena. Resista ento s importa-
es, em geral podres. Voc ter sempre mau desempenho nas con-
trafaes. Mestio, sim; falsificado, no.
Para criar, deve-se saber tudo e, portanto, ter trabalhado imen-
samente; esta condio necessria agora no mais suficiente. Por-
que o peso da cincia ou do passado esmaga e esteriliza: ningum
produz menos que um historiador, ou professor, ou, pior ainda, que
um crtico. Analisar ou julgar, eis a maneira prpria dos impotentes,
que, em conjunto, desfrutam de todos os poderes.
Ento, com todo seu corpo, sua paixo, sua clera e sua liberda-
de atada, quem quer criar resiste ao poderio do saber, tanto das obras
j realizadas como das instituies que as parasitam. Isto significa,
em suma: abandona tudo o que d segurana, arrisca-te ao mximo.
preciso instruir-se o mais possvel, no comeo, para se chegar
formao: tudo vem do trabalho; aprende e fabrica sem descanso.
Tomo agora uma tangente para afirmar o contrrio.
Ter tudo compreendido, decerto; mas, em seguida, para no sa-
ber nada. Duvidar para criar. Resisto ento, para terminar meu dis-
curso precedente.
Tenho vontade de falar sobre a boa aventura, a nica aventura
ainda possvel em nossos tempos contemporneos, o grande jogo de
quem perde ganha e de quem ganha perde com freqncia. No, o
114
filsofo que busca no dispe de nenhum mtodo; o xodo sem ca-
minho continua sendo sua nica morada e seu livro branco. Ele no
caminha nem viaja seguindo um mapa que repetiria um espao j
explorado. Escolheu errar. A errncia comporta os riscos do erro e do
extravio. Aonde vais? No sei. De onde vens? Procuro no lembrar.
Por onde passas? Por todos os lugares e o mais possvel, enciclope-
dicamente, mas tento esquecer. Declino tuas referncias. H poucos
pontos de referncia num deserto. A filosofia vive e se desloca nesta
paisagem austera e desrtica onde todo um povo vagou durante uma
gerao que esperou e no avistou a terra prometida. Ela no procura
uma nascente, um poo, montanha ou esttua, invenes ou desco-
bertas locais, mas um mundo global, habitvel por seus sobrinhos.
As cincias positivas dispem de mtodos e de resultados: sem-
pre sabe o que est fazendo aquele que matematiza, que programa e
realiza qualquer manipulao num laboratrio, ou que se lana nu-
ma pesquisa de opinio; e quando no sabe, s vezes inventa.
Ento, quando as lnguas maldizentes afirmarem que eu quase
nunca sei o que fao ou vou pensar quando me devoto filosofia,
creiam nelas sob palavra, eu suplico. Basta que siga um mtodo ou
uma escola, o filsofo morre no enrijecimento do dogma ou porque
as palavras de um mestre vitrificaram seu pensamento; se ele obtm
resultados locais, sua disciplina, por felicidade, torna-se uma cincia,
perdida para sempre para a filosofia.
Que agora devo definir: a filosofia se dedica a uma antecipao
do saber e das prticas a vir, globalmente. Um cientista descobre ou
inventa, nas lacunas de um mtodo, os insucessos de uma experin-
cia, a incompletude dos resultados ou a oscilao de uma teoria, mas
o filsofo no dispe nem de uns nem de outros, e portanto ainda
menos de suas falhas e avessos. O primeiro, sempre reconhecvel,
marca seu tempo; reconhece-se o segundo pelo que tenha ou no
trazido o futuro: que lhe falte isso e ele no existir. A filosofia, rars-
sima, existe se e somente se libera e prepara um espao onde a hist-
ria habitar, como a Idade Mdia habitou uma espcie de Aristteles
agostinianizado, o Renascimento habitou Plato, e os tempos moder-
115
nos Descartes, Leibniz ou Bacon. A obra de um filsofo, se e quando
acontece, instaura um solo que fundar as invenes locais por vir.
Ela traz consigo a generalidade, a terra ou a atmosfera da prpria
histria das cincias e a liberdade das artes, a abertura do saber e a
casa da compaixo. Longe de ser produtiva, como infelizmente
hoje, pelas divises do saber antigo e comO uma entre elas, a fIlosofia
tem como funo engendrar o prximo saber, em sua cultura global,
aquilo que a faz sonhar, esta manh, com a instruO mestia.
Assim, esta inveno e sua esperana atraem para uma aventura
sem volta, que pode ser descrita em termoS de xodo e no de mto-
do, de nascimento e de mestiagem, de errncia mais do que de itine-
rrio ou de currculo, e de deserto destitudo de referncias mais do
que de disciplina como espao orientado. So termos perigosos e
arriscados, que podem ser entendidos como mitos ou poemas para
serem excludos do pensamento, quando se faz a viagem por cami-
nhos mais seguros, mas que valem como elementos de uma antropo-
logia da descoberta ou de uma tica, melhor ainda, de uma simples
higiene para aqueles que se lanam nesta loucura sem esperana de
recompensa. Cristvo Colombo inventa as Novas ndias; no volta
sobre seus passos; erra, privado de guia, em uma vastido ao largo,
sem referncia: resiste presso de seus pares; seu xodo ignora que
ele v finalmente uma g1obalidade, qual se dar o nome de um
outro. Que importa. Ele engendrou um tempo.
H vrios sculos, os filsofos clssicos se aplicaram a Regras,
imitadas das dos mosteiros, mas para dirigir o esprito. Ousaria eu
reescrev-las, para depois perd-lo, ou para perturbar os jogos do
sujeito ou da linguagem publicitrios, da ambio na cidade ou dos
sistemas dominantes? Aprende tudo, primeiro; depois, no momento
certo, lana ao fogo tudo que possuis, inclusive teus sapatos, e segue
simplesmente como ests. S inventa a inocncia mestia. Se queres
perder tua alma, trabalha para salv-la, porque a salva, finalmente,
aquele que pareceu perd-la. S descobre quem jogou a partida mais
arriscada, mais absurda, mais mortal, partida na qual quem perde
sempre acaba ganhando um outro mundo - o das prprias coisas.
116
,.
,
T
Em qualquer rea, os homens de todas as culturas s inventaram
porque sabiam que iam morrer e porque souberam viver e pensar na
sua vizinhana, nossa limitao ltima e nascente extrema. Lugar
terrvel de onde vem toda vida.
A criao resiste morte reinventando a vida: isto se chama res-
surreio.
Um outro nome para o mestio instrudo
Eu no procuro, acho - e s escrevo se acho. Nada nos meus livros,
em lugar nenhum, algo de fora, reformado. O que h de mais vivo,
nas pequenas horas da madrugada, do que o inesperado improvvel,
to alerta para o tempo, o achado?
Que aborrecimento mais maante que o raciocinador repetiti-
vo que copia ou parece reconstruir, substituindo constantemente o
mesmo cubo? Que economia ruminar o passado! Que preguia faz
repetir um mtodo! O mtodo procura mas no encontra.
Contudo, leitor, como bom quando te reencontras num texto,
porque sempre ests recomeando o mesmo o texto: ao retom-lo,
pensas compreender, enquanto, caduco, ests sempre coando o
mesmo lugar. Ao invs disso, quem ouve aquele que encontra?
Porque ele exige muito de si mesmo e de quem o pratica: novo a
cada linha, seu texto no se apia em nenhuma retomada. Arte mais
difcil do que aquela da melodia infinita que se lana e se arrisca,
errando sobre o caminho que ela mesma inventa e que jamais volta
atrs, cujo salto no se sustenta seno em sua in quietude, exposto,
explorando sem cessar um outro fragmento de terra, tremulando
como o contorno de um estandarte ao vento, seguindo adiante sem
benefcio nem ajuda, sempre em estado nascente, alegre, despren-
dida, tortuosa, torturante, estranha ao ouvido, emanada das razes do
corpo como um vo de pssaros em torno da ramagem de uma r-
vore, prolfica, divergente, xodo aberto que padecem e cantam
aqueles que vo rapidamente de novidades para achados, trovadores,
achadores.
117
Nascido sob um nome secreto, enfim reencontrei meus ances-
trais: escrevo desde sempre COmo um trovador.
o casal genrico da histria. Morte e imortalidade
A despeito de seu nome glorioso, a potncia que lhe atribuda e sua
atitude teatral, a criao no pode sobreviver por si mesma. Ela mor-
re sem mecenas e s6 vive graas a ele: Estado, Igreja, empresa ou
particular bem-sucedido. Se ele se desinteressar, ela desaparece.
Donde se tira imediatamente a sua definio: ela caminha mori-
bunda. A filosofia distingue habitualmente a natureza e a cultura,
compreendamos enfim por qu: sempre prestes a nascer, a primeira
se ope quilo que no cessa de perder suas foras, enquanto a cultu-
ra luta por sua existncia e mOrre de criar. Definio to justa e to
profunda que, se por acaso a encontrardes, aqui ou ali, poderosa,
rica, honrada, plena, dominante e gorda, certamente no se tratar
dela, mas de seu simulacro ou contrafao. Em boa sade ela no
cria, e, pelo contrrio, para o fazer, d a sua vida. Encontr-Ia-eis por
este sinal que no permite engano: uma perda sem remdio. A cultu-
ra criadora essa criana frgil que expira entre ns, recm-nascido
em agonia desde o comeo do mundo.
Contudo, sobrevive. Melhor, no conhecemos Mecenas seno
por aquele que abrigou, sob seu teto, esta imortalidade em estado
nascente. A criana delicada liberta da morte histrica o mortal afor-
tunado que a salva. E no apenas sobrevive, como no h durao
longa nem mesmo histria sem ela, que sozinha detm o segredo de
subsistir.
Eis o doador e o beneficirio: um certamente faz viver o outro,
que faz improvavelmente sobreviver o primeiro. Intil definir o ge-
neroso sem o recipiendrio, nem este sem aquele, porque os dois
formam uma dupla indissocivel. Ligados de fato e de direito pelo
dom, mas de maneira assimtrica, um representa o longo termo e o
segundo o curto, este com toda certeza e aquele nos azares mais
raros.
118
r
Virglio certamente viveu graas a Mecenas e La Fontaine graas
a Fouquet, mas a probabilidade de que os dois sobrevivessem hist-
ria, graas fbula ou epopia, era muito baixa. Numa dupla assim
reunida e estvel no tempo, para o comum e para o raro, um assegura
a passagem presente e como em tempo real, enquanto o outro conta
com a continuidade em seu longo perodo.
Qual deles e como?
De fato a dupla, unida, joga o tempo curto, COm toda certeza,
pelo longo, inesperado. Diante de sua ligao e seu jogo conjunto,
aparece ento a morte, ou individual e corporal, ou coletiva, no es-
quecimento das geraes futuras. De mtuo acordo eles lutam contra
dois apagamentos.
De fato, aquela dupla no esclareceria a histria, uma vez que
compe a prosopopia de duas caras com as suas condies: aqui a
fortuna e l o gnio, nos casos positivos, uma inencontrvel e mais
rara ainda a outra, ali a generosidade, aqui a criao, uma inslita, a
segunda ainda mais excepcional?
Eis ento a cultura e a economia, eis seu lao realizado, em dom
e contra-dom: que experincia crucial, que nos permite observar as
condies elementares da histria a partir de um exemplo singular, e
oh maravilha, decidir sobre eles!
Outrora, e no h muito tempo, alguns colocaram a economia
na infra-estrutura da histria, enquanto a ns vemos que ela consti-
tui sua condio apenas imediata. Indestrutvel pelo tempo, enquan-
to a economia o decompe em termos curtos, a cultura fornece a
nica e prottmgada infra-estrutura, porque ela e somente ela, por sua
fraqueza, a obriga a durar.
Donde a nova pergunta: como pode ser que aquilo que entre ns
se revela como o mais fraco, e mesmo infantil, mesmo moribundo,
em uma perda irremedivel, fique e permanea, teimoso, invariante,
quando nossos corpos se corrompem, nossos bens e nossos poderes
desaparecem da superfcie da terra? Como pode ser que a cultura
criadora funde o longo termo da histria e sua continuidade, que,
119
paradoxalmente, o software fundamente e condicione o hardware,
que o suave sustente o duro? O hardware, duro, fundamenta o soft-
ware, suave, para o presente imediato, mas uma vez que o termo
curto deixe seu lugar para a longa durao, a relao se inverte: o
duro no dura, s6 perdura o mais suave.
Mas antes: por que essa madrinhagem, pela instituio ou por
homens ricos, desta suave criana fraca e moribunda? Como explicar
a improvvel generosidade - exceto pelo imposto de renda? que,
deixada a si mesma, a fortuna tende a se reproduzir em fortuna au-
mentada e constrange a no pensar seno em si, porque o comando
s sabe engendrar a hierarquia, a guerra s gera o conflito e a concor-
rncia a rivalidade; enfim, essas leis que encadeiam o tempo monto-
no da histria por reprodues idnticas embotam mesmo as peles
mais espessas. Nada de novo sob este sol de ouro. O que se paga
rapidamente aborrece. Compre ento dez casas, domine cinqenta
engraxates, ostente vinte anis preciosos, instale-se em tal lugar cle-
bre, que interesse ter em conquistar mais um? No encontrar seno
o mesmo, ou quase. A facilidade rumina por enfado da repetio e,
embora i n i n i t ~ a vontade de poder, que nada produziu alm da
desgraa dos homens, s encontra diante de si a repugnante obedin-
cia, relao que nos leva de volta ao lado dos animais. Eles comem no
zo, os grandes deste mundo. Donde a busca de algo bem diferente
do ouro ou da dominaO, produtores exclusivos de monotonia.
Novamente, o que a cultura criadora? Com freqncia, de ma-
nh, Mecenas recebia Virglio, que lia para ele, em voz alta, o que
escrevera na vspera, um e outro de sbito vivendo essa novidade. A
criao inventa as notcias contando hoje o que ignorava ontem -
meu 'ofcio consiste em escrever e dizer no o que sei, cansativo,
morto e passado, mais que perfeito, mas, ao contrrio, o que no sei
e que me espantar - e o mecenas no alvorecer corria para as not-
cias, no para aquelas gritadas todos os dias, irritando nossos ouvi-
dos, outros crimes mas sempre os mesmos, outros escndalos, guer-
ras, catstrofes, tomadas de poder, ainda e sempre os mesmos, velhas
120
repeties montonas de um mundo dedicado dominao itera-
tiva, mas exatamente para o imprevisvel do artista, o inesperado e,
rigorosamente, o improvvel.
Nem Mecenas nem, sobretudo, Virglio sabiam na vspera o que
seria dito no dia seguinte.
Durante todo o tempo, essa dupla produziu um tempo indito.
A cultura criadora vive no novo e pode se definir: a possibilidade a
mais baixa, logo a perda irremedivel, a maior raridade. Nada menos
montono nem mais inestimavelmente precioso: sempre em estado
nascente.
A velha lngua francesa, sob esse aspecto mais vivaz e robusta que
aquela que usamos desde ento, chamava trouveur rachador] a esse
produtor de improvvel novidade: trouvere no Norte, no Sul trou-
badour. Que lstima! No conhecemos nada mais que chercheurs
['buscadores']. O criador no procura, que diabo!, ele encontra; e se
no encontra, que faz ento aqui, poluindo a cultura com seus res-
sentimentos?
Essa imprevisvel inveno se chama paz, que segue a inveno e
a condiciona. A paz, mas tambm a vida.
O mecenas faz o artista viver no mundo oposto quele em que o
artista faz sobreviver o mecenas. Quero que sobreviver no signifique
apenas prolongar a existncia, mas tambm transfigur-la. No reino
do po e da gua que o generoso d ao criador, o tempo vai da
esquerda para a direita, do nascimento para a morte normal, em
direo probabilidade maior, certeza nica do fim; no outro mun-
do criado pela obra que o 'achador' entrega ao doador, o tempo vai
da direita para a esquerda, da morte para o nascimento, em direo
ao improvvel, maior das raridades, espantosa novidade. O artista
e o mecenas se encontram na interseco desses dois tempos.
Eis porque eu disse: a criana. O criador, morrendo, vai em dire-
o ao nascimento e infncia, num outro sentido do tempo. Eis
porque a obra no se gasta e resiste monotonia da histria, cujo
fluxo Corre em direo s grandes probabilidades da potncia, da
121
glria e da morte. Indo para a infncia e o nascimento, ela est sem-
pre prestes a nascer, como a natureza gergica e buclica, cujo parto
Virglio anunciava a Mecenas todas as manhs. Eis como a cultura se
torna uma segunda natureza.
O criador nasce velho e morre jovem, ao contrrio daqueles,
realistas, que, tendo, como se diz, os ps sobre a terra, sabem nascer
crianas e morrer caducos, como todo mundo. Um d ao outro o dia
que passa, e o outro lhe devolve a juventude indestrutvel.
Esses dois mundos que giram em sentidos diferentes e esses dois
tempos se ignoram e se apreciam raramente. Eles s6 tm como lugar
comum e improvvel essa dupla contingente, unida pelo dom.
to difcil receber quanto dar, pois todas as culturas exigem,
expressamente ou de forma tcita, um contra-dom. Prefiro cham-lo
de perdo. Como retribui aquele que devemos chamar de parasita a
quem o mantm, que lhe oferece abrigo, um teto e de comer? Pala-
vras vs, vento, essas coisas que nada valem, e que, por isso, no se
compram.
A troca se solda ento pelo desequilbrio: tudo contra nada; eis
um contraste leonino. Ou melhor: pelo desvio do material e da infor-
mao. O balano feito ento, medida que se avana em moder-
nidade, e nele aprendemos a estimar esta ltima, que a teoria define
justamente pela improbabilidade, a maior raridade.
Mas existe a informao corrente e a informao rara. Tudo
jogado, ento, naquilo que eu chamaria risco de raridade. Para dom
raro, contra-dom inencontrvel; encontram-se poucos mecenas,
verdade; mas criadores, menos ainda.
A pesquisa de maior repercusso faz ento fracassar, com toda
certeza, qualquer tentativa de mecenato: o que faz mais barulho se-
gue sempre a moda e no saberia preced-la; ora, o que anuncia um
novo tempo chega sempre como um sopro sutil de vento, suavemen-
te, sem grande estardalhao.
DO?de este resultado perigoso: o interesse propriamente cultu-
ral, poderosamente criativo, com freqncia - nem sempre -
122
.I..
I
1
inversamente proporcional s paixes do momento e s vezes - nem
sempre - corresponde quilo que no apresenta nenhum interesse.
A anlise se equivale, tanto em relao obra de arte como pesquisa
cientfica: pode acontecer que se recuse inteiramente o crdito a de-
terminado fsico, aparentemente envolvido com assuntos sem inte-
resse, que, dez anos antes, recebeu o prmio Nobel por uma inveno
mpar, justamente no mesmo domnio. No existe garantia nem cer-
teza para a criatividade; mas, inversamente, quando ela bem-suce-
dida, reembolsa mil vezes a garantia e o seguro, por um longo prazo,
ao doador, eventualmente j morto.
Assim, o contra-dom se reporta a um desafio quase sempre per-
dido, mas que compensa infinitamente, mais que nenhum outro,
quando se chega a ganh-lo. Esse ganho pode se definir muito rigo-
rosamente como o de um seguro de sobrevida, pois se trata de uma
outra vida, da vida transfigurada, que tenho tendncia a considerar
como a nica vivvel, pois se trata da imortalidade; volto, por meio
dela, continuidade da histria. Virglio tornou Mecenas imortal e o
carrregar na sua garupa enquanto a humanidade sobreviver; dez mil
mecenas salvaram cem mil maus rimadores da fome que eles merece-
riam abundantemente.
Mas que importa a celebridade! S conta o tecido da histria que
ela mostra e constitui. Eis porque, quando a dupla entrou em cena,
chamei-a de genrica.
Ao longo da continuidade assim tecida, tratemos do nosso tem-
po. Daqui para diante, cadeias deterministas fornecem sociedade
dita de cq,nsumo os produtos cujo valor freqentemente colapsam
num intervalo de tempo fulminante: nOve dcimos, em volume e em
peso, do que acabamos de comprar no supermercado vo diretamen-
te para o lixo, e neste encontram o jornal e a quase-totalidade do que
recebemos pelo correio a cada dia. Consumo ou consumio deno-
tam essa deriva viva do valor. Assim, quanto mais um pas hoje pros-
pera e se desenvolve, mais depressa ele nos envia quinquilharias des-
tinadas aos detritos. A um objeto que circule, pergunte por quanto
123
voc o liquidar amanh ou em cinco anos. Estamos perdendo a
raridade. E, portanto, o longo termo, pelos mesmos atos e ao mesmo
tempo.
O Imprio Romano durou dois mil anos, a Idade Mdia desde a
Cristandade um milnio, o dominium britnico sobre o mundo me-
nos de cem anos, o reinado americano comea na ltima guerra e
iniciou seu declnio j h uma dcada. Quanto tempo governaro os
cinco drages da sia? Devemos pensar o mecenato em meio s con-
dies reais que a histria e a economia impem ao valor. Estas so-
frem uma eroso proporcional rapidez das circulaes: uma e outra
crescem verticalmente. Donde esses rendimentos decrescentes.
Proponho que se conserve a denominao de mecenato para os
auxlios culturais puros, os dons concedidos queles que a sociedade
atual, nem menos nem mais que as precedentes, sempre priva de
todos os bens at que morram; e que se denomine apadrinhamento
ou, pior, sponsoring, aos dons que recaem, por uma troca rpida, em
publicidade, em nomes prprios sobre bandeirolas, para o esporte
ou a cincia, atividades nobres mas quase to ricas quanto os doa-
dores, uma vez que, pela inovao, a pesquisa precede e pilota a
prpria economia. O contra-dom ultrapassa mesmo e em tempo
real o dom quando o veleiro ganha a corrida ou quando a descober-
ta acelera a produo esgotada. Nesse momento de deriva viva para
a quinquilharia, a publicidade, contra-dom informacional, com fre-
qncia vale mais dinheiro que o mau produto por ela elogiado in-
solentemente.
Um dom para um contra-dom mnimo, eis o que o mecenato.
S esse mnimo sobe a corrente poderosa que perde a raridade. As
palavras francesas gr [agrado], grce [favor] ou gratuit [gratuida-
de 1 exprimem esta seta simples da troca sem espera ou exigncia de
retorno. A lgica do gr difere daquela da troca. Determinista, esta
segue a circulao rpida e a baixa fulminante que acabo de evocar.
Aquela espera e joga com a raridade. A troca calcula e procura ga-
nhar, o dom gratuito brinca de quem ganha perde e de quem perde
ganha.
124
,
A regra do mecenato se assemelha bastante quela que sigo em
meu trabalho cotidiano, aquela que todas as pesquisas respeitam, que
leva a todos os achados. Ei-la: quem quer salvar sua alma aceita per-
d-la, e se tudo o que queres salv-la, por certo a perders. Dupla
aposta contrria prudncia, visando ao poder e glria. Uma se
debate na troca e a outra se lana para o dom e seus puros acasos.
Destes dois espaos de jogo diferentes, subitamente os dois tempos
vo nascer e bifurcar-se.
O mecenas encontra um abade Delille, pobre rimado r, ou Vir-
glio, imortal, um pintor de domingo ou um Braque ou um Rafael. O
nmerO dos gnios morrendo desesperados, comparado ao dos im-
potentes glorificados, mostra que a escolha, difcil, como loteria, da
qual se tira esta raridade que perdemos. A busca aleatria de uma tal
improbabilidade, com o mximo de informao, me parece o papel
atual e o trabalho positivo do mecenas, que restitui ento a nosso
mundo, s voltas com o banal, o improvvel esquecido.
Ento, estocasticamente, o dom pode se inverter: o pagador sal-
da em trocados, em moeda de rpido desgaste, uma obra de durao
trans-histrica. E o mecenas conserva seu nome unicamente pelo
artista. Por acaso ou loteria, o contra-dom vence o dom, infinita-
mente.
Esta inverso da troca e do gr inverte o prprio tempo que, ao
invs de se gastar, de ter o valor corrodo, o faz crescer verticalmente.
Pergunta: que valor nos parece hoje, nestes tempos sem cultura e de
criao quase nula, o nico que resiste a qualquer inflao e que, ao
contrrio, aumenta? Em que objeto investir? Resposta unnime dos
especialistas: a autntica obra de arte. o que eu queria demonstrar.
Mas para a autenticidade em tempo real, aqui e agora, voc no
encontrar nenhum avaliador. Trabalhe, ento; arrisque-se: loteria
para o audacioso, para quem, diz-se, a verdadeira fortuna s vezes
sorri.
Imagino que Virglio, um belo dia, recitou diante de Mecenas a
pgina de seu poema em que Enas desce aos infernos. Quando o
125
silncio substituiu a msica do dstico, o ministro perguntou se era
preciso que o heri morresse para entrar no outro mundo.
_ E depois - acrescentou - como conseguiu escapar? Achas
que ele ressuscitou?
_ No sei - respondeu Virglio - se ele morreu ou no mor-
reu com este golpe, mas certamente o risco terrvel desta visita infer-
nal condiciona a existncia e a beleza das obras. No pode haver
criao verdadeira sem uma viagem assim, dentro do subterrneo
negro.
_ Explique-me. ento! - exclamou Mecenas, angustiado.
_ Aquele que consegue se safar da sombra, como eu no sei -
retomou o autor da Eneida -, chame-o de Enas, como eu fiz, ou
talvez Homero, que aqui recordo, e cuja Odissia fez Ulisses descer
aos mesmos lugares. Evocamos suas sombras pela magia do ritmo:
Enas enfim escapa do abismo, Homero dele sai, Ulisses tambm e
ainda Orfeu, e antes deles seu ancestral milenar, o arcaico Gilgamesh,
o primeiro, no Crescente Frtil, pelo menos para nossa memria,
partiu com passo leve em busca da imortalidade. Da caixa negra em
que decidiram um dia afundar, eles se libertam, um aps o outro,
enfim imunizados contra o esquecimento, renascentes, ressuscitados,
os nicos verdadeiramente imortais, em virtude de seu suplcio. Eis
como, pela recriao herica, a cultura se torna segunda natureza, a
verdadeira, aquela que compreende o que nascer, isto , sair ver-
dadeiramente do nada. S a obra bela nos conduz juventude e s6
a beleza chama a humanidade para seu presente, vivendo sempre
recriada.
_ Mas - continua o ministro -, que quer dizer esta cena ou
esta srie mltipla, que significa esta sucesso, paralela histria de
nOSSOS saberes, longa teoria de nomes ilustres desenrolada antes de
Enas nos sculos dos sculos, Gilgamesh, Orfeu, Ulisses, sem esque- '
cer Hrcules e reseu, semideuses que, no na histria mas para a
lenda, se aventuraram tambm nesses subterrneos inominveis?
_ Que se o gnero humano no teme a morte em seu conjunto
e sua histria - diz Virglio com paixo -, deve isso aos raros heris
126
1.
r
que a enfrentaram de perto, para dela voltar e soldar aS geraes
umas s outras; podemos cham-los de nossos passeiros: um pouco
como cada um de ns faz a travessia do sexo para que os filhos des-
pertem aps o seu desaparecimento. Assim como o amor tece nosso
vnculo local e individual, corpo a corpo e na gentica, a arte realiza
essa transmisso sobre a mais longa durao, pela aceitao de uma
morte pessoal que funda a histria, da mesma forma que a nossa
prpria condiciona o nascimento de nossos descendentes. Sentimo-
nos vivos e unidos, no tempo, pela e na obra bela, aquela que, por um
lado, integra todo o saber e, por outro, no teme o confronto com o
mal, a dor, a injustia e a morte.
Mecenas, de p, entusiasmado com esta viso longnqua, per-
gunta ento:
- Mas, depois de ns, depois de ti, que tiras do nada esta pgina
memorvel?
- Imagino - continua Virglio - e espero ou profetizo que a
passagem no se interrompa; quem sabe se o futuro no assistir o
advento de uma religio (esse entusiasmo diligente que resiste ne-
gligncia) fundada em parte sobre essa idia que ningum jamais
criou sem se submeter ao mais grave perigo; ela se encarnaria num
homem que se poderia chamar de divino e que renasceria depois de
ter aceito morrer pelas mos dos mais poderosos entre seus contem-
porneos. Depois dele, as obras de msica, pintura, os poemas, as
esttuas celebraro durante milnios sua ressurrreio, que comear
a histria de sua era, a era da boa nova, que consiste em colocar nos-
sa morte no mais nossa frente, como suportada, mas finalmente
atrs, verdadeiramente esquecida. Porque tambm ele sair dos In-
fernos.
- Eu queria - ainda Virglio quem fala - que um gnio que
vai nascer na Itlia, no longe daqui, faa, mais tarde, com que eu
mesmo desa com ele a esses lugares abominveis, em companhia de
uma mulher to feliz com essa viagem que ser chamada de Beatriz.
Eu o ajudarei a entrar, mais uma vez, loucamente, depois a sair,
promotor de uma obra bela. No, acrescentou, sonhador, no posso
127
conceber que essa sucesso herica se interrompa. Nossa histria
fundamental segue a dos nossos predecessores, que mostram a via
mais difcil e a exigncia radical. A arte sai da tumba. Se a semente
no morre, no trar belos frutos. No te estou falando de nada mais
que de uma lei da vida: mas as leis da mais longa no so enunciadas
como as da mais breve, a dos nossos corpos limitados. Sem dvida
existe na carne vivente um programa para esta lei, e eu escrevo na
minha linguagem, com aqueles outros, as atas da histria.
E Virglio finalmente se calou.
Quem o sucedeu? Em nossos museus, multides comemOram a
ressurreio de Van Gogh ou de Gauguin, mortos de misria e fome,
sem nenhuma ajuda, e celebram esses viventes, espantosamente pre-
sentes, com mais intensidade e fervor que aos grandes que persegui-
ram a glria, ricos, poderosos, conquistadores, ou decapitados entre
o troar que anuncia os tambores do poder, parcos de obras e de
posteridade. Sem o formular, ela sabe, ela sente que descende, de
fato, de convencionalistas ou de marechais, mas mais ainda de um
indigente perdido nos arquiplagos do Pacfico, como lean Valjean se
perdeu nos esgotos de Paris, em busca da meSma beleza que aquela
suscitada por esses nomes e esses corpos que sustentaram o tempo.
Ns ignoramos o nome do miservel que, nesse mesmo momen-
to, d sua vida obra que nossos netos consumiro para sobreviver:
porque se o apetite de po s vezes se acalma, esta fome, espero,
nunca se apaziguar. O que a cultura, finalmente? A ressurreio
irregular e regular daqueles que desafiaram a morte para criar, que
retornam para costurar a tradio de ontem vivacidade de hoje.
Sem eles, no h continuidade, no h imortalidade da espcie hu-
mana. Sem seu renascimento no h histria.
A quem, ento, chamar mecenas? Na juno onde a longa dura-
o encontra a vida breve, nos lugares raros onde a histria se projeta
sobre o instante, algum empurra a pedra tumular para que um fan-
tasma renasa ou retorne, aquele que nos visita hoje, como Ulisses e
Gilgamesh visitaram Mecenas pela voz de Virglio, como este visitou
128
Dante e lhe deu o ramo de ouro, como a sombra de Beatriz flutuou
sobre ns por um momento, fantasma evanescente, indefinvel, pres-
tes a desaparecer entre as lufadas de ar leve, mas que sozinho tem a
qualidade, vigor generativo e capacidade de nos reunir, na transmis-
so humana global e para a semeadura inesperada de criaes fortes,
nesses dias sombrios.
Ei-Io, incandescente; reengendrado pela sabedoria e pela morte
dos homens, ei-lo, esprito, lngua de fogo, semente de sis.
129
I
, .
'.
o
fi:
"
;..
o
<:>
~
;;'
;:5
~
"
~
;;: m
~
<:> <:>
~
iil ;?
'"
;:5
"'"
"
a.
"
<:>
"
.",
<:>
~
~
c
~
o ~ "'"
<:>
,....
;;.
<:> ~
~
<:>
-. ~
"
"
;;' <:>
;;
"
~
'e>
.- <:>
<:>
""
II "
;:5
""'I:
<:>
"
~
~
-.
<:>
l
"'" <:>
"
~
~
~
lei do rei: nada de novo sob o sol
A temperatura apenas uma varivel do clima de um lugar. Mil
outros elementos ali mudam juntos, ligados entre si: o relevo e a
altitude, a umidade, a espessura do manto de terra arvel sobre a
rocha, a riqueza e a densidade da flora e da fauna ... Equilbrios locais,
estveis ou lbeis, somam-se a esses fatores. Suponhamos que uma
das variveis, a temperatura, decresa ou se eleve fortemente, exaspe-
rada por qualquer motivo.
O frio advm e ganha: caso se torne terrvel, dir-se- que ele
reina. Ganha e reina. Ele no transforma moderadamente o equil-
brio frgil alcanado pela fuso composta dos numerosos fatores,
mas mata ou recobre sua diversidade. O inverno ganha a batalha: rei
a partir de ento, sozinho comanda os ventos, detm as guas, nivela
o relevo, cobre a terra e os mares, expulsa ou rarifica a flora e a fauna,
impe certas espcies, embranquece totalmente o espao e o volume:
uma nica lei vitrifica a imensido; nada ser jamais novo sob essa
luz distante e gelada, ao longo dessas plancies plidas. A monotonia
no se repete diante de um olho indiferente, fonte de luz sem chama
diante da qual o indito desapareceu. Quando a uniformidade apare-
ce, um sol todo-poderoso, ausente ou presente, a produziu, de fato.
Frio. Nada de novo sem o sol.
Que se inverta a tendncia: ganha, reina o calor, que desertifica
o espao, expulsa ou deixa famintos os animais e as plantas, cobre a
terra de areia e evapora as guas do mar, arrasa as colinas e preenche
os vales, dita sua lei nica aos ventos. A chama destri, com sua
ardncia, o volume: na imensido, sua ordem comanda.
133
Reina a lei do frio nos pases do Norte, a da chama governa o Sul,
nada de novo com solou sem ele. A sabedoria de Salomo coloca-o
to distante que ele observa, indiferente, a dissoluo que a insolao,
entretanto, produziu. Ser que ela ocorreu sob seu olhar? Decerto,
mas ela se faz sobretudo por sua ao. Basta que ele se retire para que
os bancos de gelo avancem; basta que exploda. e o deserto acre se
estender no espao. Inversamente, quando faz falta o novo, procure,
se voc no est morto, o sol no faz mais do que se ausentar.
Nada de novo pelo sol.
Nos pases temperados, onde a temperatura se suaviza, a aurora
se pe e o crepsculo se prolonga, sob o pudor da manh. Ressur-
gem em massa os outros fatores: faz tempo bom e fresco, seco e
mido, calmo e ventoso, luminoso, claro-escuro, surgem pinheiros,
palmeiras, fauna em quantidade: tudo se mostra ao mesmo tempo.
A temperatura no atinge o mximo, o espao nunca se liga a uma
nica e excessiva coao. Essa mistura varivel poderia ser chamada
de tempo, palavra que significa a mistura ou temperamento e com a
qual se qualificam os pases ditos temperados, que, por esse motivo,
eu o adivinho, em troca inventaram a histria, ou melhor, uma
seqncia temporal - temperada, como uma gama - de aconte-
cimentos.
A novidade irrompe se o sol se retm.
Se as guas se retm. Com a cheia, o dilvio comea e comanda,
at que tudo se abisme sob o tecido de luto das guas. Mais uma vez
uma nica lei: a transgresso marinha, reinante, engole qualquer de-
talhe sob o nvel uniforme da gua sedosa.
Se uma espcie ou uma variedade viva se retm. Imagine a Terra
coberta de milhes de lagartos mais ou menos idnticos ou uma praia
interminvel sob caranguejos cinzentos movendo-se sem deixar e$-
paos vazios, todos no auge do crescimento vertical da reproduo.
Ou, ainda, o espao invadido por uma rede inextrincvel de lianas
entrelaadas, de uma nica famlia, ou de ratos com certo odor ou de
formigas com certos hbitos polticos. O que comero esses ratos,
esses lagartos, quando tiverem ganho a famosa guerra pela vida, de
134
modo que passaro a viver num ambiente exclusivo de ratos ou de
lagartos? Comero lagartos?
Se os homens se retm. Ns arrumamos o mundo s para ns,
animais daqui para diante exclusivamente polticos, inexorveis ven-
cedores da luta pela sobrevivncia, encerrados para sempre na cidade
construda sem limite, coextensiva ao planeta: quem ainda poder
sair da cidade chamada Japo ou da estufa chamada Holanda? Cats-
trofe: quando as estufas cobrirem a terra. Entre as pedras e o vidro, os
homens no tero mais que o vidro e as pedras debaixo deles para
construir e, diante deles, para viver, um mundo finalmente vitrifi-
cado, submetido s suas prprias leis. Vivendo de relaes, no co-
mendo nem bebendo nada alm de seus prprios laos, voltados fi-
nalmente para a poltica e s para ela, enfim ss, longas lianas em
redes atadas de comunicao, grandes colnias de formigas agitadas,
lagartos aos bilhes. A espcie homem ganha, vai reinar, no descon-
fia de si prpria, no se retm nem reserva seu poder, sua cincia ou
sua poltica. A hominidade deve aprender essa reteno, pudor e ver-
gonha; e sua lngua deve aprender a ltotes; e sua cincia deve apren-
der a reserva. Perseverar incessantemente em seu ser ou em seu pode-
rio caracteriza a fsica da inrcia e o instinto das feras.
Sem dvida a humanidade principia com a reteno.
Se Deus se retm. Deus o nico ser ao qual uma aventura assim
j sucedeu. O monotesmo tinha destrudo os deuses locais; no escu-
tamos mais as deusas rirem entre as fontes, nem vemos os gnios
aparecerem sob o arvoredo. Deus esvaziou o mundo, o grande Pan,
parece, morreu. Quando o sol apareceu do lado do Oriente Mdio, as
estrelas empalideceram, a profuso de colorido se fundiu no braseiro
da unidade. A partir da, nada mais pode aspirar novidade sob a
tocha (Ia omnitude: poo total dos pensamentos verdadeiros, condi-
o toda-poderosa e criadora, pr-formao de todo o possvel, en-
cerramento sob a lei, Deus no se retm.
Engano. Deus se retm de qualquer eternidade. Limitado - lhe
possvel? - pelo poder do mal, dual, portanto, e trino, cercado de
135
mltiplos mensageiros, serafins e arcanjos, potncias e dominaes,
sobrecarregado dia aps dia pela pequena glria dos homens que
atingem a beatitude ou a santidade, estorvado pelos mrtires, pelas
virgens e pela Virgem, Deus se reserva ou, por si mesmo, retm seu
poder. A histria santa de Deus no fala da sua solido e mostra, ao
contrrio, sua reteno, sua suspenso, nossas liberdades. Da sua
benevolncia, sua tolerncia, sua doura ... e se Deus no aderisse ao
monotesmo estrito? Que diabo, Ele criou o mundo e, por isso, muita
gente aspira ao comando!
Talvez Sat manifeste a clemncia de Deus. Talvez o mal existen-
te demonstre a sua bondade. Talvez a existncia de demnios malva-
dos, como a dos anjos e querubins, como a dos santos, da sagrada
famlia, bons e maus espritos na mesma linha enfim, e pelo menos
uma vez com a mesma funo, talvez a existncia de todos estes im-
pedimentos que Deus tolera ou que ns impomos sua ubiqidade,
inclusive a sua prpria encarnao, cantem-nos sua benevolncia e
sua misericrdia, todas as latitudes que ele oferece. Temos a agrade-
cer a Deus pelo muito que se reteve aqum do monotesmo. Nossa
sobrevivncia se deve talvez a esta reserva. Quem sabe Deus s criou
o mundo graas sua absteno? Que importncia teramos se ele
no se retivesse?
Comovido pela tradio, acreditei durante muito tempo que o
monotesmo houvesse morto os deuses locais. Chorava a perda das
hamadrades, pago como todos os camponeses meus pais. A solido
em que se encontravam as rvores, os rios, os mares e os oceanos me
dilacerava, eu sonhava em repovoar o espao vazio, ansiava dirigir-
me aos deuses destrudos. Abominava o monotesmo por esse holo-
causto das divindades, que me parecia uma violncia integral, sem
perdo nem exceo. Incapaz de pensar no mais recente, por s t ~ r
ligado batalha milenar dos deuses, a essa gigantomaquia que nos
servia de modelo.
Vejo, ao contrrio, que Deus acolhe os deuses, que no desce seu
brao sobre o diabo, uma vez que Sat, evidentemente, sempre se
apropria de todos os poderes do mundo e Ele nunca protesta; obser-
136
1
l
vo que se deixa importunar pelos anjos e aceita a concorrncia da
suave multido de santos, que at mesmo desaparece no tumulto de
asas, aurolas e mantos, que mal podemos distingui-lo entre as pal-
meiras. Descubro que Deus bom e talvez, quem sabe, infinitamente
fraco. Ele se retm, com pudor e vergonha. Um dia at se deixou
matar sem resistncia aprecivel. Na mesma hora, passei a rir da
velha gigantomaquia dos pequenos deuses locais, sempre, como ns,
em p de guerra. Sinto-me agora um pouco menos pago.
Uma lei nica, pretensamente geral, resulta da expanso forada
de um elemento local que perde a conteno, se algum dia a teve, que
esquece a medida, se que a aprendeu, com a inteno de fazer que
o resto desaparea.
A madrugada apaga as estrelas, nada no cu ser novo depois
dela. Ora, o sol apenas uma an amarela cuja aurora esconde as
gigantes azuis. Contudo, as supergigantes continuam girando, as ga-
lxias tambm. To mais gigantescas, ardentes e coloridas. A an
perdeu a medida e esqueceu a conteno. E, contudo, as outras gi-
ram.. A expanso da lei nica de uma estrela muito pequena se chama
aurora.
Os gases ocupam por si mesmos o volume que se oferece diante
de sua presso expansiva. Ningum jamais viu um gs manifestar
conteno, deixando uma parte do espao vazio. A barbrie segue a
lei nica. A lei da expanso. A dos gases. Eles se propagam. O brbaro
se espalha. A violncia espalha o sangue, que se espalha. A pestilncia,
a epidemia, os micrbios se propagam. O rudo, o estrondo, os ru-
mores se espalham. Assim a fora, o poder, assim os reis. Assim a am-
bio. Assim a publicidade. preciso dizer o nome de todas as coisas
que se espalham to amplamente como um gs, de todas as coisas que
se expandem, que ocupam o espao, que ocupam o volume. O mal
corre, eis sua definio: ele excede os seus limites.
E se o sbio solar se reduzisse a um ano amarelo? Desses peque-
nos, que se exibem com rudo para ocultar os supergigantes, azuis e
silenciosos?
137
Quem, ao contrrio, cantar o pudor da cultura, a vergonha da
verdade, a ltotes da bela lngua, da sabedoria a conteno? Passa e
falta a excelente qualidade: no h belo decote sem defeitos no om-
bro. Faltas e defeitos exigidos pela verdade, pela beleza, pela bonda-
de, decerto, mas tambm pela vida:
Ns a devemos conteno de Deus, criados que fomos nas
margens de Sua reserva. Ns a devemos tambm ao conjunto de
faltas deixadas pelos outros viventes, a terra, a atmosfera, as guas e
as chamas, que por sua vez devem a existncia s reservas marginais
que ns lhes deixamos.
A morte impe sempre a lei. O nascimento esconde seu estbulo
nas margens do no-direito. O prprio da natureza a conteno.
Nada de novo nasce se algum sol exasperado o impede.
A obra nasce numa cavidade retida.
A moral exige primeiro essa absteno. Primeira obrigao: a
reserva. Primeira mxima: antes de fazer o bem, evitar o mal. Abster-
se de todo mal, simplesmente se reter. Porque tambm, como o sol,
ao expandir-se, o bem se transforma depressa em mal. Essa primeira
obrigao condiciona a vida, cria uma rea de emergncia de onde
vir a novidade.
O novo pode nascer sob esse claro-escuro.
O homem gentil se retm. Ele reserva alguma fora para reter a
sua fora, recusa em si e em torno de si o poderio brutal que se
propaga. O sbio desobedece ento a lei nica de expanso, no per-
severa sempre em seu ser e pensa que erigir sua prpria conduta
como lei universal define tanto o mal como a loucura.
Assim, a razo busca no mais se submeter a um imprio, em
particular quele de sua prpria expanso. Ela reserva alguma razo
para reter a sua razo mesma. O homem gentil e racional pode por-
tanto desobedecer razo, para que nasam margens em torno dele,
com vistas novidade. Ele inventa a boa nova. Achador.
Se o sol, se as guas se retm, se as espcies vivas reservam sua
potncia, se freamos a expanso de nossas razes. Deus se absteve.
138
,
L
I
1
Seno, ele teria ficado s. Como ele mal se distingue na densa multi-
do de santos e anjos, quem O encontrou O busca ainda, fragmenta-
do ainda na Trindade. Ele se esconde e se deixa invadir. Sua ausncia
no espao e na histria significa sua conteno.
A boa nova nasce meia-noite: sem sol.
Deveramos nos dissimular um pouco sob as rvores e os juncos,
abrir nossas polticas aos direitos do mundo. Deveramos nos reter,
cada um, sobretudo nos abster juntos, investir uma parte da potncia
na suavizao de nossa potncia.
Humano quem no desce sempre o seu brao sobre os fracos,
com dureza, ou sobre os fortes, com ressentimento, mesmo sobre
os que so ostensivamente maus. A humanidade torna-se humana
quando inventa a fraqueza - a qual fortemente positiva.
Perseverar sem trgua em seu ser, ir mesmo alm de sua perseve-
rana completamente desenvolvida, ultrapassar conservando-a, eis a
conduta da loucura. A parania poderia mesmo se definir pela ex-
panso de um trao local exasperado, vitrificando o espao mental
para no deixar nenhum espao ao crescimento de uma outra vari-
vel. Presente, um psictico erradica qualquer outra presena, da mes-
ma forma que a psicose tudo nele desbastou. Real, imperial, solar, ele
persevera em seu ser, se expande, converte tudo o que o cerca. A pro-
pagao da patologia ultrapassa tudo aquilo que encontra diante dela
e o absorve enquanto se conserva. Nada de novo sob essa loucura.
Temos dificuldade em suportar essa psicose quando imposta por
um indivduo, mas s vezes lhe damos as nossas vidas quando ela se
torna coletiva. Nossas condutas sociais traduzem com freqncia
doenas em modelos gigantes ou adicionam muitos tomos ou ele-
mentos que, tomados separadamente, se reduzem ao mrbido. A
loucura, a grande, sempre parece, mais ou menos, com a conduta de
quem quer ser rei e passa a se identificar com o sol. O louco que se
toma por Napoleo no engana o povo. Ora, nunca foi dito que se
engana aquele que acredita em si. Foi mesmo preciso que um dia um
gemetra corso acreditasse nisso at o fim. O coletivo se rene e se
139
reconhece em torno do potentado que procura ser visto como verda-
deiro. Se consegue, ei-Io coroado imperador; se fracassa, chamado
de louco. f: bem fina a parede que separa esses dois momentos deci-
sivos. Eis, em todo caso, uma varivel singular, que tenta se expandir
para fora de seu pequeno nicho, que persevera com todas as suas
foras ou se ultrapassa, enquanto se conserva. Para definir a loucura,
no tema empregar as palavras metdicas da filosofia.
A loucura se desenvolve segundo a mesma lei de expanso que
aquilo a que aspiramos sob o nome de razo. Esta quer invadir o
lugar da mesma forma que qualquer outra varivel, ou qualquer ou-
tra desrazo. Razovel significa a conteno, aqum da capacidade,
da prpria razo, de modo que se chama assim ao indivduo que nem
sempre nem em todo lugar tem razo e que no se aproveita disso em
relao queles que nunca tm razo nem queles que, a rigor, po-
dem ter razo algumas vezes. nfima e vizinha de zero a probabili-
dade de ter sempre razo sobre tudo e sobre todos.
O pensamento comea sempre quando o desejo de saber se de-
pura de toda compulso a dominar. Criemos nossos filhos na vergo-
nha da razo, para que eles sintam pudor dessa compulso. Entenda-
mos como razo a proporo: ela mede a quantidade ou o volume de
um elemento misturado em uma soluo. Quanto h de gua neste
vinho puro? Nome que se d tambm ao coeficiente de propagao
em uma seqncia ou srie, a razo se veste de proporo. Uma no
anda sem a outra; ora, no h razo nem proporo sem mistura; a
razo razovel rir ento da razo pura, como de um oximoro, tanto
ao mergulhar nos corpos misturados, como ao nos ensinar que tudo
no , e est longe de ser, sempre e em toda parte como o que ela
conta. Como podemos fazer dela uma idia expansiva e homognea,
que a torna uma loucura, exatamente o oposto de uma proporo?,
Se a razo se retm. Ela nasce sob a denominao grega de logos,
relao ou proporo, quando Tales descobre, ao p das pirmides,
que as grandes se equivalem pequena seguindo uma mesma relao.
Queops e Qufren, faras imponentes, pela primeira vez se retm
diante de Miquerinos, que por sua vez se reserva diante do corpo do
140
,
,
_.
gemetra, de p, livre e orgulhoso, cuja estatura insignificante proje-
ta, sob o sol, uma sombra semelhante sobre as trs sombras enormes,
seg'undo a mesma razo. Tales inventa a cincia na penumbra, fora
das loucuras solares dos reis.
Eis o novo sombra do sol.
Ento a novidade se ergue a cada minuto do dia ou da noite: esta
fecundidade ininterrupta do tempo, inesperada no deserto seco e
ardente, ns a chamamos histria das cincias, que equivale das
retenses da razo.
Se a cincia racional se retm. Organizamos meticulosamente
um mundo onde apenas o saber canonizado reinar, espao que cor-
re o risco de se assemelhar de muito perto a uma terra coberta de
ratos. Unificada, louca, trgica, a cincia ganha, logo reinar, como
reina e ganha o inverno. Excelente o saber, decerto, mas como o frio:
quando se mantm fresco. Justa e til a cincia, certamente, mas
como o calor: se permanece suave. Quem nega a utilidade da chama
e do gelo? A cincia boa e at mesmo, estou seguro, mil vezes me-
lhor do que outras coisas tambm boas; mas se pretende ser nica e
completamente boa, e se age como se fosse assim, ento ela entra
numa dinmica de loucura. A cincia torna-se sbia quando se retm
a si prpria de fazer tudo o que pode fazer.
Por mais judiciosa que uma idia se apresente, ela se torna atroz
se reina sem partilha. Seria perigoso que as cincias duras se fizessem
passar pela nica forma de pensar. Ou de viver. Poder-se-ia conceber
que as cincias se tornassem sbias. Bastava-lhes aprender a ltotes, a
reserva, a reteno; o contedo de uma idia importa um pouco
menos do que sua conduta, o valor da cincia avaliado por seu
desempenho tanto quanto por sua verdade; que um julgamento tem-
pere o outro. Sim, o que importa o rigor de um teorema ou sua
profundidade, se ele acaba por matar os homens, ou faz pesar sobre
eles um poder excessivo?
A sabedoria d a alna de medida. O temor da soluo unitria
significa o comeo da sabedoria. Nenhuma soluo constitui a ni-
141
ca soluo: nem tal religio, nem tal poltica, nem tal cincia. Resta
a nica esperana, de que esta ltima possa aprender uma sabedo-
ria tolerante que as outras instncias jamais souberam aprender e
nos evite um mundo homogneo, loucamente lgico, racionalmente
trgico.
A verdade, de direito, no deve adquirir o direito de se expandir
no espao. A sabedoria acrescenta a reteno ao verdadeiro, aos cri-
trios do verdadeiro a reserva. A partir da, no julgarei mais verdade
o que no pode nem sabe reter sua conquista.
Loucura da verdade solar.
Se a cincia e a razo se retm, se a filosofia se retm. Amo a
filosofia porque traz em si essa palavra de amor que eu amo, essa
sabedoria que tardei a descobrir; no conheo nada melhor do que
ela, nada maior, mais quente, mais profundo nem mais extensivo,
luminoso, nada que torne mais inteligente, nada que compreenda
melhor as coisas do mundo, os meios da histria, da linguagem e do
trabalho, que permita viver melhor e ascender rara beleza; dei-lhe
minha vida, meu corpo, meu tempo, meus prazeres, minhas noites e
minhas aventuras, at meus amores, ela os colheu e mos devolveu
magnificados, mas, to certo como a amo, sei que no se deve pro-
mov-la nem dar-lhe poder, mas, bem ao contrrio, impedi-la de
adquiri-los. Muito perigoso. Amante da filosofia, jamais me tornarei
seu zelador. Nada fao para expandir sua potncia.
A filosofia deve engendrar homens de obra; desejo-a estril de
homens de instituio e de poder. Estril, a instituio persevera em
seu ser, avana, cega e teimosa. A obra, tmida, fraca, frgil, desgarra-
da, espera ser tomada, brilha suavemente como um pedregulho em
seu buraco, no se expande por si, felizmente. Por si, a obra se retm.
H algo novo em seu claro-escuro.
Se a filosofia, esquecendo-se da obra, se apropriar em l g u ~
lugar da potncia, ela reinar imediatamente sobre os cemitrios. A
histria no d nenhum exemplo inverso. Muito perigosos, os filso-
fos. Mais terrveis que os polticos, os padres e os eruditos, eles mul-
tiplicam um pelo outro os riscos dos outros. No confiramos o poder
142
!
\
,L.
1
s idias porque elas multiplicam o alcance da potncia. Muito peri-
gosas, as teorias. Como se expandem no vazio, logo milhes de ho-
mens desfilaro com passo cadenciado por milhares de quilmetros
desde seu lugar de emisso, diante de retratos gigantes daqueles que
as promoveram. Propagao nica e soluo final. Acredita-se sem-
pre que uma idia s perigosa porque falsa. Que ela exprima a
verdade, na hora certa; evitemos dar-lhe publicidade.
A sabedoria adequada filosofia vem da reteno. Se ela constri
um mundo universalizante, a arte o borda com uma margem de be-
leza reservada. Filsofos, fazei vossa obra com exatido e suportai em
silncio que vos chamem de poetas: aqueles que em geral so ex-
cludos da cidade. melhor assim. Constru uma grande obra onde
se encontrem, precisamente localizadas, as coisas do mundo, rios,
mares, constelaes, os rigores da cincia formal, modelos, estrutu-
ras, vizinhanas, as exatitudes aproximativas da experimentao, tur-
bulncias ou percolao, as flutuaes da histria, multides, tem-
pos, pequenos desvios, as fbulas da lngua e as narrativas do bom
povo, mas a constru to bela que sua prpria beleza a retenha; a
retenha como singularidade; a defina; a preserve de qualquer excesso.
Por felicidade e por definio, o inimitvel no encontra imitadores
e portanto no se expande nem se propaga.
Inteiramente belo, inteiramente novo.
O belo contm o verdadeiro, quero dizer, o retm, limita sua
expanso, fecha o rastro, quando ele passa, sob a forma de traos. O
verdadeiro exige um limite e a demanda de beleza.
Quando a cincia e a razo tiverem atingido a beleza, no corre-
remos maiS risco. Bela, a filosofia afasta todo perigo.
Belo, o verdadeiro se esquece de avanar no espao. O belo o
verdadeiro em paz consigo: a verdade contida.
Se a lngua se retm. Nada, o sei com certeza, to belo quanto
minha lngua, secretamente musical; nada se esconde com tamanha
discrio, precisa e clara sem o ostentar, nenhum modo de expresso
se aproxima tanto da ltotes, nada tambm to puro quanto o gosto
143
I
!
francs, excelente, refinado, despojado, to ausente como Deus sob a
onda de querubins ou o lils por trs da pra e da ma secas num
velho Yquem, nada tambm conseguiu se aproximar tanto da beleza,
mas eu no poderia suportar que por toda a parte e sempre s se
falasse a minha lngua.
Eu sofreria muito, acho, se tivesse que falar ingls hoje em dia,
quero dizer) como lingua materna. Pena) ela no se retm mais. No
entanto, como foi bela!
Quando todas as pessoas do mundo falarem finalmente uma
mesma lngua e transmitirem a mesma mensagem ou a mesma nor-
ma de razo, ns desceremos, dbeis imbecis, mais baixo que os ra-
tos, mais idiotamente que os lagartos. Mesmas lngua e cincia ma-
nacas, mesmas repeties dos mesmos nomes sob todas as latitudes,
terra coberta de papagaios barulhentos.
Quando os poderosos e os ricos s falarem ingls, eles descobri-
ro que lngua dominante no mundo falta a palavra pudor. Eles
tero deixado, com desprezo, os outros dialetos aos pobres.
Se os mais fortes se retm, se os melhores se retm. Os cidados
livres de Atenas, de Tebas, os revolucionrios parisienses do ano 11,
os potentados do Ocidente, hoje pesados de tantos dlares, inventa-
ram ou praticam, segundo dizem, a democracia, enquanto ela lhes
servia ou serve ainda de publicidade ou biombo para esconder que
esmagavam os escravos e os metecos, que iam tomar o lugar dos
nobres decapitados ou que exploram at a morte o Terceiro Mundo.
Qual a melhor forma de governo?, perguntam constantemente
os tericos. Assim enunciada, a questo antecipa: a aristocracia. O
governo dos melhores a melhor forma de governo, a nica que o
Ocidente conheceu desde a aurOra de seu tempo.
Sempre e por toda parte em nossa cultura, os aristocratas se
consideraram iguais, irmos em armas submetidos dura lei dos
duelos, equivalncia das fortunas para uma concorrncia selvagem,
concursos impiedosos entre os especialistas de mrito ... deve-se sem-
pre formar ou imitar o ideal do homem, isto , o melhor possvel:
144
1-
r
bem-nascido, rico ou inteligente. Quando s se conhecem exemplos
e s se age segundo modelos, como evitar a competio, isto , a
aristocracia e a desigualdade?
Optimiza-se, ento, uma tendncia escolhida: crescem as armas,
as riquezas ou os mritos, comea a corrida, para que a fora domine,
ou a fortuna, ou o talento. Por que as melhores coisas deveriam se
reter?
Ora, descobrimos agora esta nova, porm antiga, evidncia de
que a Terra no pode dar a todos os seus filhos o que dela hoje
arrancam os ricos. Existe a raridade.
Enquanto nossos modelos aristocrticos permanentes majoram
ou optimizam esta ou aquela tendncia para que ela invada o espao,
a verdadeira democracia, aquela pela qual espero, minora ou mini-
miza a mesma e referida fora. Desfrutar de uma potncia e no faz-
la prevalecer, eis o comeo da sabedoria. Da civilizao.
Filosofia poltica da reteno: a nica igualdade pensvel daqui
em diante supe, no como falta de riqueza, mas como valor positi-
vo, a pobreza.
O Terceiro Mundo nos precede.
Partamos.
o novo sob o sol, em outro lugar
Durante a batalha do Pacfico, uma das mais duras da ltima guerra
mundial, um navio, cujo nome e bandeira calarei, recebeu na mesma
hora tal chuva de torpedos e projteis que se encheu de gua numa
quantidade:equivalente sua tonelagem. No afundou, entretanto:
navios podem flutuar mesmo em condies extremas.
Sem mquina nem timo, privado de qualquer contato pelo r-
dio, envolvido st:1bitamente pela bruma, carregado pelas correntes e
pelos ventos quando a neblina se levantou, desamparado, entregue
aos meteoros sem poder agir, ele vagou sozinho durante duas ou trs
semanas por sobre a extenso deserta do mar, depois de ter se perdi-
do de Sua esquadra que, acreditando-o afundado j h bastante tem-
145
po, cessara todas as buscas. Como as obras vivas e mortas desapare-
cem debaixo d'gua, a tripulao quase inteira ocupou as partes mais
altas, mastros e vergames, para todos os olhos procurarem algum
sinal no horizonte. Os sobreviventes contaram que naqueles momen-
tos acreditavam ter deixado o mundo dos homens.
E de repente, numa bela manh, milagre. Terra! Terra! Ilumina-
do pelo sol nascente aparece, bem frente, um banco de coral, encer-
rando uma laguna tranqila, de guas verdes, de onde se estende uma
longa faixa lisa de areia e, por trs desta, altas falsias se empenacham
de palmeiras e cascatas. Dir-se-ia a ilha Coco, uma das mais belas das
terras pacficas e das mais tpicas, porm situada a milhares de milhas
para leste.
A onda tranqila empurrou navio, corpos e bens para a primeira
ponta de terra, onde ele colidiu e naufragou em dois minutos, como
se houvesse esperado vinte dias, em equilbrio, por esse momento
fulgurante. Mas os botes salva-vidas e balsas, lanados ao mar bem
antes, levavam para a margem os marujos e oficiais em uma desor-
dem esfaimada que se pode imaginar e na esperana louca de sobre-
viver. Nenhum morreu afogado.
De todos os pontos da costa surgiram ento longas pirogas,
guarnecidas de remadores, e arautos que os chamam, ajudados por
gritos e gestos, cantos e tambores. Cada barco de salvamento abor-
dado. Como os marinheiros nada compreendem dessas demonstra-
es, no sabem que deciso tomar: defender-se de um ataque ou
abraar aqueles que os acolhem.
De repente faz-se silncio: o chefe ou rei aparece, quase nu, em
majestade, manda chamar o capito. Este se levanta, comparam-se as
aparncias. O encantamento desce sobre a cena. Os nativos mudam a
direo de suas embarcaes, uma a uma, e conduzem terra aque1es
que, de sopeto, se tornam seus hspedes.
Nada faltou durante longos meses para a felicidade completa dos
nufragos. Os sobreviventes contaram que acreditavam naqueles mo-
146
mentos ter tocado o paraso terrestre. Trocas que satisfaziam as duas
partes, jogos e risos, festins deliciosos em torno desses fornos poli-
nsios cavados na terra e de onde os cozinheiros retiravam bolos
suntuosos feitos de batatas docesj alguns, como nos sculos passados,
arranjaram uma mulher, outrOS limpavam um canto de jardim para
plantar algumas sementes salvas do desastre.
Uma vez resolvidas as coisas da vida, comearam a discutir inter-
minavelmente: os deuses de cada um, comparando-se seus desempe-
nhos, as regras seguidas de muitas maneiras por cada uma das duas
comunidades, suas vantagens e inconvenientes; primeiro por meio
de gestos complacentes, depois numa lngua progressivamente clara
e dominada.
Os nativos nutriam uma paixo estranha pelas palavras: pediam
a traduo exata de seus vocbulos e davam explicaes intermin-
veis. As assemblias se multiplicavam e no terminavam mais entre
brincadeiras e bom humor. Foi preciso falar do amor, da religio, dos
ritos, da polcia e do trabalho, com os mnimos detalhes. Eles se
esgotaram nos paralelos: as restries diferiam, mas cada qual era
oprimido em seu pas por normas igualmente complicadas, incom-
preensveis at fazer rir o interlocutor, mas sem jamais negligenci-
las, nem de um lado nem do outro. Em suma, sob diferenas muito
espetaculares, todos juntos acabaram reconhecendo grandes seme-
lhanas, e isso os aproximou.
O tempo passava, o horizonte continuava virgem. Para os nati-
vos, nunca deixara de estar assim. Os antigos contavam, entretanto,
que seus antigos contavam, e assim por diante, que em tempos muito
distantes povos plidos j haviam chegado ali, mas nunca mais desde
ento. Os tripulantes do navio de guerra, quanto a eles, no se lem-
bravam de que seus mapas mostrassem a existncia de uma ilha na-
quele lugar.
Alguns a chamavam de ilha Nula, mas como no se dividiam
mais, como a bordo, para o servio, em bombordeses e estibordeses,
outros se puseram, de brincadeira, a chamar de ilha Mestia essa
147
terra bendita, como uma embarcao imvel com equipagem sem
diviso. O tempo passava.
Como havia o risco do tdio mesmo nessas comparaes, ape-
sar da felicidade e da saciedade, organizaram-se campeonatos de
futebol. Primeiro espectadores desses jogos ou lutas cuja pompa se
desenrolava sobre terrenos tabus, os insulares, talentosos, depressa
aprenderam, com os ps descalos, a conduzir a bola correndo, a
defender e a atacar, a multiplicar os passes e a chutar para gol.
Seus goleiros, sobretudo, eram peritos em acrobacias muito extra-
vagantes. Seguiram-se disputas cruzadas, em que se opunham equi-
pes distintas de cada comunidade ou os ilhus e seus hspedes. Nas
cabanas, noite, discutiam-se, bebendo cerveja de raiz, as estrat-
gias e os treinos. O tempo se refugiou nesses encontros. Os sobre-
viventes contaram que ali perdiam toda a lembrana de sua antjga
vida.
Que, entretanto, voltou, uma bela noite, sob a forma de um por-
ta-avies surgido de repente sem que ningum o tivesse visto sair de
qualquer ponto do horizonte. Dizia-se mesmo que sua balsa tocara a
terra antes de o terem percebido parado, ancorado, gigantesco, dian-
te do banco de coral. O almirante que comandava o navio convocou
o capitO a bordo e decidiu repatriar imediatamente o grupo gentil
que no tinha projetos alm de futebol sob os trpicos, paraso e vida
de sonho. Separaes, lgrimas, desespero de parte a parte, adeuses
patticos, promessas, presentes, cantos e melopias, os marinheiros
do porta-avies, em guarda ao longo da entrada, preparados para
zarpar, no acreditavam nem em seus ouvidos nem em seus olhos.
Levantou-se a ncora ao som melanclico do clarim. Falsias e casca-
tas desapareciam na crculo do mar.
Cada um de seu lado, em alguma unidade nova, retomou as
hostilidades, o Almirantado tendo tido grande cuidado em separar o
grupo. Vrios morreram, outros no, segundo a sorte. Depois a guer-
ra acabou, como se sabe, em Hiroshima. Fim do primeiro ato.
148
T
o segundo e ltimo principia numa cidade ocidental cujo nome
e lngua omitirei. Dois dos sobreviventes ali se encontram, por acaso,
em um bar, uma igreja ou um mercado, quem sabe, talvez na sada de
um estdio. Calorosas palmadas nas costas, evocam os antigos com-
bates e logo comeam a falar no paraso perdido. Um deles, mais
entusiasta, projeta voltar l. Por que no?, diz o outro. Cada um
procura os antigos companheiros, encontra alguns, agora espalhados
por aqui e por ali na sociedade, no espao e na fortuna. Finalmente,
os ricos pagam menos que os pobres, e organiza-se a viagem. Quando
no h uma linha regular de um ponto do mundo a outro, torna-se
preciso fretar uma embarcao ...
... cuja modstia surpreende os nativos, que s tinham visto o
enorme porta-avies, alm do casco cheio d'gua cujos destroos
rapidamente soobraram.
Eis O triunfo da volta: novos festins deliciosos em torno dos mes-
mos fornos, trocas que sempre enchem de felicidade as duas partes,
cantos e melopias, entrecortadas de exclamaes: o rei est ficando
velho, como as meninas e os meninos cresceram; mas as mulheres
continuam belas e preciso se inclinar diante do tmulo dos mortos
antes conhecidos, que no se teve oportunidade de rever ao voltar.
Tudo isto feito e sobretudo dito, as diverses recomeam e volta-se
em massa ao estdio, sob a direo do rei ancio. Todo mundo se
acomoda e a gritaria comea.
No encontro defrontam-se a equipe do Leste e a do Oeste, duas
cidades da itha. Soberba, dramtica, elegante, ela termina com o re-
sultado de trs a um, ao final de noventa minutos. Os marinheiros
ento se preparam para abandonar o espetculo e ir dormir. J era
noite. Mas no, no, brada a multido, fazendo com que se sentem
novamente, ainda no terminou.
A partida recomea com maior mpeto e, sob as tochas ardentes,
prolonga-se pela noite. O tempo passa e os antigos marinheiros no
compreendem mais nada: extenuados, sem flego, os jogadores caem
149
uns aps os outros, as pernas tomadas de cimbra. Mas, insistente, a
partida continua. Cada equipe vai fazendo gols e, j quase amanhe-
cendo, chega-se a oito a sete. Comea a ficar montono.
De repente, o povo se ergue, agita os braos e as mos, berra de
alegria, e tudo acaba: o gol de empate acaba de ser alcanado por um
artilheiro que carregado em triunfo em volta do terreno. Todos
gritam: oito a oito, oito a oito, oito a oito! Cheios de sono, estupefa-
tos, incapazes de perceber claramente o que se passa, os marinheiros
voltam depressa a suas palhoas para repousar.
Algumas horas depois, as palavras recomeam. Estratgia, tor-
neios, resultados, retomam-se as mesmas conversaes de outros
tempos. E pouco a pouco a verdade se esclarece.
Os nativos jogavam o mesmo jogo que antes, com equipes com-
preendendo o mesmo nmero de homens e em terrenos com o mes-
mo formato, mas tinham mudado uma regra, uma nica e pequena
regra.
- A partida acaba - dizem nossos marinheiros - quando uma
equipe ganha e a outra perde, e s nesse caso! preciso haver um
vencedor e um vencido.
- No, no - retrucam os ilhus.
- Como desempatar ento as suas equipes? - perguntam os
marinheiros.
- Que quer dizer essa palavra no seu dialeto?
- Uma diferena de gols.
- No compreendemos essa sua idia. Quando voc corta um
bolo de acordo com o nmero dos que esto sentados em volta do
forno, voc no o divide? ..
- Claro.
- ... e cada um come uma parte, no ?
- Com certeza.
- Voc algum dia teve a idia de desempatar esse bolo?
- Ora, isso no faz nenhum sentido - protestam os marinhei-
ros por sua vez, os resolutamente bombordeses ou estibordeses de
sempre.
150
- Mas sim, como no futebol. Algum come ele inteiro e os
outros no comem nada, se voc desempatar.
Os caras-plidas, desconcertados, se calam.
- Por que as equipes tm que desempatar?
- Ns no compreendemos isso, porque no justo nem huma-
no, j que um vence o outro. Ento ns jogamos o tempo de jogo que
vocs nos ensinaram. Se no fim o resultado um empate, a partida
termina numa verdadeira partilha.
- Se no, as duas equipes, como vocs dizem, estaro desempa-
tadas, coisa injusta e brbara. Para que humilhar os vencidos, se que-
remos parecer, como vocs, civilizados? Ento, preciso recomear,
por muito tempo, at que a partilha retorne. Acontece s vezes a
partida durar semanas. J houve jogadores que chegaram a morrer
em campo!
- Morrer? verdade?
- Por que no?
- Agora a cidade de Oeste se alegra e festeja tanto quanto a
cidade de Leste, assim como as do Norte e do Sul. Os festins, que a
partida do empate interrompe durante um tempo s vezes longo,
podem recomear em torno dos fornos de onde se tiram os bolos.
Entre os ventos que os conduziam de volta s suas cidades e suas
famlias, no meio do balano regular das macas, em doce equilbrio
no bero das ondas, os marinheiros pensavam naquela terra singular,
ilha nula oU mestia, ausente dos mapas martimos. Eles discutiam,
deitados, as mos sob a nuca:
- Diga, na ltima guerra, ns ganhamos, no foi?
- Claro.
- Em Hiroshima?
- Ganhamos mesmo?
- Voc est querendo conhecer os verdadeiros vencedores? -
151
ripostou o segundo, que passava pelo corredor. - Eu os conheo
muito bem, porque s vezes os transporto em meu barco ... Etn-
logos, socilogos, no sei que ttulo tm, mas estudam os nativos das
ilhas ... e em geral os homens so o sujeito de seus estudos, quer dizer,
o objeto. Eles cantam vitria: o que podemos conceber acima desses
que explicam e compreendem aqueles outros que, sob esse ponto de
vista, jamais sero seus semelhantes e menos ainda seu prximo?
o novo sob o sol, aqui
Mas ele - escriba, douto, legislador -, querendo mostrar sua justi-
a, disse: "E quem meu prximo?"
Jesus respondeu: "Um homem ia de Jerusalm a Jeric6 e foi ata-
cado por bandidos que, depois de despoj-lo e espanc-lo, foram-se
embora, deixando-o quase morto. Aconteceu que um padre vinha
pelo mesmo caminho; ele viu o homem e passou longe. U fi levita
tambm chegou ao lugar, mas viu o homem e passou longe. Mas um
viajante samaritano chegou perto do homem: ele o viu e foi tomado
de compaixo. Aproximou-se, cuidou de suas feridas vertendo sobre
elas leo e vinho, carregou-o em sua prpria montaria, conduziu-o a
uma estalagem e cuidou dele. No outro dia, separou duas moedas de
prata e deu-as ao estalajadeiro dizendo: 'Cuide dele, e se gastar mais
alguma, eu mesmo te reembolsarei quando regressar.' Qual dos trs,
na tua opinio, se mostrou como o prximo do homem que foi ata-
cado pelos bandidos? O legislador respondeu: 'Aquele que demons-
trou bondade para com ele.'"
Evangelho Segundo So Lucas, 10: 29-38.
Toca a sineta. A porta da sala de aulas abre para os colegiais ,um
ptio vazio e feio que eles invadem berrando nas horas ditas de re-
creio: primeira diviso criteriosa do espao e do emprego do tempo
oferecida ou imposta, em nossas latitudes, s miniaturas de homens
colocadas em grupos, para que ali construam seus reflexos. Dentro,
do alto de sua estatura, o professor dita a ortografia e o clculo garan-
152
te a ordem das fileiras e das cadeiras, a hierarquia; da soleira para
fora, a disputa expande os gritos e a fria, as batalhas, o caos sem
esperana, logo que a sineta toca.
Filho do povo, garoto das ruas e do campo, minha infncia ou
inferno transcorreu, no ptio debaixo do terror dos tapas e vinganas
sem fim de bandos comandados por jovens assassinos, galos de briga
ou chefetes, arrogantes e briguentos. Bastava-lhes ter mais trs pole-
gadas de altura para jogar ao cho sem discusSo, com um golpe de
quadril, de ombros ou de calcanhar, quem quer que os desafiasse. No
ptio coberto, entre os troncos de rvore, ao longo dos banheiros
repugnantes, nas nuvens de poeira, selva ou floresta primitiva, os
mais fortes supliciavam sem cessar os mais fracos, por puro prazer, e
os sopapos eram sempre desferidos contra os mesmos. Mas o mais
musculoso ou vociferador s tinha sua vitria assegurada se recrutas-
se uma guarda, mais poderosa em conjunto que qualquer outro che-
fete, e at mais batalhadora e rude que o primeiro galo. Donde a
formao, simultnea, de uma milcia desobediente s ordens do no-
vo inimigo, e assim como ele, munida de guarda-costas ou ministros.
Os combates comeam entre as gangues logo que toca o recreio.
Lembro-me muito claramente de meu desprezo, menor por es-
ses jovens chefes orgulhosos de seus bceps do que por aqueles lugar-
tenentes, babando de obedincia servil, buscando o poder sem dispor
dos meios, executores de segunda mo, pivetes, e por isso ainda mais
implacveis com a tropa humilde e annima, pacfica mas dobrada
pelo vento da fora. Aqueles comissrios sem dvida macaqueavam
seus pais: vivamos ento a ignbil poca em que a Frana perdia sua
alma colaborando com os nazistas. Nenhum recreio terminava sem
que o sino anunciasse alguma ignomnia.
Os adultos chamam de acidentes escolares, cobertos pelos segu-
ros, verdadeiros crimes perpetrados conscientemente, sob a aparn-
cia turbulenta dos jogos, por menores irresponsveis. A prxima si-
neta tocava portanto na hora da vingana ou da revanche, como se
dizia nos jornais a propsito da guerra dos grandes, batalha prepara-
153
da pelo lado inimigo por meio de sinais e mensagens que circulavam
entre a classe de mo em mo, nas carteiras, sob o olhar paterno e
cego do professor. Quando a porta se abre aps a sineta, o berreiro
generalizado, que os adultos acreditam exprimir um legtimo alvio
por se afastar dos cadernos brancos e do quadro negro, significa sim-
plesmente a reabertura das hostilidades.
Quando ouo a sineta trepidante que escande as horas nas insti-
tuies ditas de ensino, sei que ela treme de terror.
De volta casa, o tempo civil e familiar se ritmava da mesma
forma: sirenes de bombardeios, alertas diversos, noticirio anuncian-
do a cada hora, depois do prefixo musical, a abertura de novas carni-
ficinas. Entre a RevoluO Espanhola de 1936, a Segunda Guerra
Mundial e seu fim somatrio em Hiroshima, que criana teria perce-
bido a diferena entre aquelas execues gigantes e as vendetas sem
perdo, opondo os lobinhos, filhos e futuros pais de lobos, atravs do
eterno retorno do mesmo sinal ritmando as horas, lei morna de nossa
histria pequena ou grande, sineta do reflexo para os ces.
Toca finalmente a sineta. Quem no teria apreciado o sossego
silencioso e um certo ar de paraso, dentro da sala de aula, quando a
porta bloqueava as tempestades do ptio e o bom mestre ditava duas
quadras sobre vindimas idlicas, das quais o autor certamente no
participara, pois a querela no cessava nem entre as vinhas, essas
vacas cujas tetas so uvas, nem durante a pisoagem, quando os sexos,
cruelmente, se entrechocavam: o que, nos poemas, chamado de
tranqila felicidade buclica? Acreditei por muito tempo, pelo me-
nos at os nove anos, na paz ideal do intelecto, nas pastorais, na
utopia das figuras e dos nmeros, at o momento, sete vezes bendito,
em que compreendi de repente que eu os amava porque o professor
me distinguia como primeiro da classe e me protegia com sua som-
bra: deste lado do muro eu me encontrava, portanto, sob o msmo
vento de uma outra fora, dura e arrogante, galo, portanto briguento,
chefe de gangue ... Horror, enorme desgosto, adivinhando j ento o
luzir servil em certos olhares e a curva das costas. Tomou-me uma
vergonha que nunca mais cessou, paixo secreta que me leva agora a
154
r
falar de ns mesmos, de nossas intrigas especulativas e de seu infor-
tnio essencial, escondidos em um outro espao, utopia intelectual, e
separados no tempo por algum sinal sonoro.
Passei grande parte da minha vida em navios de guerra e anfi-
teatros para dar meu testemunho juventude, que j o sabe, de que
no h diferena entre as maneiras puramente animais, isto , hierr-
quicas, do ptio de recreio, as tticas militares e as condutas acadmi-
cas: reina o mesmo terror sob o telhado do ptio, diante dos lana-
torpedos e no campus, esse medo que pode passar por uma paixo
fundamental dos trabalhadores intelectuais, sob a veste majestosa do
saber absoluto, esse fantasma sempre de p por trs daqueles que
escrevem em sua mesa. Eu o pressinto e o adivinho, nauseabun-
do, colante, bestial, lembrando regularmente como a sineta tocava,
abrindo e fechando os colquios onde a eloqncia vocifera para
aterrorizar os que em volta conversam.
Ao invs de nos aproximar da paz, a cincia e a inteligncia nos
afastam dela mais do que o msculo, a cara feia ou a alta estatura. A
cultura continua a guerra por outros meios - pelos mesmos, talvez.
Encontram-se nas gangues tericas os mesmos chefetes, de fato, os
mesmos lugar-tenentes, babando de obedincia servil, e semelhantes
legies pacficas, curvadas humildemente sob o vento da fora, que s
vezes elas consideram ser a moda, ou, pior, que mais comumente
pensam ser a verdade. Chamar de campus a rea das universidades,
que achado literrio, uma vez que essa palavra significava antigamen-
te o campo fortificado durante a noite pelos soldados de Roma, antes
do ataque ou para defesa. Os especialistas sabem, de fato, a que fac-
o, a que gangue pertence este ou aquele campus e qual o grupo de
presso que nele promove colquios.
Ora, os recursos da linguagem, intelectuais, tericos, eruditos,
para 'travar uma guerra no se comparam aos golpes do galo e do
chefete do ptio: mais refinados, tortuosos, globais e transparentes
at a irresponsabilidade inocente da especulao pura. O mais forte
boxeador do mundo no apresenta seno um corpo lastimvel, com
seu swing ou seu uppercut, parece um santo no paraso, se o compa-
155
rarmos com o fsico terico cuja equao pode fazer a Terra explodir
ou com o filsofo que submete povos inteiros durante geraes - ou
com a seita que o imita durante sua carreira. At hoje produzimos
filosofias to globais que erradicam toda a histria e fecham as portas
do futuro, estratgias to poderosas que atingem a mesma capacida-
de de dissuaso que uma arma atmica e que decidem um genocdio
cultural perfeitamente eficaz.
Eis definido o infortnio prprio a nossos trabalhos: como um
coeficiente, a inteligncia multiplica por tanto quanto se queira a
vingana, e d a impresso de anul-la ao se dissimular. Por mais
vingativa que seja a sua ao, a violncia cresce pouco e lentamente,
pelos punhos e pelos ps, mas ela sobe at o cu e invade o tempo e
a histria, uma vez que a razo assuma o comando.
Assim, as teorias polticas da tradio, como as cincias atuais
dos jogos de estratgia, supervalorizam seriamente o papel pacifica-
dor do conhecimento racional: esse contra-senso faz a autopubli-
cidade daquelas disciplinas. A razo gira sempre em torno da propor-
o e da dominncia. Lana, portanto, uma ponte entre a sala de aula
e o ptio dito de recreio.
Por que, ao contrrio, a filosofia faz questo de ser chamada
assim? Porque ela no pede o amor inteligncia, nem ao saber ou
razo, mas a Sofia, a sabedoria. Que sabedoria?
O conhecimento pacificado.
Sem se dar conta, o saber se aplica a um ofcio arriscado, para
ns eruditos e para os outros, um perigo que s descobrimos nos
momentos de tenso ou de crise. Filsofo universitrio francs de
p,6s-guerra, sobrevivi com dificuldade a dez terrores diferentes, infli-
gidos por tericos servos de ideologias polticas ou acadmicas, galos
e chefetes novamente, prncipes diretores de grupos que mantinham
sob sua presso o espao do campus, as nomeaes e as notas de p
de pgina, proibindo a todo custo qualquer liberdade de pensamen-
to, terrores cuja responsabilidade no atribuo a este ou quele indi-
vduo nem seita, pois isso equivaleria a me vingar, mas ao prprio
156
)
;
funcionamento da inteligncia na instituio, e desta na primeira, a
implicao recproca da cincia na sociedade.
Assim, por higiene de vida e de esprito, tive que imaginar, para
meu uso pessoal, algumas regras de moral ou de deontologia:
Depois de um exame atento, no adotar nenhuma idia que con-
tenha, comprovadamente, qualquer trao de vingana. O dio s ve-
zes passa por pensamento, mas sempre o amesquinha;
Jamais lanar-me na polmica;
Evitar qualquer pertinncia: fugir no s de todos os grupos de
presso, mas tambm de qualquer disciplina cientfica definida, de
um campus local e erudito na batalha global e societria ou de um
entrincheiramento setorial dentro do debate cientfico. Nem mestre,
portanto, nem, sobretudo, discpulo.
Essas regras no definem um mtodo, mas bem exatamente um
xodo, uma corrida caprichosa que parece irregular, mas coagida
apenas pela obrigao de evitar os lugares especulativos, garantidos
pela fora e, em geral, vigiados por ces de guarda. Um passeio no
campo adota uma trajetria semelhante, inesperada e recortada, uma
vez que voc se veja atacado, e logo perseguido sem descanso, de
fazenda em fazenda, por dez molossos que se sucedem e dos quais
voc procura fugir.
Dispomos de ferramentas, noes e eficcia em bom nmero;
falta-nos, em troca, uma esfera intelectual virgem de toda relao de
dominncia. Muitas verdades, muito pouca bondade. Mil certezas,
raros momentos de inveno. Guerra contnua, nunca a paz. S os
animais apreciam a .hirarquia e as batalhas incessantes que a orga-
nizam. Faltam-nos homens de intelecto simplesmente democrtico.
Definamos esta esfera com a noo de prescrio .
Nenhum conceito tem valor se no for pacfico.
A vingana produz uma justia aparente, a equivalncia distri-
butiva do talio. A lngua corrente toma uma pela outra, quando
aconselha, por exemplo, a vtima de uma agresso a fazer justia pelas
157
prprias mos: rende-te ento. O castigo absolve ou redime a ofensa
que uma balana equilibra: este por aquele. No se diz lei do quan-
tum, que suporia uma igualdade na ordem da grandeza, mas lei de
talio, cuja origem latina (tal... qual) indica uma distribuio mais
sutil, qualitativa, essencial: um dente no vale um olho.
Esta invarincia vindicativa desencadeia um processo que ne-
nhuma razo saberia interromper, visto que a prpria razo equivale
reparao plena e integral, satisfazendo o ofendido que exige razo
da injria e a obtm. A causa plena se encontra, em quantidade, em
qualidade, no efeito inteiro: lei racional, tanto da justia como da
mecnica. Isso suficiente: a injustia consistiria em um excesso ou
uma falha na reparao. Aquilo que chamamos razo: de modo al-
gum igualdade quantitativa, mas proporo exatamente adaptada
aos queixosos e queixa; consideram-se os pesos colocados nos dois
pratos da balana, mas tambm as relaes de comprimento sobre o
travesso da balana, que fornece assim a justia estrita.
O princpio da razo ou, antes, de dar razo (principium red-
dendae rationis) no funciona de outra forma: nada, diz ele, existe
sem ela. Este nada vem de res, termo do direito romano que designa
o caso judicial que um processo debate e decide: a causa. Antes de
significar causalidade, esse ltimo termo refere-se acusao. pre-
ciso dar razo, como em uma reciprocidade, como se ela viesse em
segundo lugar. Nada sem razo ou nenhuma coisa sem causa expri-
mem menos absurdo ou contradio que um desvio de equilbrio na
balana da justia: a esse nada, a essa coisa, como que suspensos no
ar, sem apoio, preciso, como compensao, acrescentar ou subtrair
uma tara que recoloca o travesso no horizonte, a tara na razo. Ns
no sabemos pensar uma coisa isolada, pendurada sem ligao ou
flutuando sem gravidade: o verbo pensar, ele prprio, deriva de pen-
der e da pesagem, desta compensao. Como pensar sem a compen-
sao, sem a tara racional? Assim a razo d justia coisa, assim a
causa lhe d razo.
Eis um princpio que deve se chamar de equivalncia, ou de
eqidade.
158
1
Que exista, igualmente, alguma coisa em lugar de nada ou isto,
qualificado tal qual, em vez de aquilo. Eis dois enunciados que des-
crevem dois desvios de equilbrio para os quais se requer, contra a
injustia, uma tara que os devolva posio justa, horizontal e plana.
O que colocar no outro prato para redimir os danos feitos a esse nada
que no chegou existncia e quilo, qualificado diferentemente, que
ficou na virtualidade ou em mundos possveis? Compensando o pos-
svel ou o nada, a razo justifica a existncia do que . Medida ou
pesada com esta alna, a existncia, cujo nome, inquieto, indica ainda
um desvio do equilbrio, equivale razo acrescentando-se ao nada,
rigorosa equao. Inversamente, a igualdade matemtica se reduzir
tambm lei de justia?
Ento, a que chamamos pensar? Compensar o que no por um
recurso da razo, usar a tara racional entre a existncia e o nada ou o
possvel, como se a razo estabelecesse a relao do ser com o no-
ser, ou justificasse o que , a partir do que no . Ela aflora, ento, a
uma criao quase divina e supe uma familiaridade mortal com o
nada ou o possvel. Esse pensamento racional, essa pesagem ou pro-
poro compensatria preenchem exatamente a ausncia ontolgica.
A razo vinga o nada.
Dando eqidade existncia, o princpio de razo pe a ontolo-
gia sob a lei universal do direito. Preenchendo a ausncia ontolgica,
a razo faz com que a cincia inteira, que dela decorre, decorra do
equilbrio justiceiro.
InventGt do princpio da razo suficiente, Leibniz chama leis de
justia as regras de invarincia e de estabilidade, pelas quais se com-
pensam as coisas e os enunciados. Esta razo reparadora conservar
na cincia ou no racionalismo algum trao do talio vingador?
Por que chamar de justos, no sentido judicirio, na astronomia
medieval ou renascentista, os equilbrios longos do universo ou a
economia, entendida como legislao positiva do mundo fsico, jus-
teza ou justia, aparecendo atravs das invarincias ou estabilidades,
159
voltas e compensaes circulares do tempo csmico? As leis da natu-
reza, reduzidas a tais harmonias, se reportam ao princpio da razo
suficiente. Dar ao fenmeno a sua razo consiste em compens-lo,
tornando-o, desta forma, pensvel. Ncleo de vindita pblica no
mundo e no pensamento, ou sua ordem respectiva?
A invarincia distributiva da vingana desencadeia um processo
que nada, sem razo, poderia deter: assim os equilbrios longos do
mundo se contam ao longo do retorno eterno. Ao obter razo da
injria, o ofendido inflige ao ofensor um dano exatamente igual e de
natureza equivalente, para fazer deste ltimo um homem mestio e
ofendido, exigindo, por sua vez, o equilbrio ou razo suficiente: a
vendeta no cessa e a histria conspira e consente na volta ritmada
das constelaes assim como das regras do pensamento submetido
pesagem. Tudo est em ordem: o cosmo e o tempo soam, trazendo a
hora das compensaes.
Eis o motor imvel de nossoS movimentos, a razo no mundo e
na histria, gmea da vingana e imitadora de suas compensaes ou
reparaes, como os doutos que cultivam o pensamento nas paredes
da sala de aula imitam os moleques que brigam no ptio quando toca
a sineta.
Do nosSO lado, ns, racionalistas avanados, iluminados pelas
leis mais profundas que reinam sobre o mundo dos tomos, chama-
mos tudo isso, s vezes, de equilbrio do terror. Sempre a mesma
ordem que governa o mundo.
A vingana e sua aparente justia, fundando o retorno eterno,
guardam intacta a memria integral da razo exata, pelo tempo re-
versvel e cclico. Elas ignoram a durao, esse tempo irreversvel, que
segue numa direo sem jamais poder voltar atrs. No espao da
durao sobrevm o esquecimento, onde a anamnese jamais restitui
nem compensa a memria exata ou intacta, jamais o efeito integral
vale pela razo plena e inteira; esse tempo novo traz uma falta
suficincia, uma falha ou um excesso da razo.
E novamente as teorias polticas da tradio ou as cincias atuais
160
l'
dos jogos e estratgias mergulham em um tempo passivo e no em
uma durao em que todas as coisas mudam. Elas permanecem no
tempo do retorno eterno, o confortam e talvez mesmo o produzam.
Esta falta, excesso ou falha recebe em direito francs o nome de
prescription (prescrio).
Ela se define, no direito civil, como meio legal de adquirir pro-
priedade atravs de uma posse no interrompida e se denomina aqui-
sit6ria, neste caso, ou de libertar-se de um encargo, por exemplo uma
dvida, quando o credor no exige a execuo; chama-se ento ex-
tintiva ou liberatria. Em direito penal, conta-se um prazo para a
expirao, depois do qual a ao pblica nada mais pode empreender
contra o criminoso ou o delinqente.
Em suma, a prescrio admite a ao essencial do tempo. O usu-
capio vale como direito de propriedade, como se a durao, por si,
apagasse os direitos de qualquer outro, em particular os do eventual
predecessor. Da mesma forma, quando o credor no pede nada e a
promotoria pblica no ataca ningum, o tempo, por si, suspende a
ao ou a modifica.
O tempo passa e no corre de modo passivo; aO contrrio, ele
esquece ou apaga os atos. Ele no volta para pedir razo. Ligada ao
retorno eterno e s invariantes estveis, a vingana volta, astronmi-
ca, como as constelaes e os cometas.
Diz-se que o rio Esquecimento corre nos Infernos: a prescrio o
traz para a Terra, cujos filhos, sentados beira dos riachos, perdem
com freqncia a memria ao mesmo tempo que a razo. No h
mundo mais atroz do que este onde a natureza se entrega ao retorno
eterno e que empurra para os Infernos o esquecimento e o perdo. A
prescrio o inverte ou o repe sobre seus ps: real e doce, o mundo
onde os rios correm para os esturios do esquecimento e que empur-
ra para os Infernos a verdade recorrente: a aletia, congelada, no
corre jamais.
No fato fsico, quando os planetas voltam sobre si mesmos, a
eroso j os gastou um pouco, e as gigantes vermelhas do cu explo-
161
dem com o advento de sua supernova. As grandes invariantes deri-
vam, o mundo perdeu o retorno eterno.
.
Em posio mestia c:;ntre o direito e o no-direito, a prescrio
cai, por definio, no domnio irreversvel da histria e ope seus
lapsos de tempo, de um ou trinta anos, s regras invariveis e invio-
lveis. Mais do que limit-las, anular ento as leis em vigor envol-
vendo os encargos, as dvidas, a propriedade, oS delitos e os crimes.
De repente, tudo se passa como se tu no devesses mais nada, como
se jamais tivesses roubado ou matado, o tempo te inocenta, como um
rio batismal. A prescrio traa na direito o limite do no-direito, sua
fronteira do lado da histria. Esta, como sabemos, apaga os traos,
subtrai os restos, ri os atos e os feitos, esquece e acaba por se calar,
assim como o tempo zomba do princpio da contradio.
Por seus cdigos e seus textos, o direito parte integrante da
memria do computador social. Ele se empenhou em constru-lo.
Luta contra a eroso da histria. Eis por que seu emblema desenha
uma balana, ao mesmo tempo pela simetria do espao, a equivaln-
cia dos encargos e o retorno regular do tempo. Eis por que, do lado
da vingana, ele continua racional. Eis por que sempre se manteve
mais ou menos ligado, do outro lado, em seu limite ou fronteira do
lado do intemporal, com o direito natural, que, justamente, se diz
imprescritvel. Neste marco, o tempo no tem, por si prprio, qual-
quer ao, e a razo, estvel diante desse tempo passivo, continua
invariante sua passagem.
Com dificuldade, heroicamente, o direito se mantm entre duas
zonas, duas tentaes: uma ocupada pelo direito natural, universal e
invariante, no escrito e portanto imprescritvel, intemporal, e a ou-
tra invadida pela histria e pelos esquecimentos multicoloridos de
seus trapos. Segundo as pocas, em suma, de uma borda ou da outra,
em relao ao direito mximo ou ao no-direito, alguns falariam da
razo rigorosa ao caos, outros de um fantasma idealizado apreenso
complexa do concreto.
Assim como repusemos o tempo sobre a Terra e sobre seus pr-
162
prios ps ao inverter o antigo mapa-mndi dos Infernos e do globo,
pois de tudo receber o rio Letes acaba escoando como o Amor e seus
esquecimentos, assim tambm preciso inverter esse espectro de
ponta a ponta, para que a prescrio se torne a nica lei universal e
imprescritvel. S existe invariante sob a condio de jogar-se no
varivel; nos movimentos que mais pensamos os equilbrios.
A razo vinga o nada e a cincia racional conserva em si traos
desse direito primitivo, dito natural, sem se interrogar sobre essa
natureza que permanece alheia obra do tempo. Para os direitos os
mais positivos, nossos atos mergulham no tempo, mas para a prescri-
o, eles se fazem e se formam de tempo, sua verdadeira matria-
prima. A durao os amarra, os exalta, os desata, os apaga. Ela os faz
nascer e desaparecer. Eis chegada a natureza: o que vai nascer, sim ou
no. A natureza corre ou escoa de bifurcaes a bifurcaes, de con-
fluentes turbulentos e vivos a braos de rio mortos e esquecidos, do
esquecimento a recordaes e de memrias a perdas totais. Ela no
pode passar nem por definitivamente estvel nem por loucamente ou
irracionalmente instvel.
Assim como faz nossos atos, o tempo real faz o direito e, se o faz,
tambm o desfaz, e isso o natural, que vai nascendo ou que se
arrisca a no nascer. Ele faz o direito, o conforma, o transforma e
portanto o fundamenta. A jurisprudncia, flutuante como se sabe,
cria o direito do lado da histria, mas o direito o reconhece ao reco-
nhecer a ao do tempo, pela prescrio. Eis a abertura do direito pa-
ra seu prprio fundamento, isto , para o direito que, como os Anti-
gos, chamo de natural, ou seja, para a natureza fsica. Fazendo-o
variar, anulando-o, a prescrio, entretanto estvel, o fundamenta. O
direito natural, no sentido mais profundo do termo, no se encontra
ento do lado onde se esperava, mas do outro, separado do primeiro
por toda a formidvel imensido do cu. A prescrio faz parte do
direito natural; com isso, fundamenta o direito; com isso, permanece
imprescritvel. O nico ato que no podemos apagar nem anular o
ato de anular ou de apagar. No se esquece o esquecimento, ato de
qualquer forma inesquecvel.
163
Isso se refere ao direito, mas tambm moral, poltica e
teologia: o perdo fundamenta a tica, a clemncia fundamenta a
potncia, a reteno ou misericrdia cobre a justia e desce sobre o
destino.
Como o termo indica, e como significava no direito romano, a
prescrio escrita no comeo, como prembulo ou preparao, co-
mo epgrafe de todo texto. Quando voc escrever pela manh, muito
cedo, sobre teoria ou literatura, direito, cincia, matemtica ou
amor, saiba que antes da pgina em branco, na sua margem superior,
a prescrio o precede sempre. Por definio, ela s existe antes. Es-
crita no alto da pgina mas dela apagada e deixando-a intacta, livre,
virgem, branca, inocente. Em posiO mestia: inscrita, retirada.
Depois de dois milnios, pelo menos, cada um se lembra mas
todo mundo esqueceu que os samaritanos tinham o pior dos papis,
como inimigos execrveis, implacveis, irreconciliveis. A parbola
do Bom Samaritano enuncia uma contradio: um homem assim
no pode passar por bom. Todo mundo se lembra, cada um o esque-
ceu: a prescrio existe mesmo e conseguiu vencer.
Ela pede o esquecimento, mas j escreveu a memria, pois dei-
xou seu trao. Ela se lembra como escrita, mas prescreve esquecer.
Ela nem equivale conservao nem se identifica perda total; in-
venta novamente, de forma mestia, a memria-esquecimento, a
recordao conservada ao abrigo mas ao mesmo tempo apagada, in-
telectualmente invariante dentro da caixa negra da histria, mas pas-
sionalmente, existencialmente, historicamente, sabiamente perdida:
nova invariante por variaes, estabilidade por instabilidades, fun-
dao do direito muito mais forte que o morno retorno eterno, im-
vel como um saco de chumbo ou tilintante como uma sineta.
Para no escrever seno na beleza ou no amor da sabedoria, s
escreveremos filosofia por prescrio.
Quando. se puder ler sem escndalo uma narrativa em que o
homem mais abominvel se conduzir depois como o melhor, ento
164
o Messias voltar. Mas ele j chegou, pois escreveu esse texto do qual
eu no sou o autor.
Eu. Noite
o autor? Quem ele, quem sou eu?
Admiravelmente indicado, o sujeito, pudico ou aterrorizado, se
encerra, se esconde, se lana por trs ou por baixo da sucesso de
trajes, jogado sob capas e casacos, inencontrvel como Arlequim,
cujo desfolhamento sempre e em todo lugar mostrou a mesma coisa,
com algumas pequenas variaes, do colorido, caso se trate da roupa,
da pele, do sexo ou do sangue, finalmente da alma - minh'alma de
mil vozes que o deus que adoro ps no centro de tudo como um eco
sonoro -, cujas facetas justapostas, como as de um cristal ou de um
olho de mosca, refletem, embora ntimas, a multiplicidade ruidosa
dos acontecimentos externos, como se o nmero destes correspon-
desse ao das paredes interiores que os emitem. Pode-se procurar mais
longe? Um comparativo: o interior no superlativo: o ntimo? Existir
o mais ntimo ainda? Aquilo que jaz por baixo se parece sempre com
o que se pode ver na superfcie?
Na falta do sujeito, posso dizer o adjetivo. Se o primeiro se joga
por baixo, a menos que outros no o joguem, o segundo jogado de
lado. pergunta "quem sou eu?", ou substituo pela pergunta "quem
ele?", ou o pudor exige que eu procure responder de lado.
Portanto, com alguns adjetivos.
Quem sou eu? Dizem que sou gentil, adjetivo muito apreciado
em meu onde se amam as velhas palavras de nobreza, gentil,
portanto atencioso, flexvel e adaptado, corts. No outro, logo adivi-
nho as qualidades, positivo, e abro um sorriso, mas no sei suspeitar
dos vcios, ingnuo. Rapidamente os adjetivos superabundam. Apre-
cio de bom grado o encontro, deixando galhardamente a oportuni-
dade contingncia, confiante. Tmido ou temeroso, parece, no
desconfio, pode-se ento dizer corajoso? Minha estima inicial pelo
outro, que o encoraja e freqentemente o fortalece, me faz sempre
165
I
,
colocar o comando acima de mim, alis de sada acho-o melhor que
eu: generoso? Talvez, mas eis que de repente descubro que me jogo
por baixo, e por isso eis-me um pouco sujeito; no mnimo subjugado.
Defino o eu atravs dos contatos, das vizinhanas, encontros e rela-
es: sim, na comunicao eu me construo, jogando-me imediata-
mente sob quem est minha frente. Afinal sujeito?
Mas me dou conta: a palavra sujeito tambm j no foi um adje-
tivo, que tardiamente se tornou um substantivo? Primeiro depen-
dente, submisso, coagido, exposto, exatamente obrigado como eu
poderia dizer pessoa com que falo: agradecido, obrigado ... antes de
se tomar como ponto de partida de um enunciado lgico e gramatical
no qual esse ser individual torna-se uma pessoa e o suporte de atos e
conhecimentos. Adjetivo to menosprezado que exprimia o dcil e o
obediente e que, de sbito, tomou o lugar principal e, ao substanti-
var-se, expulsou os outrOS adjetivos para fora do centro no qual, em
filosofia, sua majestade passou a reinar? Deve-se reconhecer, no su-
jeito, um sujeito que teria tomado indevidamente o lugar central, um
rei de comdia, como Arlequim, Imperador da Lua, ou de tragdia e
ento supliciado, crivado de flechas no centro?
Quem sou, ento, quando assim me jogo por baixo? Admirativo,
at entusiasta daquele que se revela inventiva e bom, respeitoso de
quem trabalha, surpreso com o generoso, violentamente desobedien-
te com quem ordena e troveja ou dita a lei, docemente irnico diante
do pavo, comovido pela beleza do corpo ou do talento, gelado para
com a grandeza do estabelecido, depressa rompendo com o vaidoso,
apresento minhas homenagens s criadas; por nascimento perteno
famlia dos humildes e raramente me curvo diante da alta roda, se-
gundo o personagem e o ambiente, eloqente, taciturno, falante, ca-
loroso, reservado, ausente ou totalmente entregue ao outro. Quem
encontraste ento, tu que me amas ou me odeias, para quem me
torno hostil ou indiferente? Um homem jovial ou modesto, selva-
gem, distrado, ao contrrio, concentrado ...
Afinal, tudo verdade: diga-me, eu lhe peo, o que se deve en-
tender por mentira? A relao produz a pessoa, no acredito absolu-
166
tamente nas mscaras. Enterrado, lanado vivo sob o "ns" movedi-
o da intersubjetividade, o eu, como se diz, faz o que pode: se adapta,
assujeitado aos laos da comunicaO. Mestio, cruzado, hermafro-
dita, ambidestro, tatuado, vivo sob mil camadas de casacos remenda-
dos, posso me desembaraar delas sem problema, isto no muda
grande coisa. No acuse de mscaras os perfis que os outros dese-
nham em mim.
Servidor de mil amos, Arlequim se veste de seus sditos-especta-
dores, porque ele vive entre o pblico e faz parte dele; eis porque
apenas um imperador de comdia, enquanto Salomo, exterior e dis-
tante, sobrecarregado com sua loucura solar, torna-se um verdadeiro
rei de tragdia. Em chamas, o trgico, sozinho, forja a unidade da
pessoa ao mesmo tempo que as de ao, de lugar e de tempo - o
sujeito do prprio saber, pelo menos no Ocidente, se fundamenta
nesse trgico -, ao passo que o cmico as deixa em sua multipli-
cidade. Assujeitado a seus sujeitos, o Imperador da Lua usa as cores
e os fraques deles. Implacavelmente, reconheo o teatro essencial do
doente mental no trgico ator solar: o comediante, normal, se encon-
tra em toda parte.
Quem sou eu ento?, pergunto novamente. Solitrio e social,
tmido e corajoso, humilde e livre, ardente, penumbroso, animal da
fuga e do amor, nunca uso p-de-arroz nem maquiagem, nem ms-
cara sobre o rosto, nem ttulo sob minha assinatura ou no meu carto
de visitas; sinto a roupa sobre a pele como um homem nu recoberto.
Sou por demais numeroso para jamais ter precisado mentir.
Sou ento, na realidade, todos aqueles que sou dentro e atravs
dos relacion-amentos sucessivos ou justapostos nos quais me vejo em-
barcado, produtores do eu, sujeito adjetivado, sujeitado ao ns e livre
de mim: que o leitor por favor me perdoe: s6 falo de tudo isso (de
mim, de verdade?) para procurar com a maior lealdade do mundo o
que dele. Ento o eu um corpo mesclado: constelado, manchado,
zebrado, tigrado, ocelado, mourisco, ao qual a vida vai se ajustar. Eis
que volta o casaco de Arlequim, costurado por adjetivos, quero dizer,
por palavras colocadas uma ao lado da outra.
167
Assim o infeliz desperta em mim o velho cristo de sono leve,
e dele faz nascer um novo, sobre um monte de palha, o poderoso pa-
ra ali conduz antigo ctaro, sempre presente, embora um autn-
tico holocausto os tenha erradicado a todos - no tenho mais bisa-
vs _, o dogmtico empedernido ergue o zombeteiro que dorme e o
tolo desperta o inextinguvel riso dos deuses, o violento suscita o
pacfico, e a beleza faz todos eles se ajoelharem.
Serei ento, por causa do relacionamento, um palco, um perfil
fugaz apagado diante de um horizonte decepcionante e mentiroso?
No, eu sou a soma desses adjetivos, recm-substantivados (assim
comO se diz dos noVOS ricos), a iconografia dessas silhuetas, integral,
inquieta e flutuante, mergulhada no rudo e na disputa, no meio das
gritarias, no caos dos parasitas que gravitam em torno desse eu, ex-
lio banhado no dom dos choros, trax afogado sob um lago de l-
grimas, uma total solido lquida, em estado instvel, soluo sem
excluso onde o fluxo do abandono de repente atravessa o espao
varivel da coragem, onde a camada aI1).arelada do despertar se es-
gara e se lana nO volume negro dos esquecimentos, onde alguns
jatos sbitos de orgulho se fundem sem amanh numa enseada de
humildade oleosa ... Sim, os adjetivos mergulham por si mesmos uns
dentro dos outros e brincam sem parar de sujeito: aglomerado onde
cada qual a seu turno e s vezes todos juntos vo para o centro, mas
onde eles ocupam todos os lugares e todas as direes do espao,
todos os sentidos.
Quem eu sou, a partir da, se exprime sem dificuldade: uma
mistura, um aglomerado bem ou mal temperado, exatamente um
temperamento. A palavra dizendo a prpria coisa, eu sou, conse-
qentemente, feito de tempo, deste tempo derivado da temperatura
ou da temperana. Como ele, a mistura contraditria: de ontem at
amanh, tudo pode virar ao contrrio; ou, nO mesmo lugar e no
mesmo tempo, tudo se mistura.
Contraditrios, a mistura e o tempo o so, como minha alma,
nebulosa, varivel, ondulante, nuanada, aquitnia. Minha alma, a
mistura e o tempo no podem ser ditos nem por substantivos, dema-
168
siado estveis, nem por adjetivos, demasiado justapostos, mas se des-
crevem de modo mais preciso pelo conjunto de preposies: antes e
depois constroem sua fluidez viscosa, com e sem as partilhas hesitan-
tes, sobre e sob o sujeito falso e verdadeiro, para e contra as paixes
violentas, atrs e diante das hipocrisias covardes e as corajosas leal-
dades, dentro e fora das claustro fobias corporais e tericas, sociais e
profissionais, entre e alm da vocao metafsica de arcanjo-mensa-
geiro, de e atravs e at minha paixo por viajar ... topologia delicada
que exprime da melhor forma os lugares e as vizinhanas, os dilace-
ramentos e as continuidades, as acumulaes e as raridades, as posi-
es e as situaes, os fluxos e as evolues, a liquidez dos solventes
e dos solutos.
No, eu no sou um problema; ao p da letra, sou uma Soluo.
E no tolerarei escrever ttulos em meu carto de visitas, a menos que
por isso se entendam as diversas relaes das substncias que se dis-
solvem nela, suas densidades na liga. Quem sou? Uma fuso de ele-
mentos que formam a liga, mais capazes de provocar coalizo do que
de estar coalizados.
De temperamento aquitnio, portanto temperado como o clima
de minha paisagem natal, melancolicamente alegre, entusiasta e de-
sesperado, com nuances suaves, em doses instveis e teores mveis,
segundo o minuto e os bons e maus encontros, qualquer parte ou
suspenso podendo de repente ver-se erguida, levantada, acordada
ou destacada sob o facho cruzado das circunstncias ou das inter-
seces, pela exigncia sbita de uma relao poderosa e pontual.
Uma espcie de pseudpode se projeta. Ele se estica. Ele se retrai.
Quem sabe, --nunca mais reaparecer. Ou vai se tornar um axnio.
Que inventarei esta manh, sob a ao de que talism? Que proprie-
dade indita surgir desta nova mistura? Que fresca Afrodite nascer,
gotejante, desta centrifugao inesperada?
Legio, eu tenho um oitavo de sangue negro. Carrego portanto
em mim, no mais ntimo de mim, ia dizer por baixo de mim, o
andrajo compsito dos tecidos que vestem minha vizinhana real e
169
virtual, o trapo onde mal se justapem mil mmicas que o meu tempo
costurou e depois fundiu todas juntas, farrapo destroado, verdade,
mas farrapo transformado em minha prpria carne, meu sangue l-
quido misturado: quebequense da ilha dos Coudres no meio do rio
Saint Laurent, africano das margens do Nger, chins do Yang-Ts,
brasileiro, de Belm aos confins da Amaznia, os adjetivos locati-
vos por sua vez superabundam, meu sangue corre sob as margens
do Garonne, do Mackensie e do Yukon, minha carne sai do alu-
vio do Garonne, do rio Amour, do Ganges e do Nilo, eu descendo
do Garonne, do Huang, do Elba e do Mississippi, vim luz nas nas-
centes do Garonne, do Tibre, do Pactolo e do Jordo, marinheiro de
mar na confluncia dos rios da Terra, meu carto de visitas pareci-
do com os meus encontros, com um mapa geogrfico. Mestio, eu
sou legio, eu no sou o diabo, eu sou mapa-mndi e todo mundo ao
mesmo tempo.
E todo mundo, creio, uma mistura como eu, sangue cortado
em mil teores e partes, correndo de todos os riachos em conjunto,
exceto, talvez, daqueles que leram e acreditaram nos livros que expli-
cam o princpio de identidade, cuja abreviao permite reinar. Mun-.
do, eu sou legio; no, isso no uma doena.
Nunca os africanos acreditaram que eu era um toubab; os chi-
neses me imaginavam sado de uma minoria nacional qualquer, por
toda parte imigrado mais que emigrado; um ndio da Amrica che-
gou a me perguntar, durante um pow-wow, a que tribo eu pertencia.
Creio, no fundo de mim, que a pertinncia faz mal ao mundo, na
razo da excluso. Eu a trato pela interseco de cem mil pertinn-
das, mestio.
Campons, sim, aprendi a trabalhar a terra; merceeiro, vendi
azeite e sal; marinheiro, decerto; quebrado r de pedras e pedreiro,
terei feito outra coisa do curso de minha vida; vagabundo, talvez;
monge, certamente; eis que h pouco tempo me tornei montanhs
novio; em busca da santidade, apaixonadamente; escritor, sim, es-
pero; filsofo, choro de emoo e de esperana diante da idia de que
poderia tornar-me um ... Sim, todos, eu os compreendo a todos.
170
_.
Que eu no sou? Touro, serpente, lince, co, lobo, gaivota? Sou
e compreendo toda a arca. Do dilvio fluido e da aliana derretida.
Que animal no me serviria de totem? Raposa? No, eu vivo como
um animal sem espcie. Sem gnero, sangue misturado, sem per-
tinncia: livre, livre, no espao irisado de misturas, animal de tempe-
rana e de temperamento, ser de tempo.
Quem sou eu, lquido, entre as lgrimas ocultadas? Quem sou
eu, topolgico e temporal? Quando o silncio, enfim, e a noite insu-
larizam a solido, quando se cala a lngua que mantm a guarda
contra os outros em mim - como amordaar o bico desse tagarela
irremedivel? - erguem-se as vozes, a tonalidade musical funda-
mental que me acompanha desde a mais alta infncia, contnua sem
ruptura, ruptura contnua, armao ou armadura que me contm e
cuja tessitura indica minha modalidade prpria, sons puros privados
de sentido, eu sou, eu ouo a flauta e q violoncelo, a balada e o
canho, a mandara e a tuba, viela e rabeca, as serenatas e os bals,
cavatina e rigodo, soprano, baixo cantante, em mim carrego os
grandes rgos, minhas delcias e amores: bordo, nasardo e flauta
rstica. Mas, novamente, essas peas ou instrumentos se misturam,
s vezes em harmonia, com freqncia ruidosas, lamentando-se sem-
pre, desordem, charivari, acfenos atonais de onde emergem rara-
mente as Afrodites gotejantes dos achados musicais. Ou um puro
grito de dor.
No fundo do fundo jaz e se move a msica, fluxo e rio homog-
neo e turbulento, que leva e levado pelo tempo; no fundo do fundo
flutua o rudo de fundo.
Ali eu me lano no mundo das coisas, que se lana sobre mim.
Eu: barulho violento. Eu: nota longa. Eu: pronome, quando a
lngua, enfim, se mistura s misturas, para esquecer, nica mentira
verdadeira, e apagar a multiplicidade das peas. Eu: terceira pessoa,
cada um, os outros, todos, aquilo, o mundo, e a terceira pessoa im-
pessoal das intempries temporais: chove, chora, venta ... e se lamen-
ta; troveja, grita ... msica, rudo; de repente, preciso, e eis-me aqui,
tico, reunido, de p, no trabalho, desde a madrugada.
171
A filosofia clssica aconselha passar os modos e atributos, cir-
cunstncias, para a substncia; os adjetivos, volveis e inconstantes,
para o substantivo estvel e fixo: mas a palavra sujeito, eu j disse, foi
um adjetivo antes de se transformar em substantivo. Trapaceiro! Dir-
se-ia que o volvel, depois de ter vivido, se fixou.
Ao ouvir ou compor variaes sobre um dado tema, voc s
vezes no se pergunta se o prprio tema no se desenvolve como uma
variao entre outras? Mais simples, sem dvida, mais puro, mais
curto, decerto, mas por que separ-lo delas? H tanta distncia entre
essas ltimas quanto entre elas e o tema, que nada impede, ento, o
que chamo de variao sobre uma das variaes. Por que o prejulgar
mais estvel e mais bem centrado do que a elas? Sim, o tema apenas
uma das variaes.
Da mesma forma, o rei tambm um sujeito, um homem entre
tantos outros, dois ps, dez dedos, no melhor dos casos, e seus pontos
de apoio sobre a mesma terra que eu. A prova que, desde que a
guilhotina o acolheu, todos os seus sujeitos de outrora, com raras e
sbias excees, sonham em tomar o seu lugar ou o preparam para
receber o rei temporrio, que no deixa de ser sujeito, e mais ainda
que os primeiros, no sentido poltico, uma vez que o nmero de
atentados dirigidos contra ele ultrapassa de muito o nmero daque-
les tramados contra seja quem for. Ei-Io derrubado: deve saber que
deve seu lugar de rei ao fato de ser o mais sujeito dos sujeitos.
Adjetivo substantivado, tema-variao, rei-cidado; assim, tam-
bm o sol central apenas uma estrela marginal, an amarelada e
medocre, sem verdadeira grandeza, no imenso concerto das super-
gigantes, vermelhas como Betelgeuse ou azuis como Rigel. O rei Sa-
lomo, de volta entre ns, diria: nada de novo sob a galxia do Cisne?
J faz muito tempo que a revoluo astrofsica nos ensinou a no
mais centrar cu nem o universo. Ouve-se at dizer que o ponto
original do big bang no teve lugar nem tempo.
Assim, o centro no seno uma colcha de retalhos, conjunto
numeroso de peas compsitas. Ao Imperador da Lua, voc pede que
172
'I
T
I
se dispa para mostrar o que esconde: ora, ele no dissimula nada.
Tudo de fato sempre e em toda parte como aqui, com graus de
grandeza e de perfeio prximos; quero dizer que tudo casaco de
Arlequim, mesmo a substncia, mesmo o tema, mesmo o sujeito,
mesmo o eu, mesmo o sol, meSmo os substantivos. A singularidade se
dispersa, a unidade se multiplica.
Mesmo Deus? Mas no ele um dos segredos que eu desvelo:
nico e triplo, mltiplo, adjetivo e substantivo, divino e divindade,
rei e sujeito, supergigante em sua glria central e an perdida em um
estbulo da periferia, universal e singular, lei criativa, encarnao
trgica prestes a morrer, terceira pessoa por toda parte propagada?
Absurdo, impossvel, inadmissvel: no ousei diz-lo; no, nunca
tive a coragem de expor aquilo em que creio.
Antes de tudo: no sei se creio, ignoro o que crer, no sei que
pensamento, que ato ou que sentimento acompanham a crena ou a
f. Sei, um pouco, o que saber, eu sei o que sei, quando sei, como fiz
para sab-lo, conheo a ignorncia e a dvida, a procura e a pergunta,
conheo o conhecimento, sua felicidade e seus objetos, seus cami-
nhos mltiplos, sua busca entusiasta e seus dese!tos, sua profunda
humildade, seu esquecimento raro e necessrio da razo dominado-
ra. E reconheo o que sinto, arrumado para sempre dentro da caixa
preta do pudor. Ser mistura de um conhecimento incerto e de um
certo pattico largado o que chamamos de crena? No sei. Ou sei
que isso me indiferente. Que me importa conhecer de onde vem
aquilo que JlOU ousar dizer: j estou bastante velho, quer dizer, bas-
tante forte para ter a coragem.
No sei se creio em Deus. Sei que com freqncia no pude crer
em Deus: sou ateu em trs quartos da minha durao. Contudo, por
fulguraes intermitentes, sei que o divino est a, presente, na mi-
nha vizinhana, e que ele reina sobre o universo. Reinar, aqui, no se
refere absolutamente a um rei, mas a este modo de construo de que
fala um ladrilheiro quando diz, a propsito de um ladrilho hexagonal
173
e vermelho, que ele reina em todas as peas de uma mesma casa. Por
toda parte no universo, o divino constitui o tecido, outros diriam a
lei, eu prefiro descrever sua matria ou sua carne. Disto tenho certe-
za, no agora, mas s vezes, raramente, de maneira exttica. E quan-
do a longa ocultao se sucede ao breve raio intuitivo, eis-me certo de
que Deus no : hiptese envelhecida e desnecessria. Talvez ento
ele me abandone, sem dvida me danando, relegando minha inteli-
gncia a esta misria. Deus nos ter abandonado a todos depois do
dia no muito distante em que ns o abandonamos?
Eu no creio, eu creio: isso no se decide, isso prossegue. Des-
crente mstico, minhas raras certezas mergulham na morna incredu-
lidade. Ou durante os instantes em que creio, eu creio no Deus nico,
muralha contnua do universo, fundamento, fundao e cumieira,
presena inevitvel, vizinhana constante e sentido ... mas no posso
deixar por muito tempo os bosques sem hamadrades, o mar sem
sereias e as guerras das naes sem seu sagrado horror, as cidades sem
os templos da diferena e suas habitaes sem os manes dos an-
cestrais: o ar se povoa de arcanjos que passam, de mensageiros in-
contveis; sim, eis-me verdadeiramente pago, o confesso, politesta,
campons filho de campons, marinheiro filho de marinheiro; s ve-
zes vi os deuses fugirem quando desembarcava em uma ilha, ou apa-
recerem em toda a sua glria, j os escutei zombar, cruis, abomin-
veis, nas encarnaes de todas as potncias, ouvi muitas vezes as
legies de demnios soltos no trovejar dos canhes, sim, fui aterrori-
zado pelo prprio diabo - quem no percebeu seu corpo monstruo-
so desenhar-se, real, por trs das nuvens do claro atmico? -, mas
vi tambm passar uma deusa clara entre os sorrisos, palavra de fil-
sofo, eu Os percebi, e testemunho.
Creio, s vezes, no Deus de meu pai, ateu convertido de chofre
no meio dos obuses no campo de Verdun, creio, freqentemente, nos
deuses de meus mais velhos ancestrais, sei muito bem, dentro de
mim, que eles enchem o espao, que eles constituem o mundo, so-
bretudo: que eles soldam a sociedade.
Desde Nagasaki, sinto-me cada vez mais seduzido por minha
174
ascendncia ctara: multido de deuses reduzida a dois, dos quais
um, o do mal, mantm-se como mestre inconteste de tudo a que os
homens denominam poder e glria, a histria, enquanto aquele da
bondade se esconde e desaparece na palha de um estbulo, to afas-
tado, comum, apagado, que se torna inacessvel. Tudo para o primei-
ro, nada para o segundo, desfigurado, derrotado, improvvel.
Eu creio, creio acima de tudo, creio essencialmente, que o mun-
do Deus, que a natureza Deus, cascata branca e riso dos mares; o
cu varivel o prprio Deus: naveguei em Deus, voei no meio de
Deus, recebi sua luz verdadeira sobre as costas nos corredores de gelo
da montanha alta, quando alvorecia, at mesmo j escrevi, algumas
vezes, sob sua inspirao, traando ingenuamente meu caminho de
humildade sobre a pgina divina, e, em virtude desse ofcio, nunca
cessei de sobreviver por ele, com ele e nele ... mas, acima de tudo, voc
Deus, tu a quem amo e tu que me odeias, tu que passas e que no
conhecerei jamais, vocs que me excluram, tu de cujos lbios recebi
flores primaveris, vocs, finalmente, que fazem o barulho, o caos de
minha vida carnal e categorial...
... mas de quebra eu estou certo, absolutamente certo acima de
toda esperana, de que existe um buraco, uma falha bizarra nesse
pantesmo macio e denso, uma exceo estranha, fonte de toda dor,
de que eu e apenas eu, nesse concerto divino atravessado de rumor,
no sou Deus; somente esta falha feita do nada no Deus; novo
sentido, muito agudo, da velha palavra ateu. Aqui, sem Deus. Aqui,
somente, Deus fica ausente. Minha parte do destino esse lugar de
atesmo.
Tudo peus, exceto aquele que o escreve, que larga a pena no
meio do choro.
o um. O centro. O sol. O tema. A substncia. Deus. O nome
prprio: Salomo, Arlequim, o autor deste livro.
O mltiplo. A periferia compsita. As estrelas de todas as magni-
tudes. As variaes. Os atributos, o casaco em frangalhos. Os adjeti-
vos mltiplos: gentil, corts, tagarela, taciturno ... Mais adiante: a
175
mistura fundida, a msica, o tempo, o rudo de chocalho que os
moinhos fazem, as almas e o mar.
O mltiplo e a unidade se apresentam, na realidade, como singu-
laridades limites em uma variao. Eis aqui uma imagem simples
disso. Suponhamos um mosaico: ele justape milhares de elementos
de formas diversas e cores variadas, cujos limites desenham uma es-
pcie de rede. Eis o mltiplo: mapa-mndi, casaco de Arlequim, cen-
to de textos diversos.
Seja um quadro pintado a leo sobre uma tela, representando a
mesma cena que o mosaico: a rede desaparece, as vizinhanas se fun-
dem, os elementos, apagados, do lugar a uma camada contnua de
formas e cores mescladas. La belle noiseuse, obra-prima desconhecida
de um pintor sem nome, faz emergir um p soberbo de um caos de
tonalidades.
No grafo de geometria correspondente, mergulhado num espao
homogneo e istropo, as curvas se desdobram segundo leis e so
determinadas graas a retas, verticais e horizontais; os pontos no
tm partes, as linhas e os planos no tm espessura: o reino de um
sucede neste caso ao do mltiplo em mosaico e mistura das cores
lquidas sobre a tela.
Podemos, por um lado, tirar o mosaico do quadro, fazendo re-
cortes, depois um jogo de quebra-cabeas ou de pacincia a partir de
seus traos, ou regio por regio. A mistura tende ento para o ml-
tiplo, partes extra partes. O descontnuo emerge da continuidade, co-
mo os nmeros inteiros sobre a reta real. Os elementos fundidos na
mistura se separam bem ou mal. O mosaico mostra os gros. A rigor,
seria verossmil dizer que se fosse possvel ver La belle noiseuse infi-
nitamente de perto, encontraramos nela essa disposio granular.
Pode-se imaginar, ao invs, uma mistura to infinitamente dilu-
da que as cores se esmaeceriam para deixar aparecer a homogenei-
dade. Uma gota de mel, um pingo de leite, um pinta de sangue no
mar Mediterrneo no poderiam perturbar sua cor uniformemente
avinhada. Ento as volutas complicadas se simplificam ao extremo,
todo detalhe se anula e os objetos se vitrificam: a aproximao cede
176 ,-
I
lugar preciso, a mescla tende infinitamente ao puro e a pintura
geometria.
Fazendo um balano, o mltiplo e o um tornam-se singularida-
des limites da mistura. Esta no cessa nunca, ali, nos cerca
e nos banha; talvez devamos cham-la realidade, que conseguimos
pensar com a ajuda de duas singularidades opostas: seu limite do lado
do um, e seu outro limite sobre as faces do mltiplo, Arlequim ves-
tido em seu casaco, Salomo e seu sol.
O monismo e o pluralismo so filosofias limites construdas
abstratamente sobre um fundo real de mistura. A primeira o geo-
metriza, enquanto a segunda prope fazer dele um mosaico, recor-
t-lo num jogo de pacincia, uma imagem na tela de um receptor de
televiso.
Como falar da mistura? Por meio, novamente, das preposies.
Se devssemos descrever La belle noiseuse ou o casaco de Arlequim,
deveramos nos abastecer incessantemente em sua lista ou rubrica:
tal cor ou tal forma se encontra dentro ou fora, antes ou entre, alm
e contra, sobre ou sob, segundo ou at esta ou aquela outra: eis a
topologia que volta.
Ora, existe uma topologia do primeiro grafo de geometria-, uma
do mosaico, finalmente uma outra do quadro. A descrio rigorosa
que ela prope, ou a que utiliza as preposies, vale portanto para os
trs esquemas em conjunto. O que eu queria demonstrar.
Mas, para passar da mistura ao mltiplo e deste unidade, ns
atravessamos um espao ou um tempo que vibra e treme como a
cortina de chamas iluminando a rampa do teatro onde Arlequim se
despiu. s vezes percebemos o um, segundo distingamos o mltiplo
ou nos banhemos no aglomerado.
Porm, posso descrever ainda, da mesma forma, a dana do fogo
que nos ilumina, por fagulhas contnuas, rasgadas, curtas, longas,
longnquas, vizinhas, sobre e sob, fora e dentro, diante, atrs, aps,
antes, alm e entre ...
O que eu queria demonstrar.
177
Fogo. Imagino uma pirmide, um prisma, absolutamente trans-
parente. Quando a luz branca do dia, ela mesma invisvel, mas capaz
de fazer tudo ser visto, se lana a uma face desse prisma cndido, vai
ressurgir adiante num arco-ris de cores fundidas e distintas: no
falta uma sequer. Espectro das estrelas, casaco de Arlequim. Quem
sou? Ningum, absolutamente falando. Nulo. To plido e difano
que perco a existncia. Espectro lvido e desfeito, prestes a se dissol-
ver no ar. Nada, a rigor. Sado do branco, do invisvel, do cndido e
do transparente. Zero. Slido puro entregue inteiramente luz, de
onde ela venha, alta e baixa, brilhante, discreta, firme e irregular.
Nenhuma s6 parte de ser, nada alm do nada.
Ento, tudo. A luz branca sobre a pirmide translcida explode
segundo o leque, mais que multicor, da pancromia. Nada, portanto
tudo. Nulo, portanto possvel. Ningum, portanto . todos. Branco,
portanto todos os valores. Transparente, portanto acolhedor. Invis-
vel, portanto produtivo. Inexistente, portanto indefinidamente apto
ao universo. Eis de novo a lei.
Universalmente, portanto, porque o homem no nada, ele po-
de: infinita capacidade.
Eu sou ningum e no valho nada: capaz portanto de aprender e
de tudo inventar, corpo, alma, entendimento e sabedoria. Desde que
Deus e o homem morreram, reduzidos ao puro nada, sua potncia
criadora ressuscita.
Eis porque pude e tive que escrever este livro: porque a apren-
dizagem, da qual a est o fundamento, a essncia branca da ho-
minidade.
Tu. Dia
Homenagem. Meu amigo Herg no queria nome, suponho, porque
assinava com as iniciais de seus primeiros nomes, Rmi e Georges. '*
* R.G., em francs r-g = Herg, autor da srie de livros infanto-juvenis em
quadrinhos, cujos heris so Tintin e seu co Milou. (N. da T.)
178
Uma sigla assim mostra e esconde que ele comeava apenas a ser ou
existir, como uma criana. O pudor libera o essencial e o reserva.
Tintin tambm no tem nome, nem mesmo um apelido, apenas uma
onomatopia. Ns evocamos essas duas sombras, ns no as chama-
mos pelos nomes.
Quem era ento, trao por trao, aquele que alegrou a nossa
infncia?
Georges era branco: luminoso, difano, deslumbrante porm
calmo. Adepto ou inventor da linha clara, * no trabalho, habitava
uma casa de cores suaves e um corpo lmpido e puro. Lembro-me
dele como de uma transparncia; sua inteligncia levitava, e quando
estvamos juntos eu sabia que estava lidando com um anjo. Tintin
parece-se com Herg, mas sobretudo Raio Sagrado.** Nas altas re-
gies do Tibete descobrem-se todas as chaves do segredo: a neve
branca, o monge em xtase, o amigo perdido e o bom abominvel. '***
No mais malvados sacrificados nem punidos, O mundo atroz de
derrotas e vitrias finalmente aplainado, a grande converso, exata-
mente oposta que lhe aconselhavam. A linha clara desvela o con-
junto de suas incandescncias.
Georges, ento, ou Herg, que assinava com um nome em bran-
co, amou uma colorista.
Trinta raios convergem para o ponto radial, diz a sabedoria chi-
nesa, pois o pequeno vazio bem no meio confere fora, coerncia e
funo roda. Mais de vinte lbuns das aventuras de Tintin brilham
como uma madrugada a partir desta vida, mas como chamar a luz
cristalina, transparente e branca que deu nascimento - atravs de
que prisma't:- a essas imagens em que milhes de crianas e adultos
se reconhecem j h tanto tempo?
Como encontrar-lhe um nome? Gnio? Sim, entre os notveis e
as glrias conseqentes que pude encontrar em minha vida, creio
* Desenho de trao contnuo e colorido uniforme. (N. da T.)
,.,. Raio Sagrado outro personagem da histria. (N. da T.)
*,.,. Referncia ao "abominvel homem das neves" em Tintin no Tibete. (N.da T.)
179
poder dizer que Georges se destacava como o nico gnio verdadeiro.
Cite ento uma obra lida continuamente desde mais de meio sculo
por vrias geraes, cada uma delas a relendo, ao mesmo tempo que
a seguinte a descobre. O gnio no definido apenas por esse reco-
nhecimento crescente, mas sobretudo pela relao secreta que man-
tm com as duas manifestaes positivas da vida: o cmico e a crian-
a. As sobrinhas frescas e o tio de cabelos brancos riem juntos com
Molire e Aristfanes, que ningum sobrepuja em fora e vigor. Os
altos momentos das culturas comeam por essas grandes exploses
de alegria juvenil: a criatividade ri.
Herg perde nas neves do Himalaia os ltimos valores negativos,
de modo que sua obra diz um imenso sim, nico e raro num sculo
que amou, em suas artes e por suas aes, a destruio e as runas e
que se compraz na esterilidade. O que anuncia, para ns, crianas at
os 77 anos diante das nossas obras a realizar, este sim ingnuo, nati-
vo, confiante, vivo, vital, risonho e novo? Transparente, cndido.
o domin branco vale por todas as cores, virtualmente: segundo
seja colocado aqui ou ali, ei-Io um, dois ou trs. Ele deve esse desem-
penho sua brancura: zero e reunio de todas as cores, esta as con-
tm e as apaga, tudo e nada. A luz branca se decompe no espectro
do arco-ris e o absorve, como a cauda de um pavo se fecha aps
formar uma roda. Se voc quer se tornar tudo, aceite no ser nada.
Sim. O vazio transparente. Essa abstrao suprema e esse distancia-
mento equivalem polivalncia. Embranquecido, compreenders tu-
do e estars aqui, vontade, peixe, planta, flor, arcanjo ou luminar.
Herg, assinando com as iniciais de seus primeiros nomes, sem
sobrenome, apenas existente, desenha, primeiro em preto e branco,
um personagem quase annimo, designado por uma onomatopia,
redondo como uma lua, a cabea apenas marcada, sabendo tudo e
podendo tudo, capaz de todo o possvel e reunindo em torno dele o
peixe Haddock, a flora Girassol e Castafiore, Serafim Lampio ... O
domin branco produz e compreende a srie de todos os domins. O
centro criador, a cabea de Tintin ou o gnio de Georges brilham,
180
J.
I'
!
incandescentes, como a neve ou as geleiras do Tibete. Trinta raios, o
mundo inteiro, sia, Amrica, as ilhas da Oceania, incas, ndios e
congoleses, convergem para o cubo, onde a roda inteira recebe coe-
so e plenitude, existncia e perfeio unicamente do redondo vazio
e transparente do meio, do centro cndido, cabea de Tintin, alma
anglica de Georges, ar sob os ps de Raio Sagrado, banco de gelo,
infncia, tudo o que diz sim.
As circunstncias vitais, encontros, esperas, viagens, mudanas e
ausncias, trabalho, labor sobretudo, trabalho massacrante, macio e
denso, invadindo os dias e as horas, ocupando as noites, deixando o
corpo e a alma ao mal dos tempos, todos os detalhes de uma vida
entregue obra, convergem juntos, no centro, para um homem, meu
amigo, ao qual fao publicamente testemunho de que, transfigurado
por ela, seu rosto se iluminava como o sol, branco. Como desenhar
seu retrato no meio da roscea, uma vez que a luz originada dele
produzia todos os desenhos, todos os retratos explodindo sobre o
contorno do vitral, vinhetas mltiplas que nos fascinam desde nossa
amarga infncia?
E que nos fascinam porque a mancha branca, a cabea inofensiva
e quase inexpressiva, infantil, indeterminada, de Tintin fura a pgina
ou abre sobre o quadrinho uma dessas janelas pelas quais, nos par-
ques de diverses e nas festas populares, quem quiser sua foto como
heri, vedete ou rei, pode escorregar seu rosto ou seu peito e reapa-
recer, do outro lado, num cenrio de floresta virgem, de palcio ou
de pera. Mas pode acontecer tambm que uma mscara de touro lhe
caia por cima da cabea e sobre os ombros e que ele se v, titubeante,
com seus acessrios ...
Cada leitor enfia ento seu corpo na abertura deixada por essa
ausncia branca e diz para si mesmo, evocando-o: Tintin sou eu. O
aventureiro, por sua vez, qualquer que seja seu nome, se identifica
pela mesma razo e participa de mil indivduos diversos, de todas as
classes, etnias, culturas, latitudes, dos personagens desta enciclopdia
em elipses ou parbolas que faz de Herg o Jlio Verne das primeiras
cincias humanas.
181
Remontando dessa multido, agitada e suave para seu animador
ou seu criador, ascendemos luz clara e calma, quase ausente, da
qual uma srie de transparncias produz, em troca, as espessuras.
Quem j andou por Shangai, o Tibete, a Esccia ou o Oriente
Prximo no pode deixar de dizer: reconheo esta paisagem que se
parece estranhamente com a que vi na minha infncia atravs dos
olhos de Tchang ou do filho do emir. Como pode ser que, bloqueado
pela guerra em uma volta do Garonne, eu tenha viajado tanto, apren-
dido tantas coisas sobre os homens? As coisas viram pelo avesso,
como por encanto: o mundo imita os quadrinhos memorveis, os
modelos refletem a imagem, a vida passa a seguir os sortilgios da
arte. Existem at mesmo aqueles que no lanariam um olhar sequer
para as flores do campo, se antes no tivessem visto papoulas num
quadro qualquer de Renoir; no conheciam a Ile-de-France antes de
Corot. Essa experincia banal, que diz muito a respeito da experin-
cia, tem sua origem no prprio autor, que obedece a esta lei bizarra
que inverte a ordem e a disposio das coisas: ele se submete e a
comanda.
O homem de arte introduz corpo e bens, sangue, alegria e lgri-
mas em sua obra que passa a produzir por si mesma a vida como ela
vai e o mundo como ele se mostra, e portanto em particular este
homem que um dia ps mos obra. Crculo encantado que alimen-
ta um com a outra e uma com o um, o homem e a obra, espiral que
no termina seno na hora da morte: no saberemos jamais se O
quadrinho torna-se branco porque o desenhista morre ou se ele mor-
re porque Tintin, dessa vez, no ser bem-sucedido; crculo de fervi-
lhamento que faz nascerem, a partir do castelo de Moulinsart, como
de uma cornucpia da abundncia, todas essas histrias sem frontei-
ras: prova de que muita gente e muitas coisas ali se escondem, nas
armaduras ou nas dependncias. Vigie quem sai ou deixa traos: ali
est o tesouro. Diamantes, rubis, colares cujo valor explode longa-
mente durante o percurso aberto desta hlice invasora at os astros,
mas que volta sobre si para se alimentar dos antpodas no castelo, no
182
,
....
fetiche, no poro, na esttua, no prprio corpo do autor, desta forma
produto e produtor.
Georges cintilava com a luz branca de um diamante desse tesou-
ro. Ele tinha sempre o ar de sair desse castelo, que O assombrava ou
onde habitava. O crculo se ergue de no sei onde e sobe como uma
espiral opulenta que vai s duas extremidades do mundo e o encanta,
mas que sempre volta vertical por si: Rameau conta medidas que
nascem naturalmente da prpria msica, cujas medidas produzem a
msica de Rameau, e finalmente do prprio Rameau, que compe as
medidas. Georges no parava de entrar ou de sair nesse moinho.
Assim, o retrato do homem se reduz ao olho da obra como se diz
a propsito do olho do ciclone, espao calmo e ensolarado, lugar do
tesouro onde Georges brilhava, tranqilo e difano.
Nas horas felizes em que nos esperava na soleira de sua casa,
braos abertos, olhos e rosto iluminados pelo sorriso e a bondade, eu
nunca passei pelo caminho de Dieweg sem que minha emoo sobre-
pujasse o reconhecimento para com aquele que alegrou minha infn-
cia. Eu adivinhava, por entre as minhas lgrimas, o enfeitiador.
Bombardeios, deportaes, guerras e crimes em massa esmaga-
ram a nossa infncia, dentro do desespero e da dor, da vergonha
pelos homens, salvo o nico encantamento que nos deram a China e
a Amaznia, luzindo por trs da linha clara e o perdo perturbador
do monstro abominvel, desprezado por todos, e que se tornou, visto
de perto, misericordioso e bom, converso no meio do deserto ima-
culado. nicas luzes no seio das trevas. Para que serve viver, se nada
mais d encanto ao mundo? Como e onde habitar, se no existe ne-
nhum lugar encantado no meio das destruies? E se tivssemos so-
brevivido, naqueles tempos e naqueles lugares invivveis, apenas pela
graa de tais utopias? Ainda o olho do ciclone, nico espao onde um
barquinho nada arrisca, silncio branco no meio dos gemidos.
Entre o paraso e a paisagem morna, entre o vale amargo e o
reino, o Messias e o homem da rua, a diferena, infinitesimal, brilha
como uma pequena lgrima.
183
As coisas e os corpos encantados parecem mergulhar numa gua
lmpida sob a qual cintilam como os diamantes ou as prolas: trans-
figurados pela laca, um oriente ou uma aurora cuja natureza ignora-
mos, seu nimbo nos maravilha e nos protege.
Para faz-los fulgurar assim, nos contentamos quase sempre em
imergi-Ios na transparncia da lngua ou no brilho do estilo, e s
vezes temos sucesso: ns os vemos luzir por trs das palavras claras,
ou se contrair, e se alinhar por trs do seu rigor quando no se con-
torcem sob a feira ou a secura dos termos. "As rvores e as plantas",
dizia La Fontaine, "tornaram-se em minha casa criaturas que falam;
quem no acreditaria ser isso um encantamento?" Aqui conversam
igualmente o girassol e a flor casta, plantas, mas tambm o hadoque,
peixe, com o cachorro, animal que normalmente late. Para realizar o
milagre, podem-se mergulhar uma a uma as palavras e as lnguas no
sortilgio do canto, de onde vem a palavra encantamento.
As coisas imergem na palavra e esta mergulha na msica: dupla
transfigurao pela obra potica, entrada de Wagner que sobe e desce
as gamas no espao ou na escada de Moulinsart.
O desenhista no o entende assim. O encantamento, para ele,
dispensa o canto: a cantora ridcula executa de modo atroz a ria das
jias e perde as suas, que se acredita terem sido roubadas, enquanto
elas brilham calmamente no ninho do quadrinho.
A histria em quadrinhos abre um caminho original, diferente
do da linguagem, do ritmo e do som, e deixa que os seres e as coisas
fulgurem por suas prprias formas e em sua gua singular: muda
poesia da linha clara. As vinhetas substituem as rimas e os ps caden-
ciados do fabulista clssico por cem aes diferentes, cujo cenrio o
universo. E eis que encontro o nome daquele que no queria um: eis
que a fonte d a imagem da gua brilhante e tranqila.
Os retratistas, outrora, contornavam as cabeas santas, mrtires,
virgens ou arcanjos, com uma aurola cuja luz indicava sua transfi-
gurao. Riam de quem ri disso: a maioria das culturas, modernas ou
antigas, tem um nome especial para designar a glria que s vezes faz
184
os corpos explodirem, em uma exploso de energia ou de amor, bon-
dade, xtase e de sua ateno fervorosa. Por esse sinal, reconhece-se
que a pessoa pensa: a idia flui ou emana de seu corpo atravs de um
luzir dourado.
A glria social apenas imita pobremente esta aurola real que sai
do rosto. Os grandes pintores, dotados de um olho acurado, a viam.
Ou ento eles projetam, em sua obra pintada, sua experincia e sua
ateno divinas ao reproduzirem as coisas do mundo tais como so
no minuto mesmo em que nascem das mos de seu criador: infantes,
iniciais, pr-nomeadas, apenas comeando.
Eu no sei mais o que escolher: a aurola descreve a luz que
emana do modelo ou do desenhista, ou ser que ela fixa a fonte da luz
que os ilumina a ambos, ou ainda devemos v-la como o olho que
verdadeiramente v?
Para concluir este livro que diz e descreve as circunstncias da
vida do mestio instrudo, como uma roda de raios em torno de seu
eixo, projetei traar o retrato de meu amigo, um dos perfis desta vida.
Apenas pr-nomeado, eis o que : vazio no meio desse crculo fulgu-
rante, brilhncia branca, luzir da aurora, aurola clara, olho do pin-
tor e do ciclone, faiscante e calmo, tal como o conheci, como o amei,
pudico, reservado.
A terceira pessoa: fogo
Quando umJlOmem passa a nado um rio largo ou um brao de mar,
assim como um autor ou um leitor, lendo ou escrevendo, atravessa
um livro e o termina, um momento se apresenta em que ele ultrapas-
sa um eixo, um meio, igualmente distante das duas margens. Ali
chegado, continuar sempre em frente ou voltar atrs sero atitudes
equivalentes? Antes desse ponto, um pouco aqum desse instante, o
campeo no deixou ainda o seu pas de origem, enquanto depois,
alm, o exlio ao qual ele se destina j o submerge.
185
Fio emocionante, fino e delgado como uma aresta, esse limiar
decide a viagem e toda a aprendizagem, da qual apenas se percebe
esse lugar raro, to abstrato que se poderia considerar inexistente, e
entretanto to premente e to concreto que estende sua natureza e
sua cor sobre a totalidade do trajeto, que consiste em ultrapass-lo.
Toda a largura do rio ou do adestramento - do livro e, no meio
deste, do mundo - recebe tal influncia, como se reproduzisse, am-
pliado, este fio.
O limite de uma fronteira desenha, do lado de c, as terras fami-
liares, e se faz mestio na diviso, mas a viagem puxa e carrega esse
lugar mestio atravs de todo o espao assim partilhado. Antes dele,
j menos em casa que de costume, o novio nada ou se desloca para
o que lhe estranho; depois dele, quase chegado a outro lugar, ele
continua vindo de casa; meio inquieto, a princpio, e cheio de espe-
rana; j nostlgico, em seguida, e logo meio arrependido. Como
ento um lugar singular pode parecer raro e, no entanto, se difundir
por toda parte, sobre o solo e dentro da alma, permanecer abstrato,
utpico, e contudo tornar-se panptico ou pnico? Entenda-se por
isso a expanso em todos os lugares desta singularidade.
Embora nascido canhoto, escrevo com a mo direita, e a felicida-
de de viver num corpo assim completado nunca me abandonou, de
modo que suplico ainda aos professores, no para contrariar, como
se diz hoje, meus colegas de bombordo, mas para dar-lhes uma imen-
sa vantagem e harmonizar seus corpos, obrigando-os a segurar o
lpis com a mo direita, complementar. E, em prol da simetria, com-
pletar da mesma forma os destros. Como a maioria dos contempor-
neos abandona a caneta pelo console do computador, seu teclado
requer sobretudo dedos conjugados.
No sei por onde passa a linha que separa a esquerda e a direita
- e a fmea e o macho -, se no meio do organismo, to geomtrica
e formal, sem dvida, quanto a fronteira ou o eixo sobre o rio ou o
estreito, mas o corpo inteiro muda e se transforma segundo gire para
a direita ou para a esquerda, hemiplgico em ambos os casos, ou
segundo aceite se aventurar para o outro bordo, hermafrodita, navio
186
,
1
lO
de dois bordos, para a realizao e o acordo. Ainda um golpe, e a
posio mestia, rara, invade o sistema por completo: a pessoa inteira
se diz destra ou canhota - ou completa.
Ento anula-se em memria negra ou dilata-se em alma o lugar
mestio: aberto, dilatado, ele se enche de pessoas mestias. Aprender:
tornar-se gordo dos outros e de si. Engendramento e mestiagem.
Como a terceira pessoa esprito, o casaco e a carne de Arlequim se
semeiam de espritos coloridos: fogos.
Um batimento, uma pulsao, um tremor como se v numa cor-
tina de chamas que explode e aumenta de repente para clarear at o
horizonte e logo involui para no iluminar mais do que uma vizi-
nhana estreita e limitada ou anular-se na obscuridade, uma cinti-
lao palpitante animam, neste livro, a descoberta, em muitas re-
gies, de lugares mestios e raros, finos como limites, agudos como
arestas, singularidades que podem ser consideradas fora do comum,
ambidestras, hermafroditas na que concerne s pessoas, mensageiros
que pertencem a dois mundos porque se pem em comunicao, tal
como Hermes, o deus dos tradutores, voando de uma margem para
outra, mas que se pode pensar em encontrar tambm sobre a terra ou
no mar, em ilhas ou caminhos; esses lugares mestios do a carne
viva e visvel, quente e tangvel na vida ou no espao assinalvel sobre
o mapa, do projeto mais intelectual, sbio ou cultural, e eticamente
tolerante, da instruo mestia, meio harmnico, filha, entre duas
margens, da cultura cientfica e do saber tirado das humanidades, da
erudio e da narrativa artstica, do coletado e do inven-
tado, conjnto conjugado porque na realidade no se pode separar a
nica razo da cincia universal e do sofrimento singular. Porque a
urgncia o impe hoje em dia, a histria alcana este projeto, antes
raro.
E, de sbito, engendramento multiplicado: essas singularidades
espaciais, carnais ou pedaggicas, sem que nada haja previsto, se dis-
seminam por toda parte, sobre todo o corpo, atravs do leito do rio,
no espao intelectual, at desenhar uma sntese ou indexar um uni-
187
versal. A pequena chama explode. De nada a tudo; da soma, para trs,
a zero. Da comunicao fechada entre as duas primeiras pessoas, no
singular ou no plural, ao conjunto dessas terceiras que se anulam ou
tornam-se o todo da sociedade, do universo, do ser e da moral. Ja-
mais eu teria esperado tanto da luz viva, embora, a despeito de seus
fulgores, ela tolerasse a sombra negra, pelas incessantes divises de
sua vibrao.
Baixa, a chama clareava as vizinhanas; o fogo, alto, ilumina o
mundo. As pginas flamejam como um pedao de lenha, onde a dan-
a, curta ou ampla, das labaredas logo lambe o local, clareia o global
e sbito retorna treva: dia, noite, manh, claro-escuro. Ver: o fogo
clareia; mal: a chama queima. Dois focos, de uma vez: cincia fais-
cante, dor ardente.
Entre as circunstncias improvveis e difceis, guerra, tempes-
tade, acasos e insucessos do mar, ns abordamos uma ilha nula per-
dida na imensido do Pacfico, onde os nativos se aplicavam a con-
dutas estranhas, mas onde aprendemos que a regra constantemente
seguida por todos os nossos semelhantes, dos quatro cantos da gua,
se reduzia a uma exceo, sem dvida monstruosa, de um univer-
sal somente refletido e descoberto por acaso naquela singularidade
abandonada. Como se uma opinio preconcebida tivesse conquista-
do todo o volume, enquanto a prudncia humana e ponderada se
refugiava em localidades isoladas.
O oblquo conquistou o geral. O universal tem seu nicho no
singular.
Cintilao das chamas: an amarela, o sol clareia menos o mun-
do que um canto do universo e este no se deixa ver em majestade
seno por ocasio de intuies breves e fulgurantes, evidentes e pro-
blemticas, mas noturnas. A teoria do conhecimento nunca deixou
de tomar como modelo a emisso ou a expanso da luz. Esta repou-
sava nas trevas e devia triunfar no espao e na histria. Os contempo-
rneos, logo tornados relativistas e modestos, e a partir da pruden-
188
,
T
tes, se interessam vivamente em fixar sobre o detalhe um feixe lu-
minoso quase pontual, fino e aguado como um raio laser. Ns t-
nhamos abandonado a sntese unitria para nos reencontrar ou nos
perder deliciosamente nas delicadezas do nfimo, esquecidos do uni-
versal em prol das singularidades prenhes de sentido. Confesso de
bom grado ter preferido por muito tempo o local que pode se abrir
agradavelmente a um global pretensioso, sempre suspeito de excesso:
e nadava para o meio de tal rio ou me interrogava gravemente sobre
minhas mos ou as ilhas, atento a esses pequenos detalhes frvolos.
Definido por delimitao e especificidade, o ideal do conheci-
mento passa ento das leis gerais para o debate detalhado, at uma
fragmentao infinitamente dispersa. Surpresa: em alguns lugares ou
vizinhanas, o universal se abrigava. Ou, extraordinariamente reno-
vado, ele no pede nem para se estender nem para reger; ele exige, ao
contrrio, sua volta localidade prxima e fina, adamantina, onde
foi detectado. A chama, minscula, torna-se imensa, e volta ao nvel
do solo.
Irregularmente, do local ao global, bate, dana, treme, vibra, cin-
tila esse conhecimento, como uma cortina de chamas. No centro da
sntese, o sol clareia o conjunto; ora, esta an marginal se encontra
jogada a, em alguma parte do universo. Essas duas proposies, a
universal e a singular, para um nico sol, se mantm verdadeiras ao
mesmo tempo. Diante dele, to universal quanto a cincia, a questo
do mal e do sofrimento, da injustia e da fome, tenebrosa, ocupa o
segundo foco ou o negro do universo, assim como a existncia singu-
lar do homem indigente e dolorido.
Esse batimento no diz respeito apenas ao saber claro ou ao mal,
portanto aos princpios de toda aprendizagem e amplitude do co-
nhecimento: haste de palha acariciada por um raio de luz emanado
de uma fissura, ou firmamento em seu conjunto sob o reino do meio-
dia, costumes e leis, mas diz respeito tambm qualidade deles, ou
seja, sua expresso.
Devotados busca da verdade, nem sempre chegamos a ela, se e
189
quando chegamos, por anlises e equaes, experincias ou evidn-
cias formais, mas pelo ensaio, s vezes, e, quando o ensaio no pode
ir adiante, que o conto v, se ele pode; se a meditao fracassa, por
que no tentar a narrativa? Por que a linguagem se manteria sempre
destra ou masculina, hemiplgica e limitada a uma metade? Aris-
tteles dizia muito bem: o filsofo, enquanto tal, tambm narra; mas
acrescentava: aquele que narra, de alguma forma se mostra filsofo.
Criado nessas chamas irregulares, instrudo, educado, ele engen-
dra em si pessoas mestias ou espritos que salpicam as suas formas e
os seus fulgores sobre seu corpo e sua alma, assim como as peas e
pedaos que compem os fogos coloridos do casaco de Arlequim ou
o fogo branco que os soma.
Esprito: luz clara, pudica e retida, multicolorindo o corpo e a
alma como os milhes de sis da noite consteIam o universo.
Re-nascido, ele conhece, tem compaixo.
Finalmente, pode ensinar.
190
1980-1990
, 'I
r
Este livro foi impresso na cidade de Aparecida,
em maro de 1993, pela Editora Santurio
para a Editora Nova Fronteira do Rio de Janeiro.
O tipo usado nos ttulos foi Gill Sans
e, no texto, Minion 10/14.
Os fotolitos do miolo foram feitos pela Scritta.
O papel do miolo off-set 75g,
e o da capa, carto supremo 250g.
No encontrando este livro nas livrarias,
pedir pelo Reembolso Postal
EDITORA NOVA FRONTEIRA S.A.
Rua Bambina, 25 - Botafogo - CEP 22251-050 - Rio de Janeiro
f"UC -
'--____
Você também pode gostar
- Anna CappelliDocumento8 páginasAnna CappelliCloris ParisAinda não há avaliações
- 05 Amos e Masmorras - Lena ValentiDocumento201 páginas05 Amos e Masmorras - Lena ValentiFernanda MedeirosAinda não há avaliações
- Domingo Com Sao FranciscoDocumento529 páginasDomingo Com Sao FranciscoBiblioteca TeologicaAinda não há avaliações
- Escola Alquimia Quantica Ritual Do Conselho CarmicoDocumento14 páginasEscola Alquimia Quantica Ritual Do Conselho CarmicoAriane SiqueiraAinda não há avaliações
- O Tatwametro (Portugues)Documento40 páginasO Tatwametro (Portugues)Valéria Guimarães0% (1)
- O Corpo Utópico, As Heterotopias.Documento28 páginasO Corpo Utópico, As Heterotopias.Gustavo Nunes100% (2)
- Vivendo Além Da Distração - Gary Douglas e Dain HeerDocumento247 páginasVivendo Além Da Distração - Gary Douglas e Dain Heerprado.ana2Ainda não há avaliações
- 24 Frases Não BíblicasDocumento9 páginas24 Frases Não Bíblicas38613821Ainda não há avaliações
- Auto Da CompadecidaDocumento7 páginasAuto Da CompadecidaJorge MeloAinda não há avaliações
- A Representação Da Amada Na Lírica de CamõesDocumento16 páginasA Representação Da Amada Na Lírica de CamõesJoana AzevedoAinda não há avaliações
- Projota: Ela Só Quer PazDocumento4 páginasProjota: Ela Só Quer PazAndrea CostaAinda não há avaliações
- Vivendo A Vida Iluminada - Joel Goldsmith - Trad GSDocumento130 páginasVivendo A Vida Iluminada - Joel Goldsmith - Trad GSJoao Pedro Costa Souza100% (1)
- 6 168 438 2019 Simulado Objetivo S1 6ano 1tri GABARITADA - CópiaDocumento18 páginas6 168 438 2019 Simulado Objetivo S1 6ano 1tri GABARITADA - CópiaVâniaMorelattoMaffeiAinda não há avaliações
- As Boas Obras Do CristãoDocumento39 páginasAs Boas Obras Do CristãoFernando BritoAinda não há avaliações
- LILITH GODDESS OF SITRA AHRA - enDocumento129 páginasLILITH GODDESS OF SITRA AHRA - enFlora CrowleyAinda não há avaliações
- Ojb 12Documento16 páginasOjb 12semfillipenasser_431Ainda não há avaliações
- Gentileza Virou Fraqueza - Artigo de OpiniãoDocumento2 páginasGentileza Virou Fraqueza - Artigo de OpiniãoAline Virgínia De Sousa ChagasAinda não há avaliações
- Ciganos UmbandaDocumento55 páginasCiganos UmbandaAli Ana100% (7)
- @coisaspequenascomamor - Um Mês Com Maria 2020 - Ramalhete EspiritualDocumento5 páginas@coisaspequenascomamor - Um Mês Com Maria 2020 - Ramalhete EspiritualJúlia Ferreira LiraAinda não há avaliações
- Quando Me Descobri NegraDocumento49 páginasQuando Me Descobri NegraGeisonAinda não há avaliações
- Ebook 31 Dias Vida MinimalistaDocumento74 páginasEbook 31 Dias Vida Minimalistamariobneto100% (2)
- Runas e TalismaDocumento38 páginasRunas e TalismaRac A BruxaAinda não há avaliações
- Melhor Eu IrDocumento4 páginasMelhor Eu IrFXAinda não há avaliações
- Tarôt Ride Waite SmithDocumento86 páginasTarôt Ride Waite SmithLiese BraunerAinda não há avaliações
- Partituas Católica IndiceDocumento12 páginasPartituas Católica IndiceJoão Filho Dondinho100% (7)
- Micael - Colibri 2019Documento35 páginasMicael - Colibri 2019Fernândo SílvváAinda não há avaliações
- Vestibular Ifpi 2024Documento35 páginasVestibular Ifpi 2024sfbinsdifAinda não há avaliações
- Francis SchaefferDocumento10 páginasFrancis SchaefferAlex FalcãoAinda não há avaliações
- Apresentação Power Point - AulasDocumento53 páginasApresentação Power Point - AulasAndre Luiz Sena VazAinda não há avaliações
- Antropologia GeralDocumento102 páginasAntropologia GeralItélioMuchisseAinda não há avaliações