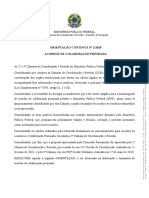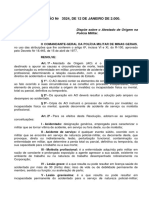Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Carnavalização Da Barbarie (2010)
Carnavalização Da Barbarie (2010)
Enviado por
wfmenezes75Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Carnavalização Da Barbarie (2010)
Carnavalização Da Barbarie (2010)
Enviado por
wfmenezes75Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista do Laboratrio de
Estudos da Violncia da
UNESP-Marlia Ano 2010 - Edio 6 - Nmero 06 Dezembro/2010 ISSN 1983-2192
A CARNAVALIZAO DA BARBRIE:
UMA ANLISE DA ENDMICA GUERRA CIVIL
NO RIO DE JANEIRO
MENEZES, Wellington Fontes
1
Resumo
O fracasso das polticas pblicas permitiu um aumento vertiginoso do nmero
de habitaes precrias e marginalizao dos moradores destas regies
ampliando o clima de medo, insegurana e instabilidade social. Um terreno
frtil para a proliferao da violncia promovido pelo trfico de drogas e armas.
Analisando o caso particular do Rio de Janeiro, como resultado da ineficincia
da chamada polcia convencional o Estado fluminense criou o BOPE, uma
tropa de elite das polcias, como alternativa do monoplio estatal da violncia
para combater o narcotrfico. No cenrio de uma verdadeira guerra civil
travada nos morros e favelas possvel destacar uma trade de atores: os
traficantes com tticas de guerrilha, as milcias formadas por grupos de policiais
passveis a corrupo e a truculenta ao do BOPE. O embrutecimento da ao
policial ainda apoiado por uma parcela da sociedade civil que defende o
autoritarismo como panacia contra a violncia. Uma cadeia de interesses
ilcitos move uma economia subterrnea que se nutre de uma modernidade
excludente, alm de contar com a conivncia ou omisso de agentes estatais. A
barbrie cotidiana representada pelo desmantelamento do Poder Publico
expondo visceralmente uma profunda crise do Estado impregnada de uma
violncia endgena na sociedade e a ampliao da excluso social geratriz de
centenas de mortes anuais por armas de fogo que atingem com mais rigor
jovens pobres das reas de risco.
Palavras-chave: violncia, polticas pblicas, BOPE, barbrie, Rio de Janeiro.
1
Mestrando em Cincias Sociais do Programa de Ps-Graduao da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus
de Marlia. Endereo eletrnico: wfmenezes@uol.com.br
Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010 Revista LEVS/Unesp-Marlia
29
1. Introduo
ual o limite entre a civilizao
e a barbrie? O Brasil das
desigualdades enraizadas,
imerso nos rinces mais inspitos
dos centros econmicos convive
com a proliferao das favelas
jogadas sua prpria sorte. A
estimativa da Organizao das
Naes Unidas (ONU) de que, em
2020, haver cerca de 1,4 bilho de
pessoas morando em favelas em
todo o mundo, das quais 162
milhes na Amrica Latina e no
Caribe (as reas mais alarmantes se
encontram na regio da frica
Subsaariana). Segundo a Agncia
Brasil, o Brasil conquista atualmente
uma liderana negativa no ranking
habitacional da precariedade onde
cerca de 52,3 milhes residem em
favelas. [...] Cerca de 90% do dficit
habitacional brasileiro, estimado em
7 milhes de moradias est
concentrado na populao que
recebe at trs salrios mnimos por
ms (AGNCIA BRASIL, 2006).
O fenmeno brasileiro da
favelizao tem origem no final do
sculo XIX. Durante a primeira
dcada do sculo XX, as favelas
comeam a se desenvolver
principalmente depois da abolio
da escravatura e cujo processo foi
deflagrado sem nenhuma integrao
socioeconmica dos escravos
libertados. alto o grau de
impreciso sobre o nmero exato de
favelas no Rio de Janeiro, incluindo-
se neste quesito a prpria
indefinio consensual do conceito
de favela. Em 2003, a UN-Habitat
produziu o mais recente relatrio
global sobre assentamentos
humanos: The Challenger of
Slums e classificou o termo ingls
slums para o caso brasileiro em
quarto tipos de assentamentos como
sendo favela, loteamento, invases e
cortios.
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica (IBGE)
contabilizou dados de 518 favelas
enquanto o Instituto Pereira Passos
(IPP), rgo da Prefeitura do Rio de
Janeiro, trabalha com um nmero ao
redor de 750. Terror, sangue e
trfico so os componentes
explosivos que encarceram milhares
de brasileiros sitiados dentro de
nichos de sua prpria nao. No
possvel generalizar pejorativamente
as favelas brasileiras, em particular
os morros fluminenses, apenas
como um refgio exclusivo de
criminosos. Apesar de esforos de
algumas Organizaes No-
Governamentais (ONGs) para
minimizarem o espao de segregao
e excluso social, em muitos
aspectos, as favelas continuam sendo
um reduto deletrio da vida social de
milhares de brasileiros sem abrigo
no asfalto, imerso em uma guerra
sem fim e minguadas esperana no
futuro.
Hoje, a violncia urbana
uma enfermidade coletiva que
merece ser tratada como epidemia
social das mais alarmantes. A disputa
pelo controle e gerenciamento dos
pontos de drogas so um dos
principais focos de conflitos blicos
violentos no interior das favelas.
Estima-se que a participao nos
negcios ilcitos das drogas tenha
Q
Revista LEVS/Unesp-Marlia Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010
30
atingido a cifra de 400 bilhes de
dlares, o que corresponde a 8% do
comrcio internacional, maior do
que a parte que cabe ao setor de
veculos e ao ferro e ao; igual dos
setores de petrleo, txtil e de
turismo (ZALUAR, 1998, p. 257).
Segundo GOMIDE (2008) a
respeito da violncia no Rio de
Janeiro, em 2007, 151 PMs foram
assassinados no Estado, um a cada
2,5 dias. As polcias do Rio mataram
1.330 pessoas (recorde histrico),
mdia de 3,64 por dia. Para a
anlise de SOARES (2000), calcula-
se que nos anos 90, o trfico tenha
produzido cerca de 20 mil vtimas,
em sua maioria jovens, pobres, e
no-brancos, na cidade do Rio de
Janeiro. A razo desse morticnio
estaria associada s disputas entre
quadrilhas por controle territorial e
comercializao de drogas e armas.
Para o presente trabalho, a
subterrnea guerra civil do Rio de
Janeiro merece o particular destaque.
2. Quem poupa o lobo,
sacrifica a ovelha
O filme Tropa de Elite
(2007), dirigido por Jos Padilha,
pode ser visto como um esboo
cinematogrfico da guerra civil
travada nos morros no Rio de
Janeiro. Sem retoques e com muita
acidez, o drama focaliza a violncia
da "Cidade Maravilhosa" solapada
pelas rajadas de metralhadoras a
partir da viso de um agente do
BOPE, Batalho de Operaes
Policiais Especiais do Rio de Janeiro.
Em tese, o BOPE um batalho
pertencente ao conjunto da Polcia
Militar, mas na prtica, um
destacamento autnomo, ou seja, a
tropa de elite, responsvel pelas
operaes de alto risco as quais a
polcia convencional no consegue
resolver. No filme, Padilha busca
traar um retrato do cotidiano da
polcia, como sendo um trabalho
que mistura certo herosmo,
corrupo, assassinato e tortura.
No existe uma clara
definio entre onde comea a
fico e termina a realidade, ou vice-
versa. A degradao social nos
morros fluminenses um misto
trgico entre a fantasia e realidade
to caracterstica dos espetculos
promovidos pelo carnaval: a
alegrica festa do povo. Dos
pilares autoritrios a uma frgil
democracia brasileira, a nica
certeza visvel na sociedade
extermnio de centenas de pessoas
anualmente, atingindo de forma
intensa e desproporcional os jovens
do sexo masculino, moradores das
reas carentes das grandes cidades e
regies metropolitanas
(USP/NEVUSP, 2007, p. 13).
Tanto no filme de Padilha
quanto nos noticirios das diferentes
mdias que cobrem a violncia
fluminense, o clima presente de
uma guerra declarada entre policiais
e traficantes, os chamados
comandos, cuja paz sempre
instvel entre os dois lados movida
corrupo. A rigor, no existem
heris ou bandidos na apocalptica
guerra travada pelos pontos de
drogas no Rio de Janeiro, onde os
cdigos babilnicos soam muito
mais altos que os cdigos jurdicos
Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010 Revista LEVS/Unesp-Marlia
31
do Estado de Direito: olho por
olho ou chumbo por chumbo,
assim que se forma a gnese da
barbrie cotidiana presente nos
morros fluminenses.
"Ningum ser submetido
tortura, nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante" o
que destaca o artigo V da
Declarao Universal dos Direitos
Humanos de 10 de dezembro de
1948. Para a grande parte das
polcias imbudas de um esprito
autoritrio, tal artigo no passa de
uma grande "bobagem proferida
pelos defensores dos Direitos
Humanos. A tortura, coao e
humilhao da vtima so os
mtodos usuais praticados tanto do
lado dos agentes policiais quanto dos
traficantes. Em sites como o
YouTube possvel encontrar vdeos
caseiros de apologia ao trabalho do
BOPE. Os vdeos, sem uma clara
identificao de seus autores, so
sempre regados a muita violncia
explcita e ostentao de fartos
armamentos de alto poder de
destruio e, quase sempre,
exclusivos das foras armadas. A
parbola atribuda a Victor Hugo,
"quem poupa o lobo, sacrifica a
ovelha" constante nos vdeos
divulgados. Um surreal marketing de
uma guerra particular onde alguns
"admiradores" da represso policial
procuram fazer deliberadamente
uma demonstrao de fora tal
como s faces do crime
organizado costumam se ostentarem
na rede mundial de computadores.
atribuda aos homens do
BOPE realizar o trabalho herico
de subida dos morros, apreenso de
drogas, armas e desmantelamento de
quadrilhas de traficantes enquanto
que a polcia convencional
formada por militares e civis um
modelo falido que no garante mais
o controle da ordem pblica. Na
guerra contra os bandidos os
Rambos de preto uniformizados e
tropicalizados combatem em nome
de uma suposta manuteno da
ordem. Um destaque para o
emblema do BOPE uma caveira
empalada numa espada sobre duas
pistolas douradas que caracteriza
uma mensagem forte e inequvoca: o
emblema simboliza o combate
armado, a guerra e a morte
(JUSTIA GLOBAL BRASIL,
2006). Na prtica seus mtodos so
o que restam de poder do Estado
para buscar combater o trfico e
salvar a sociedade dos bandidos.
Nos treinamentos, tanto no
filme como nos vdeos divulgados
na internet, enquanto fazem uma
srie de exerccios fsicos e tcnicos,
os candidatos a ingressarem no
BOPE entoam alienadamente hinos
da tropa que traduzem em marcha o
esprito do grupo: "Homem de
preto, qual sua misso? Entrar pela
favela e deixar corpo no cho.
Homem de preto, o que que voc
faz? Eu fao coisas que assustam o
satans!". A construo do carter de
um soldado em modelos de polticas
autoritrias o primeiro
mecanismo de fuga da liberdade [...]
a tendncia para renunciar
independncia do prprio ego
individual e fundi-lo com algum ou
algo, no mundo exterior, a fim de
adquirir a fora de que o ego
individual carece (FROMM, 1981,
Revista LEVS/Unesp-Marlia Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010
32
p. 118). Nos exerccios de
treinamento das tropas possvel
perceber que a caracterstica da
marcha do BOPE uma dessas
cantigas de ninar perversas em que o
lobo mau est claramente indicado:
o favelado que, um verso depois,
inexplicavelmente, se transforma em
bandido (MENEGAT, 2006, p.
108). Logo, as polticas pblicas de
segurana regem a falsa premissa de
que para combater a criminalidade
preciso mais fora derivada da
represso policial. importante
salientar a virulncia do poder de
fogo e agressividade do Estado
atravs de seus agentes repressivos
contra as comunidades carentes dos
morros e bairros depauperados do
Rio de Janeiro.
Uma caracterstica peculiar do
BOPE so os carros blindados que
sobem os morros e resistentes at
mesmo a tiros de fuzil AR-15. O
veculo blindado
convencionalmente chamado de
"Pacificador", mas mais conhecido
pela populao do morro como
"Caveiro". Segundo a Polcia
Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMERJ) o veculo tem como
funo romper barreiras fsicas
impostas pelos traficantes em seus
"territrios", sendo ainda utilizado
no resgate de feridos em confrontos.
Entretanto, a chegada do Caveiro
no morro um sinal de desespero
para a populao uma vez que a
polcia faz ameaas psicolgicas e
fsicas aos moradores, com o intuito
de intimidar as comunidades como
um todo (JUSTIA GLOBAL
BRASIL, 2007).
A linguagem tratada pelos
auto-falantes na parte externa dos
carros blindados que anuncia a
chegada da poltica ecoada em um
ritmo que beira uma inverossmil
procisso. No entanto, parece no
pairar dvidas a respeito da tarefa
dessa polcia descontrolada: subir o
morro para impor o medo,
intimidao, coero, tortura e atirar
quem se encontra pela frente
fazendo justia no meio da rua:
Crianas, saiam da rua, vai
haver tiroteio ou de forma
mais ameaadora: Se voc
deve, eu vou pegar a sua
alma. Quando o caveiro
se aproxima de algum na
rua, a polcia grita pelo
megafone: Ei, voc a!
Voc suspeito. Ande bem
devagar, levante a blusa,
vire... agora pode ir... [...] A
polcia tem o direito
legtimo de se proteger
enquanto trabalha. Mas
tambm tem o dever de
proteger as comunidades
que est servindo. O
policiamento agressivo tem
resultado em grande
sofrimento para as
comunidades pobres do
Rio, bem como sua perda
de confiana na capacidade
do estado de manter e
garantir a segurana
(JUSTIA GLOBAL
BRASIL, 2007).
Com o esfacelamento da
chamada polcia convencional
permitiu o surgimento das chamadas
milcias, ou seja, um segmento de
policiais provenientes da chamada
banda podre que ao expulsarem
Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010 Revista LEVS/Unesp-Marlia
33
os traficantes dos morros, cometem
crimes ao ocupar comercialmente
os vazios deixados pelo trfico, alm
de praticarem uma srie de servios
ilegais de segurana privada e outras
contravenes (SOARES, 2007). O
surgimento das milcias no so
inovaes dentro da barbrie
fluminense, mas uma atualizao dos
grupos de extermnio que mudaram
apenas de nome e encobrem os
crimes praticados por policiais, que
passam a controlar o poder poltico
e econmico nas favelas,
substituindo as faces criminosas
(ALVES, 2007, p. 39).
possvel encontrar pelo
menos uma trade de atores visveis
no universo violento dos morros
fluminenses: traficantes a margem da
lei com tticas de guerrilha; milcias
com distintivos de policiais
corruptos cuja representao
simblica o fracasso do modelo da
poltica de segurana pblica; e a
ao do BOPE como agente de
ltima instncia do monoplio
estatal da violncia ocupando
morros com brutal agressividade
para matar com eficincia e
dignidade. Diante da platia se
esquivando das balas perdidas de
um imenso cenrio ao ar livre est
todo o conjunto da sociedade e, em
particular, os moradores das reas
mais precrias do Estado
fluminense. Segundo dados do
Instituto de Segurana Pblica do
Rio de Janeiro, os registros de
ocorrncia mencionaram 224 vtimas
por bala perdida no ano de 2006.
Sendo 19 fatais e 205 no fatais. Do
total de 6323 homicdios dolosos
ocorridos no ano de 2006 no Rio de
Janeiro, 71,8% foram produzidos
com o emprego de arma de fogo
(MIRANDA et al., 2007).
3. A falncia do poder pblico
e a canibalizao da
barbrie
A oferta e demanda so as
premissas bsicas da economia de
qualquer negcio dentro do mundo
capitalista e no bilionrio comrcio
regido pelo narcotrfico no
diferente. No asfalto, as classes
abastadas dos bairros ditos como
nobres so os principais mercados
consumidores de todo e qualquer
sortilgio de drogas. Certamente,
no apenas o dinheiro da burguesia
fluminense que injeta violncia para
dentro e fora dos morros, mas uma
cultura permanente de corrupo e
impunidade onde o jeitinho
brasileiro escancaradamente
praticado. Neste nterim de
crescente complexidade da
estratificao da sociedade que
assume uma dinmica particular, a
omisso do Poder Pblico,
galvanizada uma canibalizao da
violncia, ou seja, um modelo que
tornam endgenas as prticas
violentas dentro da estrutura social
fluminense. Alm da promoo de
uma cadeia de interesses econmicos
privados ilcitos que envolvem desde
policiais a polticos e juzes, o
extermnio dirio de pobres na
guerra civil cada vez menos velada
ainda soa indiferente para grande
parte da civilizada sociedade.
Desta maneira, o fato que a
matana de pobres e favelados, na
maioria negros, moradores de
Revista LEVS/Unesp-Marlia Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010
34
periferia sem acesso educao e
sade, beneficiou e vem
beneficiando, ao longo do tempo,
vrios grupos sociais, econmicos e
polticos do Rio de Janeiro
(ALVES, 2007, p. 39).
Uma carnificina produzida a
cada investida policial nos morros
fluminenses um ttrico espetculo
da violncia no seu estgio mais
primitivo. Os relatos da mdia
atravs de notcias e imagens
correntes em jornais, revistas e
noticirios televisivos apenas
mostram uma parte mais visvel da
guerra urbana e muito soterrado
pelas estatsticas difusas e
corporativismo das polticas de
segurana (Ver Tabelas 1 e 2).
Violncia no Rio de Janeiro:
Polcia do Estado a que mais mata
e mais morre no pas
Variao anual de mortes
no Rio de Janeiro
Em
2006
Em
2007
Variao
Homicdios
dolosos
6323 6133 - 3%
Resistncia
com morte
do opositor
1063 1330 25%
Policiais
mortos
(civis e
militares)
122 151 24%
Policiais
mortos em
servio
29 32 10%
Policiais
mortos em
Folga
93 119 28%
Fonte: Instituto de Segurana Pblica
(ISP) e Folha de S. Paulo.
Tabela 1 - Quadro comparativo da
violncia do Rio de Janeiro entre os
anos 2006 e 2007.
Comparao do nmero de
mortos (civis e militares) do Rio
de Janeiro com outros Estados
(2007)
Civis
mortos
em
confronto
com a
polcia
Policiais
mortos
Rio de
Janeiro
1330 151
So Paulo 401 83 (2)
Minas Gerais 37 (1) 11 (3)
Pernambuco 21 26
(1) De janeiro a junho; no ano de
2006, 50; (2) No inclui policiais
civis mortos em folga; (3) De
janeiro a junho, incluindo
bombeiros; 2006, foram 23.
Fonte: Instituto de Segurana Pblica
(ISP) e Folha de S. Paulo.
Tabela 2 Quadro comparativo
com nmeros de mortes (civis e
policiais) do Rio de Janeiro com
outros Estados da federao
brasileira (2007).
Observando a Tabela 1, os
nmeros mostram cifras de uma
verdadeira guerra civil, ou melhor,
guerra ao trfico, como as
autoridades pblicas fluminenses
preferem rotular. No Rio de Janeiro,
somente entre estes dois anos de
comparao, os nmeros oficiais
mostram que houve 12456 casos de
homicdios dolosos. muito
Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010 Revista LEVS/Unesp-Marlia
35
provvel que tais nmeros estejam
subestimados devido
subnotificao de registros por
armas de fogo, omisses e falhas
neste processo contbil.
A partir da Tabela 2, e
verificando o nmero oficial de civis
mortos em confrontos com a
polcia, importante fazer uma
breve comparao do Estado do Rio
de Janeiro com outros dois Estados
de suma importncia para a
economia brasileira, So Paulo e
Minas Gerais. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica (IBGE), em 2005, com
uma populao estimada em
15.383.407 de habitantes no Estado
do Rio de Janeiro, ocorreram em
2007 mais que o triplo de mortos em
confronto com a polcia em
comparao ao Estado de So Paulo
com quase trs vezes mais o nmero
de habitantes (segundo estimativa do
IBGE, em 2005, o Estado de So
Paulo tinha uma cifra de 40.442.795
de habitantes) e cerca de trinta e
cinco vezes maiores do que o
Estado de Minas Gerais (com uma
populao estimada de 19.237.450,
em 2005)! Enquanto o nmero de
policiais mortos no Rio de Janeiro
superior a 1,8 vezes o nmero dos
colegas paulistas e 13,7 vezes o
nmero dos colegas mineiros. Logo,
e antemo, possvel afirmar que a
polcia do Rio de Janeiro a que
mais mata e mais morre no Brasil.
A precariedade da polcia
militar do Rio de Janeiro, em geral,
possui condies deletrias. Mal
equipada, mal treinada, mal
remunerada, mal treinada e culmina
num despreparo para enfrentar
situaes de emergncia nas ruas. O
resultado a exploso ainda mais
acentuada de violncia e corrupo
endgena do aparelho segurana
pblica. O salrio mensal bruto
mdio de um policial militar no Rio
de Janeiro de R$ 909,49 (cerca de
350 euros), dados do primeiro
semestre de 2008 (GOMIDE, 2008).
O piso nacional do salrio mnimo
mensal brasileiro referente ao ms
de maro de 2008 era de R$ 415,00
(pouco mais de 160 euros). Talvez
seja necessrio acrescentar uma
pergunta indigesta: possvel um
policial nestas condies no se
corromper ou ser deixar levar pelas
variadas situaes quer permeia o
universo da corrupo? No se
busca aqui justificar os esquemas de
corrosiva corrupo endmica do
aparato policial do Rio de Janeiro,
mas buscar entender suas possveis
origens. O clima de tenso dos
policiais na guerra permanente
dentro dos quartis pode ser
sintetizado numa passagem da
reportagem do jornal paulista Folha
de S. Paulo:
Se no diminuir a margem
de risco, pode no voltar
para casa. O Rio o Estado
mais perigoso do Brasil, no
tem jeito. o nico em
guerra. Se no estiver bem
preparado, vai cair", diz um
aspirante. "Arma sempre
apontada. grosseiro? Pode
ser. Mas quem senta a
bunda na viatura 12 horas
correndo risco o PM. Sem
deixar de ser corts, mas vai
arriscar sua carcaa de
madrugada? O Rio no
Revista LEVS/Unesp-Marlia Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010
36
Minas Gerais", diz outro
(GOMIDE, 2008).
O paradoxo desse sistema de
execuo permanente de pessoas a
exausto contida quando existe um
pacto selado pela propina que
muitos policiais civis e militares (a
chamada "banda podre") recebem
do trfico, o "arrego", selando
inescrupulosamente a conivncia do
Poder Pblico e todo o arsenal de
contravenes que o dinheiro das
drogas pode corromper. Alm dos
vastssimos lucros provenientes do
trfico de drogas e seus derivados, a
"banda podre" das polcias tambm
mantm seus negcios em outros
segmentos num lucrativo comrcio
que combina desde explorao de
bailes funk e seus proibides ao
roubo de carga, passando pelo jogo
do bicho e seqestros. Praticamente,
em todos os ramos do crime
organizado, h necessariamente a
conivncia e participao de policiais
de forma direta ou indiretamente.
A pssima remunerao e as
condies de trabalho dos agentes
policiais so mais um grande atrativo
para que a propina e o negcio ilcito
possam ser mais cativantes do que
seu trabalho de agente pblico.
Dessa maneira, o caminho do agente
policial se encontra em um labirinto
restando poucas sadas que no
sejam a prtica da corrupo, a
omisso ou o uso deliberado da
truculncia. A complexidade do caos
social no exclusividade do Rio de
Janeiro, porm neste Estado que
ocorre uma visceral e latente
corroso do Poder Pblico. Diante
do quadro da guerra de todos
contra todos no mago de uma
sociedade:
A violncia urbana subverte
e desvirtua a funo das
cidades, drena recursos
pblicos j escassos, ceifa
vidas - especialmente as dos
jovens e dos mais pobres -,
dilacera famlias,
modificando nossas
existncias dramaticamente
para pior. De potenciais
cidados, passamos a ser
consumidores do medo
(PINHEIROS et al., 2007).
O maremoto de violncia no
poupa ningum e captura cada vez
mais jovens e crianas para as fileiras
do narcotrfico. Traficantes cada vez
mais jovens e violentos dominam as
"bocas de fumo" com uso de arsenal
cada vez mais pesado com alto
poder de fogo. No entanto,
nenhuma novidade que no seja de
conhecimento pblico. A cultura da
barbrie predomina quando mescla
indecifravelmente o permitido e o
ilcito. Num mundo batizado pela
barbrie, a tica a primeira vtima
de bala perdida. Crianas que
empunham fuzis e protegem guetos
do comrcio de drogas um dos
bizarros espetculos que o Estado
brasileiro proporciona ao mundo.
Que futuro existe para um jovem
pobre sem perspectiva de futuro e
que busca em vo se equilibrar entre
a violncia dos "comandos" e da
polcia?
Como em qualquer conflito
blico de grandes propores, a
guerra civil no Rio de Janeiro vem
contabilizando saldos de mortos que
Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010 Revista LEVS/Unesp-Marlia
37
batem recordes silenciosos de
violncia explicita. Diante da falncia
do Estado de Direito, a guerra
inevitvel. Ademais, para a crescente
militarizao em clima de guerra das
aes policiais em detrimento aos
projetos de incluso e socializao
da riqueza que deveria ser produzida
pelo Estado, existe o apoio
voluntrio de parcelas significativas
da sociedade civil que so
arregimentadas por um carter
autoritrio e aderente aos programas
de violncia gratuita promovida pelo
Poder Pblico em nome dos que so
considerados cidados de bem
(MIRANDA et al., 2007). Para essa
parcela da sociedade civil com
influncia poltica e econmica
dentro da sociedade, o auto-interesse
egosta, a preservao e ampliao
do patrimnio e a indiferena que se
mescla com a alienao perante os
profundos problemas sociais
empurram a democracia e a
liberdade para um campo de
interesse promscuo e que flerta
insistentemente para um
autoritarismo violento a conduo
dos rumos do Estado.
Nas razes autoritrias das
fundaes do Estado brasileiro, uma
suposta eficincia estatal poderia ser
um empecilho para uma parcela de
interesses econmicos e
corporativos de grupos hegemnicos
de poder. Quem interessaria uma
polcia que tivesse a primazia da
eficincia e isenta das prticas
corruptas, alm de toda uma
eficiente estrutura poltica, social e
jurdica que dariam suporte ao
Estado brasileiro? fundamental a
reflexo sobre a natureza de nossa
sociedade e as implicaes dela para
a construo do Estado. A este
respeito, Roberto Damatta faz uma
distino entre o indivduo e a
pessoa: O resultado um sistema
social dividido e at mesmo
equilibrado entre duas unidades
sociais bsicas: o indivduo (o sujeito
das leis universais que modernizam a
sociedade) e a pessoa (o sujeito das
relaes sociais que conduz ao plo
tradicional do sistema)
(DAMATTA, 1994, p. 96-97).
A barbrie se configura numa
sociedade altamente estratificada e
individualista, onde o poder de
coeso poltico-social a
manuteno de uma estrutura
desagregadora e violenta. Dessa
maneira, o aparato policial cumpre
sua misso de conter as possveis
insatisfaes dos moradores dentro
dos morros e assim solapar qualquer
tentativa de revoluo social. A
guerra civil uma batalha
intermitente muito mais pelo
controle comercial das atividades
ilcitas do que qualquer esboo de
insatisfao social. A raiz
revolucionria possvel dentro das
comunidades dos morros
sintonizados num mar de antenas de
televiso e parablicas deixada de
lado para dar vazo ao estado
permanente de consumo. No
capitalismo, o seu mecanismo de
explorao e sua ideologia do
mercado ultrapassam as barreiras
sociais e colocam vis--vis pobres e
ricos como potenciais consumidores
de evidente assimetria ilusria. A
esse respeito, BORON (2004)
descreve que no capitalismo os
mecanismos de explorao se
Revista LEVS/Unesp-Marlia Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010
38
encontram muito mais aperfeioados
que em qualquer outro regime social
se infere, e a conseqncia se
evidncia com a impossibilidade de
elaborar uma sociedade justa ai
aonde precisamente a explorao
chegou a seu maior refinamento
histrico (BORON, 2004, p. 154).
4. Imperialismo brando e a
desarticulao da
sociedade sob a gide da
modernizao excludente
As privatizaes das aes
sociais retratam a desarticulao e
enfraquecimento do Estado sob os
auspcios das polticas neoliberais e
enfraquecimento das prticas e aes
dos grupos de esquerda. No vcuo
da ausncia de uma teia de proteo
social do Estado, foi se erguendo
um arquiplago de organizaes
no-governamentais (ONGs) cuja
idoneidade de difcil aferio,
invadiram os morros em supostas
prticas humanitrias. Sempre com o
olhar atento do chefe do trfico da
regio, em teoria, essas ONGs
procuram fazer o trabalho social que
o Estado deveria fazer e
decididamente renunciou ao seu
dever. Existe uma estreita correlao
entre ONGs internacionalizadas no
Terceiro Mundo, privatizao dos
servios pblicos e os emprstimos
do Banco Mundial. Em sua rpida
passagem pelo Banco Mundial, o
Prmio Nobel de Economia, Joseph
Stiglitz, chamou de ps-Consenso
de Washington essas estreitas
relaes de supostos grupos de ajuda
humanitria e interesses de
corporaes financeiras. Tais
prticas tambm foram
denominadas como imperialismo
brando (DAVIS, 2006, p. 83-90).
A pobreza no gera
necessariamente violncia, mas
degradao. A luta irracional pela
sobrevivncia transforma homens,
mulheres, adolescentes e at mesmo
crianas em canibais na insana
guerra de todos contra todos e
abenoada pela corrupo de
policiais e polticos. A indiferena, a
inrcia e a incompetncia poltica
aliada visceralmente com a
impunidade e a corrupo de
diversas esferas do Poder Pblico
reproduzem dramaticamente toda a
hecatombe social parido pela juno
catastrfica da misria com a
violncia. O resultado a inevitvel
luta pela sobrevivncia do mais
srdido darwinismo social. Segundo
IANNI (2000), as chamadas elites
dominantes patrocinam
incessantemente a construo de
concentrao de poder scio-
econmico e produzindo no Estado
brasileiro uma assimtrica
modernizao excludente de
alguns nichos de interesse aliando-se
com uma brutal estrutura de
excluso:
As "elites" dominantes,
compreendendo
empresariais, militares,
intelectuais e do alto clero
revelam-se com escasso ou
nulo compromisso com a
nao, o povo, a sociedade.
[...] Esto inclinados a
associarem-se com os
monoplios, trustes, cartis,
corporaes,
conglomerados; e inclinados
Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010 Revista LEVS/Unesp-Marlia
39
a considerar o pas, a
sociedade nacional e o povo
como territrio de negcios,
pastagem de lucro, ganhos
(IANNI, 2000, p. 56).
O Rio de Janeiro no a
nica ilha monopolizadora do medo
coletivo. importante ressaltar a
respeito das polticas militarizadas
impostas globalmente pelos Estados
Unidos em nome de sua particular
guerra contra o terror provocaram
mundialmente um clima de tenso e
medo que se acentuou aps os
atentados terroristas em solo
estadunidense em 2001. Nos
grandes e mdios centros
econmicos pelo Brasil, a sociedade
acuada pelo medo da violncia
produz um nicho cada vez mais
lucrativo: a indstria do medo. O
patrocnio da segurana somente
possvel pela promoo indistinta da
insegurana. A ttulo de exemplo, j
se cogitou a proposta de fazer um
batalho especial de policiais
privados para atender
exclusivamente as ocorrncias de
roubos de automveis. Somente
para a disseminao do medo,
seguros, equipamentos de vigilncia
e polcia privada torna-se um nicho
comercial com grande utilidade e
longe das intempries de crises
econmicas. A partir dessa
disseminao do medo, angstia e
insegurana, a vigilncia torna-se
um operador econmico decisivo,
na medida em que ao mesmo
tempo uma pea interna no aparelho
de produo e uma engrenagem
especfica do poder disciplinar
(FOUCAULT, 2007: 147).
A ideologia neoliberal
disseminada amplamente na
sociedade cultiva um arraigado
individualismo e o consumismo
desenfreado. Tudo e todos so
transformados em permanentes
mercadorias e cabe ao consumidor
se digladiar dentro das relaes
sociais para o acmulo de seus bens.
A droga uma mercadoria que ao
mesmo tempo promete saciar a
suposta sensao de liberdade do
indivduo e encarcera o usurio a
dispor de mais dinheiro para adquirir
mais mercadoria alucingena. O
sedutor mercado das drogas no
encontra crise ou obstculos
substanciais para crescer e prosperar
quase sem limites.
Portanto, o espao pblico
ocupado pelo teatro de operaes de
uma guerra permanente pelo
controle e distribuio de drogas
para seus potenciais consumidores.
Um lucrativo comrcio onde um
nico quilo de p se multiplica
velozmente sua reproduo e
tambm seus lucros. Nas redes de
comandos desta verdadeira indstria,
onde o dinheiro fcil e a propina so
componentes fundamentais para
alimentarem as contas bancrias de
uma mirade de grupos de interesses,
se encontram policiais, advogados,
juzes e polticos. Para a populao
que se encontra a margem do
processo intestinal desta economia
subterrnea resta somente arcar com
a exploso secundria de violncia.
Secundria por um motivo
estritamente comercial: o livre
comrcio no deseja interrupes ou
bloqueios de nenhuma natureza. A
violncia impregnada dentro e fora
Revista LEVS/Unesp-Marlia Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010
40
das favelas a manifestao do
desequilbrio da cadeia de interesses
e se transforma no conflito pelo
territrio das disputas comerciais.
Sinaliza ADORNO (1993) na guerra
fratricida travada entre civilizao e
barbrie:
A violncia na qual se baseia
a civilizao significa a
perseguio de todos por
todos, e o manaco de
perseguio s se pe em
desvantagem na medida em
que atribui ao prximo o
que perpetuado pelo todo,
numa tentativa desamparada
de tornar comensurvel a
incomensurabilidade. [...] O
horror est alm do alcance
da psicologia (ADORNO,
1993, p. 143-144).
Na viso de MENEGAT
(2006), a barbrie nos coloca diante
da questo de que nenhuma
dimenso utpica pode ser reduzida
a uma positividade unilateral, mas
que, tambm, nenhuma utopia pode
prescindir dos laos do mnimo
divisor comum das suas promessas a
partir do presente e seus limites da
prxis. Num mundo marcado pelo
permanente estado de barbrie, no
existe mais a distino entre
liberdade e crcere, todos so
cooptados pelo medo permanente
de uns contra os outros. O coletivo
cede espao para solues
individualistas totalmente incuas e
que fazem fomentar cada vez mais o
estado de agressividade e violncia
social.
5. Consideraes finais
No caso particular do Rio de
Janeiro, o combate efetivo ao
narcotrfico ao estilo de uma
cruzada messinica no produzir
nenhum efeito se for to somente
uma tarefa baseada na testosterona e
na violncia dos seus agentes
repressivos. Da violncia explicita
somente repercutir mais violncia
gratuita e generalizada.
Para uma viso mais
abrangente do problema,
imperativo um amplo conjunto de
aes que passa necessariamente
pela descriminalizao das
populaes dos morros e a
ampliao substancial do suporte
social do Estado. Os modelos
autoritrios de polticas pblicas
apenas agravaram os problemas j
existentes: a poltica criminal de
drogas imposta pelos Estados
Unidos, assim como a econmica,
o maior vetor de criminalizao
seletiva nas periferias brasileiras: a
priso parece ser o principal projeto
para a juventude popular
(BATISTA, 2006). Sem um projeto
alternativo de ocupao scio-
educacional dos morros aliada a
uma ampla poltica de gerao de
empregos atrelada ao
desenvolvimento econmico e
urbano, dificilmente as favelas
deixaro de ser uma terra de
ningum livre para a ocupao por
traficantes. Existem alguns projetos
bem sucedidos de ONGs em favelas
fluminenses, mas insuficientes para
resolver a magnitude e complexidade
que a questo necessita.
Para alguns setores da
Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010 Revista LEVS/Unesp-Marlia
41
sociedade que se postulam como
democrticos, mas que flertam o
autoritarismo com cores fascistas,
importante ressaltar que no ser
exterminando os moradores pobres
de ruas, guetos ou favelas que se
eliminar a pobreza e tampouco a
violncia. No a pobreza
responsvel pela criminalidade e o
narcotrfico. justamente o inverso:
o comrcio de armas e drogas se
alimenta de maneira parasitria do
descalabro social e da pobreza
atvica das camadas mais frgeis da
sociedade. Ignorar o drama de
imensos contingentes populacionais
que vivem torturados sobre a mira
de metralhadoras no meio da guerra
civil fluminense fechar os olhos
para o futuro da semidemocracia
brasileira. E acima de tudo,
convidar a barbrie a se perpetuar
nas estruturas sociais desse pas.
6. Referncias Bibliogrficas
ADORNO, Theodor W. Minima
Moralia, So Paulo, tica,
1993.
AGNCIA BRASIL (2007).
Disponvel em:
http://www.agenciabrasil.gov
.br/noticias/2006/11/13/mat
eria.2006-11-
13.3241539909/view. Acesso
em: 07 de setembro de 2007].
ALVES, J. C. S., Assassinos no
poder, Revista de Histria da
Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro, Biblioteca Nacional,
2007.
BATISTA, V. M., A questo
criminal no Brasil
contemporneo, Margem
Esquerda, no. 8, pp. 37-41, So
Paulo, Boitempo, 2006.
BORON, Atlio A. Justia sem
capitalismo, capitalismo sem
justia, In: De VITA, . e
BORON, A. A. (orgs). Teoria
e Filosofia Poltica: a recuperao
dos clssicos no debate latino-
americano. So Paulo: Editora
da Universidade de So Paulo,
Buenos Aires, Clacso, 2004.
DAVIS, Mike (2006), Planeta Favela,
So Paulo, Boitempo, 2006.
FOUCAULT, Michel (2007), Vigiar
e Punir: nascimento da priso, So
Paulo, Vozes.
FROMM, Erich (1981), O medo
liberdade, Rio de Janeiro, Zahar
Editores.
GOMIDE, Raphael (2008). PM por
dentro. Folha de So Paulo,
Caderno Mais!, So Paulo, 18
de maio de 2008. Disponvel
em:
http://www1.folha.uol.com.b
r/fsp/mais/fs1805200805.ht
m. Acesso: 18 de maio de
2008.
IANNI, O. O declnio do Brasil-
nao, Estudos Avanados, So
Paulo, v. 14, n. 40, 2000.
Disponvel em:
http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_arttext&pid=S0
103-
40142000000300006&lng=en
&nrm=iso. Acesso: 05 de
outubro de 2007.
INSTITUTO BRASILEIRO DE
Revista LEVS/Unesp-Marlia Ano 2010 - Edio 6 Nmero 06 Dezembro/2010
42
GEOGRAFIA E
ESTATSTICA (IBGE)
(2005), Unidades da Federao.
Disponvel em:
http://www.ibge.gov.br/esta
dosat/index.php. Acesso em:
18 de maio de 2008.
JUSTIA GLOBAL BRASIL
(2007). Disponvel em:
http://www.global.org.br.
Acesso em: 07 setembro de
2007.
MENEGAT, Marildo (2006). O olho
da barbrie. So Paulo,
Expresso Popular.
MIRANDA, Ana Paula Mendes de;
OLIVEIRA, Joo Batista
Porto de & SILVA, Leonardo
de Carvalho (2007). Bala
Perdida. Rio de Janeiro, ISP,
2007. Disponvel em:
www.isp.rj.gov.br, Acesso: 03
de outubro de 2007.
PINHEIRO, Paulo Srgio;
ALMEIDA, G. A. Violncia
Urbana, So Paulo, Publifolha,
2007.
SOARES, Luis Eduardo. Meu casaco
de general: 500 dias no front da
segurana pblica no Rio de
Janeiro. So Paulo, Companhia
das Letras, 2000.
______. Como nascem as milcias.
Disponvel em:
www.luizeduardosoares.org,
Acesso: 02 de outubro de
2007.
USP/NEVUSP. Terceiro Relatrio
Nacional sobre os Direitos
Humanos no Brasil, So Paulo,
2007.
UN-HABITAT. The Challenge of
Slums: Global Report on Human
Settlements, 2003.
ZALUAR, Alba. "Para no dizer que
no falei de samba, os enigmas da
violncia no Brasil", In:
SCHWARTZ, L. (org),
Histria da vida privada, vol. IV,
So Paulo, Companhia das
Letras, 1998, p. 245-318.
Revista do Laboratrio de
Estudos da Violncia da
UNESP-Marlia Ano 2010 - Edio 6 - Nmero 06 Dezembro/2010 ISSN 1983-2192
28
Você também pode gostar
- Técnicas Conduta Patrulha ECPLAR15-1Documento33 páginasTécnicas Conduta Patrulha ECPLAR15-1sidnei80% (5)
- Macetes de PenalDocumento20 páginasMacetes de PenalGilderlan LemosAinda não há avaliações
- Embargos de DeclaraçãoDocumento3 páginasEmbargos de DeclaraçãoRodrigo AntunesAinda não há avaliações
- STFXSTJ - Quadro ComparativoDocumento1 páginaSTFXSTJ - Quadro ComparativoTrinity1307100% (1)
- Mapa Da Peça - Penal - 2 R2Documento2 páginasMapa Da Peça - Penal - 2 R2denis100% (1)
- Temas Da Reforma Do Processo Civil 98Documento8 páginasTemas Da Reforma Do Processo Civil 98Cátia Vilas-BoasAinda não há avaliações
- Modelo de Reconhecimento de União EstávelDocumento4 páginasModelo de Reconhecimento de União EstávelDaniel Nunes da SilvaAinda não há avaliações
- Modelo de Recurso de ApelaçãoDocumento3 páginasModelo de Recurso de Apelaçãolucasfranca100% (1)
- 06 Citacao Postal Gmelo AC1-TC PDFDocumento9 páginas06 Citacao Postal Gmelo AC1-TC PDFTribunal de Contas do Estado da ParaíbaAinda não há avaliações
- For 098 Declaracao de Uniao Estavel Rev 01Documento1 páginaFor 098 Declaracao de Uniao Estavel Rev 01Ednardo Pedrosa100% (1)
- Genética Del HomicidaDocumento52 páginasGenética Del HomicidaCinthia Santa CruzAinda não há avaliações
- Slides Esa-Pi (2) Abuso de AutoridadeDocumento14 páginasSlides Esa-Pi (2) Abuso de AutoridadeJosé AlmeidaAinda não há avaliações
- 287 BrunoDeVasconcelosCardosoDocumento136 páginas287 BrunoDeVasconcelosCardosoJaime LimaAinda não há avaliações
- Telecom Net - Públicos - Publicação DOU - Ata de Julgamento - 19 Jun 2018Documento2 páginasTelecom Net - Públicos - Publicação DOU - Ata de Julgamento - 19 Jun 2018Gustavo KastrupAinda não há avaliações
- Ação de Enriquecimento Ilícito - Art. 884 Do Código CivilDocumento2 páginasAção de Enriquecimento Ilícito - Art. 884 Do Código CivilErnani LuzAinda não há avaliações
- GGIM GoiâniaDocumento3 páginasGGIM GoiâniaRobson MartinsAinda não há avaliações
- A Atividade Processual Do Curador Especial e A Defesa Do Revel Citado FictamenteDocumento6 páginasA Atividade Processual Do Curador Especial e A Defesa Do Revel Citado FictamenteRenata EustaquioAinda não há avaliações
- Apostila Teoria Das PenasDocumento35 páginasApostila Teoria Das PenasleilapinheiroAinda não há avaliações
- Classificacao Ap-1Documento4 páginasClassificacao Ap-1Lair MorissonAinda não há avaliações
- Orientacao Conjunta No 1.2018 PDFDocumento16 páginasOrientacao Conjunta No 1.2018 PDFHéctor IbáñezAinda não há avaliações
- Resolucao - 3524 - Atestado de Origem PMMG PDFDocumento25 páginasResolucao - 3524 - Atestado de Origem PMMG PDFDario moreiraAinda não há avaliações
- Diario Oficial 26 10 2012 WebDocumento12 páginasDiario Oficial 26 10 2012 WebmarciabispoAinda não há avaliações
- Fontes Constitucionais Do Processo CivilDocumento9 páginasFontes Constitucionais Do Processo CivilSilvio PellegriniAinda não há avaliações
- Modelo Recurso de Multa - Sob Influência de ÁlcoolDocumento3 páginasModelo Recurso de Multa - Sob Influência de ÁlcoolRenan MorenoAinda não há avaliações
- Apoio JudiciárioDocumento40 páginasApoio JudiciárioIsabel de AlmeidaAinda não há avaliações
- Dicionário Singular de Expressões LatinasDocumento64 páginasDicionário Singular de Expressões LatinasFabio TenorioAinda não há avaliações
- 7 Argumentos A Favor e Contra A Redução Da Maioridade PenalDocumento1 página7 Argumentos A Favor e Contra A Redução Da Maioridade Penalpatsilva2524Ainda não há avaliações
- Lei 13.964/19 - Pacote AnticrimeDocumento6 páginasLei 13.964/19 - Pacote AnticrimePaulo CesarAinda não há avaliações
- Lei 13316 - PCSDocumento7 páginasLei 13316 - PCSCleyton Nunes de OliveiraAinda não há avaliações