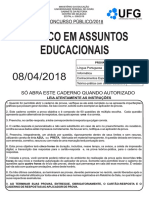Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Administracao TRE-CE 2012 Prof. Elisabete
Administracao TRE-CE 2012 Prof. Elisabete
Enviado por
Jaqueline FonsecaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Administracao TRE-CE 2012 Prof. Elisabete
Administracao TRE-CE 2012 Prof. Elisabete
Enviado por
Jaqueline FonsecaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ADMINISTRAO
PBLICA
TRE-CE - 2012
Elisabete Moreira
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
2
ADMINISTRAO PBLICA
O fracasso a oportunidade de comear de novo
inteligentemente
Henry Ford.
SUMRIO
1. Administrao pblica: modelo racional legal ao paradigma ps-burocrtico/ Estruturao da
mquina administrativa no Brasil desde 1930: dimenses estruturais e culturais.
2. Empreendedorismo Governamental e novas lideranas no setor pblico.
3. Gesto de resultados na produo de servios pblicos.
4. Convergncias e diferenas entre a gesto pblica e a gesto privada.
5. Novas tecnologias gerenciais: gesto por processos impactos sobre a configurao das organizaes
pblicas e sobre os processos de gesto.
6. Excelncia nos servios pblicos.
7. O Paradigma do Cliente.
8. Gesto estratgica. O planejamento estratgico da Justia Eleitoral do Cear (Resoluo TRE-CE n
394/2010).
1. ADMINISTRAO PBLICA: Modelo Racional-legal ao Paradigma Ps-burocrtico
Tipos de Dominao
1.1. Administrao Pblica Patrimonial: caractersticas
Estado Oligrquico e Patrimonial (Estado Colonial e Repblica Velha);
Res pblica X Res principis: interpermeabilidade dos patrimnios pblico e privado;
Prebendas e Sinecuras.
1.2. Administrao Pblica Burocrtica: Max Weber
Surge na metade do sc. XIX, estado liberal, para combater a corrupo e o nepotismo;
Baseada no controle rgido dos processos e dos procedimentos, a priori;
Parte-se da desconfiana prvia dos administradores pblicos e nos cidados que a eles
dirigem demandas;
Qualidade fundamental: efetividade no controle dos abusos.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
3
Caractersticas da Burocracia
Carter legal das normas;
Carter formal das comunicaes;
Diviso do trabalho;
Impessoalidade do relacionamento;
Hierarquizao da autoridade;
Rotinas e procedimentos;
Competncia tcnica e mrito;
Especializao da administrao;
Profissionalizao;
Consequncia desejvel: previsibilidade no funcionamento.
Disfunes da Burocracia Merton
Internalizao das normas;
Excesso de formalismo e papelrio;
Resistncia a mudanas;
Despersonalizao do relacionamento;
Categorizao do processo decisrio;
Superconformidade s rotinas e procedimentos;
Exibio de sinais de autoridade;
Dificuldades com clientes;
Consequncia indesejvel: imprevisibilidade do funcionamento.
Administrao Pblica Burocrtica: Disfunes
Controle transforma-se na razo de ser do funcionrio;
Estado volta-se para si mesmo, deixando de servir sociedade;
Gerou ineficincia, auto-referncia, incapacidade de voltar-se para servir aos cidados vistos
como clientes;
No incio, os servios do Estado eram reduzidos, limitando-se a manter a ordem e administrar
a justia, garantir os contratos e a propriedade.
1.2.1. Administrao Burocrtica no Brasil - Estado do Bem-Estar Social: Era Vargas
1 governo (30 a 45): marcado por 3 fases;
Estado Novo e Autoritrio (37 a 45): grandes avanos sociais, econmicos e administrativos;
Criao do Departamento Administrativo do Servio Pblico DASP: marco da implantao da
administrao racional-legal/burocrtica; tentativa de formao da burocracia nos moldes
weberianos instituto do concurso pblico e do treinamento;
Criao da indstria de base funo intervencionista;
Estamentos burocrticos Patronato Poltico Brasileiro;
O patrimonialismo mantinha fora e o coronelismo dava lugar ao clientelismo e ao
fisiologismo;
Movimento cultural-populista: concurso para alto escalo e indicao clientelista para o baixo.
Competncias do DASP: DL 579/38
O estado pormenorizado das reparties, departamentos e estabelecimentos pblicos, com o
fim de determinar, do ponto de vista da economia e eficincia, as modificaes a serem feitas
na organizao dos servios pblicos, sua distribuio e agrupamentos, dotaes
oramentrias, condies e processos de trabalho, relaes de uns com os outros e com o
pblico;
Organizar anualmente, de acordo com as instrues do Presidente da Repblica, a proposta
oramentria a ser enviada por este Cmara dos Deputados ;
Fiscalizar, por delegao do Presidente da Repblica e na conformidade das suas instrues, a
execuo oramentria;
Selecionar os candidatos aos cargos pblicos federais, excetuados os das Secretarias da Cmara
dos Deputados e do Conselho Federal e os do Magistrio e da Magistratura;
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
4
Promover a readaptao e o aperfeioamento dos funcionrios civis da Unio;
Estudar e fixar os padres e especificaes do material para uso nos servios pblicos;
Auxiliar o Presidente da Repblica no exame dos projetos de lei submetidos a sano;
Inspecionar os servios pblicos;
Apresentar anualmente ao Presidente da Repblica relatrio pormenorizado dos trabalhos
realizados e em andamento.
Estado do Bem-Estar Social: Era JK
Criou COSB - Comisso de Simplificao Burocrtica promover estudos visando
descentralizao dos servios, por meio da avaliao das atribuies de cada rgo ou
instituio e da delegao de competncias, com a fixao de sua esfera de responsabilidade
e da prestao de contas das autoridades.
Criou a CEPA Comisso de Estudos e Projetos Administrativos assessorar a presidncia da
Repblica em tudo que se referisse aos projetos de reforma administrativa.
Estruturas ad hoc hbrido administrativo;
Plano de Metas crescer 50 anos em 5;
Estado do Bem-estar: Governo Goulart
Comisso Amaral Peixoto: objetivo era promover uma ampla descentralizao
administrativa at o nvel do guich, alm de ampla delegao de competncia.
- reorganizao das estruturas e atividades;
- expanso e fortalecimento do sistema de mrito;
- normas de aquisio e fornecimento de materiais;
- organizao administrativa do Distrito Federal.
A Reforma Desenvolvimentista Militar
Comestra - Comisso Especial de Estudos da Reforma Administrativa - com o objetivo de
proceder ao exame dos projetos elaborados e o preparo de outros considerados essenciais
obteno de rendimento e produtividade da administrao federal.
DL 200/67: primeiro momento da administrao gerencial na tentativa de superao da
rigidez burocrtica descentralizao funcional (criao da administrao direta e indireta
autarquias, fundaes, EP, SEM).
DL 200/67: sistemtico empreendimento para a reforma
Princpios do planejamento, da coordenao, da descentralizao, da delegao de
competncia e do controle;
Distino entre a administrao direta e a indireta descentralizao funcional;
Definia as bases do controle externo e interno.
Indicava diretrizes gerais para um novo plano de classificao de cargos;
Estatua normas de aquisio e contratao de bens e servios;
Fixava a estrutura do Poder Executivo federal, indicando os rgos de assistncia imediata do
presidente da Repblica e distribuindo os ministrios entre os setores poltico, econmico,
social, militar e de planejamento, alm de apontar os rgos essenciais comuns aos diversos
ministrios;
Desenhava os sistemas de atividades auxiliares - pessoal, oramento, estatstica, administrao
financeira, contabilidade e auditoria e servios gerais;
Caractersticas do modelo Autoritrio desenvolvimentista
Apesar de representar a primeira tentativa de reforma gerencial da administrao pblica pela
inteno de mexer na rigidez burocrtica, o Decreto-Lei 200/67 deixou seqelas negativas.
Dicotomia: Estado Tecnocrtico X Burocrtico.
Distanciamento entre a AD e AI, criando um fosso.
No garantiu a profissionalizao do servio pblico: no institucionalizou uma administrao
do tipo weberiano; utilizao da administrao indireta como fonte de recrutamento,
prescindindo-se, em geral, do concurso pblico;
Movimento centrfugo (AI) e centrpeto (AD).
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
5
Programa de Desburocratizao (79): combate a burocratizao dos procedimentos,
revitalizao e agilizao das organizaes do Estado, descentralizao de autoridade,
melhoria e simplificao dos processos administrativos e promoo da eficincia. Reforma
social e poltica (caminho rumo administrao gerencial).
Programa de Desestatizao: para conter os excessos da administrao descentralizada.
Crise do Modelo Nacional - Desenvolvimentista
Crise fiscal;
Esgotamento da estratgia estatizante de interveno do Estado e do modelo de substituio
de importao;
Crise da forma de administrar o Estado e crise de governabilidade.
A Nova Repblica - contexto
Tendncia ao Modelo Neoliberal;
Crise do petrleo de 73 e 79;
Reestruturao produtiva;
Globalizao;
Crise do Estado;
Estado Democrtico de Direito.
As tentativas de reforma at 1985 careceram de planejamento governamental e de meios mais
eficazes de implementao. Havia uma relativa distncia entre planejamento, modernizao e recursos
humanos, alm da falta de integrao entre os rgos responsveis pela coordenao das reformas. Os
resultados dessa experincia foram relativamente nefastos e se traduziram na multiplicao de
entidades, na marginalizao do funcionalismo, na descontinuidade administrativa e no
enfraquecimento do DASP.
A Nova Repblica Governo Sarney
Instituiu uma numerosa comisso, com objetivos extremamente ambiciosos, mas nada fez;
Extinguiu o BNH e pouco avanou na implementao do SUS;
No conseguiu instituir um sistema de carreiras de RH;
CF 88: democratizao da esfera pblica X volta aos ideais burocrticos dos anos 30;
Mudanas apenas de cunho incremental.
O Retrocesso de 1988
As aes rumo a uma administrao pblica gerencial so, entretanto, paralisadas na transio
democrtica de 1985 que, embora representasse uma grande vitria democrtica, teve como um de seus
custos mais surpreendentes o loteamento dos cargos pblicos da administrao indireta e das delegacias
dos ministrios nos Estados para os polticos dos partidos vitoriosos. Um novo populismo
patrimonialista surgia no pas. De outra parte, a alta burocracia passava a ser acusada, principalmente
pelas foras conservadoras, de ser a culpada da crise do Estado, na medida em que favorecera seu
crescimento excessivo. A conjuno desses dois fatores leva, na Constituio de 1988, a um retrocesso
burocrtico sem precedentes. Sem que houvesse maior debate pblico, o Congresso Constituinte
promoveu um surpreendente engessamento do aparelho estatal... que geraram-se dois resultados: de um
lado, o abandono do caminho rumo a uma administrao pblica gerencial e a reafirmao dos ideais da
administrao pblica burocrtica clssica; de outro lado, dada a ingerncia patrimonialista no
processo, a instituio de uma srie de privilgios, que no se coadunam com a prpria administrao
pblica burocrtica.
Bresser Pereira, PDRAE, 1995.
Pacto social-liberal: reformas a partir de 85
Governo Collor: criao da Secretaria Administrao Federal (SAF) e do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade;
Governo Itamar: Secretaria Federal de Controle, Lei 8.666, Plano Real;
Governo FHC: MARE e MPOG, administrao pblica gerencial: controle de resultados,
participao, controle social, competio administrada.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
6
1.3. Administrao Pblica Ps-burocrtica
Crise do modelo burocrtico modelo auto-referido;
Prticas patrimonialistas, corrupo e excesso de quadros;
Tendncia mundial de diminuio do tamanho do estado modelo neoliberal;
Globalizao da economia;
Implantao do Plano Real e necessidade de Reforma do estado;
Recomendaes do Consenso de Washington.
Modelo complexo: no pode ser confundido com a absoro de prticas neoliberais;
Inspirao nos modelos de gesto empresarial contemporneos, mas no pode ser
confundido com estes ltimos, no so similares.
1.3.1. A Reforma Gerencial Britnica:
Passou por trs momentos e ainda um modelo em evoluo.
1.3.2. O Movimento Reinventando o Governo:
Movimento americano de reforma do estado. O sistema institucional deve reinventar-se e
objetivar:
Uma administrao voltada para objetivos ou por misses;
A mensurao do desempenho das agncias atravs dos resultados;
A busca da qualidade total como mtodo administrativo;
A nfase no cliente;
A transferncia do poder aos cidados para tentar garantir a equidade justia redistributiva,
a transparncia e a accountability.
Competio entre os prestadores de servio;
Poder aos cidados, transferindo o controle das atividades comunidade;
Medir a atuao das agncias governamentais atravs dos resultados;
Orientar-se por objetivos, e no por regras e regulamentos;
Redefinir os usurios como clientes, em complemento ao conceito de cidado;
Atuar na preveno dos problemas mais do que no tratamento;
Priorizar o investimento na produo de recursos, e no em seu gasto;
Descentralizao da autoridade;
Preferir os mecanismos de mercado s solues burocrticas;
Catalisar a ao do setor pblico, privado e voluntrio - navegado em vez de remar .
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
7
1.3.3. A reforma Bresser PDRAE
Uma breve interpretao da crise do Estado;
Uma classificao evolutiva da administrao pblica;
Um histrico das reformas administrativas no Brasil a partir dos anos 1930;
Um diagnstico da administrao pblica;
Um quadro referencial das formas de propriedade, setores do Estado e tipos de gesto;
Uma avaliao da concepo de Estado, das dimenses tcnicas e do impacto inicial da reforma
Uma estratgia de mudana;
Os principais projetos de reforma do aparelho de Estado.
PDRAE e dimenses dos problemas:
Institucional-legal: criao do aparato legal;
Cultural: da cultura burocrtica para a gerencial;
Gesto: implantao das ferramentas de gesto empresarial, respeitando as especificidades do
setor pblico.
PDRAE - principais diretrizes :
(1) o ajustamento fiscal duradouro;
(2) reformas econmicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de uma poltica industrial e
tecnolgica, garantam a concorrncia interna e criem condies para o enfretamento da competio
internacional;
(3) reforma da previdncia social;
(4) a inovao dos instrumentos de poltica social, proporcionando maior abrangncia e promovendo
melhor qualidade para os servios sociais;
(5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas a aumentar sua governana, ou seja, sua capacidade
de implementar de forma eficiente polticas pblicas (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado, p. 16).
PDRAE objetivos gerais:
Limitar ao do Estado as atividades que lhe so prprias;
Transferir da Unio para Estados e Municpios as aes de carter local;
Transferir parcialmente da Unio para os Estados as aes de carter regional.
PDRAE diviso em setores: formas de propriedade estatal, Pblica no-estatal e Privada, tipos
de administrao burocrtica e gerencial.
Ncleo Estratgico;
Ncleo das Atividades Exclusivas de Estado;
Ncleo das Atividades No-Exclusivas de Estado;
Ncleo da Produo de Bens e Servios para o Mercado.
Observaes importantes:
O Estado vem abandonando o papel de executor ou prestador direto de servios, mantendo-se,
entretanto, no papel de regulador, provedor ou promotor;
Como promotor desses servios, o Estado continuar a subsidi-los, a control-los e
regulament-los, o que no necessariamente significa uma diminuio de seu tamanho, mas
uma alterao de atuao.
Nenhum pas da regio completou a construo do modelo burocrtico-weberiano nos
moldes das naes desenvolvidas, apesar de ter ocorrido a implantao de importantes
ncleos de excelncia e de regras de mrito no servio pblico em vrios casos latino-
americanos [...] (CLAD, 1999, p. 126).
Vrios modelos marcados pela centralizao/ descentralizao, todos impregnados de
patrimonialismo.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
8
2. EMPREENDEDORISMO GOVERNAMENTAL E AS NOVAS LIDERANAS NO SETOR PBLICO
Caractersticas:
Parcerias com o setor privado e com as (ONGs);
Avaliao de desempenho individual e de resultados organizacionais, atrelados a
indicadores de qualidade e produtividade;
Autonomia s agncias governamentais, horizontalizando a estrutura;
Descentralizao poltica: poder de deciso prximo ao cidado, melhoria da qualidade e da
accountability;
Estabelecimento do conceito de planejamento estratgico;
Flexibilizao das regras que regem a burocracia pblica;
Profissionalizao do servidor pblico, atravs de polticas de motivao, de
desenvolvimento pessoal e revalorizao a questo da tica no servio pblico;
Desenvolvimento das habilidades gerenciais dos funcionrios;
Competio administrada;
Princpio da subsidiariedade, como base do conceito de descentralizao.
nfase e orientao da ao do Estado para o cidado-cliente;
Controle social com mecanismo de prestao de contas e avaliao de desempenho;
V o cidado como contribuinte de impostos e como cliente de se seus servios;
Resultados so considerados bons no porque os processos administrativos esto sob controle
e so seguros (APB), mas porque as necessidades do cidado-cliente esto sendo atendidas
(interesse pblico diferenas do significado;
Confiana, descentralizao das decises e de funes.
2.1. Princpios burocrticos apoiadores e orientadores do gerencialismo:
Admisso segundo rgidos critrios de mrito;
Existncia de um sistema estruturado e universal de remunerao: carreiras;
Avaliao constante de desempenho;
Treinamento sistemtico.
No se trata de descartar a administrao racional-legal, mas de manter as caractersticas que
ainda se mantm vlidas para garantir efetividade administrao.
As novas lideranas (lderes pblicos):
Melhorar a eficincia, eficcia e efetividade na produo de bens e servios pblicos,
minimizando esforos, custos, maximizando e buscando novas fontes de receitas, atravs de
aplicaes financeiras;
Gesto baseada na avaliao pela sociedade, mensurao do desempenho e dos resultados;
Inovador, pr-ativo; criativo; riscos calculados, mobilizador de ao conjunta voluntria,
privada e pblica, intraempreendedor.
3. GESTO POR RESULTADOS
Governo que pertence comunidade: catalisador, voltado para resultados, medio por
indicadores, que permita o controle interno e externo, a accountability e a transparncia;
Oramento orientado para resultados: objetivos estratgicos, programas, aes, produtos,
indicadores, designao de gerentes, prestao de contas.
Contrato de Gesto: institudo pela EC 19/98
CF, art. 37.
(...)
8 - A autonomia gerencial, oramentria e financeira dos rgos e entidades da administrao direta
e indireta poder ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
9
pblico, que tenha por objeto a fixao de metas de desempenho para o rgo ou entidade, cabendo lei
dispor sobre:
I - o prazo de durao do contrato;
II - os controles e critrios de avaliao de desempenho, direitos, obrigaes e responsabilidade dos
dirigentes;
III - a remunerao do pessoal.
Contrato de Gesto ou Acordo-programa:
Ligada eficincia e APG;
Ajuste firmado entre AD X AI, entre rgos da AD, consrcios pblicos, AD X OS;
Motivos de divergncias doutrinrias em razo da possibilidade de celebrao de contratos
entre rgos, haja vista serem apenas centros de competncias despersonalizados.
Objetivos do contrato: ampliao de autonomia X restrio de autonomia.
4. CONVERGNCIAS E DIVERGNCIAS ENTRE A GESTO PBLICA E A PRIVADA
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
10
5. NOVAS TECNOLOGIAS GERENCIAIS: gesto por processos impactos sobre a configurao
das organizaes pblicas e sobre os processos de gesto
Tem como base a perspectiva sistmica, de sistemas abertos, cuja nfase est no todo e de que
tudo faz parte de um contexto maior, funcionando as organizaes como redes de relaes.
A teoria contingencial, voltada para o ambiente e para a incerteza, que usa a tecnologia, inovao,
criatividade, conhecimento e pensamento estratgico.
As estruturas verticais podem ser substitudas ou complementadas por cadeias de processos
horizontais, redes, com ligaes multifuncionais e interfuncionais, interdependentes e
interconexas, que geram valor ao cliente.
A organizao como uma rede de fluxo de informao exige uma macroviso: cultura, estratgia,
estrutura, processos, competncias, tecnologia e conhecimento.
O menor processo existente a contribuio de cada indivduo que combinados formam a cadeia de
valor. O valor o resultado a ser gerado pelos processos.
A cadeia de valor de Porter o modelo de anlise que explicita o valor agregado em cada elo da
cadeia e permite aproximar a estratgia s aes dirias. A anlise facilita a identificao dos
stakeholders.
Tem como primcias o atendimento ao cliente e a identificao do resultado esperado;
Parte-se da estratgia para identificao dos processos crticos, gerenciando-os com enfoque de
sistema aberto;
A anlise de efetividade deve ser realizada antes da anlise de eficincia
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
11
Hierarquia dos processos
Tipos dePprocessos: conjunto de atividades inter-relacionadas
Finalstico, bsico ou primrio: envolvido diretamente no ciclo de transformao de recursos em
produtos ou servios, que percebido pelo cliente.
Chaves: processos finalsticos, que apresentam alto custo para a organizao e alto impacto para os
clientes externos.
Crticos: processos que esto diretamente alinhados com a estratgia de negcio.
Apoio ou suporte: d suporte a alguma atividade-fim e sustenta os processos primrios.
Gesto: coordena as atividades de apoio e os processos finalsticos.
Tipos de Atividades: conjunto de procedimentos e tarefas inter-relacionados.
- Atividades primrias: participam na produo do bem ou servio (crticas ou no);
- Atividades secundrias: marginais ou de suporte;
- Atividades transversais: vrias especialidades executadas em uma nica operao para resolver
problemas, no agregam valor e consomem recursos.
Toda Atividade contm um ou mais Eventos (um acontecimento), formados de Procedimentos
(DNA de cada evento, formal ou informal), que se dividem em Tarefas (passos).
6. EXCELNCIA NOS SERVIOS PBLICOS
A Excelncia no Servio Pblico passou a ser desenhada no incio da dcada de 90, mas foi no
governo FHC que o modelo efetivamente comeou a ser implementado, conforme histrico abaixo.
Em 1991: Collor lanou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP),
para dinamizar a indstria brasileira diante da abertura comercial. Lanou o Subprograma
Qualidade e Produtividade do Servio Pblico PQSP, voltado para o cidado e para a
melhoria da qualidade dos servios pblicos. Tinha foco interno, voltado para Tcnicas e
Ferramentas.
Em 1996: FHC lanou o Programa de Qualidade e Participao da Administrao Pblica
QPAP - que visava satisfao do cliente com o envolvimento de todos os servidores. O foco
era interno e externo, voltado para a Gesto e Resultados.
Em 1999: com a formulao do PPA 2000-2003, houve a transformao em Programa de
Qualidade no Servio Pblico PQSP, com o objetivo de trazer satisfao ao cidado. Tinha o
foco externo, voltado para a satisfao do cidado.
Em 2005: foi institudo o Programa Nacional de Gesto Pblica e Desburocratizao
GesPblica, atravs do Decreto 5.378, resultado da fuso do Programa de Qualidade no
Servio Pblico e o Programa Nacional de Desburocratizao, sob a coordenao do
MPOG.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
12
Qualidade na AP: modelo de excelncia
Princpios norteadores do modelo de excelncia
Modelo da excelncia
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
13
Ferramentas da excelncia
Critrios de excelncia
7. PARADIGMA DO CLIENTE
Inserido no modelo de Excelncia do Servio Pblico, como foco do modelo gerencial;
Despertar na fase Consumerista cultura da qualidade - cliente consumidor/ cliente-cidado.
Foco do modelo ps-burocrtico e do PSO cidado - senhor de direitos e deveres.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
14
8. GESTO ESTRATGICA
Possui as seguintes caractersticas:
Processo de adaptao da organizao a um ambiente mutvel;
Visa lidar com a Incerteza do ambiente;
Orientado para o futuro e para o longo prazo;
Compreensivo, envolvendo toda a organizao;
Baseado no consenso e voltado para a aprendizagem organizacional;
Integrado aos planejamentos tticos e operacionais, holstico, cujos resultados devem gerar sinergia,
criatividade e inovao, para desativar as turbulncias e conviver com a imprevisibilidade.
Metodologias de Construo do Planejamento Estratgico
No h uma metodologia nica a ser adotada no processo de elaborao do planejamento estratgico.
a) Mtodo Clssico de Formulao da Estratgia Competitiva - HBS
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
15
b) Mtodo Desenvolvido por Djalma Oliveira
c) Outros Mtodos de Planejamento Estratgico
I - Planejamento
Inteno Estratgica: Misso, Viso, Valores.
Diagnstico Estratgico: Anlise Externa e Interna.
Construo de Cenrios.
Fatores Crticos de Sucesso (FCS).
Formulao da Estratgia: Posturas estratgicas, Polticas de negcios e formulao e elaborao das
estratgias.
Definio de Objetivos estratgicos.
Formulao do Plano/Projetos Estratgicos.
II - Implementao das Estratgias: as estratgias implementadas so decorrentes do encontro das
estratgias deliberadas (intencionais, planejadas) e emergentes (no planejadas), segundo Mintzberg.
III - Avaliao e reavaliao estratgica: testar e adaptar.
A seguir, a descrio das variveis:
8.1. Inteno Estratgica: descreve os objetivos organizacionais pretendidos pela organizao, alm dos
valores que iro nortear o processo decisrio.
8.1.1 Viso
Define os objetivos de longo prazo;
o sonho, guia, alinhada aos interesses dos stakeholders, orientada para o mercado;
O que quer ser, onde quer chegar, mutvel e temporal
eficaz quando define objetivos claros e ousados, mas possveis;
Deve esclarecer a direo do negcio, descrever uma condio futura e representar o pice do
desenvolvimento naquele perodo, comprometer a todos, com foco e inspirao que permita senso de
realizao e pertencimento.
8.1.2. Valores
Criados pelos stakeholders:
Prescrevem valores essenciais ligados a atitudes, comportamentos e carter, que aliceram a cultura da
empresa.
Podem refletir as inovaes estratgicas em produtos, processos.
Devem entregar valor, capturando os resultados estratgicos esperados.
Deve-se alinhar as pessoas aos valores, motivando o alto desempenho.
8.1.3 Misso
Causa pela qual se deve lutar, a razo de ser, orientadora e delimitadora, atemporal, respondendo s
demandas genricas da sociedade.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
16
Ser eficaz quando conseguir definir uma individualidade ou uma personalidade para o negcio. Deve
ser estimulante, inspiradora e revitalizante para os stakeholders.
Clarifica e comunica os objetivos.
Negcio:
A atualizao da misso acontece pela redefinio do negcio. Envolve trs dimenses: grupos de
clientes, necessidades dos clientes e tecnologia.
Misso organizacional: IBM
incio da dcada de 50: computadores;
fim da dcada de 50: processamento de dados;
incio da dcada de 60: manipulao de informaes;
fim da dcada de 60: soluo de problemas;
incio da dcada de 70: minimizao de riscos;
fim da dcada de 70: desenvolvimento de alternativas;
incio dos anos 80: otimizao dos negcios;
incio da dcada de 90: desenvolvimento de novos negcios das empresas;
final da dcada de 90: satisfazer s necessidades de resoluo de problemas de negcios.
Exemplo de Misso/Viso/Valores
Misso: "Servir alimentos de qualidade, com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradvel."
(McDonalds)
Valores: Qualidade. Servio. Limpeza. Valor. (McDonalds)
Viso: Ter 30 mil Mcrestaurantes no ano 2000. Depois disso nem mesmo ns podemos prever... O
cu o limite (McDonalds).
8.2. Diagnstico Estratgico: realiza um mapeamento do ambiente externo e do ambiente organizacional,
levantando as variveis que influenciam e determinam o negcio da organizao.
8.2.1. Anlise externa: Oportunidades e Ameaas - Variveis externas e no controlveis
Divide o Ambiente em:
Macroambiente, ambiente indireto ou conceitual:
Indicadores do Macroambiente: Poltico; Econmico; Scio/cultural; Tecnolgico; Ambientais e Legais.
Ambiente da Tarefa, direto, operacional ou setor de negcios:
Indicadores do Ambiente da Tarefa: Concorrentes, consumidores, usurios, agncias reguladoras.
Uma anlise estrutural do ambiente da tarefa envolve a Anlise das Cinco Foras Competitivas de
Porter:
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
17
8.2.2. Anlise interna: desempenho e capacidade - Variveis internas e controlveis.
Pontos fortes
Pontos fracos
Pontos neutros
O desempenho interno medido em comparao com as outras empresas do setor de atuao,
concorrentes diretos ou potenciais.
8.3. Construo de Cenrios
uma metodologia de gerao de alternativas de ao, para que a organizao se prepare para eventos e
tendncias do futuro.
Abordagem Projetiva
Abordagem Prospectiva
8.4. Fatores Crticos de Sucesso
So atividades crticas do negcio que precisam ser bem realizadas para o alcance dos objetivos.
Exemplos de variveis crticas: localizao, diferenciao dos produtos, especializao das pessoas, controle
de produo, rede de distribuio, reputao, relacionamentos.
8.5. Formulao da Estratgia
Posturas Estratgicas: escolha de alternativas de ao.
Macropolticas: aes e orientaes.
Escolhas das estratgias: estratgias corporativas, de negcios/empresariais e funcionais.
Elaborao de Estratgias: SWOT, Estratgias Genricas.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
18
8.5.1. Estratgias Corporativas SWOT
AUTOR ESTRATGIA
SWOT
(Strenghts,
Wekenesses,
Opportunities,
Threats )
a) Sobrevivncia: fraqueza para lidar com ameaas - ponto fraco e ameaas
externas;
b) Manuteno: foras criam barreiras s ameaas - pontos fortes e ameaas;
c) Crescimento: fraquezas dificultam o aproveitamento das oportunidades
ponto fraco e oportunidades;
d) Desenvolvimento: as foras permitem aproveitar as oportunidades - pontos
fortes e oportunidades.
Diagnstico Interno
Ponto Fraco Ponto Forte Ameaa
Sobrevivncia (sada - Reativa)
Manuteno (defensiva)
Externo
Oportunidade
Crescimento (melhoria) Desenvolvimento (ofensiva)
8.5.2. Estratgias de Negcios Estratgias Genricas de Porter
AUTOR ESTRATGIA
PORTER -
Estratgias
Competitivas
Genricas
a) Diferenciao: identidade forte do produto;
b) Liderana do custo: baixo custo e baixo preo do produto;
c) Foco: atuao em nichos de mercado
8.5.3. Estratgias Funcionais
Funcionais so formuladas pelas reas ou departamentos e significa alinhar as aes setoriais com as
estratgias de negcios e a misso da organizao, que inclui a anlise de habilidades, recursos,
potencialidades com vistas a produzir holismo e sinergia, focado no futuro e no longo prazo, envolvendo a
todos, comunicada e cobrada em todos os nveis.
8.6. Definio (Redefinio) de Objetivos
Nesse momento, pode-se refazer e redimensionar os objetivos estratgicos.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
19
Conceitos Fundamentais
GOVERNABILIDADE
Refere-se s prprias condies substantivas e materiais de exerccio do poder e de
legitimidade do Estado e do seu governo derivadas da sua postura diante da sociedade civil e
do mercado (em um regime democrtico).
a capacidade que o Estado tem para agregar os mltiplos interesses dispersos pela sociedade
e apresentar-lhes um objetivo comum para o curto, mdio e longo prazo.
GOVERNANA
a capacidade que determinado governo tem para formular e implementar as suas polticas.
Nesse elenco de polticas, pode-se assinalar a gesto das finanas pblicas, gerencial e tcnica,
entendidas como as mais relevantes para o financiamento das demandas da coletividade.
GOVERNANA PBLICA
O exerccio da autoridade, controle, administrao, poder de governo. Precisando melhor,
a maneira pela qual o poder exercido na administrao dos recursos sociais e econmicos de
um pas visando o desenvolvimento, implicando ainda a capacidade dos governos de
planejar, formular e implementar polticas e cumprir funes (Banco Mundial, 1992)
A governana tem um carter mais amplo. Pode englobar dimenses presentes na
governabilidade, mas vai alm.
Refere-se ao modus operandi das polticas governamentais: questes ligadas ao formato
poltico-institucional do processo decisrio, definio do mix apropriado de financiamento de
polticas e ao alcance geral dos programas.
Refere-se a padres de articulao e cooperao entre atores sociais e polticos e arranjos
institucionais que coordenam e regulam transaes dentro e atravs das fronteiras do sistema
econmico, incluindo-se a no apenas os mecanismos tradicionais de agregao e
articulao de interesses, tais como os partidos polticos e grupos de presso, como tambm
redes sociais informais, hierarquias e associaes de diversos tipos
Enquanto a governabilidade tem uma dimenso essencialmente estatal, vinculada ao sistema
poltico-institucional, a governana opera num plano mais amplo, englobando a sociedade
como um todo.
ACCOUNTABILITY
Termo da lngua inglesa, remete obrigao de membros de um rgo administrativo ou
representativo de 'prestar contas' a instncias controladoras ou a seus representados.
Outro termo usado o da 'responsabilizao', sendo um conceito freqentemente usado em
circunstncias que denotam responsabilidade social, imputabilidade, obrigaes e prestao
de contas.
Bons Estudos!!!!
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
20
ADMINISTRAO PBLICA
O fracasso a oportunidade de comear de novo
inteligentemente
Henry Ford.
SUMRIO
Estrutura e estratgia organizacional.
Noes de elaborao, anlise, avaliao e gerenciamento de projetos.
Tecnologia da informao, organizao e cidadania. Comunicao na gesto pblica e
gesto de redes organizacionais.
Cultura organizacional
9. ESTRUTURAS E ESTRATGIAS ORGANIZACIONAIS
As caractersticas das organizaes formais modernas se manifestam atravs de suas estruturas e da
forma como elas de dividem, integram e coordenam suas atividades e recursos organizacionais. A estrutura
pode ser classificada em:
Estrutura formal: representada pelo organograma. Foca o sistema de autoridade, responsabilidade,
diviso de trabalho, comunicao e processo decisrio.
Estrutura informal: formada pela rede de relaes sociais e pessoais e no aparece no
organograma, complementa a estrutura formal.
Observaes:
O organograma a representao grfica que mostra as funes, os departamentos e os cargos,
especificando como se relacionam.
Os retngulos representam a forma de dividir o trabalho e os critrios de departamentalizao.
A hierarquia est demonstrada na disposio dos retngulos em nveis.
As linhas se referem distribuio de autoridade ou cadeia comando, indicando quem est
subordinado a quem.
Elementos das Organizaes Formais Modernas:
a) Especializao do trabalho: grau em que as tarefas so divididas e padronizadas para serem
realizadas por um indivduo.
Especializao horizontal especifica nmero de atividades desempenhadas;
Especializao vertical especifica a medida da concepo, execuo e administrao das
atividades por uma pessoa.
b) Cadeia de Comando/Escalar ou linha de comando: a diferenciao vertical especifica a linha
que vai do topo at o ltimo nvel da hierarquia, mostrando quem responde a quem.
c) Amplitude de Controle: mede o nmero de pessoas subordinadas a um administrador, quanto
maior, menos nveis hierrquicos e menor o nmero de administradores.
d) Centralizao: decises so tomadas no topo, enfatizando a cadeia de comando.
Vantagens:
Decises mais consistentes com os objetivos, maior uniformidade de procedimentos,
aproveitamento da capacidade dos lderes, reduo dos riscos de erros, maior controle do
desempenho da organizao.
Desvantagens:
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
21
Decises e administradores distanciadas dos fatos locais, dependncia dos subordinados,
diminuio da motivao, criatividade, maior demora na implementao das decises e
maior custo operacional.
e) Descentralizao: decises distribudas pelos nveis inferiores.
Vantagens:
Maior agilidade e flexibilidade nas decises, mais adaptadas aos fatos locais; maior
motivao, autonomia e disponibilidade dos lderes; maior facilidade do controle do
desempenho de unidades e gerentes.
Desvantagens:
Perda de uniformidade das decises, com maiores desperdcios e duplicao de recursos;
canais de comunicao mais dispersos; dificuldade de encontrar responsveis e controlar o
desempenho da organizao; no aproveitamento dos especialistas.
f) Formalizao: grau de controle da organizao sobre o indivduo, definidas pelas normas e
procedimentos, limitando a atuao e o comportamento.
g) Departamentalizao: diferenciao horizontal que permite simplificar o trabalho, aproveitando
os recursos de forma mais racional.
g.1) Departamentalizao Funcional
g.2) Departamentalizao de Produtos/ Servios
g.3) Departamentalizao Base Territorial
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
22
g.4) Departamentalizao por Clientela
g.5) Departamentalizao por Processo
g.6) Departamentalizao por Projeto
g.7) Departamentalizao Mista
9.1. Estrutura Organizacional
A Estrutura pode apresentar os seguintes modelos:
Desenho Mecanicista: forma burocrtica, autoridade centralizada, regras e procedimentos, diviso
de trabalho, amplitude administrativa estreita e meios formais de coordenao.
Desenho Orgnico: adhocrticos, adaptativos, mais horizontais, autoridade descentralizada, poucas
regras e procedimentos, pouca diviso de trabalho, amplitudes administrativas maiores e mais meios
pessoais de coordenao.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
23
Variveis condicionantes da estrutura:
Ambiente: instvel, estvel, homogneo, heterogneo;
Estratgia: estabilidade ou crescimento;
Tecnologia: massa, processo, unitria; sequencial, mediadora, intensiva
Ciclo de vida e tamanho: nascimento, crescimento, juventude, maturidade
Pessoas: conhecimento x reposio
Tipos de Estrutura Organizacional
9.1.1. Estrutura Linear
Vantagens:
Estrutura simples;
Definio das responsabilidades, disciplina;
Ideal para pequenas empresas;
Ideal para situaes de estabilidade.
Desvantagens:
Rigidez, dificuldade de inovao e adaptao;
A unidade de comando gera chefes generalistas;
Empresas grandes sofrem com a comunicao.
9.1.2. Estrutura Funcional
Vantagens:
Especializao;
Comunicaes diretas e sem intermediaes;
Separa as funes de planejamento, execuo e controle.
Desvantagens:
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
24
Perda da autoridade de comando, dificuldade de controle, conflito, perda da viso do todo.
9.1.3. Estrutura Linear-Staff
Vantagens:
Garante assessoria especializada e inovadora;
Empresas de mdio e grande porte.
Desvantagens:
Conflitos entre linha e staff por prtica versus conhecimento e responsabilidades.
Disputa de autoridade.
9.1.4. Estrutura Divisional
Vantagens:
Foco no resultado;
Coordenao em razo do produto e servio;
Favorece a inovao e crescimento.
Desvantagens:
Custos elevados, duplicidade de rgos;
Dificuldade de integrao entre unidades.
9.1.5. Estrutura Matricial
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
25
Vantagens:
Especializao (funo) e coordenao (projeto ou produto);
Foco no lucro e nos recursos;
Viso orgnica (flexibilidade).
Desvantagens:
Viola a unidade de comando;
Cultura de resultados e de pessoas com qualificao.
9.1.6. Estrutura em rede
Vantagens:
Negcios virtuais ou unidades de negcios;
Baixo custo operacional e administrativo;
Competitividade global;
Flexibilidade da fora de trabalho.
Pluralidade de opinies e diversidade de recursos;
Capilaridade - democracia na tomada de deciso, permitindo que atores menores e
prximos aos problemas participem do processo.
Desvantagens:
Controle global difcil, riscos e incertezas;
Cultura corporativa e lealdade fracas.
9.1.7. Estrutura em Comisso
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
26
Vantagens:
Participao de especialistas;
Julgamento impessoal.
Desvantagens:
Decises demoradas, responsabilidade diluda;
Indicada para organizaes grandes (custo).
10. GESTO DE PROJETOS
Conceito
Projeto um esforo temporrio empreendido para criar um produto, servio ou resultado exclusivo.
um empreendimento no repetitivo, caracterizado por uma sequncia clara e lgica de eventos, com incio,
meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de
parmetros pr-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade.
Caractersticas
Empreendimento no repetitivo e no rotineiro (no so operaes);
Finitude: temporrios, tem incio, meio e fim (curto ou longo prazo), resultados duradouros;
Foco: abrangncia e escopo definidos;
Singular: produto, servio nico e exclusivo (a presena de elementos repetitivos no muda a
singularidade);
Limites: parmetros de custo, recursos, qualidade e tempo;
Incerteza: por ser nico e novo (planejar e controlar);
Elaborao progressiva: com sequncia clara e lgica de eventos, em etapas, detalhado
progressivamente;
Interdisciplinar: envolve multiespecialidades;
Realizado por pessoas.
Os Projetos (resultados) permitem o alcance dos objetivos estratgicos (plano estratgico).
Projetos X Operaes
Semelhanas:
Realizado por pessoas;
Recursos limitados;
Planejado, executado e controlado.
Diferenas:
Operaes so contnuas e repetidas; Projetos so temporrios e exclusivos;
Projetos atingem seus objetivos e terminam; operaes adotam um novo conjunto de objetivos e
continuam.
Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de projetos a aplicao de conhecimentos, habilidades, ferramentas e tcnicas
s atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos (PMBOK Guide).
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
27
O objetivo principal da gesto de projetos alcanar o controle adequado do projeto, de modo a
assegurar sua concluso no prazo e oramento determinado, obtendo a qualidade estipulada e inclui:
identificar requisitos, objetivos claros e atingveis, balancear demandas e alinhar as expectativas dos
interessados.
PMI - Project Management Institute publicou A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide 4 ed.), para identificar o subconjunto do Conjunto de conhecimentos em
gerenciamento de projetos que amplamente reconhecido como boa prtica.
Ciclo de vida do projeto:
Determina as fases do projeto, caracterizada pela entrega de um subproduto;
Avaliao realizada no final de cada fase para identificar os pontos de melhoria;
O ciclo de vida do projeto diferente do ciclo de vida do produto, pois um produto pode ter muitos
projetos associados a ele;
As fases podem ser:
sequenciais: s inicia depois que a anterior termina.
sobreposta: tem incio antes do trmino da anterior;
iterativas: uma fase planejada e as demais so planejadas medida que o trabalho avana.
O ciclo de vida do projeto define:
Que trabalho tcnico deve ser realizado em cada fase;
Quando as entregas devem ser geradas em cada fase e como cada entrega revisada, verificada e
validada;
Quem est envolvido em cada fase;
Como controlar e aprovar cada fase;
muito importante identificar os diferentes stakeholders, suas necessidades e expectativas e gerenciar
sua influncia nos requisitos.
Fases do Ciclo de vida do projeto
Preparao ou Iniciao: identificao da demanda e a necessidade do projeto, com a definio do
objetivo e a elaborao de planos preliminares;
Estruturao (Planejamento): detalhamento do que ser realizado, com cronogramas,
interdependncias entre atividades, recursos envolvidos, custos;
Desenvolvimento e Implementao: as atividades previstas so efetivamente executadas;
Controle e monitoramento: pode ocorrer em paralelo com a fase de desenvolvimento, na qual se
corrige os desvios;
Finalizao ou encerramento: o produto final entregue e aceito e a estrutura desmobilizada.
Ciclo de Vida dos Projetos do CNJ
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
28
Caractersticas do Ciclos de vida
Os nveis de custo e de pessoal so baixos no incio, mximos na execuo e caem rapidamente
conforme o projeto finalizado;
A influncia das partes interessadas, os riscos e as incertezas so maiores no incio e caem ao longo da
vida do projeto;
Os custos das mudanas e correes de erros aumentam conforme o projeto se aproxima do trmino. O
impacto sobre os custos da mudana menor no incio.
Tipos de Estrutura
Funcional: funcionrios coordenados pelo gerente funcional.
Matricial fraca: funcionrios ligados ao gerente funcional e um dos membros coordenador.
Matricial balanceada: funcionrios ligados ao gerente funcional e um dos membros tem funo de
gerente de projeto.
Matricial forte: funcionrios ligados ao gerente funcional e a um gerente de projeto de uma rea de
projetos.
Composta: funcionrios alocados nas atividades de projetos, pertencendo a mais de um projeto.
Projetizada ou fora-tarefa: funcionrios ligados ao gerente de projetos.
O escritrio de projetos uma unidade central que coordena, apoia e gerencia os projetos, podendo
execut-los diretamente.
Stakeholders
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
29
So pessoas cujo interesse pode afetar de forma positiva ou negativa o projeto. So eles:
Patrocinador: da alta administrao, tem a responsabilidade do sucesso do projeto. responsvel
por designar o gerente do projeto, ajudar na formalizao da matriz de responsabilidades, determinar
as prioridades, proteger o projeto contra influncias externas, pode financiar o projeto, aprovar o
Plano de Projeto e monitorar.
Gerente do Projeto: funes de gesto, planejamento e controle com perfil de liderana, poder de
deciso e comunicao. Define o propsito, metas e limitaes do projeto. Define os participantes,
os papis de cada um, a cadeia de comando, a estratgia da comunicao e elabora o plano de
projeto.
Equipe: elabora o Plano e executa os trabalhos.
Cliente: contribui com as verbas e define os requisitos dos produtos ou servios entregues.
Gerente funcional: fornecem mo-de-obra para execuo, participam como especialistas do
planejamento.
Os stakeholders podem ser divididos em:
Stakeholders Primrios: possuem obrigao contratual ou legal com o projeto. Ex: gerentes
funcionais, diretores, gerente de projeto, equipe, clientes, empregados, credores, acionistas.
Stakeholders Secundrios: no tm nenhuma relao formal com o projeto, mas podem exercer
poder, como aes legais, presses polticas e sociais, apoio da mdia. Ex: Organizaes sociais,
polticas, ambientalistas, concorrentes, comunidade local, mdia, escolas, hospitais.
O gerente do projeto deve conhecer e se comunicar com todos os stakeholders, conhecer suas
expectativas e requisitos e gerenciar suas influncias
reas de Conhecimento: 9 reas
Gerenciamento de Integrao processos que garantem que os diversos elementos do projeto esto
apropriadamente coordenados. Consiste do desenvolvimento do plano de projeto, execuo do plano e
controle de mudanas.
Gerenciamento de Escopo processos necessrios para garantir que o projeto inclui todo o trabalho
requerido. Consiste de coletar requisitos, definir o escopo, criar EAP, verificar e controlar o escopo.
Gerenciamento do Tempo garantir que o projeto seja concludo no tempo correto. Consiste em definir
as atividades, sequenciar as atividades, estimar durao e recursos das atividades, desenvolver
cronograma e controlar o cronograma.
Gerenciamento de Custo garantir que o projeto seja completado dentro do oramento aprovado.
Consiste de estimar custos, determinar o oramento e controlar custos.
Gerenciamento da Qualidade satisfazer as necessidades para as quais foi criado. Consiste em
planejar, realizar a garantia e o controle da qualidade.
Gerenciamento de Recursos Humanos garantir o uso mais eficiente das pessoas envolvidas no
projeto. Consiste em desenvolver planos de RH, mobilizar a equipe, desenvolver a equipe, gerenciar
a equipe.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
30
Gerenciamento de Comunicaes para que a informao do projeto seja gerada, coletada,
disseminada, armazenada e/ou descartada da forma correta. Consiste em planejar as comunicaes,
distribuir informaes, gerenciar as expectativas das partes interessadas, reportar o desempenho.
Gerenciamento de Aquisies para a aquisio de bens e servios de terceiros. Consiste de planejar
as aquisies, realizar aquisies, administrar e encerrar aquisies.
Gerenciamento de Risco identificam, analisam e respondem aos riscos do projeto. Consiste de
planejar o gerenciamento de riscos, identificar os riscos, realizar a anlise qualitativa e
quantitativa, planejar resposta a risco, monitorar e controlar riscos.
Grupos de Processos
O PMBOK define que existem cinco grupos de processos de gerncia de projetos que descrevem a
natureza dos processos. Os grupos de processos no so fases do projeto.
Iniciao: definir o projeto ou uma nova fase do projeto atravs da obteno de autorizao;
Planejamento: definir escopo, refinar objetivos, desenvolver curso de ao para alcanar objetivos;
Execuo: executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto conforme especificaes;
Monitoramento e controle: verificar o progresso e o desempenho, reas de mudana no plano e iniciar
mudanas;
Encerramento: para finalizar todas as atividades, para encerrar o projeto.
Quando projetos complexos ou de grande porte so separados em fases ou subprojetos distintos
(como estudo de viabilidade, desenvolvimento de conceitos, design, prottipo, construo, teste) todos os
grupos de processos normalmente se repetem em cada fase do subprojeto.
O gerenciamento de projetos realizado atravs da aplicao e integrao de 42 processos
agrupados logicamente, abrangendo os 5 grupos de processos, que perpassam as nove reas de
conhecimento.
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
31
GRUPO DE PROCESSOS
REAS DE
CONHECIMENTO
INICIAO PLANEJAMENTO EXECUO MONITORAMENTO
E CONTROLE
ENCERRAMENTO
INTEGRAO Desenvolver o
termo de
abertura do
projeto (project
charte)
Desenvolver o plano de
gerenciamento do projeto
Orientar e gerenciar
a execuo do projeto
Monitorar e
controlar o trabalho
do projeto
Realizar o controle
integrado de
mudanas
Encerrar o projeto
ESCOPO Coletar requisitos
Definir o escopo
Criar a EAP
Verificar o escopo
Controlar o escopo
TEMPO Definir as atividades
Sequenciar as atividades
Estimar os recursos das
atividades
Estimar as duraes das
atividades
Desenvolver o
cronograma
Controlar o
cronograma
CUSTO Estimar os custos
Elaborar o oramento
Controlar os custos
RISCO Planejar o gerenciamento
de riscos
Identificar os riscos
Realizar a anlise
qualitativa de riscos
Realizar a anlise
quantitativa de riscos
Planejar as respostas a
riscos
Monitorar e
controlar os riscos
QUALIDADE Planejar a qualidade Realizar a garantia
de qualidade
Realizar o controle
de qualidade
RECURSOS
HUMANOS
Desenvolver o plano de
recursos humanos
Mobilizar a equipe
do projeto
Desenvolver a equipe
do projeto
Gerenciar a equipe
do projeto
COMUNICAES Identificar as
partes
interessadas
Planejar as comunicaes Distribuir as
informaes
Gerenciar as
expectativas das partes
interessadas
Reportar o
desempenho
AQUISIES Planejar as aquisies Realizar as
aquisies
Administrar as
aquisies
Encerrar as
aquisies
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
32
11. TECNOLOGIA DA INFORMAO, TRANSPARNCIA e CIDADANIA
PDRAE enfatizava a necessidade do uso da TIC (item 8.2.9): necessidade de implantao de
sistemas que possam oferecer transparncia s aes do governo; de disponibilizao de informaes
gerenciais para facilitar a tomada de deciso; acesso fcil aos cidados atravs da internet, de dados do
sistema de governo.
Principais Aes:
Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informao (GTTI): abril/2000.
Comit Executivo do Governo Eletrnico (CEGE) que viria a definir as bases institucionais para a
implantao do e-gov: outubro/2000.
8 (oito) comits, todos no mbito do CEGE: em 2003.
Departamento de Governo Eletrnico, que assumiu as funes do CEGE voltadas para a
coordenao e implantao de aes integradas do governo eletrnico: em 2005.
Os Programas do Governo eletrnico so comandados pela Casa Civil da PR, com apoio tcnico e
gerencial da Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao (SLTI), do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto.
Principais relaes
G2G relaes intragovernos e intergovernos,
G2B e-procurement;
G2C relao entre governos e cidados
Principais Projetos:
Infra-estrutura de Chaves Pblicas (ICP Brasil): serve de base para o sistema criptogrfico de
certificao digital.
Programa Sociedade da Informao SocInfo: como linha de ao: Universalizao de servios
para a cidadania, Governo ao alcance de todos e Infra-estrutura avanada e novos servios.
Proposta Br@asil.gov: criou os projetos Infovia Braslia e, posteriormente, Infovia Brasil, com o
fim de prover uma infra-estrutura de comunicao de voz, dados e imagem com qualidade,
segurana, custo baixo e com grande capilaridade.
Projeto Rede Governo: disponibilizar, num s endereo na Internet, at 544 servios para os
cidados;
Gesto de stios e servios on-line: motivou aes relacionadas ao e-PING (padres de
interoperabilidade do Governo eletrnico), Portal Comprasnet (prego eletrnico), Voto eletrnico
e outras.
Outros Projetos:
Projeto Computadores para Incluso Projeto CI envolve a administrao federal e seus
parceiros num esforo conjunto para a oferta de equipamentos de informtica recondicionados, em
plenas condies operacionais, para apoiar a disseminao de telecentros comunitrios e a
informatizao das escolas pblicas e bibliotecas.
Portal Convnios SINCONV: com informaes sobre a celebrao, liberao de recursos,
acompanhamento da execuo e a prestao de contas dos convnios firmados pela Unio.
e-MAG - Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrnico: torna obrigatria a acessibilidade nos
portais e stios eletrnicos da administrao pblica na rede mundial de computadores para o uso das
pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos contedos disponveis.
e-PWG - Padres Web e-GOV: so recomendaes de boas prticas agrupadas em formato de
cartilhas com o objetivo de aprimorar a comunicao e o fornecimento de informaes e servios
prestados por meios eletrnicos pelos rgos do Governo Federal.
O projeto Indicadores e Mtricas para Avaliao de e-Servios: uma metodologia desenvolvida
para avaliar a qualidade dos servios pblicos prestados por meios eletrnicos de acordo com a
convenincia para o cidado. So 8 indicadores e 19 critrios que verificam a maturidade,
comunicabilidade, confiabilidade, multiplicidade de acesso, disponibilidade, acessibilidade,
facilidade de uso e nvel de transparncia do servio prestado.
O Observatrio Nacional de Incluso Digital (ONID) uma iniciativa do Governo Federal em
conjunto com a sociedade civil organizada que atua na coleta, sistematizao e disponibilizao de
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
33
informaes para o acompanhamento e avaliao das aes de incluso digital no Brasil. O novo
Portal do ONID j est online
Programa Nacional de Apoio Incluso Digital nas Comunidades Telecentros.BR
Principais instrumentos:
Portal da Transparncia: iniciativa da CGU (2004), para assegurar a boa e correta aplicao dos
recursos pblicos. O objetivo aumentar a transparncia da gesto pblica, permitindo que o
cidado acompanhe como o dinheiro pblico est sendo utilizado e ajude a fiscalizar;
Ouvidorias Painel do cidado;
LRF;
Sistemas da Administrao Federal.
O "Portal Domnio Pblico: lanado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras),
prope o compartilhamento de conhecimentos de forma equnime, colocando disposio de todos
os usurios da rede mundial de computadores - Internet - uma biblioteca virtual que dever se
constituir em referncia para professores, alunos, pesquisadores e para a populao em geral.
Portal Brasil: comeou a ser idealizado em julho de 2007, atravs da Secom Secretaria de
Comunicao Social da Presidncia da Repblica que definiu a criao de um site para divulgar
informaes com a participao da sociedade, gerenciado por empresa privada, que ganhou o
processo licitatrio.
Programa Olho Vivo no Dinheiro Pblico: de iniciativa da CGU (2003) para incentivar o controle
social. O objetivo fazer com que o cidado, no municpio, atue para a melhor aplicao dos
recursos pblicos, sensibilizando e orientar conselheiros municipais, lideranas locais, agentes
pblicos municipais, professores e alunos sobre a importncia da transparncia na administrao
pblica, da responsabilizao e do cumprimento dos dispositivos legais.
Pgina de Transparncia Pblica (2005): divulgao de dados e informaes pelos rgos e
entidades da Administrao Pblica Federal na Internet. Esses normativos tambm atribuem ao
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG) e Controladoria-Geral da Unio (CGU)
a responsabilidade pela gesto das Pginas. O MPOG, responsvel pela programao visual, definiu
este modelo de Pgina de Transparncia Pblica. A CGU exerce o papel de atualizar periodicamente
as Pginas de Transparncia com os dados contidos nos sistemas do Governo Federal (Siafi, Siasg,
Siest e Scdp)
Portalzinho Criana Cidad: a CGU em parceria com o UNODC (Escritrio das Naes Unidas
sobre Drogas e Crime), agncia da ONU que tem representaes em vrios pases e trabalha para
prevenir o uso de drogas e enfrentar o crime organizado, a corrupo, promover justia, segurana,
sade e direitos humanos, criou o stio Criana Cidad.
Aumenta a accountability, o controle social, ataca a corrupo.
11.1. Comunicao na Administrao pblica e Gesto de Redes
Os elementos formadores do processo de comunicao so os seguintes:
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
34
Barreiras Comunicao
Canais de Comunicao
Formal: os caminhos e meios oficiais para o envio de informaes dentro e fora da organizao;
Informais: constituem as redes de comunicao no-oficial que complementam os canais formais.
Comunicao Institucional
Promoo e gerenciamento do fluxo de informaes com e entre os funcionrios (jornais internos,
web sites);
Preocupao com a identidade social da empresa no mercado e com o marketing;
Promoo da comunicao com a imprensa e a mdia em geral, com marketing, propaganda e
publicidade.
Fluxos de Comunicao
Caractersticas da Boa Comunicao
Objetividade e assertividade: de forma direta e explcita
Conhecimento do interlocutor (pblico-alvo) para gerar empatia (colocar-se no lugar no receptor)
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
35
Compreenso do interlocutor (saber ouvir)
Redundncia ou repetio: usar canais mltiplos
Linguagem adequada: clara e simples
Preferncia pela voz ativa
Correo
Conciso
Fidelidade ao pensamento original
Traduo do pensamento nas palavras certas
Eliminao da filtragem
Dar e buscar feedback ou retroao
Gesto de Redes (desenho aplicado gesto pblica ou privada)
Vantagens:
Negcios virtuais ou unidades de negcios;
Pluralidade de opinies e diversidade de recursos;
Capilaridade - democracia na tomada de deciso, permitindo que atores menores e prximos
aos problemas participem do processo.
Desvantagens:
Controle global difcil, riscos e incertezas;
Cultura corporativa e lealdade fracas.
12. CULTURA ORGANIZACIONAL
Cultura uma rede de concepes, normas e valores, que so tomadas por certas e que permanecem
submersas vida organizacional e para criar e manter a cultura, estas concepes, normas e valores devem
ser afirmados e comunicados aos membros da organizao de uma forma tangvel.
Modela o comportamento e cria identidade
Elementos da cultura: Crenas; Ritos, rituais e cerimnias; Valores; Estrias e mitos; Normas e
costumes; Hbitos; Linguagem.
Culturas Fortes e Fracas
Culturas Adaptativas ou Conservadoras
Culturas e Subculturas organizacionais
Cultura Organizacional - nveis
TRE-CE Prof . Elisabete Moreira
36
Socializao Organizacional
Assuntos
organizacionais
Misso, objetivos, polticas, diretrizes, estrutura, produtos
e servios, regras e procedimentos;
Benefcios oferecidos Horrio de trabalho, dias de pagamento, programas de
benefcios sociais oferecidos.
Relacionamento Conhecimento dos superiores, colaterais e subordinados.
Deveres Responsabilidades bsicas, viso do cargo, tarefas, metas
e resultados
Bons Estudos!!!!
Você também pode gostar
- Evolução Dos Edifícios HospitalaresDocumento6 páginasEvolução Dos Edifícios HospitalaresmmcostAinda não há avaliações
- Aula Gestão de Processos 2012Documento13 páginasAula Gestão de Processos 2012mmcostAinda não há avaliações
- PROVA Tecnico - Assuntos - Educacionais UFG 2018Documento18 páginasPROVA Tecnico - Assuntos - Educacionais UFG 2018mmcostAinda não há avaliações
- Cronologia Histórica Da Saúde Pública - Fundação Nacional de Saúde PDFDocumento44 páginasCronologia Histórica Da Saúde Pública - Fundação Nacional de Saúde PDFmmcostAinda não há avaliações
- AcreditaçãoHospitalar IntroduçãoDocumento12 páginasAcreditaçãoHospitalar IntroduçãommcostAinda não há avaliações
- Exercícios EBSERH Maranhao ProfDocumento30 páginasExercícios EBSERH Maranhao ProfmmcostAinda não há avaliações
- Prova Assistente - Administracao UFG 2018Documento13 páginasProva Assistente - Administracao UFG 2018mmcostAinda não há avaliações
- Resumo 1831410 Elias Santana 21242520 Gramatica 2016 Video DemonstrativoDocumento2 páginasResumo 1831410 Elias Santana 21242520 Gramatica 2016 Video DemonstrativommcostAinda não há avaliações
- Mapa Mental - TI Arquivo PDFDocumento1 páginaMapa Mental - TI Arquivo PDFmmcostAinda não há avaliações
- Manual de Redacao Oficial Da FunaiDocumento88 páginasManual de Redacao Oficial Da FunaimmcostAinda não há avaliações
- Manual Do Gestor SUS AF01Documento326 páginasManual Do Gestor SUS AF01mmcostAinda não há avaliações
- Prova Discursiva Administrador CELG ADocumento5 páginasProva Discursiva Administrador CELG AmmcostAinda não há avaliações
- Lista Exercícios II Ética 2016 InssDocumento2 páginasLista Exercícios II Ética 2016 InssmmcostAinda não há avaliações