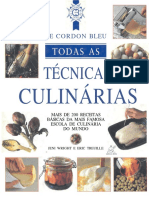Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Docencia Na Ef
Docencia Na Ef
Enviado por
Thiago DanieleDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Docencia Na Ef
Docencia Na Ef
Enviado por
Thiago DanieleDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez.
2008 319
DOCNCIA EM EDUCAO FSICA: REFLEXES ACERCA
DE SUA COMPLEXIDADE
Ricardo Rezer
Professor da Unochapec e doutorando em Educao Fsica (PPGEF/UFSC).
Paulo Evaldo Fensterseifer
Professor da Uniju e doutor em Educao Fsica (Unicamp).
Resumo
O objetivo deste artigo reetir acerca da complexidade da docncia no campo da Educao Fsica (EF). Para tal,
se subdivide em trs momentos: a responsabilidade do entorno do processo de interveno; a prtica pedaggica no
ensino superior e a formao permanente, como possibilidades importantes para resgatar a complexidade do exerc-
cio da docncia em EF. Conclui-se que, uma mudana de paradigma na formao inicial, a formao permanente de
carter crtico-reexivo e o desenvolvimento de pesquisas mais imbricadas realidade, podem representar focos de
ruptura possveis de serem considerados no processo de resgate da complexidade da docncia em EF.
Palavras-chave: educao fsica docncia prtica pedaggica
Consideraes iniciais...
I
niciamos por reconhecer que a Educao
Fsica Escolar tem sido um componente
passvel de ser atendido por professores de
diferentes reas e por acadmicos em incio
de formao. O critrio, quando por ventura
se faa necessrio, gostar de esporte, brinca-
deiras, ou simplesmente completar horas no
plano de trabalho. Podemos inferir que este
fenmeno no se aplica a outras reas, con-
sideradas mais importantes, anal ser um
leitor inveterado no capacita o sujeito a as-
sumir a disciplina de Lngua Portuguesa.
Na verdade vivemos uma espcie de pa-
radoxo, pois, se por um lado, no assistimos
uma maior preocupao com o fazer docente
em nossa rea, porque anal dar aula de EF
muito fcil,
1
por outro, passamos por uma
espcie de reconhecimento de que no temos
1 Ao que parece, para o imaginrio social, qualquer profes-
sor pode dar na ausncia do professor de EF.
enfrentado nossos problemas didtico-meto-
dolgicos (problema para quem?) e que por
isso tem sido muito difcil dar aulas de EF.
2
Percebendo o carter paradoxal dessas cons-
tataes, o objetivo principal deste texto
traar reexes que permitam resgatar a com-
plexidade pertinente ao campo da EF, como
possibilidade de complexicar aquilo que vem
sendo, sob muitos aspectos, banalizado, bara-
teado, simplicado: a interveno pedaggica.
Como j arma Guiraldelli Junior (2006),
para complexicar aquilo que vem sendo ba-
nalizado, a reexo losca se apresenta
como uma possibilidade importante. Desta
forma, se torna importante considerar que a
2 Primeiro cabe destacar que dar aula no qualquer coisa
que acontece em um tempo-espao, mas fundamentalmente
perseguir um objetivo pautado por determinantes prprios
a instituio em que se realiza (ver mais em Fensterseifer e
Gonzlez, 2006). Em segundo lugar nos deparamos com de-
poimentos de um professor que com 30 anos de magistrio,
ao voltar de processo de formao doutoral, arma, aps duas
semanas na escola, que no conseguiu dar aulas de EF.
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 320
complexicao de um fenmeno como a EF
parte de um esforo losco. Considerar isso,
em muitos casos, principia com o abandono
da preguia de pensar sobre o que fazemos e
com a recusa em emitir juzos apressados.
Na direo de enfrentar as questes apre-
sentadas ao longo deste texto, interpretamos a
EF como um jogo hermenutico de pergunta
e resposta, fazendo referncia ao que Berticelli
(2004) traz para o campo da educao. Talvez
seja necessrio alargar o horizonte do perguntar,
preservando a humildade do ouvir, pautando
este jogo por um princpio tico-poltico de
permitir a abertura para outras formas de pen-
sar, que podem representar novos horizontes.
Resgatar a complexidade da docncia sig-
nica considerar que aquilo que fazemos em
uma aula de EF na escola, em uma academia
ou em um laboratrio de siologia, pode se
constituir a partir de uma signicativa com-
plexidade. No por decreto, mas sim, porque
traz em sua esteira uma tradio, um nvel de
exigncia intelectual, sensvel, esttica, corpo-
ral, enm, um nvel de exigncia humana que
pode ser bastante elevado.
possvel ilustrar as questes at aqui
apresentadas, com uma breve histria: em
uma escola havia dois professores de EF, e um
deles, por ser atleta, seguidamente ausentava-
se das aulas em perodos de competies. Por
muitas vezes, geralmente de ltima hora, ele
combinava com a professora de portugus, que
o substitua nas aulas de EF. Os alunos gos-
tavam muito quando isso acontecia e a referi-
da professora armava entusiasmadamente o
mesmo. Obstante a isso, os dois professores
de EF da escola (o atleta e o outro) pensa-
vam muito sobre o que fazer nas aulas. Na
tentativa de enfrentar este problema, pensa-
vam em como sair do improviso de cada aula,
onde parecia que tinham de tirar um coelho
da cartola a cada encontro. Como nesse con-
texto, no havia diretrizes para orientar seu
trabalho, a sada encontrada foi construir
um projeto curricular orientador. Desta for-
ma, aps o perodo de construo, iniciaram
o processo de implantao de uma proposta
para a EF no ensino fundamental (5 a 8 s-
ries). Organizaram um cronograma de aulas,
contendo um breve roteiro com os contedos
previstos para cada encontro. Aps esta nova
congurao, novamente o professor atle-
ta precisou se ausentar da escola e explicou
professora de portugus que o contedo a
ser desenvolvido em aula estava em seu arm-
rio, no planejamento das turmas que teriam
aula no prximo dia, na tentativa de facilitar
o trabalho substitutivo da colega. Pois bem,
interessante evidenciar que, no dia seguinte,
logo aps ler o material proposto, ela ligou
imediatamente ao referido professor a m de
avis-lo que isso ela no sabia fazer.
Este exemplo, aparentemente banal, nos
remete necessidade de resgatar a comple-
xidade da docncia em EF, entendendo-a
realmente como algo mais do que aplicao
de exerccios, brincadeiras ou jogos em aula
(para isso, no precisaramos cursar uma fa-
culdade de EF, como a histria anterior bem
expressa). A professora de portugus, citada
anteriormente, se sentia bem, brincando com
os alunos na quadra, eles da mesma forma,
mas no momento que certos conhecimentos
foram requisitados, ela no os possua. pos-
svel ento, considerar que h exigncias em
nosso contexto de interveno que precisam
ser melhor compreendidas.
Poderamos pensar em diversos outros
exemplos a serem utilizados como referncia
da complexidade do papel docente. Vejamos
outro contexto: aulas de hidroginstica. Ape-
nas recentemente os elementos constituti-
vos do processo de interveno neste mbito
vm sendo tratados no processo de formao
inicial em EF. Embora, ao que parece, este
processo de interveno venha se pautando
estritamente por uma preocupao tcnica,
plausvel considerar a possibilidade de ampliar
essa compreenso. Uma aula de hidrogins-
tica exige princpios didtico-metodolgicos,
conhecimentos oriundos de atividades aquti-
cas, da ginstica, da siologia do exerccio, dos
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 321
princpios do treinamento desportivo, da bio-
mecnica, entre outros. Portanto, algo mais do
que decorar exerccios de hidroginstica para
serem aplicados em cada aula. Ao dominar
conceitos destes diferentes conhecimentos,
possvel pensar em um processo de comple-
xicao da interveno pedaggica neste
mbito, pois o professor, ao invs da condio
de aplicador das idias dos outros pode alar
a condio de professor de hidroginstica,
tematizando, com inteno pedaggica, ele-
mentos pertinentes cultura corporal de mo-
vimento, a partir do esforo de arregimentar
conhecimentos de diferentes origens.
No sentido de contextualizar e susten-
tar de maneira mais profcua esta argumen-
tao inicial, subdividimos o texto em trs
momentos: a responsabilidade do entorno
da interveno; a prtica pedaggica no en-
sino superior e a formao permanente como
possibilidades de resgatar a complexidade do
exerccio da docncia em EF.
A responsabilizao do entorno...
Os argumentos anteriores sugerem que a
complexidade de um processo de interveno
precisa estar imbricada com seu entorno, com
outros sujeitos que compem o contexto em
questo, sob risco de assumirmos individual-
mente uma responsabilidade que, se muito
nossa, no somente nossa, mas coletiva, es-
trutural e organizacional. Lembrando Demo
(1998), tentar dar conta (sozinho) de problemas
que so coletivos, trata-se de tarefa quixotesca.
No sentido de dar conta de nosso papel
central formao de seres humanos para o
mundo , o exerccio da docncia no se apre-
senta destitudo de um entorno que se apresen-
ta como um elemento que precisa ser levado
em considerao e, por conseqncia, respon-
sabilizado. Do contrrio, conforme Fenster-
seifer (2006), corremos o risco de assumir, em
aula, responsabilidades que extrapolam a com-
petncia do professor, prometendo algo que
no possvel cumprir, assumindo um papel
ideolgico (no sentido marxiano de encobri-
mento da realidade). preciso considerar que
a legitimidade da docncia em EF se d, inde-
pendentemente do mbito de interveno, na
medida em que temos o que ensinar, de forma
articulada em um contexto especco. Assim
sendo, consideramos de extrema importncia
reclamar a responsabilidade do entorno que
sustenta um processo de interveno, como
meio de ampliar as prprias possibilidades pe-
daggicas desse processo.
Isso signica que, para lidar com os enfren-
tamentos inerentes ao exerccio da docncia,
importante partir da constatao que no esta-
mos sozinhos neste complexo desao, pois em
qualquer mbito de interveno, no falamos
exclusivamente por ns. Para o bem e para o
mal, estamos sempre em um contexto que nos
autoriza (ou no) determinada proposio.
Portanto, se faz necessrio trazer para o debate,
a responsabilizao desse entorno. Da mesma
forma, precisamos assumir que temos uma au-
tonomia relativa, e no podemos fazer somente
aquilo que queremos (por exemplo, ensinar
em aulas de EF, predominantemente voleibol
por gostar deste esporte). O prprio termo
licenciado se apresenta nesse sentido, quando
ao nal de um processo formativo, recebemos a
licena para o exerccio prossional.
A gura a seguir se apresenta no sentido
de ilustrar esta proposio, a partir do exer-
ccio da docncia em uma universidade co-
munitria. Cabe lembrar que se trata de um
exemplo que pode ser pensado em outros
contextos, tais como a escola, entre outros.
Figura 1 A responsabilizao do entorno no exerccio
da docncia.
Fonte: construo dos autores.
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 322
A gura permite maior clareza quan-
do armamos que no momento em que um
professor se depara com os alunos, no est
falando apenas por si, mas por toda uma
estrutura/conjuntura que vem a reboque no
processo de interveno.
3
Por exemplo, por
tratar-se de uma Instituio de Ensino Su-
perior Comunitria, congura-se como uma
universidade pblica, no estatal, de gesto
privada (ou seja, ao no ter um dono, se
constri, em tese, na lgica da sustentabilida-
de, e no na lgica do acmulo de capital).
Portanto, preciso considerar isso nas aulas,
sendo necessrio se preocupar com o que isso
representa em regies perifricas, onde a arti-
culao de lideranas da comunidade possibi-
lita ao ensino superior fazer parte do contex-
to de regies desprivilegiadas na conjuntura
do ensino superior pblico-estatal brasileiro
(isso muito antes da exploso das universida-
des privadas).
Assim sendo, ao pensar no processo so-
bre o que fazer e como trabalhar nas aulas,
necessrio levar em considerao este ce-
nrio, bem como, responsabilizar o contexto
em questo, fomentando argumentos que res-
guardem esse modus operandi de uma univer-
sidade que pblica em sua origem, com tudo
que isso implica.
4
Isso representa que todo
processo de interveno precisa estar articu-
lado com a estrutura (no exemplo proposto,
Direo de Centro, Coordenao de Curso,
Projeto Pedaggico, entre outros), tanto para
manter como para modicar as possibilidades
e limitaes do exerccio da docncia em de-
3 Podemos derivar dessa compreenso um fundamento para a
crtica ao chamado professor bola descolada da dimenso
exclusivamente individual. Entendemos que o professor no
pode transferir responsabilidades que so suas, para os alunos,
respaldado na consagrada formulao: o que vocs querem fa-
zer hoje?. Acreditamos que em uma relao pedaggica no
est tudo em jogo (diferentemente de uma relao poltica).
4 Nesse caso, entre tantas outras questes, preciso marcar a
posio de como uma universidade comunitria deve tratar
com o conhecimento produzido/veiculado: o conhecimen-
to como um direito do cidado, ou como hegemonicamen-
te vem se transformando, em um direito do consumidor?
terminado mbito (clubes, academias, escolas
municipais, estaduais, etc.).
Tais preocupaes acerca da necessidade
de considerar o entorno, ao longo de um
processo de escolhas pedaggicas, permite le-
var a discusso para o exerccio da docncia
no ensino superior, tema abordado a seguir.
A prtica pedaggica no ensino superior...
preciso ampliar o processo de discus-
so e reexo acerca da prtica pedaggica
no ensino superior. Percebemos que estamos
atravessando um momento de forte ques-
tionamento da interveno pedaggica no
contexto escolar, nas academias, nos clubes,
com a ampliao de propostas de interven-
o nestes cenrios. Nessa direo, tambm
importante criticar e apresentar propostas
para a prtica pedaggica no contexto do en-
sino superior, o que permite reetir com os
futuros professores acerca das responsabili-
dades pedaggicas no exerccio da docncia,
qualquer que seja o mbito de interveno.
Prticas transformadoras no processo de
formao podem proporcionar subsdios
para uma prtica transformadora em outros
contextos, no sentido de transpor para a uni-
versidade aquilo que muitas obras propem
para outros mbitos.
Pensar por exemplo, de que forma os pro-
fessores do ensino superior, que trabalham
diretamente com modalidades esportivas,
vm se aproximando das preocupaes evi-
denciadas neste texto, trata-se de um desao
contemporneo. Levar isso em considerao
pode promover desdobramentos signicati-
vos, fazendo com que as aulas de modalida-
des esportivas se apresentem como contextos
especcos de um processo formativo que su-
perem o em si da modalidade em questo
(regras, fundamentos, sistemas, etc.).
Nessa direo, h trabalhos que se preocu-
pam em questionar as abordagens simplica-
das do ensino do esporte no contexto do ensi-
no superior em EF, tais como os trabalhos de
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 323
Molina Neto (1995), Gonzlez (1999, 2004,
2007), Nascimento (2004), entre outros.
possvel armar que, mesmo com as fre-
qentes alteraes na formao inicial em EF
ocorridas nos ltimos anos, conforme Nasci-
mento (2004), as prticas pedaggicas estru-
turadas para o ensino dos esportes ainda se
sustentam em uma abordagem tradicional do
ensino. Conforme Gonzlez (2004), as discipli-
nas esportivas no mudaram muito quanto ao
tratamento do contedo. A aparente reduo
do nmero e carga horria de disciplinas espor-
tivas nos currculos dos cursos de EF passa mais
por uma questo de quantidade de disciplinas
que por uma transformao qualitativa no en-
tendimento do fenmeno esportivo no campo
do ensino superior em EF. Assim, ao que pare-
ce, o contexto universitrio carece de uma cul-
tura acadmica para o ensino do esporte.
possvel inferir que superar a concepo
hegemnica do ensino do esporte ainda pre-
sente nos contextos de formao prossional
condio sine qua non para esta superao
em outros contextos. Obviamente no se trata
de simples relao de causa e efeito, mas de
pensar que um novo paradigma para o ensino
superior pode promover signicativos desdo-
bramentos em outros mbitos.
Do contrrio, como pensar na possi-
bilidade de transformar a interveno
pedaggica em diferentes contextos (em
escolas, academias, etc.), se no pensarmos
nestas transformaes tambm no contexto
do ensino superior? Quem desata estes
ns? O egresso? Pensamos que a respon-
sabilidade passa tambm, necessariamente,
pelo contexto de formao de futuros pro-
fessores.
Tomando como referncia esta preocu-
pao, Rezer (2008) apresenta sinteticamente
apontamentos introdutrios para uma abor-
dagem crtica do esporte neste mbito:
ABORDAGEM HEGEMNICA ABORDAGEM CRTICA
Aula centrada no professor e no esporte em si. Aula compreendida como uma possibilidade de exerccio do-
cente, a partir da complexidade de contedos presentes neste
contexto, sem abrir mo da responsabilidade pedaggica do
professor.
Aula como lugar do A-luno (do Latim, no luz). Aula como lugar do professor em processo de formao inicial.
Aula como espao para repassar contedos. Aula compreendida como laboratrio pedaggico, de
experincias de docncia.
Aula como local para o ensino de jogos,
atividades, exerccios educativos, etc.
Compreender a aula como um espao de aquisio de saberes
da docncia, onde o mais importante se manifesta no sentido
de compreender as concepes que fundamentam as prticas
corporais em questo.
Jogar na aula (praticar esportes) Aprender a pensar sobre o jogar, sem necessariamente, deixar de
jogar (praticando o exerccio da docncia).
Quadro 1 Abordagem hegemnica e abordagem crtica para o trato com o esporte no ensino superior.
Fonte: Rezer (2008).
Entendemos que todo quadro pode se
tornar uma armadilha, devido a seu aparente
maniquesmo, pois parece ter a pretenso de
encaixotar a realidade. Porm, podemos per-
ceber nesta formulao, uma inteno de ex-
plicitar possibilidades concretas que venham
a contribuir para um possvel (re) signicar
do trato com o esporte no ensino superior.
Partindo disso, possvel considerar possibi-
lidades de ampliar essa discusso para outros
conhecimentos pertinentes ao ensino superior
em EF (ginstica, dana, entre outros).
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 324
Cabe destacar que as consideraes cr-
ticas deste texto no pretendem resolver
problemas conjunturais construdos na traje-
tria histrica da EF, muito menos substituir
os sujeitos na produo de possveis solues.
Obstante a isso, ampliar a compreenso sobre
estes elementos no processo de formao de
professores pode permitir resgatar a comple-
xidade da docncia.
Assim, sendo possvel identicar diversos
desaos para o processo de formao inicial,
possvel tambm inferir que tais desaos, se
no enfrentados ao longo da formao inicial,
podem promover signicativos desdobra-
mentos (problemticos) para o exerccio da
docncia no cotidiano do egresso. A forma-
o permanente pode, ento, se apresentar
como uma sada plausvel para enfrentar
esta questo, conforme veremos a seguir.
A formao permanente como possibilidade
para a Constituio de focos de ruptura...
Concordando com Contreras (apud
MOLINA NETO et al., 2006), a tese bsi-
ca da proletarizao dos professores que o
trabalho docente vem sofrendo uma subtra-
o progressiva de uma srie de qualidades
que conduziram os professores a uma sensvel
perda de controle e sentido sobre seu prprio
trabalho, o que vem levando a uma gradati-
va perda de autonomia. Esta conjuntura vem,
gradativamente, nas palavras de Tardif e Les-
sard (2005), ampliando o sentimento de im-
potncia dos docentes. Pensar em focos de
ruptura se apresenta como uma possibilida-
de de enfrentar a intensicao do trabalho
docente que, entre outros, vem vitimando o
professor sob diversos aspectos: aumento da
carga horria, diminuio do tempo livre e do
tempo para estudar no trabalho, entre outras
signicativas perdas da prosso docente.
Longe de individualizar responsabili-
dades, como referido anteriormente sobre a
responsabilizao do entorno, h responsabi-
lidades das quais no podemos nos abster. Se
compreendermos a crise contempornea em
que vivemos como um momento de tomada
de deciso, avanar na reexo sobre estas
responsabilidades depende, em certa medida,
dos sujeitos envolvidos, pois no h um pai
salvador que ir nos apontar a salvao. Na
direo contrria do tcito afastamento da
complexidade do exerccio da docncia que
vamos sendo seduzidos a aceitar, possvel
caminhar na direo de constituir focos de
ruptura (REZER, 2003, 2006), brechas,
nas quais pequenas oportunidades podem
representar formas de resistncia ao pretenso
esvaziamento da capacidade crtico-reexiva
dos docentes.
Nessa direo, focos de ruptura se cons-
tituem a partir de perspectivas construdas em
microcontextos, de acordo com os encami-
nhamentos assumidos pelos envolvidos que
compem o entorno da interveno, pautados
pelo paradigma habermasiano da comunica-
o, alicerados por nossa autonomia relativa,
onde o melhor argumento e contra-argumen-
to possam ser levados em considerao no
processo de denio dos caminhos a serem
percorridos.
5
Trazendo essa discusso para o mbito da
formao permanente, possvel contribuir
com a proposio de alternativas (com todo
cuidado que esta palavra exige) que permitam
considerar possveis sadas (mesmo que em
microcontextos), que podem trazer maior se-
gurana ao exerccio da docncia.
6
5 O trabalho de Gonzlez (2006), por exemplo, se apresen-
ta nesta perspectiva, uma proposta de currculo para a EF
escolar, construda coletivamente, tomando como recorte
inicial o esporte e suas relaes com o campo da educao
fsica. Tal proposta se desenrola em um contexto especco
e pode servir de inspirao e referncia para novas constru-
es especcas.
6 Precisa estar claro que no se trata de uma tentativa de indi-
vidualizao da responsabilidade da interveno pedaggica,
como se bastasse aos docentes se interessarem por determi-
nadas questes, mas sim, resgatar a importncia do papel do-
cente, pois sabemos que outros condicionantes se mostram
extremamente atrelados a qualquer contexto pedaggico (fa-
tores polticos, econmicos, culturais, estruturais e outros),
o que torna ainda mais desaador pensar/fazer a educao
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 325
Concordando com Caparroz e Bracht
(2007), o docente no deve aplicar teoria na
prtica, mas sim, (re) construir (reinventar)
sua prtica com referncia em aes e expe-
rincias anteriores, bem como, em reexes
e teorias. A apropriao de teorias precisa se
dar de forma autnoma e crtica, a exemplo
do que j encontramos nos peridicos espe-
cializados na rea, constituindo-se em boas
referncias que podem ser consideradas como
pontos de partida nos processos de interven-
o, e no, modelos a serem aplicados.
Nesse sentido, os achados da investigao
de Molina Neto et al. (2006) permitem avan-
ar na reexo sobre possibilidades de lidar
com esta conjuntura, a partir da perspectiva
de pensar em processos de formao perma-
nente como meio para superar as relaes de
dependncia e resgatar, na medida do poss-
vel, possibilidades de autonomia pedaggica.
Vejamos: a) inovaes pedaggicas e curricu-
lares so de difcil implantao, se desarticu-
ladas de um projeto permanente de formao
de professores; b) assim, a formao perma-
nente se apresenta como uma possibilidade de
construo de processos de mudanas de con-
cepo e de prticas pedaggicas; c) grandes
eventos de formao so geralmente destaca-
dos como importantes, mas corriqueiramente
fsica brasileira. Proposta interessante neste sentido tem sido
desenvolvida no contexto da Unochapec, na qual cons-
truiu-se os chamados Encontros pedaggicos, que tem por
objetivo contribuir para o processo de formao permanente
a partir do estudo de temas presentes em dilemas cotidianos
da prtica pedaggica, fomentando o exerccio da problema-
tizao, a partir dos desaos da docncia neste mbito. A
cada semestre, acontecem reunies sistemticas e dene-se a
temtica a ser abordada em cada semestre (quem decide isso
o grupo de professores). Em 2007.1 o tema escolhido foi
Estgio Supervisionado, em 2007.2, O esporte no ensino
superior e em 2008.1, Produo do conhecimento e ini-
ciao cientca. Em cada edio, estuda-se e discutem-se
os temas em fruns internos e, ao nal de cada tempora-
da, escolhe-se um convidado de outra instituio para um
momento de troca de experincias, contribuindo com o pro-
cesso de discusso. Podemos inferir que tal iniciativa, se no
resolve os problemas enfrentados, vem, de acordo com o
prprio grupo, promovendo desdobramentos signicativos
no contexto das prticas pedaggicas.
perdem seu impacto quando os professores
retornam ao seu trabalho, onde geralmente
no encontram possibilidade de continuida-
de das discusses; d) a dedicao de tempo e
de espao na carga horria de trabalho para a
formao permanente no contexto de traba-
lho uma necessidade; e) os professores tm
necessidade de falar de suas experincias pe-
daggicas em seu cotidiano.
Partindo dessas necessidades e das evi-
dncias de uma conjuntura complexa, pre-
ciso analisar a possibilidade de voltar a ter es-
colhas, tal como expresso por Hannah Arendt
(2000, 2008), resgatando a importncia da
capacidade de ter escolhas e deliberar, decidir,
prever e escolher, condio que nos humani-
za. Isso permite pensar: ainda temos escolhas?
Podemos deliberar sobre o que? Quando? At
onde? Tencionar esta possibilidade humana
a partir da construo de focos de ruptura
pode signicar andar na contramo da tenta-
o da servido voluntria em uma cada vez
mais sedutora sociedade de escravos felizes.
Essas reexes permitem considerar algu-
mas necessidades que um processo de inter-
veno exige. Partindo disso, compreendemos
que, entre outras, o esforo de ser-professor
passa por trs necessidades importantes:
a) Necessidades pedaggicas: o exerc-
cio da docncia em EF parte, inicialmente, de
um esforo pedaggico, haja vista a necessi-
dade de arregimentar diferentes conhecimen-
tos para compor o processo de interveno.
Nesse sentido, preciso considerar que suprir
certas necessidades pedaggicas pode permi-
tir uma percepo mais apurada daquilo que
muitas vezes no est claro e, a possibilidade
de se debruar pedagogicamente sobre deter-
minados fenmenos, pode permitir maiores
condies de enfrentamento a dura realida-
de a que somos submetidos. No momento da
interveno pedaggica, possvel e neces-
srio aproximar as diferentes tribos
7
da EF,
7 Expresso utilizada por Lovisollo (1995).
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 326
pois no basta ao professor, em um projeto
de interveno srio, se apresentar como sen-
do um siologista, um treinador ou mesmo
como um lsofo que ensina. Ele antes de
tudo, um PROFESSOR, um educador, um
pedagogo (do esporte, da sade, enm, de di-
ferentes manifestaes da cultura corporal de
movimento) e como tal precisa se apresentar
de acordo com as exigncias da prosso do-
cente em cada contexto, arregimentando e te-
matizando elementos do esporte, da losoa,
da siologia,
b) Necessidade de (maior) domnio
conceitual: resgatar a complexidade da do-
cncia passa, sem dvida, por uma ampliao
de nossa capacidade de compreenso acerca
dos fenmenos que constituem nosso coti-
diano. Por exemplo, dominar o conceito de
equilbrio permite maiores possibilidades de
tematizar equilbrio e identicar como nos
relacionamos com a lei da gravidade, entre
outras questes possveis. Ou ento, identi-
car o equilbrio como parte integrante da
vida, em uma eterna luta entre desequilibrar
e equilibrar, presentes na caminhada ou na
corrida. Isso permite considerar a possibi-
lidade de ampliar nossa interveno e, ao
dominar tais elementos, no precisarmos,
necessariamente, ser dependentes dos ma-
nuais de atividades, ou de cursinhos de ca-
pacitao, pois nossa prtica pedaggica se
pautar por uma possibilidade de autonomia
que nos permite reconhecer/criar situaes
de equilbrio, capacidade que no se esgota
em qualquer livro de 1000 exerccios de....
c) Necessidade de o professor armar-
se como sujeito:
8
esse processo de resgate
8 A expresso sujeito tem aqui o sentido de tornar poss-
vel a autonomia da ao de conhecer, mediante a resistn-
cia do sujeitar-se a outrem, to presente no cotidiano da
docncia em EF: sujeitar-se a vontade dos alunos (o que
vocs querem fazer hoje?), a uma desigual relao com as
demais disciplinas (quando o aluno no pode participar
da EF, se no se comportar direito ou no cumprir com
da responsabilidade docente pela via do co-
nhecimento se apresenta contrrio a noo
de apagamento do sujeito, visto que, na
contemporaneidade, vivemos em um mo-
mento que parece prescindir da reexo,
onde o ato de pensar por si mesmo, em tem-
pos difceis como o nosso, trata-se de um
elemento quase revolucionrio. As relaes
com o sistema body ou cursos de capacita-
o que pretensamente querem a tudo re-
solver, entre outros, permitem considerar
que h uma induo de afastamento tcito
entre o professor e o ato de pensar. Ao trans-
ferirmos nossa responsabilidade de pensar
sobre nosso papel como docente, lembrando
Schopenhauer, corremos o risco de cavalgar
nas idias dos outros. Talvez, para lidar com
isso, precisemos resgatar aquilo que Kant
(2008) tratou como a deciso e coragem de
servir-se de seu prprio entendimento sem a
direo de outrem, na perspectiva de trilhar
o caminho do esclarecimento, como sada do
homem de sua menoridade. Isso signica so-
pesar a necessidade de que tenhamos maior
inteligncia de navegao, participando da
proposio dos rumos que seguiremos, ao
invs de agir, tal como arma Rubem Alves
(2006), como remadores no interior de uma
Galera que ruma sempre a um em frente
do qual no participamos da escolha.
Finalizando...
No sentido de lidar com esses desa-
os, cruzar os braos parece no ser a melhor
sada. Precisamos construir novos sentidos
para o exerccio da docncia, complexicando
o que no simples. Resgatar a complexidade
da docncia no mbito da EF passa pela ne-
suas tarefas nas aulas consideradas mais importantes), as
condies climticas (se chove, no tem aula), entre outras
possibilidades de o professor estar subordinado a algo que
lhe retira a condio de sujeito. Resgatar a autoridade do
conhecimento passa por um processo de tornar-se sujei-
to, de enfrentamento ao cotidiano convite submisso e
menoridade.
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 327
cessidade pedaggica de maior domnio con-
ceitual, por um processo de armao como
sujeito, no qual o professor se perceba como
algum que pode produzir conhecimento e
no apenas aplicar conhecimentos produzi-
dos por outros. Nesse caso, concordando com
Gamboa (2007), a teorizao pedaggica
deve mudar com a prtica e a prtica poder
se transformar com a reexo.
Para tal esforo, considerar aspectos
como: uma mudana do paradigma apli-
cacionista da formao inicial; a formao
permanente assumindo um carter crtico-
reexivo, e o desenvolvimento de pesquisas
mais imbricadas com a realidade em que
vivemos, podem representar focos de rup-
tura possveis no processo de aproximao
entre concepo e interveno,
9
cincia e
experincia,
10
teoria e prtica, discusses
bastante presentes em diferentes propostas
contemporneas.
Alargar as possibilidades de perguntar
pode ser uma sada para a aparente simpli-
cao de uma interveno. Porm, tal com-
plexicao no se d por decreto, mas sim
pela possibilidade de enfrentar, pela via do
conhecimento, os desaos que nossa prosso
exige. Nessa direo, possvel lembrar uma
passagem de Bauman (1999, p. 12),
No formular ciertas preguntas conlleva ms pe-
ligros que dejar de responder a las que ya gu-
ran en la agenda ocial; [...]. El silencio se paga
con el precio de la dura divisa del sufrimiento
humano. Formular las preguntas correctas cons-
tituye la diferencia entre someterse al destino y
construyrlo, entre andar a la deriva y viajar.
Finalizando, esta reexo pretende cha-
mar a ateno para a necessidade de novas
perguntas, do ousai pensar do esclareci-
mento, mas principalmente, da necessidade
9 Tema central da IX Semana da Educao Fsica da UFSC,
agosto de 2008, Florianpolis (SC).
10 Tema central do IV Congresso Sul-Brasileiro de Cincias
do Esporte, setembro de 2008, Faxinal do Cu (PR).
de continuarmos o debate a partir de estu-
dos que possam se debruar sobre terrenos
suspeitos do exerccio da docncia em EF.
Resgatar a complexidade do que no sim-
ples, como pretensamente somos seduzidos
a aceitar, pelas artimanhas de um processo
que sufoca, minimiza e subvaloriza a im-
portncia do ser professor nestes tempos
difceis, passa pela reinveno do cotidiano
da sala/quadra de aula, de nossa maneira de
encarar os desaos que nossa escolha pros-
sional exige. Pensando nisso, deixamos uma
ltima interrogao: At que ponto as ques-
tes levantadas neste texto tm sido objeto
de nossas investigaes?
Enm, se no visualizamos solues de-
nitivas para estas problematizaes, pode-
mos nos consolar com a mxima: diante da
complexidade, o melhor car verdadeira-
mente angustiado pela dvida, do que falsa-
mente esclarecido.
11
Assumir esta postura,
porm, no nos impede de, com nossas fr-
geis certezas, construir coletivamente uma
EF que esteja altura dos problemas que a
aigem.
The teaching of physical education: reections on its
complexity
Abstract
This article aims to reect upon the complexity of tea-
ching in the eld of Physical Education (PE). It is divi-
ded in three parts: the responsibility of the intervention
process environment; the pedagogical practice of higher
education teaching; and ongoing education processes, all
of which are important possibilities for reinstalling the
complexity of teaching in PE. We conclude that a pa-
radigm change in the initial stages of teacher education
programs, together with ongoing education programs
which stimulate criticism and reection, and the develo-
pment of research works which have a deeper link with
reality may all represent breaches in the current structure
which may be considered in the process of reinstalling
complexity into PE teaching.
Keywords: Physical education Teaching Pedagogi-
cal Practice
11 Cludio Boeira Garcia Comunicao Oral.
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 328
La enseanza em educacin fsica: reexiones sobre
su complejidad
Resumen
Este artculo pretende reexionar sobre las complejida-
des de la enseanza en el mbito de la Educacin Fsica
(EF). Con este n, se subdivide en tres perodos: la res-
ponsabilidad alrededor del proceso de intervencin; la
prctica docente en la enseanza superior y la formacin
permanente, como importantes oportunidades para res-
catar la complejidad del ejercicio de la enseanza en EF.
De ello se deduce que, un cambio de paradigma en la
formacin inicial, la formacin permanente de carcter
crtico reexivo y el desarrollo de investigaciones inter-
relacionadas a la realidad, pueden representar focos de
perturbacin que puede ser considerado en el proceso
de rescate de la complejidad de la enseanza en EF.
Palabras-clave: Educacin fsica Enseanza Prc-
tica Docente
Referncias
ALVES, R. Filosoa da cincia: introduo ao
jogo e suas regras. 11. ed. So Paulo: Edies
Loyola, 2006.
ARENDT, H. A crise na educao. In:
______. Entre o passado e o futuro. 5. ed. So
Paulo: Perspectiva, 2000.
______. O labor do nosso corpo e o trabalho
de nossas mos. In: ______. A condio huma-
na. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universi-
tria, 2008.
BAUMAN, Z. La globalizacin: consecuen-
cias humanas. Argentina: Fondo de Cultura
Econmica, 1999.
BERTICELLI, I. A. A origem normativa da
prtica educacional na linguagem. Iju: Uniju,
2004.
CAPARROZ, F. E.; BRACHT, V. O tempo
e o lugar de uma didtica da Educao Fsica.
Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Cam-
pinas, v. 28, n. 2, pginas 21-37, jan. 2007.
DEMO, P. Charme da excluso social. Campi-
nas: Autores Associados, 1998.
FENSTERSEIFER, P. E. A responsabili-
dade social da educao escolar (ou a escola
como instituio republicana). In: MASS,
A. K.; ALMEIDA, A. L.; ANDRADAE, E.
(Orgs.). Linguagem, escrita e mundo. Iju: Uni-
ju, 2006.
FENSTERSEIFER, P. E.; GONZLEZ, F.
J. Educao Fsica e cultura escolar: critrios
para identicao do abandono do trabalho.
In: CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE
CINCIAS DO ESPORTE, 3., 2006, San-
ta Maria. Anais... 1 CD-ROM.
GONZLEZ, F. J. As disciplinas esportivas
na formao superior: o que aprender e ensi-
nar? Revista Brasileira de Cincias do Esporte,
Florianpolis, v. 21, n. 1, p. 585-592, 1999.
______. O estudo do esporte na formao su-
perior em Educao Fsica: construindo no-
vos horizontes. Movimento, Porto Alegre, v.
10, n. 1, p. 213-229, jan./abr. 2004.
______. Projeto curricular e Educao Fsi-
ca: o esporte como contedo escolar. In: RE-
ZER, R. (Org.). O fenmeno esportivo: ensaios
crtico-reexivos. Chapec: Argos, 2006.
______. Potencialidades e limites de uma
proposta alternativa de estudo do esporte na
formao superior em Educao Fsica: olha-
res de professores e acadmicos. In: CON-
GRESSO BRASILEIRO DE CINCIAS
DO ESPORTE, 15., CONGRESSO
BRASILEIRO DE CINCIAS DO ES-
PORTE, 2., 2007, Santa Maria. Anais... 1
CD-ROM.
GAMBOA, S. S. A pesquisa como estratgia
de inovao educativa: as abordagens prticas.
In: ______. Pesquisa em educao: mtodos e
epistemologias. Argos: Chapec, 2007.
GUIRALDELLI JUNIOR, P. O que um pro-
blema losco? Vdeo produzido por CHIES,
F. M. So Paulo, 14 de novembro de 2006.
PENSAR A PRTICA 11/3: 319-329, set./dez. 2008 329
KANT, I. Resposta a pergunta: que escla-
recimento? In: ______. Textos seletos. 4. ed.
Petrpolis: Vozes, 2008.
LOVISOLLO, H. Educao Fsica: a arte da
mediao. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
MOLINA NETO, V. Uma experincia de
ensino do futebol no currculo de licenciatura
em Educao Fsica. Movimento, Porto Ale-
gre, ano 2, n. 2, p. 29-37, 1995.
MOLINA NETO, V. et al. Os desaos da for-
mao continuada em Educao Fsica: nexos
com o esporte, a cultura e a sociedade. In: RE-
ZER, R. (Org.). O fenmeno esportivo: ensaios
crtico-reexivos. Chapec: Argos, 2006.
NASCIMENTO, J. V. Metodologias de en-
sino dos esportes: avanos tericos e implica-
es prticas. Revista Portuguesa de Cincias do
Desporto, v. 4, n. 2, pginas 76-8, 2004.
REZER, R. A prtica pedaggica em escoli-
nhas de futebol/futsal: possveis perspectivas
de superao. 2003. 194 folhas. Dissertao
(Mestrado em Educao Fsica) Centro de
Desportos do Programa de Ps-Graduao
em Educao Fsica, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianpolis, 2003.
______. O fenmeno esportivo: ponderaes
acerca das contradies do paradigma da ini-
ciao... In: REZER, R. (Org.). O fenmeno
esportivo: ensaios crtico-reexivos. Chapec:
Argos, 2006.
______. Apontamentos para o trato com o espor-
te na formao de professores de Educao Fsi-
ca... Chapec, 2008. (Mimeo).
TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho do-
cente: elementos para uma teoria da docncia
como prosso de interaes humanas. 2. ed.
Petrpolis: Vozes, 2005.
Recebido em: 27/11/2008
Revisado em: 29/11/2008
Aprovado em: 08/12/2008
Endereo para correspondncia
rrezer@unochapeco.edu.br
Você também pode gostar
- Fazer Teste - QUESTIONÁRIO UNIDADE I - ASSESSORIA EM .. - 08-02-2022Documento4 páginasFazer Teste - QUESTIONÁRIO UNIDADE I - ASSESSORIA EM .. - 08-02-2022Silvio Sena0% (1)
- Testes de Desafio Humano: Suas Fases e DificuldadesDocumento3 páginasTestes de Desafio Humano: Suas Fases e Dificuldades2xbtqydpv4Ainda não há avaliações
- Ediario 20171214081004Documento16 páginasEdiario 20171214081004Davi Da Costa TeixeiraAinda não há avaliações
- Plano de Marketing AlentejoDocumento55 páginasPlano de Marketing AlentejoandreiagguerreiroAinda não há avaliações
- Relatorio NumericoDocumento3 páginasRelatorio NumericoFelipe OliveiraAinda não há avaliações
- Trauma PediátricoDocumento42 páginasTrauma Pediátricojoyjoy91Ainda não há avaliações
- 1382-Mascara Publicacao CONVOCACAO 1a Fase PSE 022016 ALFADocumento199 páginas1382-Mascara Publicacao CONVOCACAO 1a Fase PSE 022016 ALFArenato diasAinda não há avaliações
- Conteudo Fechado Pai Do Trafego 2 0 2021 Lucas VianaDocumento6 páginasConteudo Fechado Pai Do Trafego 2 0 2021 Lucas VianaJosé Fernando RodriguesAinda não há avaliações
- VBALISTDocumento45 páginasVBALISTkweevelinAinda não há avaliações
- Medição de TemperaturaDocumento21 páginasMedição de TemperaturaCaroline OliveiraAinda não há avaliações
- Processo de Inicialização Do LinuxDocumento2 páginasProcesso de Inicialização Do Linuxmonteiro_ialeAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - FósseisDocumento2 páginasFicha de Trabalho - FósseisCeleste FacoteAinda não há avaliações
- Material Complementar 3 - Pré-EnemDocumento3 páginasMaterial Complementar 3 - Pré-EnemCauê Duarte MachadoAinda não há avaliações
- Pedro Bandeira Droga de Americana Leitor Fluente 6 o e 7 o Anos Projeto de Leitura Coordenaao Maria Jose Nobrega Elaboraao Alfredina NeryDocumento8 páginasPedro Bandeira Droga de Americana Leitor Fluente 6 o e 7 o Anos Projeto de Leitura Coordenaao Maria Jose Nobrega Elaboraao Alfredina NeryGabrieli Vaccari0% (1)
- I Encontro Do Ministério Infantil CuiabáDocumento11 páginasI Encontro Do Ministério Infantil CuiabáAnonymous dvYlgonAgEAinda não há avaliações
- Poder Judiciário Carreira Jurídicas Luiz Wagner Junior JacobDocumento7 páginasPoder Judiciário Carreira Jurídicas Luiz Wagner Junior JacobIngrid MolinariAinda não há avaliações
- Avaliação de Ciências 8°C Ano 1 BimestreDocumento3 páginasAvaliação de Ciências 8°C Ano 1 BimestreJenifer LimaAinda não há avaliações
- Tornando Se Um Lider Todos Podem Conseguir Munroe Myles 40762017Documento2 páginasTornando Se Um Lider Todos Podem Conseguir Munroe Myles 40762017Jefferson Souza Luciane SouzaAinda não há avaliações
- TR 04 Elaboracao Estudo Conformidade Ambiental Relacao Proporcionalidade EasDocumento8 páginasTR 04 Elaboracao Estudo Conformidade Ambiental Relacao Proporcionalidade EasAndre Santos ERosane Battaglin100% (1)
- Introdução Ao Protocolo MODBUS Padrão RTUDocumento6 páginasIntrodução Ao Protocolo MODBUS Padrão RTUAlpinhaAinda não há avaliações
- My BooksDocumento5 páginasMy BooksThabata MeloAinda não há avaliações
- DurgaDocumento5 páginasDurgaMadhu ItaborahyAinda não há avaliações
- Direito Canônico Na História Do DireitoDocumento21 páginasDireito Canônico Na História Do DireitoRômulo MonteAinda não há avaliações
- Le Cordon BleuDocumento354 páginasLe Cordon BleuJuliana SeabraAinda não há avaliações
- Currículo Marcelo RodovalhoDocumento5 páginasCurrículo Marcelo RodovalhoMarcelo RodovalhoAinda não há avaliações
- 03 - Adjunto AdverbialDocumento3 páginas03 - Adjunto AdverbialSilvana Dos AnjosAinda não há avaliações
- Deriva ContinentalDocumento23 páginasDeriva ContinentalRossini MagnoAinda não há avaliações
- Slides Mito e FilosofiaDocumento19 páginasSlides Mito e FilosofiaVitoria FariasAinda não há avaliações
- VIOLA, Eduardo. O Movimento Ecológico No Brasil.Documento21 páginasVIOLA, Eduardo. O Movimento Ecológico No Brasil.Lucas MagnoAinda não há avaliações
- Apostila Teologia Sistematica Soteriologia PDFDocumento54 páginasApostila Teologia Sistematica Soteriologia PDFAender BorbaAinda não há avaliações