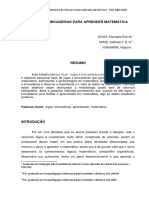Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aspectos Visiveis Das Violencias Invisiveis Dissertacao 01022011
Aspectos Visiveis Das Violencias Invisiveis Dissertacao 01022011
Enviado por
Única Ipatinga Polo SalgueiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aspectos Visiveis Das Violencias Invisiveis Dissertacao 01022011
Aspectos Visiveis Das Violencias Invisiveis Dissertacao 01022011
Enviado por
Única Ipatinga Polo SalgueiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE CATLICA DO SALVADOR
MESTRADO EM FAMLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORNEA
GINA EMLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA GOMES
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS:
VIOLNCIA CONTRA A MULHER NA FAMLIA NOS CASOS DAS
USURIAS DO CENTRO DE REFERNCIA LORETA VALADARES
EM SALVADOR-BA
Salvador
2010
GINA EMLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA GOMES
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS:
VIOLNCIA CONTRA A MULHER NA FAMLIA NOS CASOS DAS
USURIAS DO CENTRO DE REFERNCIA LORETA VALADARES
EM SALVADOR-BA
Dissertao apresentada Universidade Catlica do
Salvador como requisito parcial para a obteno do ttulo de
Mestre em Famlia na Sociedade Contempornea.
Orientadora: Prof. Dr VANESSA RIBEIRO SIMON
CAVALCANTI
Salvador
2010
TERMO DE APROVAO
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS:
VIOLNCIA CONTRA A MULHER NA FAMLIA NOS CASOS
DAS USURIAS DO CENTRO DE REFERNCIA LORETA
VALADARES EM SALVADOR-BA
GINA EMLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA GOMES
Salvador, 09 de Dezembro de 2010
Dissertao aprovada como requisito parcial para a obteno do ttulo de Mestre em
Famlia na Sociedade Contempornea, Universidade Catlica do Salvador-UCSAL, pela
seguinte banca examinadora:
Professora Doutora Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti (Orientadora)________________
Doutora em Histria pela Universidade de Leon, Espanha.
Universidade Catlica de Salvador - UCSAL
Professora Doutora Silvia Maria Fvero Arend._________________________________
Doutora em Histria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Professora Doutora Alba Regina Neves Ramos._________________________________
Doutora em Sociologia pela Universidade de Paris III, Frana.
Universidade Salvador - UNIFACS
Professor Doutor Dirley da Cunha Jnior.______________________________________
Doutor em Direito pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo- PUC.
Universidade Catlica de Salvador - UCSAL
A todas as mulheres, em especial,
quelas que me inspiraram nesta
pesquisa, por suas histrias de vida e
capacidade de enfrentamento e
superao. Tambm aos homens que
reconhecem e apiam a nossa luta pela
igualdade, dignidade e respeito.
AGRADECIMENTOS
Esta pesquisa foi possvel graas ao apoio da Fundao de Amparo Pesquisa da Bahia-
FAPESB, atravs da Bolsa de Mestrado.
Universidade Catlica do Salvador- UCSAL, pelo fantstico Programa de Mestrado
em Famlia na Sociedade Contempornea. Sinto-me privilegiada por fazer parte dessa
famlia.
Vanessa Cavalcanti, minha querida orientadora, por ter me ajudado estimulando a
pensar a pesquisa da violncia contra a mulher de uma maneira multidisciplinar, sria e
comprometida e por que no dizer: apaixonante!
Ao Centro de Referncia Loreta Valadares, por viabilizar minha pesquisa de campo,
sem obstculos, e a toda sua equipe de profissionais engajados na causa. Lugar que
aprendi a ouvir e entender o grito silencioso das mulheres, razo desta pesquisa.
Francisca Schiavo, primeira Coordenadora do CRLV, que me abriu as portas para o
trabalho voluntrio.
Ao Observatrio de Segurana Pblica da Bahia (UNIFACS), que me proporcionou
valiosa troca de conhecimento e experincias no estudo da violncia.
Aos professores do Programa em Famlia na Sociedade Contempornea da UCSAL que
muito contriburam para minha formao pessoal.
Professora Dr Mary Garcia Castro, pelo apoio e indispensveis indicaes
bibliogrficas.
Professora Dr Maria Carolina de Almeida Duarte, pela amizade, incentivo e
colaborao atravs dos textos enviados com tanto carinho.
Aos professores, membros da banca examinadora pelas valiosas contribuies.
Aos colegas de Mestrado, pela convivncia amvel e divertida.
Aos funcionrios do Mestrado da UCSAL pela amabilidade e simpatia dirias.
Suely Lobo, Psicloga do Centro de Referncia Loreta Valadares, pelo apoio na
elaborao do perfil das usurias nesta pesquisa.
minha me, Alvarina Barbosa de Oliveira, meu exemplo de mulher e de me.
Aos meus amores, Juliana e Beto, filhos amadssimos. uma honra ser me de vocs!
Especialmente ao meu marido, Carlos Alberto, que me incentivou e acreditou em mim.
Quando eu me for
(se eu me for)
Vo at onde no fui
Loreta Valadares
RESUMO
O presente trabalho, da linha de pesquisa Famlia e Sociedade, consiste na apresentao
dos aspectos visveis das violncias invisveis perpetradas contra as mulheres usurias
dos servios de ateno e acolhimento do Centro de Referncia Loreta Valadares em
Salvador, Bahia, no perodo de novembro de 2005 a dezembro de 2008. O objetivo
geral analisar as aes e as polticas pblicas implementadas no combate violncia
contra a mulher realizadas pelo Estado Brasileiro, atravs de estudo de caso do CRLV
na cidade de Salvador. Como objetivos especficos pretende-se dar visibilidade aos
dados divulgados e produzidos pelo CRLV em seus programas e atuao pontual no que
se refere violncia domstica e familiar; avaliar os atendimentos pelos rgos ou
servios que apiam as mulheres em situao de violncia e que sejam usurias do
CRLV verificando se o Estado tem sido eficaz nesse acolhimento. O estudo parte da
compreenso dos significados de poder, violncia e dominao nos conduzindo
trajetria da Lei Maria da Penha. Assim, afloram as questes de gnero e de Direitos
Humanos, cruzando as fronteiras entre os espaos familiares e as violncias
caractersticas da contemporaneidade. Necessrio se faz, entretanto, para melhor
compreenso do fenmeno da violncia contra a mulher na famlia, delinear os espaos
tericos, historiogrficos e institucionais, alm de conceituar e mapear os tipos de
violncia. A indicao dos locais de maior incidncia e a revelao dos tipos de
violncia mais comumente sofrida permitir a avaliao de polticas de enfrentamento
pontuais bem como reconhecimento de possveis falhas que podero ser utilizadas para
melhorar a eficcia das aes afirmativas governamentais no tocante violncia contra
a mulher pelo fato de ser mulher: a violncia de gnero. Quando se questiona sobre a
eficcia do Estado com relao s polticas de preveno e ateno s mulheres vtimas
de violncia, a resposta sim e no. Sim, quando operacionaliza os meios de atuao e
funcionamento dos rgos encarregados de executar tais polticas afirmativas bem como
quando promove o aparelhamento das unidades. No, quando se trata do real e afetivo
atendimento baseado na dignidade da mulher. No quando os componentes da rede de
ateno mulher vtima de violncia domstica e familiar (Segurana Pblica,
Assistncia Social, Sade, Justia, Educao) atuarem de forma isolada e burocrtica.
Palavras-chave: Violncia. Famlia. Gnero. Polticas Pblicas. Leis.
ABSTRACT
The present work, of the research line Family and Society, consists in the presentation of the
visible aspects of the invisible violences perpetrated against the women that uses the services
of attention and prevention of the Center of Reference Loreta Valadares in Salvador, Bahia,
during the period of November of 2005 to December of 2008. The general objective of the work
is to analyze the actions and the public politics implemented in the combat to the violence
against the woman through Brazilian State, by the study of a soteropolitano case. As specific
objective it is intended to give visibility to the dates divulged and produced for the CRLV in its
programs and prompt performance as for the domestic and familiar violence; to evaluate the
attends or services that support the women in violence situation who are using of the CRLV
verifying if the State has been efficient in this shelter. The study has understanding of the
meanings of being able, violence and domination in leading to the trajectory of the Law Maria
of the Penha. Thus, the questions of sort and human rights arise, crossing the borders between
the familiar spaces and the characteristic violnces nowadays. Necessary if it makes, however,
for better understanding of the phenomenon of the violence against the woman in the family, to
delineate the theoretical, historiografics and institucional spaces, beyond appraising and map the
types of violence. The indication of the places of bigger incidence and the revelation of the
types of violence more comons suffered will allow the evaluation of prompt politics of
confrontation as well as recognition of possible imperfections that could be used to improve the
effectiveness of the affirmative actions of the State in regards to the violence against the woman
for the fact of being woman: gender violence. When it is questioned on the effectiveness of the
State with regard to the prevention politics and attention to the women violence victims, the
reply is yes and not. Yes, when operacionalized the ways of performance and functioning those
agencies in charge to execute such affirmative politics as well as when it promotes the
equipment of the units. Not, when one is about the Real and affective attendance based on the
dignity of the woman. When the components of the net of attention to the woman victim of
domestic and familiar violence (Public Security, Social Assistance, Health, Justice, Education)
not act in an isolated and bureaucratic form.
Key-words: Violence. Family. Gender. Public Policies. Laws
LISTA DE QUADROS E FIGURAS
Quadro 1 Conquistas de direitos: mbito internacional 30
Quadro 2 Conquista de direitos: mbito nacional 31
Quadro 3 Aspectos comparativos do contexto pr e ps a Lei Maria da Penha 39
Quadro 4 Documentos Internacionais 61
Quadro 5 Rede de ateno- Salvador, BA 81
Figura 1 Modelo ecolgico para compreender a violncia 56
Figura 2 Mapa Bairros de Salvador com queixas de violncias 107
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1- Idade 91
Grfico 2- Cor/Raa 93
Grfico 3- Escolaridade 93
Grfico 4- Estado civil/Situao conjugal 95
Grfico 5- Se casada/ com companheiro em casa; tempo de convivncia 96
Grfico 6- Tipos de violncia 97
Grfico 7- Quantidade de filhos 100
Grfico 8- O agressor o companheiro? 100
Grfico 9- Relao com o agressor 101
Grfico 10- Condio financeira 102
Grfico 11- Trabalha fora de casa? 103
Grfico 12- Tempo de relao com o agressor 103
Grfico 13- Idade do agressor 104
Grfico 14- Cor/raa- agressor 105
Grfico 15- Escolaridade do agressor 105
Grfico 16- Trabalha? (agressor) 106
Grficos 17, 18, 19- Violncia e os filhos 108
Grfico 20, 21, 22, 23- Violncia e os pais 109
Grfico 24, 25, 26- Violncia dos pais e a usuria 111
Grfico 27, 28, 29- Violncia entre irmos 112
Grfico 30, 31, 32- Violncia e sade 114
Grfico 33- Com quem voc falou primeiro? 116
Grfico 34, 35- Relacionamentos anteriores e violncia 117
Grfico 36, 37, 38, 39, 40- Separao e assistncia jurdica 118
Grfico 41, 42 43, 44 - Servios de ateno 120
Grfico 45, 46, 47,48 - Queixa policial e resultados dos encaminhamentos 123
LISTA DE SIGLAS
AIDS Sndrome da Imuno Deficincia Adquirida
ARs
AGENDE
Administraes Regionais
Ao, Gnero, Cidadania e Desenvolvimento
Art. Artigo
BO Boletim de Ocorrncia
CC Cdigo Civil
CEDAW Conveno para a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao
Contra a Mulher
CEDECA Centro de Defesa da Criana e do Adolescente
CEJIL Centro pela Justia e Direito Internacional
CEPIA Cidadania, Estudo Pesquisa Informao e Ao
CF Constituio Federal
CFEMEA Centro Feminista de Estudos e Assessoria
CHAME Centro Humanitrio de Apoio Mulher
CICAN Centro de Referncia em Oncologia
CIDH Comisso Internacional de Direitos Humanos
CLADEM Comit Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da
Mulher
COJE Centro de Orientao Jurdica e Encaminhamento Psicolgico
CP Cdigo Penal
CRLV Centro de Referncia Loreta Valadares
DDM Delegacia de Defesa da Mulher
DEAM Delegacia Especial de Atendimento Mulher
DPDM Delegacia Especial de Defesa da Mulher
DST Doena Sexualmente Transmissvel
ECA Estatuto da Criana e do Adolescente
EUA Estados Unidos da Amrica
GEDEM Grupo de Atuao Especial em Defesa da Mulher
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
IDH ndice de Desenvolvimento Humano
IML Instituto Mdico Legal
IP Instituto de Pesquisas em Equidade
JECRIM Juizado Especial Criminal
LDO Lei de Diretrizes Oramentrias
MJ Ministrio da Justia
MP Ministrio Pblico
MUNIC Pesquisas de Informaes Bsicas Municipais/IBGE
MUSA Programa de Estudos em Gnero e Sade
NEIM Ncleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher
OEA Organizao dos Estados Americanos
OMS Organizao Mundial de Sade
ONU Organizao das Naes Unidas
PMS Prefeitura Municipal de Salvador
PNAS Plano Nacional de Assistncia Social
PNPM Plano Nacional de Polticas para Mulheres
SEDES Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
SEDIM Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher
SENASP Secretaria Nacional de Segurana Pblica
SETRAS Secretaria do Trabalho e Ao Social
SIGA Servio Integrado de Atendimento Regional
SINDACS Sindicato dos Agentes Comunitrios de Sade
SINEBAHIA Sistema Nacional de Emprego da Bahia
SMEC Secretaria Municipal de Educao e Cultura
SNDM Secretaria Nacional de Defesa da Mulher
SPM Superintendncia de Polticas para as Mulheres
SPM-PR Secretaria de Polticas para as Mulheres- Presidncia da Repblica
SSP Secretaria de Segurana Pblica
STJ Superior Tribunal de Justia
SUAS Sistema nico de Assistncia Social
SUS Sistema nico de Sade
SUSP Sistema nico de Assistncia Social
TC Termo Circunstanciado
UFBA Universidade Federal da Bahia
UNFPA Fundo de Populao das Naes Unidas
UNIFEM Fundo das Naes Unidas para as Mulheres
SUMRIO
INTRODUO 14
1 CAPTULO I
Poderes, violncias e representaes: a trajetria da Lei Maria da Penha
23
1.1 Dos significados 23
1.2 Dos Direitos Humanos e dos Direitos Humanos Fundamentais 27
1.3 Dos Direitos Humanos das Mulheres e as Convenes e Tratados 28
1.4 A trajetria da lei Maria da Penha 31
1.5 Da Lei 11.340/2006 e das formas de violncia 36
1.6 Gnero, famlias e violncias: delineando espaos tericos, historiogrficos
e institucionais- aproximaes necessrias
39
1.7 A contemporaneidade em foco 43
1.8 Cruzando fronteiras: espaos familiares e violncias 45
2 CAPTULO II
Movimentos Feministas e Polticas Pblicas: o contexto brasileiro
57
2.1 Polticas pblicas para as mulheres e marco legal 58
2.2 Antecedentes legislativos: mbito internacional e nacional 61
2.3 Da preveno e da represso (ou reao) violncia 71
2.4 Sobre as medidas protetivas de urgncia 74
2.5 Sobre a responsabilizao e reeducao do agressor (a) 76
2.6 Dos desafios 77
2.7 Estrutura do Estado brasileiro no combate violncia contra a mulher 77
2.8 Das aes em Salvador 80
3 CAPTULO III
Aspectos visveis das violncias invisveis: o estudo do CRLV
88
3.1 A (in) visibilidade feminina e o CRLV 88
3.2 Dados que (in) visibilizam a violncia 90
3.3 Dados do agressor 104
3.4 Territrios e localizao da violncia 106
3.5 Violncias na famlia 107
3.6 Violncia e sade 114
3.7 Violncia e sade dos filhos 115
3.8 Da rede de solidariedade 116
3.9 Sobre os relacionamentos 116
3.10 Dos tipos de separao 118
3.11 Do conhecimento e uso de servios 120
3.12 Da eficcia do Estado 122
Consideraes finais 126
Referncias 134
Anexos 144
14
INTRODUO
Num mundo temperado pelas violncias e globalizao, os paradoxos existentes nos mbitos
das esferas pblica e privada se misturam e enfatizam relaes familiares tensas. Este trabalho
uma anlise do processo social contemporneo das relaes de gnero e familiares. Pertence
linha de pesquisa Famlia e Sociedade e emprega uma abordagem interdisciplinar com
interfaces nas Cincias Sociais e Humanas, apontando os aspectos visveis das violncias
invisveis praticadas contra as mulheres no ambiente domstico e familiar. Tem a sua gnese
no entendimento do significado do poder (Hannah Arendt), das violncias (Marilena Chau) e
da dominao (Pierre Bourdieu). Assim, se aproxima do conceito de violncia e suas
mltiplas manifestaes, colocadas em questo sob a gide dos Direitos Humanos, em
especial, dos Direitos Humanos das Mulheres.
Parte importante e necessria a reflexo sobre gnero e famlia, onde estudiosas e
pesquisadoras (Joan Scott, Roswitha Scholz, Mary Garcia Castro e Heleieth Saffioti) debatem
a origem dos papis e os significados que indicam questionamentos a respeito do tratamento
dispensado s mulheres pela sociedade brasileira.
Partindo-se do entendimento do sistema gerador da violncia e sua estreita ligao com a
questo de gnero e famlia estruturou-se a observao do processo, como um todo, gerando
os questionamentos a seguir: o que acontece quando a mulher vtima da violncia de gnero
dentro do ambiente domstico e familiar e procura ajuda para sair dessa situao? O Estado
tem sido eficaz e eficiente nesse atendimento? As instituies de previstas - imbudas de suas
capacidades preventivas, difusoras e reguladoras - so promotoras do acesso justia e
cidadania quando o tema a violncia domstica e familiar?
As transformaes das famlias proporcionaram novos modelos e vivncias plurais e distintas,
agrupando e reordenando a experincia cotidiana entre seus membros, no mais restritas a um
modelo tradicional e nuclear, onde o afeto tornou-se o Principio norteador das relaes. Nesse
sentido, uma incurso no tema face interdisciplinaridade do mesmo foi indispensvel e
necessria, verificando-se, sobremaneira, que mais que um espao de vivncias coletivas, a
famlia tambm se apresenta como espao e lugar de conflitos e de violncias.
15
Elegemos como objeto de estudo da nossa pesquisa o Centro de Referncia Loreta Valadares
1
(CRLV), em Salvador, Bahia, servio pblico e gratuito de preveno e atendimento
psicolgico, social e jurdico s mulheres que sofrem violncia pelo fato de serem mulheres,
denominada violncia de gnero. O CRVL um servio de acolhimento e ateno e no de
abrigamento, criado em resposta s reivindicaes de movimentos feministas e das vtimas,
mas tambm a uma agenda que se estendeu e se estende nos ltimos anos atravs da
elaborao de dois Planos Nacionais de Polticas para Mulheres (2004 e 2008).
A escolha se deveu, alm da aproximao com o objeto decorrente da experincia pessoal,
profissional como advogada e voluntria no atendimento jurdico, pelo fato de ser um rgo
central do sistema. Destaca-se pelo fato de no existir nenhum registro estatstico oficial ou
estudo sobre o CRLV at o presente momento, revelando o ineditismo dessa investigao
realizada com base em documentao oficial, mas tambm pela necessidade de se fazer uma
vigilncia epistemolgica (BOURDIEU, 2006) e criteriosa devido necessidade de
avaliao da estrutura e organizao dada inicialmente ao projeto institucional. H ainda que
se alertar para o fato de ser um material que pode revelar erros honestos devido ao
ineditismo do trabalho realizado. Nos primeiros meses e at mesmo anos ocorreram alteraes
da metodologia aplicada para efetivar o trabalho. Estas modificaes geraram a necessidade
de ordenamento dos dados coletados, encontrando-se lacunas e fragilidades em alguns
conjuntos de dados.
A proposta de criao e implantao de um Centro de Referncia da Mulher na Bahia surgiu
durante o processo de reestruturao da Casa Abrigo Mulher-Cidad
2
, rgo da Secretaria de
Trabalho e Ao Social (SETRAS), como poltica de enfrentamento violncia contra a
mulher que, alm do atendimento, buscasse identificar as causas da situao vivenciada e as
possibilidades de superao.
O CRLV resultado de uma parceria entre os Governos Federal Secretaria de Polticas para
as Mulheres Presidncia da Repblica (SPM-PR), Estadual (SETRAS) e Municipal
Superintendncia de Polticas para as Mulheres (SPM) e do Programa de Estudos em Gnero
e Sade do Instituto de Sade Coletiva da Universidade Federal da Bahia (MUSA-
1
Loreta Valadares era advogada, feminista, comunista, professora da Universidade Federal da Bahia, referncia
nas lutas feministas na Bahia e no Brasil. Destacou-se na defesa da redemocratizao do nosso pas lutando pelos
direitos das mulheres at o final de sua vida. Faleceu em 2004. Em sua homenagem, foi proposto o seu nome em
2004 para o primeiro Centro de Referncia pela, ento, Deputada Estadual Ldice da Mata.
2
Casa abrigo Mulher Cidad, servio de abrigamento protegido, temporrio e sigiloso de atendimento integral s
mulheres em situao de risco de vida iminente, em razo da violncia domstica.
16
ISC/UFBA). Suas atividades consistem, primordialmente, na preveno e no atendimento
social, psicolgico e jurdico s mulheres que sofrem violncia de gnero.
Na oportunidade do trabalho voluntrio, convivemos com dramas que nos inspiraram a
pesquisa. Interessava-nos conhecer, ainda, o nvel de participao e conscincia das mulheres
sobre seus direitos, se elas acreditavam nas instituies e suas representaes e o que as
impediam de denunciar. Para alm de uma escrita acadmica, a interveno e as sugestes
sobre ao especfica realizada no Estado da Bahia a partir uma dissertao tambm se
configuram como formas de contribuies ao aperfeioamento das polticas pblicas.
A partir de registros oficiais e dados quantitativos, procuramos conhecer o contexto familiar
no qual esto inseridas e, na medida do possvel, o perfil dos agressores, os tipos de violncias
sofridas e aspectos das relaes de convvio e de afeto que matizam suas vidas afetivas
pessoais e familiares. A instituio em estudo relativamente recente e esses dados permitiro
ilustrar, num primeiro momento, a qualidade do atendimento s mulheres, usurias do CRLV,
em situao de violncia.
Nosso enfoque ser o atendimento prestado pela Rede de Ateno s usurias do Centro de
Referncia Loreta Valadares, destacando um perodo anterior e posterior a promulgao da
Lei Maria da Penha, os primrdios do atendimento, as primeiras reformulaes e o ciclo
inicial das denunciantes e das vtimas atendidas desde a sua fundao em 2005 at 2008, para
preservar os casos em andamento. importante salientar que o CRLV iniciou suas atividades
em 25 de novembro de 2005 antes mesmo da vigncia da Lei Maria da Penha, de 22 de
setembro de 2006.
Por meio da anlise dos pronturios das usurias, foram extradas caractersticas como idade,
raa/cor, tipo de violncia, bairro onde ocorreu, situao econmica e as polticas pblicas
que incidem sobre essa populao atendida. Para alm de perfis e mostras quantitativas, o
panorama e o contexto das violncias vivenciadas, portanto qualitativas tambm so possveis
atravs de certos aspectos relevantes.
A pesquisa tornou-se vivel e oportuna face ao permanente contato com a equipe e direo
bem como o acesso s instalaes do CRLV, prontamente disponibilizadas, assim propiciando
a acessibilidade aos dados oficiais, documentos, referncias mantidas na biblioteca e demais
instrumentos necessrios, alm de orientaes e questes pontuais. Atenta s normas ticas, a
17
confidencialidade e permisso foram registrados para garantir e preservar tanto as prprias
mulheres quanto o material institucional.
Dentro do contexto das novas formas familiares, o objetivo geral analisar as aes e as
polticas pblicas implementadas no combate violncia contra a mulher realizadas pelo
Estado Brasileiro, atravs de estudo de caso do CRLV na cidade de Salvador, considerando
que um rgo que imbrica as aes das rbitas Federal, Estadual e Municipal para o
enfrentamento da violncia de gnero com a finalidade da efetivao das medidas expressas
no Ttulo III da Lei 11340/2006-Lei Maria da Penha. O estudo se circunscreve aos casos das
mulheres atendidas pelo CRVL no perodo considerado (2005-2008).
Os objetivos especficos devero responder aos seguintes eixos norteadores:
1-Verificar a existncia de aes institucionais contra a violncia de gnero e, principalmente,
em relao s violncias cometidas contra as mulheres que sejam classificadas como em
mbito familiar e domstico.
2-Avaliar os atendimentos pelos rgos ou servios que apiam as mulheres usurias do
CRLV em situao de violncia.
3-Dar visibilidade e analisar os dados divulgados e produzidos pelo CRLV em seus
programas e atuao pontual no que se refere violncia domstica e familiar.
A metodologia encontra apoio em Le mtier de sociologue de Pierre Bourdieu, J.C.
Chamboredon e J. C. Passeron (1968) que estabelece a ruptura, a construo e a verificao
do objeto, tema e problema como principais estruturas no desenvolvimento da pesquisa
acadmica. Neste caso, iniciar-se- pela apresentao de conceitos aplicveis ao estudo como
descritos acima e que sero postos prova pela verificao de sua adequao aos casos reais
obtidos junto rede de ateno institucional a partir da anlise do banco de dados do CRLV.
A avaliao dos danos e dos processos causados s mulheres e s famlias, a partir da anlise
dos dados, permitir a ruptura do conhecimento vulgar e a aferio dos conceitos referenciais,
rompendo-se com os preconceitos vigentes quanto aplicabilidade da lei e suas penas.
Constri-se uma teoria para abrigar os fatos e suas conseqncias e se apresentam os
conceitos de gnero, violncia e famlia com suas novas formas. Passa-se a verificao atravs
da demonstrao da aplicabilidade dos conceitos atravs do exame da justia especializada e
da rede de ateno.
18
Apesar de repetitivo, necessrio recordar e informar que para a anlise da categoria
violncia o referencial terico tem como base Marilena Chau (1985), Hannah Arendt (1994),
e Pierre Bourdieu (2009). Para a categoria gnero o referencial terico utilizado Mary
Garcia Castro (1992), Roswita Scholz (1996), Joan Scott (1998), Heleieth Saffioti (2004) e
Eva Blay (2008) e, para a categoria famlia, a referncia Maria Cristina Bruschini (1993),
Cynthia Sarti (2005), Franois de Singly (2007) e Pierpaolo Donati (2008). Como fontes
legais ressaltamos os tratados e convenes internacionais sobre a mulher da Organizao das
Naes Unidas (ONU) e da Organizao dos Estados Americanos- (OEA), a Constituio
Federal do Brasil de 1988-CF/88, os Cdigos Civil e Penal brasileiros, a Lei 9099/95 e a Lei
11340/2006-Lei Maria da Penha.
Dos contornos do objeto e das possveis relaes causais e o referencial terico, emergir a
compreenso e a possvel resposta ao problema de pesquisa. A abordagem dos conceitos de
gnero, famlias, violncias e suas aplicaes ao estudo das violncias perpetradas contra as
mulheres em ambiente domstico e familiar pelos seus membros so de extrema importncia,
pois:
A transmisso da violncia de uma gerao para a seguinte e de casa para as ruas
um bom motivo para se buscar polticas pblicas que reduzam a violncia
domstica, mesmo se a meta definitiva for a reduo da violncia social (BUVINIC
e SHIFTER, 2000, p.23)
Sabe-se que as mulheres ocupam o primeiro lugar de destaque na vida da famlia na funo de
cuidadora histrica e convencionalmente marcadas pelas funes e papis a serem
desempenhados
3
. Mas, a faculdade de ser me, esposa e cuidadora simplesmente no lhe
confere o reconhecimento como sujeito de Direitos Humanos: no bastou mulher ter face
humana, mos, rgos, um corpo, sentidos, desejos, emoes; sangrar quando a ferirem, rir
quando lhe fizerem ccegas e se vingar das ofensas: esses traos universalmente humanos
nunca foram seu salvo-conduto. (FINKIELKRAUT, 1998, p. 10). A interpretao de Mnica
Lindoso (2004, p.87), parafraseando Finkielkraut no Livro: A Humanidade Perdida: ensaio
sobre o sculo XX refere-se ao fato de que os Direitos Humanos das Mulheres nem sempre
foram reconhecidos. Esses atributos humanos, apesar da clarividncia, nunca estiveram ao seu
favor. O costume separava o humano do no humano.
3
Ver artigo de CARVALHO, Ana Maria Almeida et al . Mulheres e cuidado: bases psicobiolgicas ou
arbitrariedade cultural? Paidia, Ribeiro Preto, v. 18, n. 41, Dez. 2008. Disponvel em
<http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em 30 Out. 2010
19
O fenmeno da violncia pode ser atestado na seguinte assertiva: a violncia uma forma de
atingir a integridade da vtima seja ela fsica, psquica ou moral. No existe um conceito
fechado de violncia, ele varia de acordo com cada sociedade (GOMES e SANTOS, 2008, p.
105), alm disso, pode ocorrer uma sobreposio de tipos de violncias. Pode-se observar que
tambm considerado como sendo a violncia social uma reveladora de estruturas de
dominao que se chocam entre os que se opem opresso e aqueles que no querem perder
os privilgios (MINAYO e SOUZA, 1998, p. 522).
O fenmeno da violncia contra a mulher antigo e, embora fazendo parte do cotidiano de
muitas famlias, foi ocultado e invisibilizado por muito tempo. Em diversos casos, a violncia
silenciosa; em outros ela invisvel. Somente ganhou visibilidade e maior destaque quando
agendas internacionais e nacionais e movimentos sociais proporcionaram as condies para a
formulao das necessrias polticas de garantia e de proteo mulher. Foram elaboradas
somente nas ltimas dcadas, sobretudo a partir da Declarao Universal dos Direitos do
Homem e das conseqentes convenes e aes organizadas pela sociedade internacional, que
ao entrarem em vigor e geraram espaos de debate e aplicabilidade.
Alm dos aspectos de sociabilidade e de afetividade, o plano familiar pode constituir-se como
palco de violncias como: a simblica, fsica, sexual, patrimonial, psicolgica e moral. Elas
ocorrem na privacidade do lar e podem apontar a origem de todas as demais. Outro fator de
sobreposio e de agravamento que, em geral, a violncia acometida por parceiros,
pessoas prximas e de relaes diretas.
A separao da arena pblica da privada proporcionou o manto da invisibilidade, onde no se
admitia a interferncia jurdica. Essa questo do pblico e do privado tambm separa o Estado
da famlia. Os estudos feministas utilizam essa expresso para a distino entre vida no
domstica e vida domstica (OKIN, 2008). Trata-se, aqui, da privatizao da violncia. A
privacidade tornou-se, assim, a principal aliada da violncia domstica, uma vez que
contribui, largamente, para a invisibilidade das suas mltiplas manifestaes (DIAS, 1998,
p.15).
A vida domstica nos remete s relaes familiares de intimidade, de convvio, de ambincia
e de composio de estruturas contemporneas, sejam de conjugalidade, parentalidade e
filiao. Neste sentido, os motivos pelo qual a famlia possvel tm carter relacional, ou
seja, operam atravs de relaes e criam relaes sociais (DONATI, 2008, p.85). A
20
convivncia, quando violenta, afeta negativamente todos os membros da famlia. A
importncia dessa questo reside no fato da famlia ser o primeiro contato do indivduo com o
mundo exterior cujo elo a mulher atravs do nascimento e, ainda, possuir uma funo
ideolgica, onde so transmitidos hbitos, valores, costumes e padres comportamentais. A
famlia pode ser lugar de conflito, mas tambm de sociabilidade e afeto, demonstrando carter
relacional e multifacetado.
A violncia domstica contra a mulher nos remonta histrica violncia de gnero, que no
atinge apenas famlias de determinadas classes sociais, regies ou religies, ocorre em todos
os lugares do mundo. O termo violncia de gnero constitui expresso utilizada pelo
movimento feminista desde os anos 1970 para denominar violncia contra a mulher, ou
seja: aquela que praticada contra a mulher pelo simples fato de ser mulher. Portanto, tal
conceito deve ser entendido como a violncia que decorre de uma relao de dominao e
poder do homem e de submisso das mulheres.
A violncia de gnero, teoricamente, engloba tanto a violncia de homens contra mulheres
quanto a de mulheres contra homens, uma vez que o conceito de gnero aberto (SAFFIOTI,
2004) e tambm a violncia da mulher contra a mulher. O conceito jurdico de violncia de
gnero extrado com base nas Cincias Sociais, respondendo ao clamor pelos Direitos
Humanos que provocou o surgimento de um sistema de normas internacional com foco na
pessoa humana. Dessa forma, os Direitos Humanos Fundamentais passaram a ser positivados
e, conseqentemente, exigidos. Demonstrando a importncia da interdisciplinaridade no
tratamento das questes atinentes ao momento histrico vivido, traduzido nos movimentos
sociais que apontaram a necessidade do marco legal.
Homens e mulheres so diferentes e essas diferenas vo muito alm das diferenas
biolgicas, o que realmente aflora, nesse aspecto, so as diferenas baseadas nas construes
sociais, culturais e histricas (SARDENBERG, 1992). Construes que enquadram mulheres
e homens a comportamentos considerados naturais, referindo-se ao papel do homem e da
mulher a respeito de regras e normas. Como, culturalmente, vivemos num mundo onde as
mulheres, muitas vezes, so invisibilizadas, a reflexo sobre seu lugar na sociedade, na
famlia e diante da violncia de gnero traz tona a realidade da cultura da subordinao de
gnero.
21
Historicamente, a violncia domstica ocorre no espao domstico, no interior da famlia,
razo pela qual, muitas vezes, alm de parecer invisvel silenciada. O reconhecimento como
problema social recente e tal fenmeno provocou o surgimento da intolerncia em relao a
esse tipo de violncia bem como excluso social da mulher traduzidas em realidades
embaraosas, que suscitam, da parte dos poderes pblicos, estratgias de preveno com vista
ao seu combate (DIAS, 1998, p.198).
Maria Beatriz Nader comenta que o sistema patriarcal, ativo durante sculos, fazia as
mulheres dependentes dos maridos, pois eram educadas somente para o casamento e a vida
domstica, obrigando-as a um comportamento retrado, cuidando da casa, preparando
refeies e mantendo os filhos. No havia a possibilidade de escolherem seu prprio destino.
O espao domstico foi palco de tratamento grosseiro e rgido, de prticas humilhantes e
constrangedoras (NADER, 2006, p.241), como agresses, insultos, preconceito e
discriminao.
Lembra-se, aqui, outro exemplo de prtica constrangedora, o controle jurdico-penal da moral
sexual feminina atravs da proteo legal virgindade e fidelidade no casamento
4
vigente
entre ns at bem pouco tempo, de acordo com o Cdigo Civil Brasileiro de 1916 -2002.
Verifica-se que uma questo complexa, atual e ainda em construo.
Encontramos na violncia a principal causa de mortes entre as pessoas, principalmente em
relao s mulheres. Nesse contexto, Eva Blay realizou importante pesquisa documental em
So Paulo baseada na mdia impressa e eletrnica, nos boletins de ocorrncia policiais
registrados nas delegacias de polcia (1998) e em processos criminais de cinco Tribunais do
Jri da capital paulista (1997). Como resultado dessa investigao publicou o livro
Assassinato de Mulheres e Direitos Humanos (2008), onde atestou que as diferenas entre
as mulheres assassinadas e os homens com os quais mantinham relacionamento afetivo se
convertem em desigualdade de gnero, como dito anteriormente, independe da classe ou
grupo socioeconmico a que pertenam.
Sem dvida, vivemos um momento histrico, com inmeras transformaes sociais e,
especialmente, no seio do ambiente familiar. Transformaes estas que, conseqentemente,
4
Segundo Leda Hermann (2008, p.32), com referncia virgindade, o objeto de proteo jurdica era a
membrana himenial (garantia da exclusividade fsica e de privilgio na posse sexual decorrente do casamento).
Tal controle era estendido ao matrimnio atravs da criminalizao do adultrio (reprovao social e moral da
infidelidade feminina).
22
revolucionaram o Direito de Famlia isto porque o Direito legisla sobre as conseqncias das
relaes estruturais sobre o emprico e no sobre a estrutura (PEREIRA, 2003, p.2).
O trabalho ser apresentado em trs captulos alm desta introduo onde so abordados os
seguintes assuntos: Captulo I- Poderes, Violncias e Representaes: a trajetria da Lei
Maria da Penha; Captulo II- Movimentos Feministas e Polticas Pblicas: o contexto
brasileiro; Captulo III- Aspectos visveis das violncias invisveis: o estudo do CRLV,
dedicado ao estudo de caso onde apontaremos os dados que (in) visibilizam a violncia
perpetrada contra as mulheres usurias deste servio; as Consideraes finais e Anexos.
Entendemos que tratar do combate, da erradicao e da diminuio da violncia atender a
famlia e amparar a mulher vitimizada. Tambm construir a autonomia da mulher e garantir
os direitos paz, liberdade, a uma vida digna, com segurana. Apesar da formao do
cidado caber a toda sociedade, , ainda, cuidar daquela que culturalmente tem sido
encarregada de formar cidados. Avaliar as polticas pblicas aplicadas no enfrentamento da
violncia contra a mulher, sob a tica do conhecimento, certamente contribuir para
instrumentalizar aes positivas nesse campo que muito podem auxiliar na implementao e
efetivao das mesmas.
23
CAPTULO I
PODERES, VIOLNCIAS E REPRESENTAES: A TRAJETRIA DA LEI MARIA
DA PENHA
Uma solidariedade maior entre homens e mulheres que
pretendem mudar os padres da vida privada pode ser
criada a partir da crtica de costumes que desvenda os
lados escondidos da vida cotidiana
Ruth Cardoso
5
Este captulo trata do processo contemporneo e das relaes de gnero no tocante origem
das violncias perpetradas contra as mulheres. Partindo do entendimento dos significados de
poderes, das violncias e suas representaes, aproxima-se dos conceitos necessrios para a
compreenso da trajetria da Lei brasileira de combate violncia domstica e familiar, Lei
Maria da Penha e, de maneira interdisciplinar, sinaliza contexto, conjuntura e abordagens
nesse momento histrico particular. Os males das injustias e arbitrariedades so pensados
sob a tica dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais, encontrando consonncia
entre o marco legal, aplicabilidade e processo de implementao, alm de observar a ateno
a uma agenda internacional e nacional que configuraram os ltimos quarenta anos. As
convenes e tratados estampam as conquistas realizadas e indicam que, entre prxis
legalidade e efetivao, se estabelecem processos de longa durao e no de imediatismo
As aproximaes entre gnero, famlia e violncia permitem cruzar fronteiras e refletir sobre
o tema da violncia contra as mulheres numa viso atual. Deste modo, almeja-se nesse
primeiro captulo justamente traar um panorama e caracterizao do contexto histrico e das
principais vertentes que promoveram debate, criao e implantao de uma agenda especfica,
reclamada no ltimo quartel do sculo XX e colocada em pauta mais efetivamente no ltimo
qinqnio.
1.1- Dos significados
Hannah Arendt (1994, p.36 e 44), refletindo sobre o real significado das palavras poder e
violncia, alm de vigor, fora e autoridade, demonstrou que se referem a qualidades
diferentes. Embora, por vezes, sejam tratadas como sinnimos por possurem a mesma
funo. Tais palavras traduzem os meios em funo dos quais o homem domina o homem,
o poder no constitui propriedade de um indivduo, mas resulta da capacidade humana para
5
Prefcio do livro: Perspectivas antropolgicas da mulher. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
24
agir em conjunto. Deste modo, as aproximaes entre violncia e poder indicam mais do que
uma simples oposio, ela aparece onde este ltimo est ausente: A violncia destri o
poder, no o cria. Apesar de tudo, embora sendo fenmenos distintos poder e violncia, com
freqncia, aparecem juntos e como caracterstica do processo da contemporaneidade.
Continua a autora: nem a violncia, nem o poder so fenmenos naturais, isto , uma
manifestao do processo vital. Aqueles que se opem violncia descobriro que no so
confrontados por homens, mas pelos artefatos humanos, isto , pelo que os homens
constroem.
Marilena Chau (1985, p.37 e 41) apresenta o conceito de violncia buscando a base filosfica
aristotlica: a violncia consiste em fazer com que certa realidade opere sob a ao de uma
fora externa contrria natureza. Isto leva a crer na existncia de um movimento violento
contrrio natureza que persistiu mesmo aps a ruptura entre a natureza e a cultura no Sculo
XVIII. Complementa, acrescentando que, quando uma sociedade ou cultura definem e
afastam formas de violncia, as regras devem ser respeitadas por todos os seus membros.
(CHAU, 2009).
A violncia, fenmeno social mundial e que marca indelevelmente o breve Sculo XX e os
primrdios da primeira dcada do XXI, vem se acentuando sob diversas causas e, em suas
mltiplas manifestaes, pode ser traduzida nas formas de medo, sofrimento, opresso,
discriminao, crimes entre outras. Ocorre em diversos planos: poltico, econmico, religioso,
cultural, familiar. Neste ltimo apresenta-se nas formas fsica, sexual, psicolgica, moral e
patrimonial.
A violncia poltica exercida atravs das guerras, da luta armada pelo poder e autoritarismo; a
violncia econmica traduzida na explorao do indivduo pelo indivduo, no controle atravs
da dependncia financeira; a violncia religiosa comumente estampada na censura, na
proibio e, a violncia familiar que ocorre dentro das relaes domsticas e de afeto, so
exemplos de tais manifestaes.
Pierre Bourdieu, em A Dominao Masculina (2009, p.23 e 24), especifica a dominao de
gnero no centro da economia das trocas simblicas. Para ele, o sexo o lugar onde se
estampam as disputas pelo poder. nossa primeira forma de identificao desde o
nascimento.
25
A definio social dos rgos sexuais, longe de ser um simples registro de
propriedades naturais, diretamente expostas percepo, produto de uma
construo efetuada custa de uma srie de escolhas orientadas, ou melhor, atravs
da acentuao de certas diferenas, ou do obscurecimento de certas semelhanas.
O autor trata de um tipo de violncia que no pressupe a fora fsica. Aquela que se exerce,
em parte, at com o consentimento de quem a sofre: a violncia simblica (BOURDIEU,
2009, p.45-50). A fora simblica uma forma de poder que se exerce sobre os corpos (em
uma extenso da cultura). O poder simblico no pode ser exercido sem a colaborao dos
que lhe so subordinados e que s se subordinam a ele porque o constroem como poder.
Muitas vezes pode nem ser percebida como violncia, configurando-se como consentimento e
cumplicidade. So disposies modeladas pelas estruturas de dominao que as produzem.
Podem ser exemplificadas nas relaes familiares, de parentesco e afins, onde so expressos
sentimentos e deveres muito confundidos com respeito e se manifestam atravs de ameaas,
censuras, sugestes, injunes, etc. O estudo da violncia contra a mulher aponta a violncia
simblica no cotidiano de muitas famlias
6
.
Nem s de exposio fsica a violncia se pauta. Seja como violncia sutil
7
(NADER, 2006),
como expresso da cultura patriarcal (BLAY, 2003) ou em suas inmeras formas de
manifestaes, como preconceitos sexistas, entre outras, o fenmeno ganha destaque na
contemporaneidade.
A mulher a maior vtima das prticas de violncia que se estabelecem na famlia [...]
em vrios aspectos, essas prticas se camuflam sob gestos de ternura que destroem o
indivduo, constituindo-se em um problema social que chega a tornar-se uma violao
dos direitos humanos, tal como a promoo da alienao e a proibio da expresso e
da locomoo (NADER, 2006, p.236).
Neste sentido, possvel sinalizar que para alm dos Direitos Humanos, o corpo lugar de
ocupao, violao e silncios. Jules Falquet (2003, p.30-31) refere-se, igualmente, ao
corpo da mulher como lugar de discusso, onde afloram preconceitos racistas, sexistas, alm
de serem considerados demasiados prolficos, conseqentemente, so culpadas de sua
prpria pobreza. Aponta a existncia de uma poltica internacional de controle dos corpos
femininos na medida em que so autorizadas ou no a praticarem o aborto.
6
Estudos como o de Stela Valria Cavalcanti: Violncia contra a mulher no Brasil (2009), podem servir como
exemplo.
7
No entendimento da Aes em Gnero, Cidadania e Desenvolvimento (AGENDE) as violncias sutis
consistem em: Controle econmico; controle da sociabilidade e/ou mobilidade; menosprezo moral;
desqualificao intelectual e/ou profissional e desrespeito dignidade feminina. www.agende.org.br. Acesso em
11 Nov 2010.
26
A violncia produz conseqncias fsicas e psquicas como doenas cardiovasculares, lceras
de estmago, doenas de pele, perturbaes da memria (esquecimentos) e do sono, estresse,
ansiedade, depresso (DINIZ & PONDAAG 2006). No pode ser tratada como algo
individualizado, mas como fenmeno social. Constitui uma forma de imposio do poder e
perpetuao das desigualdades, suscitando sentimento de inferioridade e subalternidade, bem
como interferindo nas relaes individuais, familiares e sociais.
Sabe-se que o problema da violncia encontra-se no centro da histria das sociedades. Os
diferentes meios para evit-la decorrem das formaes culturais institudas tais como padres
de conduta, valores ticos, relaes e comportamentos todos definidos de maneiras diferentes
e que exigem abordagem interdisciplinar. Em nossa cultura a violncia entendida como
violao da integridade fsica e psquica de algum, da sua dignidade humana (CHAU,
2009, p.308). Num mbito mais especfico, a violncia contra as mulheres ocorre dentro da
histria e como uma manifestao desigual de poder entre os homens e as mulheres: seja
pelos silncios, pelas omisses ou pelos domnios.
No livro Marcadas a Ferro, editado pela Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres,
associa-se violncia de gnero e ambientada na esfera familiar e domstica a um terrorismo
disfarado e que no recebe a mesma ateno que o terrorismo poltico:
La violencia contra las mujeres es tambin terrorismo, um terrorismo que produce al
ao centenares de asesinatos y agresiones fsicas, pero um terrorismo al que no se
nombra como tal, y que no recibe la misma atencin informativa que el terrorismo
poltico, en las primeras pginas de los peridicos, y no, como es habitual, en las de
sucesos. Parece que durante mucho tiempo se ha ido interiorizando por parte de
amplios sectores sociales el presupuesto de que lo privado no es poltico y de que los
poderes pblicos tienen poco que decir de puertas adentro. Y por El contrario, la
violencia contra las mujeres no es un tema privado, y la supuesta privacidad de la
institucin familiar no puede servir de escudo institucional para los malos tratos, la
violencia y otras manifestaciones ms sutiles de esta clase de microfsica del poder.
(AGUADO, 2005, p.25)
Por isso, entende-se que deve ser tratado sob a gide dos Direitos Humanos, que se
constituem naqueles direitos advindos de conquistas sociais e que representam valores de
determinado povo em determinado momento, segundo Stela Cavalcanti (2010, p.80 e 81) e
tambm dos direitos morais que podem ser traduzidos nas exigncias ticas, razes ou
princpios morais, acrescenta a autora.
27
1.2- Dos Direitos Humanos e dos Direitos Humanos Fundamentais
Na histria dos Direitos Humanos encontramos na dignidade humana o seu prprio
fundamento. H um aparato internacional de proteo a determinados direitos como: direito
vida, liberdade e dignidade que constituem nos Direitos Humanos Fundamentais. Tais
direitos nas suas dimenses subjetivas e objetivas, alm de constiturem garantias
fundamentam princpios orientadores do ordenamento jurdico.
No dualismo entre violncias e Direitos Humanos (pensando nos quesitos Paz e Liberdade,
por exemplo) h que se refletir que ao longo dos ltimos sessenta anos, a dimenso objetiva
dos Direitos Humanos Fundamentais tem apontado o dever do Estado em assegurar a proteo
total a tais direitos.
A Declarao Universal dos Direitos do Homem e do Cidado (ONU, 1948) foi a primeira
codificao desses direitos da maneira como se conhece hoje em dia, na qual so
estabelecidos compromissos de promover e encorajar o respeito aos direitos humanos e
liberdades fundamentais de todos, sem distino de raa, sexo, lngua ou religio. Aqui,
encontramos estampados os valores: liberdade, igualdade e fraternidade como ideais a serem
perseguidos e alcanados por todas as sociedades (CUNHA JNIOR, 2009, p. 578).
O direito liberdade significa limites atuao do Estado na esfera individual, podendo ser
traduzido como direitos civis e polticos. O direito igualdade estampa os direitos
econmicos, sociais e culturais. O direito fraternidade, hoje, solidariedade, se refere ao
desenvolvimento, paz, segurana e ao meio ambiente. Foram acrescentados os direitos de
minorias, regidos pelos Princpios da Igualdade e da No Discriminao como, por exemplo,
o direito existncia (direito coletivo vida), o direito identidade (direito de desenvolver
manifestaes culturais), o direito s medidas positivas (direito efetivao das medidas) que
se constituem nas expresses do direito democracia, ao pluralismo poltico e o direito
informao.
Atualmente, fala-se no direito que abarca as novas tecnologias como a clonagem, o estudo das
clulas tronco, o direito do embrio etc. Direitos, indivisveis porque reconhecem que a
garantia dos direitos civis e polticos condio para a observncia dos direitos sociais,
econmicos e culturais e vice e versa (PIOVESAN, 2004, p.48) e interdependentes porque
quando algum deles violado os demais tambm o so. Conhecidos respectivamente como de
primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimenses.
28
A Declarao dos Direitos Humanos (art. 3) estabelece a igualdade de todas as pessoas em
dignidade e direitos. A igualdade entre homens e mulheres baseia-se na igualdade entre as
diferentes raas e sexos e tambm na igualdade material, pois as oportunidades e as chances
devem ser equiparadas para todos. Consiste no princpio que respeita cada um perante a
sociedade pelo seu valor como indivduo, pessoa, ao mesmo tempo em que se respeitam os
demais direitos.
Em se tratando de violncia contra as mulheres, a Comisso de Mulheres do Movimento
Nacional dos Direitos Humanos afirma: sem direitos das mulheres no h Direitos
Humanos. A reduo dos males como a injustia, as desigualdades e a violncia passa,
fundamentalmente, pelo respeito aos princpios contidos em tais direitos.
1.3- Dos Direitos Humanos das Mulheres e as Convenes e Tratados
Mesmo sendo a Revoluo Francesa um marco no processo civilizatrio o texto abaixo
demonstra que a mulher foi discriminada apesar do lema: Igualdade, Liberdade e
Fraternidade.
J desde a Revoluo Francesa os Direitos Humanos foram pensados no masculino:
Declarao Universal dos Direitos do Homem e do Cidado. Por haver escrito a
verso feminina dos Direitos Humanos (Declarao Universal dos Direitos da
Mulher e da Cidad), Olympe Gouges foi sentenciada morte na guilhotina, em
1792 (SAFFIOTI, 2004, p. 76).
Apenas em 1993, na Conferncia Mundial sobre Direitos Humanos da ONU, em Viena, na
ustria, as mulheres tiveram seus direitos internacionalmente reconhecidos pelo fato de serem
pessoas, onde foi declarado que os Direitos Humanos das mulheres e das meninas so
inalienveis e constituem parte integral dos Direitos Humanos. A conquista do processo
histrico contemporneo em relao aos Direitos Humanos das Mulheres assim traduzida
formalmente:
Declarao De Viena E Programa De Ao:
Os direitos humanos das mulheres e das meninas so uma parte inalienvel,
integrante e indivisvel dos direitos humanos universais. A participao plena das
mulheres, em condies de igualdade, na vida poltica, cvica, econmica, social e
cultural, ao nvel nacional, regional e internacional, bem como a eliminao de todas
as formas de discriminao com base no sexo, constituem objetivos prioritrios da
comunidade internacional.
A violncia com base no sexo e todas as formas de assdio e explorao sexual,
incluindo as que resultam de preconceitos culturais, bem como o trfico
internacional, so incompatveis com a dignidade e com o valor da pessoa humana, e
devem ser por isso, eliminadas. Isto poder ser alcanado atravs de medidas
legislativas e atravs da ao nacional e da cooperao internacional em reas como
29
o desenvolvimento econmico e social, educao, maternidade segura, os cuidados
de sade e o apoio social.
Os direitos humanos das mulheres devem ser parte integrante das atividades das
Naes Unidas em prol dos direitos humanos, incluindo, a promoo de todos os
instrumentos internacionais de direitos humanos relativos s mulheres.
A Conferncia Mundial sobre os Direitos Humanos apela aos Governos, instituies,
organizaes intergovernamentais e no governamentais para que intensifiquem os
seus esforos no sentido da proteo e promoo dos direitos humanos das mulheres
e das meninas. (verso livre da autora)
8
.
Primeiramente, ressaltamos o direito vida como o principal. As mulheres e as meninas tm o
direito de existirem com dignidade; tm o direito de terem as mesmas oportunidades pelo fato
de terem nascidas livres e iguais aos homens e com liberdade de agirem de acordo com suas
prprias conscincias.
O processo de internacionalizao dos Direitos Humanos incorporou novos direitos sob a
perspectiva de gnero: a conexo entre o gnero, Direitos Humanos, e a espcie, direito das
mulheres, se faz por um princpio de igualdade de considerao e respeito, que fundamenta o
prprio discurso dos Direitos Humanos (PIOVESAN & IKAWA, 2004, p. 50). Esses novos
direitos foram resultados de conquistas das mulheres, apresentados e representados em
convenes e tratados tais como encontramos, entre outros, no mbito internacional, no
quadro a seguir:
8
Vienna Declaration And Programme Of Action (ONU), 1993.
18. The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal
human rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, at
the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of
sex are priority objectives of the international community.
Gender-based violence and all forms of sexual harassment and exploitation, including those resulting from
cultural prejudice and international trafficking, are incompatible with the dignity and worth of the human person,
and must be eliminated. This can be achieved by legal measures and through national action and international
cooperation in such fields as economic and social development, education, safe maternity and health care, and
social support.
The human rights of women should form an integral part of the United Nations human rights activities, including
the promotion of all human rights instruments relating to women.
The World Conference on Human Rights urges Governments, institutions, intergovernmental and non-
governmental organizations to intensify their efforts for the protection and promotion of human rights of women
and the girl-child. (United Nations Organization: www.un.org).
30
QUADRO 1- CONQUISTAS DE DIREITOS: MBITO INTERNACIONAL
1948 Declarao Americana dos
Direitos e Deveres do Homem,
OEA.
Tratou da igualdade das pessoas perante a lei e da simplificao dos
processos na justia.
1969 Conveno Americana dos
Direitos Humanos, OEA.
Cuidou do respeito aos direitos e garantias judiciais bem como da igualdade
perante a lei e da proteo judicial.
1975 1 Conferncia Internacional
Sobre a Mulher, no Mxico,
ONU.
Primeira Conferncia Mundial sobre a condio jurdica e social da mulher,
sendo aprovado, na ocasio, um plano de ao indicando as diretrizes
governamentais comunidade internacional para os dez anos seguintes.
Foram estabelecidas metas cujos principais objetivos eram: garantir o acesso
educao, ao trabalho, participao poltica, sade, vida, a
alimentao e ao planejamento familiar em igualdade com os homens.
1975/1985 Decnio das Naes Unidas
para a Mulher, ONU.
1979 Conveno sobre a Eliminao
de Todas as Formas de
Discriminao Contra a Mulher
(CEDAW, ONU),
Aprovada pela Organizao das Naes Unidas em 1979 e entrou em vigor
em 1981.
1980 2 Conferncia Mundial em
Copenhagem, ONU.
A partir dessa Conferncia que se inicia o debate no s sob o ponto de vista
jurdico, mas tambm sob o ponto de vista do exerccio dos direitos, da
igualdade de oportunidades.
1985 3 Conferncia Mundial em
Nairbi, ONU
Destaque para as esferas da vida social, poltica e do trabalho. Assinalamos
tambm, medidas de carter jurdico com nfase naquelas que visem
alcanar a igualdade tanto na participao social como na poltica.
1992 Recomendao Geral n. 19 do
Comit CEDAW, ONU
Reconhecida a natureza particular da violncia dirigida contra a mulher
porque mulher ou porque a afeta desproporcionalmente.
1993 Declarao sobre Todas as
Formas de Discriminao
contra a Mulher
Constitui o protocolo opcional Conveno sobre a Eliminao de Todas as
Formas de Discriminao contra as Mulheres.
1993 Conferncia Mundial Sobre
Direitos Humanos em Viena,
ONU.
Proclamou que os direitos das mulheres e das meninas so parte inalienvel,
integrante e indivisvel dos direitos humanos universais.
1994 Conferncia do Cairo Sobre
Populao e Desenvolvimento,
ONU.
Em seu programa de ao foi declarada a importncia do empoderamento da
mulher e o investimento na sua qualidade de vida como fins importantes e
essenciais visando o desenvolvimento sustentvel.
1994 Conveno Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a
Violncia Contra a Mulher.
Conveno de Belm do Par,
OEA
Adotada pela Assemblia Geral da Organizao dos Estados Americanos em
06/06/ 1994 e ratificada pelo Brasil em 27/11/1995.
1995 Conveno de Pequim, ONU. Conferncia Mundial Sobre as Mulheres. Foi a conferncia de maior
impacto tanto pela participao quanto pelo enfoque na igualdade de
gneros.
2003 Relatrio do Comit CEDAW
em relao ao Brasil, ONU.
O primeiro relatrio brasileiro foi apresentado somente em 2002 e em 2003
o Comit CEDAW recomendou ao Brasil que desse prioridade reforma
das disposies discriminatrias do Cdigo Penal para que ficassem de
acordo com a Conveno levando-se em conta as recomendaes gerais do
mesmo, em particular a Recomendao Geral n19 que trata da violncia
contra a mulher.
Fonte: Elaborado pela autora, 2010.
.
A CEDAW foi ratificada pelo governo brasileiro em 1984 com ressalvas em relao ao
Direito de Famlia que, posteriormente em 1994, foram retiradas sendo plenamente ratificada
e promulgada pelo Presidente da Repblica. Esta Conveno fundamenta-se na obrigao dos
Estados de assegurar a igualdade entre homens e mulheres e eliminar todos os tipos de
discriminao contra a mulher e abriu caminhos para a promoo da igualdade entre homens e
mulheres.
31
No mbito nacional abaixo ressaltamos os seguintes marcos, alm da legislao do Cdigo
Penal (1940) ainda vigente, em fase de atualizao:
QUADRO 2- CONQUISTA DE DIREITOS: MBITO NACIONAL
1986
Carta da Mulher
Brasileira aos
Constituintes
Em 26/08/1986, mais de mil mulheres entregaram em Braslia aos Constituintes
no Congresso Nacional a Carta da Mulher Brasileira contendo reivindicaes
que serviram de inspirao na elaborao do texto Constitucional de 1988.
1988
Constituio Federal
Brasileira
Artigo 226 8 diz que o Estado assegurar a assistncia famlia na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violncia no
mbito de suas relaes, base constitucional para a elaborao da Lei contra a
violncia domstica e familiar brasileira.
1995
Lei 9099 Iniciou um tmido enfrentamento jurdico do tema da violncia contra as
mulheres, embora no totalmente eficaz.
2003
Novo Cdigo Civil Lei 10.406/2002
2004
2006
I PNPM
Lei 11.340
Destaque para os enfrentamentos da igualdade gnero e raa/etnia.
Lei Maria da Penha- Lei de Combate Violncia Domstica e Familiar Contra a
Mulher.
2008
II PNPM Destaque para a garantia da implementao da Lei Maria da Penha
Fonte: Elaborado pela autora, 2010.
1.4 A trajetria da lei Maria da Penha
Esse nome foi em homenagem farmacutica cearense Sr Maria da Penha Maia Fernandes
que ficou paraplgica, vtima da violncia domstica em 1983, praticada por seu marido,
Heredia Viveiros, que tentou mat-la por duas vezes. A primeira tentativa de homicdio
ocorreu em 29 de maio de 1983 numa simulao de assalto, levou um tiro de espingarda e
ficou paraplgica. Alguns dias depois houve a tentativa de eletrocut-la quando tomava
banho. Reiteradamente denunciou as agresses que sofreu. As investigaes do atentado
comearam em junho de 1983, mas somente em setembro de 1984 que foi oferecida
9
a
denncia e, em 1991, o ru foi condenado pelo tribunal do jri a oito anos de priso. Recorreu
em liberdade e teve seu julgamento anulado.
Nesse intervalo, Maria da Penha escreveu o livro Sobrevivi, posso contar
10,
em face da
inrcia da justia e uniu-se ao movimento de mulheres. No se calou e de caso
individualizado, passou a ser referncia e nomeao do marco legal brasileiro que tenta punir
e prevenir a violncia contra as mulheres. Em 1996, em outro julgamento e o ru recebeu a
pena de 10 anos e seis meses de priso tendo na seqncia novamente recorrido em liberdade.
9
Oferecer, neste caso, significa apresentar em juzo. Ver: NUNES, Pedro. Dicionrio de tecnologia jurdica
(1979).
10
Escrito com o apoio do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM) e da Secretaria de Cultura do
Estado do Cear.
32
Em 1998, o Centro pela Justia e Direito Internacional (CEJIL)-Brasil, o Comit Latino-
Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM)-Brasil e a prpria
vtima, encaminharam petio Comisso Interamericana de Direitos Humanos da
Organizao dos Estados Americanos (OEA) denunciando o Estado brasileiro com relao
violncia domstica sofrida. Somente em 2002, dezenove anos e seis meses aps os fatos o
ru foi finalmente preso, mas cumpriu apenas dois anos de priso.
Esse caso teve repercusso internacional e o Brasil foi responsabilizado por negligncia e
omisso, alm da condenao a cumprir as convenes e tratados dos quais signatrio.
Ainda foi recomendado que se simplificasse os procedimentos judiciais penais para que
pudesse ser reduzido o tempo processual.
Importante salientar que foi o primeiro caso de aplicao da Conveno de Belm do Par
onde foram violados os artigos 3
11
, 4
12
, 5
13
e 7
14
.
11
Artigo 3: Toda mulher tem direito a uma vida livre de violncia, tanto no mbito pblico como no privado.
12
Artigo 4: Toda mulher tem direito ao reconhecimento, gozo, exerccios e proteo de todos os Direitos
Humanos e s liberdades consagradas pelos instrumentos regionais e internacionais sobre Direitos Humanos.
Estes direitos compreendem, entre outros:
a. o direito a que se respeite sua vida;
b. o direito a que se respeite sua integridade fsica, psquica e moral;
c. o direito liberdade e segurana pessoais;
d. o direito a no ser submetida a torturas;
e. o direito a que se refere a dignidade inerente a sua pessoa e que se proteja sua famlia;
f. o direito igualdade de proteo perante a lei e da lei;
g. o direito a um recurso simples e rpido diante dos tribunais.
13
Artigo 5: Toda mulher poder exercer livre e plenamente seus direitos civis, polticos, econmicos, sociais e
culturais e contar com a total proteo desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais
sobre Direitos Humanos.
Os Estados-partes reconhecem que a violncia contra a mulher impede e anula o exerccio desses direitos.
14
Artigo 7: Os Estados-partes condenam todas as formas de violncia contra a mulher e concordam em adotar,
por todos os meios apropriados e sem demora, polticas orientadas e prevenir, punir e erradicar a dita violncia e
empenhar-se em:
1. abster-se de qualquer ao ou prtica de violncia contra a mulher e velar para que as autoridades, seus
funcionrios, pessoal e agentes e instituies pblicas se comportem conforme esta obrigao;
2. atuar com a devida diligncia para prevenir, investigar e punir a violncia contra a mulher;
3. incluir em sua legislao interna normas penais, civis e administrativas, assim como as de outra natureza que
sejam necessrias para prevenir, punir e erradicar a violncia contra a mulher e adotar as medidas administrativas
apropriadas que venham ao caso:
4. adotar medidas jurdicas que exijam do agressor abster-se de fustigar, perseguir, intimidar, ameaar,
machucar, ou pr em perigo a vida da mulher de qualquer forma que atente contra sua integridade ou prejudique
sua propriedade;
5. tomar todas as medidas apropriadas, incluindo medidas de tipo legislativo, para modificar ou abolir lei e
regulamentos vigentes, ou para modificar prticas jurdicas ou consuetudinrias que respaldem a persistncias ou
a tolerncia da violncia contra a mulher.
6. estabelecer procedimentos jurdicos justos e eficazes para a mulher que tenha submetida a violncia, que
incluam, entre outros, medidas de proteo, um julgamento oportuno e o acesso efetivo a tais procedimentos
7. estabelecer os mecanismos judiciais e administrativos necessrios para assegurar que a mulher objeto de
violncia tenha acesso efetivo a ressarcimento, reparao do dano ou outros meios de compensao justos e
eficazes; e
8. adotar as disposies legislativas ou de outra ndole que sejam necessrias para efetivar esta Conveno.
33
Foram infringidos tambm os artigos 1
15
, 24
16
e 25
17
da Conveno Americana sobre
Direitos Humanos
18
que tratam respectivamente da obrigao de se respeitar os direitos, das
garantias judiciais, da igualdade perante a lei e da proteo judicial. Ainda, os artigos II
19
e
XVIII
20
da Declarao Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948)
21
.
Vale ressaltar que, na poca, o Estado brasileiro no respondeu denncia frente comisso
da OEA e o caso Maria da Penha Maia Fernandes de n 12.051/OEA, teve como conseqncia
a publicao do Relatrio n 54
22
de 2001 sinalizando como concluso que a Repblica
Federativa do Brasil era responsvel pela violao dos direitos, das garantias e da proteo
judiciais assegurados pela Conveno Americana (art.8 e art.25) e por negligncia na
tramitao do referido caso de violncia domstica.
15
Artigo 1: Os Estados Partes nesta Conveno comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exerccio a toda pessoa que esteja sujeita sua jurisdio, sem
discriminao alguma por motivo de raa, cor, sexo, idioma, religio, opinies polticas ou de qualquer outra
natureza, origem nacional ou social, posio econmica, nascimento ou qualquer outra condio social.
16
Artigo 24:Todas as pessoas so iguais perante a lei. Por conseguinte, tm direito, sem discriminao, a igual
proteo da lei
17
Artigo 25:1 Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rpido ou a qualquer outro recurso efetivo,
perante os juzes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais
reconhecidos pela constituio, pela lei ou pela presente Conveno, mesmo quando tal violao seja cometida
por pessoas que estejam atuando no exerccio de suas funes oficiais.
2. Os Estados Partes comprometem-se:
a. a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda
pessoa que interpuser tal recurso;
b. a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e
c. a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda deciso em que se tenha considerado
procedente o recurso.
18
Conveno Americana de Direitos Humanos. Adotada e aberta assinatura na Conferncia Especializada
Interamericana sobre Direitos Humanos, em San Jos de Costa Rica, em 22.11.1969 - ratificada pelo Brasil em
25.09.1992
19
Artigo II - Todas as pessoas so iguais perante a lei e tm os direitos e deveres consagrados nesta Declarao,
sem distino de raa, lngua, crena ou qualquer outra
20
Artigo XVIII - Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. Deve poder
contar, outrossim, com processo simples e breve, mediante o qual a justia a proteja contra atos de autoridade
que violem, em seu prejuzo, quaisquer dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente.
21
Declarao Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948). Resoluo XXX Ata Final, aprovada na IX
Conferncia Internacional Americana, em Bogot, em abril de 1948
22
(...) a Repblica Federativa do Brasil responsvel da violao dos direitos s garantias judiciais e proteo
judicial, assegurados pelos artigos 8 e 25 da Conveno Americana em concordncia com a obrigao geral de
respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo 1(1) do referido instrumento pela dilao injustificada e
tramitao negligente deste caso de violncia domstica no Brasil.
Que o Estado tomou algumas medidas destinadas a reduzir o alcance da violncia domstica e a tolerncia estatal
da mesma, embora essas medidas ainda no tenham conseguido reduzir consideravelmente o padro de
tolerncia estatal, particularmente em virtude da falta de efetividade da ao policial e judicial no Brasil, com
respeito violncia contra a mulher.
Que o Estado violou os direitos e o cumprimento de seus deveres segundo o artigo 7 da Conveno de Belm do
Par em prejuzo da Senhora Fernandes, bem como em conexo com os artigos 8 e 25 da Conveno Americana
e sua relao com o artigo 1(1) da Conveno, por seus prprios atos omissivos e tolerantes da violao
infligida"
34
Embora o Estado tenha tomado algumas medidas com a finalidade de reduzir o alcance da
violncia domstica, elas no tinham sido suficientes particularmente em virtude da falta de
efetividade da ao policial e judicial no Brasil. Este Relatrio se configurou como uma
imposio internacional ao Brasil por descumprimento aos tratados e convenes assinados e
prpria Constituio Federal, pois, esta, no art.53
23
, determina que os direitos expostos
em tratados internacionais tenham aplicao imediata e natureza de norma constitucional.
Observa-se, portanto, que a prpria Constituio Federal no estava sendo cumprida, mesmo
aps a assinatura de tratados e convenes.
A Lei Maria da Penha resultou de um processo de mo dupla, onde o movimento feminista
ganhou espaos e reivindicou, mas tambm o pas teve que passar por sanes internacionais,
consoante apresentou Ceclia MacDowell em texto publicado no Portal da Violncia Contra a
Mulher em 2007. Assim, embora o governo brasileiro tivesse sido comunicado, o caso Maria
da Penha foi ignorado pelas autoridades durante quase todo o governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e tambm no primeiro ano do governo do Presidente Luiz Incio Lula da
Silva.
Aps muita insistncia, em 2000, a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher (SEDIM)
conseguiu que o Superior Tribunal de Justia (STJ) apreciasse o ltimo recurso dos
advogados de defesa de Viveiros (o agressor). Este fato, juntamente com a informao do no
cumprimento pelo Estado brasileiro das recomendaes da Comisso Internacional dos
Direitos Humanos (CIDH) para o caso Maria da Penha foi denunciado ao comit CEDAW.
Apenas em 2004, a Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres comeou a tomar as
providncias no sentido de dar cumprimento s recomendaes da CIDH.
Foi criado um grupo de trabalho Interministerial que recebeu subsdios de um Consrcio de
Organizaes No-Governamentais Feministas, formado pela Advocacy, Agende Themis,
Cladem/Instituto de pesquisas em Eqidade (IP), Cidadania, Estudo Pesquisa Informao e
Ao (CEPIA) e Centro Feministas de Estudos e Assessoria (Cfemea). Realizaram consultas
sociedade civil, atravs de seus representantes, seminrios e debates pelo pas e prepararam
uma proposta de anteprojeto de lei que foi encaminhado pela SPM ao presidente da Cmara
dos Deputados e ao presidente da Repblica (Projeto de Lei 4.559/2004), posteriormente foi
23
CF/88, art.5:3 Os tratados e convenes internacionais sobre Direitos Humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por trs quintos dos votos dos respectivos membros, sero
equivalentes s emendas constitucionais. (Includo pela Emenda Constitucional n 45, de 2004) (Atos aprovados
na forma deste pargrafo).
35
transformado na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei "Maria da Penha") em cuja
"Exposio de Motivos", faz referncia explcita condenao do Estado brasileiro no caso
Maria da Penha
24
.
A Lei Maria da Penha constitui um marco por tratar de uma mudana paradigmtica e de
acordo com os postulados da Criminologia Crtica Feminista
25
se coloca como um pndulo na
medida em que o Direito sempre estabeleceu as regras de aplicabilidade da punio,
baseadas num modelo patriarcal (MIRANDA, 2008, p.03). Uma Lei que veio fundamentada
em slidas bases legais, tanto no mbito internacional (Conveno CEDAW e Conveno de
Belm do Par) quanto no mbito nacional.
Tomando como paradigma globalizante da tendncia do incio do Sculo XXI o
advento de legislaes penais de reduo de interveno do Estado, a exemplo das
Leis 9099/95 e 10.529/2001, no seria desarrazoado afirmar que a Lei Maria da
Penha, com a ampliao do recrudescimento penal constitui o vetor de mudana
paradigmtica (MIRANDA, 2008, p.03).
At ento, o Estado brasileiro afrontava a CEDAW, a Conveno Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia Contra a Mulher (Conveno de Belm do Par), alm
da prpria Constituio Federal de 1988, art. 226 8, que estabelece que dever do Estado
criar mecanismos para coibir a violncia no mbito das relaes familiares. Apesar de todas
essas indicaes at 2006 o Brasil no possua legislao especfica em relao violncia
domstica contra a mulher.
A lei Maria da Penha revela presena organizada das mulheres no embate humano,
social e poltico por respeito. Sua presena est marcada na nfase valorizao e
incluso da vtima no contexto do processo penal, na preocupao com preveno,
proteo e assistncia aos atores em conflito, no resguardo das conquistas femininas
(HERMANN, 2008, p. 19).
A promulgao da Lei Maria da Penha est inserida justamente no intervalo dos dois Planos
Nacionais de Polticas para as Mulheres da Secretaria de Polticas para as Mulheres da
Presidncia da Repblica, respectivamente, o I Plano Nacional de Polticas para as Mulheres
(PNPM, 2004-2007), cujo compromisso fundamental foi de enfrentar as desigualdades de
gnero e raa em nosso pas e o II PNPM (2008-2011), ainda em execuo, que tem como
uma das suas prioridades, a garantia da implementao da Lei Maria da Penha assim como as
demais normas jurdicas nacionais e internacionais.
24
Disponvel em <http://www.ces.uc.pt/opiniao/cms/001.php>, acessado em 12/09/2010
25
Explica o Professor de Cincias Criminais da UFRGS, Solo Carvalho, que a Criminologia Crtica derivada
da Teoria Crtica assim como a Criminologia Crtica Feminista deriva da Teoria Crtica Feminista, de vis
marxista, que explica o fenmeno da criminalizao a partir da idia de dominao/explorao da mulher. Ver
tambm: BARATTA, 2004.
36
1.5- Da Lei 11.340/2006 e das formas de violncia
O carter inovador da Lei Maria da Penha revolucionou o enfrentamento da violncia contra a
mulher e tratou da desigualdade e da prpria violncia; trouxe a perspectiva de gnero;
ampliou o conceito de famlia, respeitando a livre orientao sexual e estimulou a criao de
banco de dados estatsticos referentes violncia contra a mulher. Mais que punir a Lei
tambm trata da educao, atravs de uma mudana nos conceitos e valores sociais que fazem
a violncia domstica parecer natural e aceita na famlia e na sociedade.
O sujeito protegido pela lei a Mulher
26
, mesmo se for criana ou adolescente at 18 anos,
incidindo a legislao concorrente do Estatuto da Criana e do Adolescente. No caso das
idosas, igualmente incide a legislao concorrente do Estatuto do Idoso, quando maiores de
60 anos. No importa se o agressor homem ou outra mulher.
27
O artigo 5 da Lei Maria da Penha, definio da violncia contra a mulher, foi baseado no
artigo 1 da Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia contra a
Mulher
28
, o objetivo foi proteger a mulher contra o preconceito ou discriminao pelo fato de
ser mulher tanto no espao de habitao quanto fora do mesmo, abarcando as humilhaes,
ofensas e xingamentos assim como a negligncia e o abandono, entre outros sofrimentos.
A Conveno em epgrafe entende que a violncia fsica, sexual e psicolgica constitui
formas prevalentes de violncia contra a mulher (art. 2)
29
e exemplifica os locais que podem
ocorrer (art.2, 1)
30
. Por outro lado, a Lei Maria da Penha tambm acrescentou as formas
violncia moral e patrimonial (art.7 IV e V)
31
. Contudo, o rol no exaustivo e podemos
encontrar correspondncia no inciso I do artigo 5 da Lei Maria da Penha onde se traduz
unidade domstica como o espao de coabitao, ou seja, alm das casas de famlia, como at
26 Todo o gnero feminino: estampa-se a igualdade no gnero e de gnero (entre todos os seres humanos).
Significa que a proteo tambm se estende mulher homossexual e ao homossexual masculino que se
reconhece na qualidade feminina.
27
Nesse sentido ver: Berenice Dias (2007); Leda Hermann (2006), Amini Campos & Lindinalva Corra (2008).
28
Art. 1: Para os efeitos desta Conveno deve-se entender por violncia contra a mulher qualquer ao ou
conduta, baseada no gnero, que cause morte, dano ou sofrimento fsico, sexual ou psicolgico mulher, tanto
no mbito pblico como no privado. (OEA - Conveno de Belm do Para realizada no Brasil, ano).
29
Artigo 2: Entender-se- que violncia contra a mulher inclui violncia fsica, sexual e psicolgica:
30
Art.2,1. Que tenha ocorrido dentro da famlia ou unidade domstica ou em qualquer outra relao
interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domiclio que a mulher e que compreende,
entre outros, estupro, violao, maus-tratos e abuso sexual:
31
Art. 7
o
So formas de violncia domstica e familiar contra a mulher, entre outras:
IV - a violncia patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure reteno, subtrao, destruio
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econmicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violncia moral, entendida como qualquer conduta que configure calnia, difamao ou injria.
37
em internatos pensionatos, conventos etc. Isto quer dizer, no ambiente privado. Mas tambm
nada impede que possa ocorrer no ambiente pblico como em hospitais, igrejas ou escolas por
exemplo.
Igualmente importante, a Conveno de Belm do Par aponta outro tipo de violncia contra a
mulher, aquela que praticada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes (art.2, 3)
32
.
Falamos aqui da violncia estrutural, utilizando o conceito definido por Minayo (1997, p.522)
como violncia gerada por estruturas organizadas e institucionalizadas, naturalizada e oculta
em estruturas sociais, que se expressa na injustia e na explorao e que conduz opresso
dos indivduos. Esse tipo de violncia pode ocorrer, ainda, tanto nos sistemas polticos,
econmicos e culturais como dentro da prpria famlia.
Outro tipo de violncia que, segundo Martinez (2008), cometida principalmente contra os
grupos mais vulnerveis como crianas, adolescentes, mulheres e idosos a violncia
institucional: aquela exercida pelos prprios servios pblicos, por ao ou omisso e
complementa:
A Violncia Institucional praticada nas instituies prestadoras de servios
pblicos como hospitais, postos de sade, escolas, delegacias, judicirio, servios
scio-assistenciais, entre outros. perpetrada por agentes que deveriam proteger as
mulheres vtimas de violncia garantindo-lhes uma ateno humanizada, preventiva
e tambm reparadora de danos. (MARTINEZ, 2008, p.02).
O debate sobre a violncia institucional est diretamente relacionado aos Direitos Humanos e
a violncia contra a mulher constitui uma das formas de violao desses direitos.
Importante salientar que a Lei Maria da Penha foi classificada no Relatrio do Fundo de
Desenvolvimento da ONU (UNIFEM, 2009, p 76), como uma das trs legislaes mais
avanadas no mundo para o enfrentamento da violncia contra as mulheres, ao lado da
legislao da Espanha e da Monglia.
Destacamos, particularmente, a legislao espanhola - Ley Orgnica 1/2004, como
inspiradora da nossa lei e conhecida por utilizar a expresso violncia de gnero. Tal
legislao difere da brasileira por tratar da violncia de gnero, isto , da violncia que atinge
todas as mulheres enquanto que a Lei Maria da Penha protege as mulheres em situao de
violncia, numa perspectiva de gnero, porm desde que estejam inseridas numa relao de
32
Art. 2,3: que seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.
38
afeto. Contudo, ressaltamos como ponto em comum entre elas o Princpio da Proteo
Integral, especialmente em seu artigo 1 (Lei Maria da Penha) in .ci.:
Art. 1
o
Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violncia domstica e
familiar contra a mulher, nos termos do 8
o
do art. 226 da Constituio Federal, da
Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de Violncia contra a Mulher,
da Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia contra a
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela Repblica Federativa do
Brasil; dispe sobre a criao dos Juizados de Violncia Domstica e Familiar
contra a Mulher; e estabelece medidas de assistncia e proteo s mulheres em
situao de violncia domstica e familiar.
Cabe mencionar uma breve comparao entre esses trs pases signatrios da CEDAW, pode-
se observar que o objeto da legislao espanhola consiste em combater a discriminao de
gnero que ocorre nas situaes de desigualdade e relaes de poder entre os homens e as
mulheres e da Lei Contra a Violncia Domstica na Monglia
33
o objeto a proteo dos
direitos e interesses das vtimas e seus familiares.
Mesmo entendendo que a Lei Maria da Penha um avano, o desafio de implement-la
enorme e o envolvimento dos homens (adultos e crianas) neste debate essencial para
reprimir, coibir e prevenir, inclusive no sentido educativo, a violncia, alm de toda a
sociedade.
Nesse contexto, observa-se que a Lei inova ao definir as tipologias da violncia; cria os
Juizados Especiais e prev a recuperao e reeducao do agressor, podendo-se inferir que a
mulher brasileira passou a contar com um mecanismo legal de proteo especial contra a
violncia domstica e familiar, at ento, nunca existente. Este mecanismo de proteo surgiu
ao se romper a naturalizao da violncia de gnero prpria da sociedade contempornea. Da,
a necessidade de se percorrer terica e historicamente como foram construdos os conceitos de
gnero, famlia e violncia.
Para melhor compreenso do significado da Lei, como instrumento regulador das relaes
domsticas e familiares objetivando a preveno da violncia contra a mulher, ser listado a
seguir aspectos relevantes alcanados pela legislao:
33
Lei da Monglia Contra a Violncia Domstica. Fonte: Altangerel L. Bugat Second Secretary/Consular
MONGOLIAN EMBASSY. Email: altan@mongolianembassy.us
39
Quadro 3- Aspectos comparativos do contexto pr e ps a LEI MARIA DA PENHA
Antes Com a Nova Lei
No estabelece as formas da violncia contra a
mulher.
Estabelece as formas da violncia contra a mulher
como sendo fsica, psicolgica, sexual, patrimonial e
moral
Aplicao da Lei 9099/95, que criou os Juizados
Especiais criminais, onde s se julgam crimes de
menor potencial ofensivo- pena mxima de 2 anos.
Retira desses Juizados a competncia para julgar os
crimes de violncia domstica contra a mulher.
Os Juizados Especiais Criminais tratam somente do
crime, mas para a mulher vtima de violncia
domstica resolver as questes de famlia (separao,
penso, guarda de filhos) tem que ingressar com outro
processo na Vara de Famlia.
Sero criados Juizados Especiais de Violncia
Domstica e Familiar contra a Mulher com
competncia cvel e criminal para abranger todas as
questes.
Permite a aplicao de penas pecunirias como s de
cestas bsicas e multa.
Probe a aplicao dessas penas
A mulher pode desistir da denncia na Delegacia. A mulher somente poder renunciar perante o Juiz.
a mulher que, muitas vezes, entrega a intimao
para o agressor comparecer em audincia.
vedada a entrega da intimao, pela mulher, ao
agressor.
No prev a priso em flagrante ou preventiva do
agressor.
Possibilita a priso em flagrante ou preventiva.
A violncia contra a mulher no era considerada
agravante de pena (art.61 do Cdigo Penal)
Este tipo de violncia passa a ser previsto no Cdigo,
como agravante de pena.
Pena varivel entre 6 meses a 1 ano. Pena mnima de 3 meses e mxima de 3 anos,
acrescentando-se mais 1/3 no caso de mulheres com
deficincia.
No tratava de pessoas do mesmo sexo. Determina que a violncia contra a mulher independe
de orientao sexual.
No era previsto o comparecimento do agressor a
programas de recuperao e reeducao.
Prev o comparecimento do agressor a programas de
recuperao e reeducao.
Fonte: Francisca Schiavo
34
, 2008
1.6- Gnero, famlias e violncias: delineando espaos tericos, historiogrficos e
institucionais- aproximaes necessrias
Dentro do processo histrico nem sempre possvel observar permanncias e rupturas
somente atravs de um recorte temporal. Essencialmente, ao trazer abordagem sobre funes
e papis, as categorias analticas relacionais tais como gnero e famlia podem ser
aproximaes relevantes para a contextualizao inicial. Um argumento, a princpio, usado
por filsofos como Plato, Aristteles, Santo Agostinho era o de que a funo da mulher era
uma funo natural j que a atividade feminina se explica pela sua natureza, passando, ento,
a ser uma funo. Disto se aduz que vem da Antiguidade a idia de atividades femininas
naturais.
Antes da era Crist, a mulher livre e a mulher escrava tinham seu espao de trabalho restrito
rea domstica porque eram as responsveis pelas medidas necessrias subsistncia no que
34
Elaborado por Francisca Schiavo, Coordenadora do CRLV (2005-2008), extrada da Palestra: Lei Maria da
Penha, avanos e perspectivas- Seminrio em Defesa da Mulher em 06 de maio de 2008, promovido pelo
SINDACS/BA.
40
concerne alimentao e higiene das crianas e dos homens. (MENICUCCI, 1999, p.59). A
histrica situao da mulher na sociedade, determinada pelo patriarcado e pelo valor, originou
na Grcia antiga, persistindo durante o Imprio Romano. O patriarcado ocidental e cristo
ligado forma-valor onde, segundo Roswitha Scholz (1992), valor o homem, no o
homem como ser biolgico, mas o homem como depositrio histrico da objetivao
valorativa. Segundo a filsofa, nessas sociedades, as condies sociais vigentes fizeram
surgir uma esfera pblica, "masculina" (trabalho, Estado, poltica, cincia, arte, etc.) que os
homens tomaram como exclusividade sua e uma esfera privada que se refere ao "feminino"
(famlia, sexualidade, etc.).
As mulheres atenienses viviam exiladas em casa, de onde deveriam sair o menos
possvel. A principal tarefa da mulher era conceber um filho; caso isso no
ocorresse, sua vida teria sido em vo. A hipstase da nova esfera pblica, que exigia
a conduta abstrata e racional, andava de mos dadas com a degradao da
sexualidade em geral. A ascenso do pensamento racional associou-se j desde o
bero excluso das mulheres. A esfera pblica, de quem tambm fazia parte a
formao cultural, necessitava (na figura da esfera privada) de um domnio que lhe
fosse contraposto, para o qual pudesse olhar do alto de sua posio. O homem
precisava da mulher como 'antpoda', no qual ele projetava tudo o que no era
admitido no mbito pblico e nas esferas adjacentes. Assim, j na antiga Atenas, a
mulher era tida e havida na conta de lasciva, eticamente inferior, irracional,
intelectualmente pouco dotada etc. - atributos esses que permaneceram em vigor at
a modernidade. (SCHOLZ, 1992, p.05).
Na sociedade medieval chegaram a existir resqucios semimatriarcais no seio do
patriarcado, por exemplo, entre as tribos germnicas, onde s mulheres se admitia uma
significao mstica em que a figura da bruxa no era vista como negativa e que at poderia
produzir algo bom. A mulher era juridicamente subordinada ao marido podendo at ser
negociada como escrava ou cabea de gado. Nessa poca, comportamentos e costumes que no
incio da civilizao crist eram tidos como relativamente normais (nudez, carcias,
prostituio, filhos ilegtimos, fornicao, aborto e o divrcio), para a Doutrina Crist foram
enquadrados na condio de pecados. Pregava-se a imagem negativa da mulher, a pecadora
Eva passou a ser confrontada com a Virgem Maria.
O Ocidente herdou do hebreu o patriarcalismo,
35
do grego, o falocracismo
36
que,
fundidos ao clericalismo
37
catlico feudal, conservam at hoje elementos negativos
35
Patriarcalismo traduzido como um modo de estruturao e organizao da vida coletiva baseado no poder de
um pai, onde prevalecem as relaes masculinas sobre as femininas, bem como o poder dos homens mais
fortes sobre os outros. Ver: CASTRO & LAVINAS, 1992.
36
Falocracismo traduzido como a dominao masculina (machismo), o incio do culto ao pnis (Grcia). Ver
tese de Doutorado de Paulina Terra Nlibos: Eros e Bia entre Helena e Cassandra: Gnero, sexualidade e
matrimnio no imaginrio Ateniense, 2006. Disponvel em www.lume.ufrgs.br, acessado em 13/06/2010
37
Clericalismo traduzido como sendo a doutrina que instrumentaliza uma religio com o fim poltico. Ver
Dissertao de Mestrado de Eber da Cunha Mendes: A teologia poltica de Joo Calvino (1509-1564) nas
Institutas da Religio Crist (1536), 2009. Disponvel em www.ufes.br.
41
sobre a sexualidade, tais como: a submisso e a desvalorizao da mulher, a
represso sexual e a respectiva regulamentao da conduta social (NUNES in
CABRAL 1987, p. 114).
A princpio o controle exercido pela Igreja sobre a sexualidade deu-se junto nobreza
alcanando, depois, as camadas populares. Os homens expropriaram a cincia medicinal
emprica das mulheres (bruxas), fundamentados no grande manual dos inquisidores de
feitiaria: ^vcv. nvc{icvvn
38
(O martelo das bruxas), de 1487, redigido pelos padres H.
Kraemer e J. Sprenger e mais tarde surgiu a crena de que as mulheres bruxas eram escolhidas
pelo demnio, razo da sua inferioridade.
Se na Antiguidade prevalecia o domnio da razo da natureza, na Idade Mdia o domnio da
razo de Deus, a Idade Moderna identificou o imprio da razo do homem. Nesse sentido,
surgiram novas relaes de produo cuja principal caracterstica era a explorao capitalista
do proletariado assalariado.
O mundo moderno chegou apontando para a secundarizao da f num ser divino e tambm a
dessacralizao dos dogmas medievais. Naquele momento, as transformaes que culminaram
no novo modo de produo dividiram a humanidade entre dois cdigos de moral sexual: o
velho mundo feudal e o novo mundo burgus. Surgiu a moral individualista e o culto ao eu
refletindo, potencialmente, nas relaes entre os sexos e fortalecendo o preconceito da
desigualdade entre o homem e a mulher. Em qualquer tipo de unio amorosa a mulher era
propriedade do homem.
Era a necessidade de convenincias, de autocensura e de preocupaes com a moral.
As aparncias visavam encobrir aquilo que no se discutia, que se disfarava no
apreciar, mas que certamente conheciam e praticavam (CABRAL, 1995, p.136-137).
Na Idade Moderna, a condio das mulheres continuou difcil sofrendo represses em todos
os mbitos sociais. Sob a exigncia de emancipao, no Sculo XIX, registrou-se a
multiplicao de movimentos feministas, em todo o mundo, que clamavam pela modificao
das condies de vida das mulheres.
A Igreja Protestante tambm contribuiu editando normas sobre o controle do corpo e da
sexualidade feminina onde a mulher deveria ser domesticada para que levasse uma vida
38
Manual, da poca do Renascimento, que ensinava os juzes a reconhecer as bruxas em suas atitudes e
disfarces, expunha, classificava e explicava seus malefcios, alm de regrar a maneira como agir na inquirio e
condenao contra as bruxas. (KRAMER & SPRENGER, 1976).
42
serena, amvel, humilde, controlada pelo patriarcado e encerrada no claustro do casamento
(SCHOLZ, 1992).
A virulenta campanha contra o "feminino" manifestou-se (em complemento ao
projeto cientfico de "controle da natureza") como tendncia a domesticar a mulher
como "ente natural", isto , fazer com que a mulher, como representante da natureza
(e a natureza como local de destino do mundo feminino) levasse uma vida serena,
domstica e controlada pelo patriarcado. (SCHOLZ, 1992, p.8).
Para o reformista Martinho Lutero, a me dona-de-casa conjugava a imagem da bruxa (Eva) e
da Virgem Maria (embora rejeitasse sua verso catlica). Desse encontro surgiu a imagem da
mulher burguesa domesticada, humilde, amvel e obediente em contraponto outra face que
correspondia, comedidamente, paixo e ao erotismo.
Ao mesmo tempo em que ao homem era oferecida a atuao e ao na sociedade, no espao
pblico, a mulher deveria se restringir ao espao privado do lar onde ainda precisava, alm de
ser uma dona de casa exemplar, proporcionar ao marido uma vida domstica agradvel
atravs de seus cuidados, assistncia e interesses.
diferena dos primeiros patriarcados da Antiguidade, presos forma-valor, em
que o homem ainda encontrava sua satisfao na prpria esfera pblica, elas so
testemunhas do quanto a racionalidade patriarcal e do valor fugiu ao controle do
homem nesse meio tempo, do quanto ele depende agora de um "bem-estar
domstico" propiciado pela mulher. (SCHOLZ, 1992, p.9).
De acordo com a proposta anterior, para Joan Scott (1994) nada explicava a falta de ateno
s mulheres no passado, pois, a verdadeira causa era o preconceito masculino. Ainda
possvel encontrar em memrias recentes da sociedade contempornea a idia de educao,
principalmente, das mulheres da classe mais privilegiada para uma vida misso, onde eram
educadas para serem encarregadas da preservao de valores, crenas, regras.
(CAVALCANTI, 2007).
A explicao da histria do trabalho da mulher gerou ou produziu a ideologia da
domesticidade ou a doutrina das esferas separadas para o pensamento cientfico, poltico,
moral e mdico. Esse discurso do Sculo XIX conceituou o gnero como uma diviso sexual
do trabalho natural (SCOTT, 1994, p.444-446).
Percebe-se que a cultura produz formas de relacionamentos que variam de acordo com
determinadas pocas e tambm entre uma e outra classe social, como entre os valores
proletrios e os burgueses nos Sculos XIX e XX.
43
1.7 A contemporaneidade em foco
As mulheres continuam buscando a igualdade em direitos e melhorias nas condies de vida e
existncia e atravs dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas,
principalmente, tem trabalhado para a conscientizao da sociedade na promoo de direitos e
conquistas de espaos de autonomia e justia social. Durante algum tempo, a anlise dos
estudos de gnero indicava que biologicamente nascemos machos e fmeas depois
aprendemos a ser homens e mulheres (BEAUVOIR, 2000). Seguindo a linhagem feminista,
temos que Butler (2003), ao desconstituir o conceito de gnero, base da Teoria Feminista, que
diz que o sexo natural e o gnero socialmente construdo, concluiu que o que torna o
destino das mulheres a cultura e no o sexo, a biologia. Para a Teoria Feminista h uma
unidade na categoria mulheres que o sexo tambm no natural, decorrendo igualmente da
cultura tal qual o gnero no embate com Beauvoir. Partindo da afirmao de que no se nasce
mulher, torna-se mulher, Butler questiona se a pessoa que se torna mulher tenha que ser,
obrigatoriamente, mulher.
Para alguns (as) historiadores (as), a palavra gnero utilizada para sugerir que a
informao a respeito das mulheres , necessariamente, informao sobre os homens, que um
implica no estudo do outro (SCOTT, 1998). No obstante, resumem que historiadores (as)
feministas se valeram de trs posies tericas de abordagens na anlise de gnero, a princpio
tentando explicar as origens do patriarcado em seguida procurando um compromisso com as
crticas feministas e, depois, inspiraram nas escolas de Psicanlise na explicao da produo
da identidade de gnero do sujeito.
Sobre a origem do patriarcado havia a necessidade do homem dominar as mulheres. Suas
teorias se relacionavam ao questionamento da desigualdade entre homens e mulheres. As
crticas feministas so conduzidas por uma teoria da histria onde as norte- americanas e
inglesas defrontaram com o conceito de gnero tratado, at ento, como um subproduto de
estrutura econmica em transformao. Quanto s Teorias Psicanalticas, ainda segundo Scott
(1998, p.81), o que atraiu as feministas foi a possibilidade de fundamentar concluses
particulares para observaes gerais. Exemplifica citando Nancy Chodorow (1978) cuja
teoria limita o conceito de gnero experincia domstica quando se refere ao maior
envolvimento e presena dos pais nas situaes domsticas.
44
Pesquisadoras como Mary Garcia Castro (1992) e Lia Zanotta Machado (1992), entre outras,
concordam que a utilizao da categoria gnero para definir as relaes sociais entre os sexos
foi o paradigma para o atual debate em torno de questes relacionadas s mulheres. Segundo
o debate historiogrfico sobre a temtica, vale o destaque de mais duas contribuies
contemporneas, refletindo e analisando a categoria gnero: A primeira delas refere-se
noo de que, diferentemente de sexo, o gnero um produto social, aprendido,
representado, institucionalizado e transmitido ao longo de geraes (SORJ, 1992, p, 15). J a
segunda vertente, de acordo com Heilborn (1999), sinaliza para a expresso gnero como
sendo um conceito das Cincias Sociais, referindo-se construo social do sexo, ademais de
fazer a distino entre a dimenso biolgica e a social, entre natureza e cultura.
Para Lamas (2000), o conceito de gnero se refere a uma rede de inter-relaes sociais, diz
respeito simbolizao que as sociedades fazem do papel do homem e da mulher. E
complementa que o grande xito do feminismo foi ter conseguido modificar no somente a
perspectiva poltica com que abordava o conflito nas relaes mulher-homem, mas tambm
transformar o paradigma empregado para explic-lo.
Sobre as correntes tericas analticas feministas, Wnia Pasinato Izumino (2004), em sua tese
de doutorado, desenvolvendo idias baseadas nas colocaes de Joan Scott (1988), tambm
aponta as trs correntes que surgiram na luta pela igualdade quais sejam: a que atribua ao
patriarcado a origem da supremacia masculina; da marxista, que atribua histria e a outra,
relacionada psicanlise. Conforme a autora, para os adeptos da Teoria do Patriarcado, a
dominao das mulheres pelos homens a base da separao das esferas pblica e privada,
pertencendo, a mulher, o mundo feminino e a sexualidade ao ambiente privado em oposio
ao ambiente pblico que era reservado ao homem.
Embora os estudos de Histria Social tratassem de mostrar essa separao, havia a abordagem
feminista que indicava que o fundamento da dominao masculina sobre as mulheres
encontrava-se na reproduo, ou seja: na capacidade de reproduo das mulheres, para a
preservao da espcie constituindo, uma abordagem histrica. A separao entre a
reproduo e o trabalho conduziria diviso sexual do trabalho e que teria como
conseqncia a subordinao das mulheres-[...] a sexualidade est para o feminismo marxista
assim como a classe social est para o marxismo (IZUMINO, 2004, p. 82). Complementa
informando que a corrente que aproxima as teorias feministas da psicanlise advoga que as
mulheres deveriam rejeitar tudo que fosse relativo ao mundo masculino.
45
1.8 Cruzando fronteiras: espaos familiares e violncias
No s uma aproximao com a categoria gnero pode fundamentar e reforar o estudo
pretendido nesta dissertao. O fato de um recorte sobre violncia familiar e domstica
tambm exige uma anlise mais detalhada da categoria famlia e territrio, compreendendo o
fenmeno para alm das relaes restritas somente s relaes de gnero. Destarte para
melhor compreenso, necessrio que faamos uma breve incurso na famlia no tocante
sua conceituao, caracterizao e transformao e, nesse contexto, identificar as violncias
ocorridas dentro dos espaos familiares.
Sabe-se que, inicialmente, o gnero humano se estruturou em grupos onde os homens
pertenciam a todas as mulheres e, estas, a todos os homens tendo, portanto, os filhos, vrios
cuidadores.
39
Depois, o grupo foi reduzido ao par, formando o casal e identificando o aspecto
da conjugalidade como uma caracterstica essencial para configurar as estruturas familiares. A
certeza da paternidade tornou-se questo fundamental para a preservao do patrimnio, que
ao lado da procriao, constitua o objetivo da famlia monogmica
40
. O homem controlava
toda a famlia
41
e as mulheres no possuam direitos nem vontades.
Aqui no se pretende discorrer sobre todas as fases, apenas ressaltar algumas transformaes
nas famlias consideradas importantes para este trabalho.
Com o advento do Cristianismo, o casamento passou a ter um carter sacramental que trouxe
uma nova concepo em relao personalidade humana, que atribuiu autoridade paterna
obrigaes morais e jurdicas.
39
Ver artigo de CARVALHO, Ana Maria Almeida et al . Mulheres e cuidado: bases psicobiolgicas ou
arbitrariedade cultural? Paidia, Ribeiro Preto, v. 18, n. 41, Dez. 2008. Disponvel em
<http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em 30 Out. 2010.
40
O Cdigo de Hamurbi, na Babilnia e na Assria (2000 a.C), legislava, detalhadamente, a estrutura familiar e
a situao da mulher, colocando-a em posio de inferioridade em relao ao homem. O pai vendia a filha em
matrimnio ao futuro marido. A filha s tinha alguma participao no direito sucessrio em relao ao
patrimnio do pai, somente se e quando ele desejasse. A mulher era totalmente excluda da sucesso do marido
(PEREIRA, 2003, p. 60).
41
Na Grcia, a famlia era estreitamente ligada organizao poltica da cidade. Cada um dos grupos de famlias
se subdividia em tribos denominadas fratrias. A chefia da organizao familiar era do marido, que tinha poder
absoluto, sobre a mulher e os filhos (COULANGES, 2002 p. 45). A mulher era privada da capacidade jurdica e
no tinha influncia na famlia. Na ndia havia um regime patriarcal severo onde a organizao familiar se fez
segundo os livros sagrados dos Vedas (1500 a 1000 a.C.). O Cdigo de Manu (600 a 400 a.C.), art. 45
estabelecia: uma mulher est sob a guarda de seu pai durante a juventude, sob a guarda de seus filhos tambm
em sua velhice; ela no deve jamais conduzir-se sua vontade. E, l, a mulher nunca herdava. Em Roma,
igualmente, havia a condio de inferioridade da mulher. O vocbulo famlia, tambm, significava: conjunto de
pessoas colocadas sob o poder de um chefe, o pater famlias. A mulher era considerada propriedade do pai que
conservava seus poderes sobre ela mesmo que fosse casada e estando sob o poder do marido (CRETELLA,
1994, p 65). A mulher, da mesma forma, no herdava.
46
Na sua evoluo ps-romana, a famlia recebeu a contribuio do Direito
Germnico. Recolheu, sobretudo, a espiritualidade crist, reduzindo-se o grupo
familiar aos pais e filhos, e assumiu cunho sacramental. (PEREIRA, 1979, p.62 e
63).
A famlia permaneceu, durante muito tempo, sob o regime patriarcal onde as mulheres
sofriam opresso e discriminao, vivendo somente para os cuidados e atividades do lar.
Partindo da tica da Declarao Universal dos Direitos Humanos (art. XVI.)
42
com relao
famlia: todos os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrio de raa,
nacionalidade ou religio, tm o direito de contrair matrimnio e fundar uma famlia, gozam
de iguais direitos em relao ao casamento, sua durao e sua dissoluo. Ainda, o
casamento no ser vlido seno com o livre e pleno consentimento dos nubentes e que a
famlia o ncleo natural e fundamental da sociedade e tem direito proteo da sociedade e
do Estado.
A famlia considerada ncleo bsico e fundamental da sociedade constituindo o primeiro
espao de socializao das relaes, conforme a definio da Conferncia Internacional do
Mxico (1975)
43
: Deve ser o lugar em que o patrimnio cultural do passado transmitido e
renovado. Da mesma forma, deve garantir proteo integral aos seus membros. Na famlia,
mulher e homem constituem dois aspectos da mesma essncia vital e que unidos devem tornar
a vida humana possvel.
A dignidade da pessoa humana, colocada no pice do prprio ordenamento jurdico,
encontra na famlia o solo apropriado para o seu enraizamento e desenvolvimento;
da a ordem constitucional dirigida ao Estado no sentido de dar especial e afetiva
proteo famlia, independentemente da sua espcie (DIAS & PEREIRA, 2005, p.
87).
O conceito de famlia parece simples e naturalizado, porm, por essa razo que merece a
maior ateno. um conceito que ultrapassa o tempo e o espao e na contemporaneidade traz
nuances e matizes complexos, exigindo olhares interdisciplinares, especialmente neste
trabalho fortalecidos pelas Cincias Sociais e pelo Direito.
A estrutura da famlia antecede o direito e as leis e se redimensiona nos tempos atuais a partir
de uma multireferencialidade e de composies bastante plurais. Portanto, h uma grande
diversidade de conceitos de famlia, dependendo do contexto social, poltico e cultural de
42
Fonte: <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>.
43
Art.l7. The family: The world Conference of the International womens Year: Aware that the family is the
primary and fundamental nucleus of society and fulfils its mission in an organized community.
47
quem a define. Fundamentalmente diz respeito ao grupo familiar bsico, de indivduos ligados
por laos de consanginidade, consentimento ou jurdico.
Na Antropologia predomina a noo de famlia como grupo de pessoas ligadas por
relaes afetivas construdas sobre uma base de consanginidade e aliana, durante
muito tempo o pensamento sociolgico foi dominado por uma representao de
famlia como grupo conjugal coincidente com a unidade residencial. (BRUSCHINI,
1993, p.74).
A partir da concepo acima possvel indicar que, inicialmente, essa assertiva orienta esse
texto. No entanto, pode-se fazer um breve recorte na produo da contemporaneidade para
recuperar o debate de clssicos autores
44
da atualidade no que se refere ao tema famlia.
A compreenso de Singly (2000) sobre a famlia contempornea de que ela , ao mesmo
tempo e paradoxalmente, relacional e individualista onde o indivduo o centro e possui
direitos. Numa outra viso, Donati (2008) para quem tambm a famlia relacional, reporta-
se mesma como sendo aquela relao que nasce, especificamente, na base do casal
homem/mulher para regular suas interaes e trocas de modo no casual. E, posteriormente,
complementa que a famlia uma relao social, no meramente biolgica ou psicolgica.
Dentro da diversidade de conceitos de famlia, independentemente do contexto em que ela
esteja inserida, nos ltimos anos do Sculo XX, ocorreram mudanas em sua essncia, forma
e composio, sendo, a sociedade contempornea, caracterizada por dinmicas familiares
diversas e distintas. No mbito das famlias, as modificaes ocorreram, sobretudo sob os
princpios do patriarcado que, em tese, se constitui no regime da dominao explorao das
mulheres pelos homens (SAFFIOTI, 2004, p. 71). Isto , sob os princpios estruturais da
hierarquia entre homem/mulher e a conseqente diferenciao dos papis sexuais e a diviso
de autoridades.
A privatizao da instituio famlia, aliada passagem das funes socializadoras para o
restrito ambiente do lar, tornaram-se mecanismos fundamentais na formao da pluralidade e
dinmica contempornea da famlia. Nesta, a infncia alcanou a categoria social, os pais
mudaram suas atitudes em relao aos filhos.
44
mile Durkheim (1975, p.39-39) explica que a famlia conjugal relacional porque estamos ligados nossa
famlia atravs do nosso pai, nossa me, nossa mulher e nossos filhos; ela ao mesmo tempo privada e pblica
pelo fato do Estado ter se tornado um elemento da vida domstica e, ao mesmo tempo individualista e so as
relaes entre os indivduos da famlia que constituem o valor maior.
Para Lvi Strauss (1974) a famlia um grupo social que tem origem no casamento, uma unio legal com
direitos e obrigaes econmicas, religiosas, sexuais e de outro tipo. Mas tambm est associada a sentimentos
como o amor, o afeto, o respeito ou o temor.
48
A famlia desenvolve novas funes: absorve o indivduo, recolhendo-o e
defendendo-o. Por outro lado, enquanto grupo, a famlia separa-se mais nitidamente
do que antes do espao pblico. O pai de famlia torna-se figura moral que inspira
respeito de toda a sociedade (BRUSCHINI, 1993, p.52).
Contudo, Cynthia Sarti (2005, p.70) informa que o fundamento no mais somente na
autoridade do homem, mas no seu papel de guardio da respeitabilidade familiar, referindo-
se s famlias mais pobres. A autoridade na famlia fundada na complexidade hierrquica
entre homem e mulher, no obrigatoriamente entre as figuras do pai e da me. Complementa
que, mesmo quando o homem no prov a famlia, sua presena continua necessria por ser, a
prpria, pensada como uma ordem moral.
A famlia no apenas o elo afetivo mais forte dos pobres, o ncleo da sua
sobrevivncia material e espiritual, o instrumento atravs do qual viabilizam seu
modo de vida, mas o prprio substrato de sua identidade social. Sua importncia
no funcional, seu valor no meramente instrumental, mas se refere sua
identidade de ser social e constitui o parmetro simblico que estrutura sua
explicao ao mundo. (SARTI, 2005, p. 52).
Basicamente evidenciam-se trs perodos distintos na transformao da famlia, sendo o
primeiro, constitudo pela famlia tradicional, que partia da escolha dos pais com a finalidade
precpua de transmitir o patrimnio (fundamentada no sistema patriarcal da no diviso de
patrimnio). O segundo, entre o final do Sculo XVIII e meados do Sculo XX, com foco na
famlia moderna, alicerada no amor romntico e, finalmente, a famlia ps-moderna,
contempornea, a partir da dcada de 60, com uma marca de pluralidade dinmica e
complexidade, at ento, no detectados.
A famlia modernamente concebida tem origem plural
45
e se revela como o ncleo
de afeto no qual o cidado se realiza e vive em busca da prpria felicidade.
Abandonou-se o modelo patriarcal e hierarquizado da famlia romana, ao longo dos
anos e firmou-se no direito das sociedades ocidentais um modelo de atuao
participativa, igualitria e solidria dos membros da famlia. (PEREIRA, 2005, p.9).
Diante do grande nmero de formas familiares os papis tradicionais do homem e da mulher
dentro do contexto, como pai e me, em alguns casos, no existem mais ou esto sendo
vivenciados de outras formas. Dessa forma, a famlia tradicional, ou seja, a famlia
extensa, aquela com muitos filhos e avs sob o mesmo teto, com papis definidos e onde
ocorrem os encontros intergeracionais
46
comea a enfrentar outras referncias.
45
Origem plural das famlias significa que no importa o formato de sua constituio.
46
A percepo a respeito dos filhos e das crianas em geral sofreu grande modificao. Com relao ao
fenmeno demogrfico percebe-se a diminuio no nmero de membros das famlias. Antigamente as famlias
eram numerosas, os casais tinham muitos filhos porque era possvel cri-los aliment-los, enfim, uma famlia
conseguia sobreviver por suas prprias foras. Nesses relacionamentos intergeracionais os cuidados eram
recprocos.
49
Face ao carter plural, a famlia deixou de ser matrimonializada e com isso o direito de
famlia passou a regulamentar as suas novas mltiplas relaes, sejam verticais ou
horizontais. A famlia patriarcal, hierarquizada, heteroparental e biolgica se transformou em
democrtica, igualitria e alm de hetero, pode ainda ser homoparental (FARIAS &
ROSENVALD, 2008). De unidade de produo e reproduo passou a unidade scio-afetiva e
de carter institucional a carter instrumental.
No Brasil, a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de famlia ao falar em indivduos e no
em homem e mulher: art. 5, II: comunidade formada por indivduos que so ou se
consideram aparentados, unidos por laos naturais, por afinidade ou por vontade expressa. A
Constituio Brasileira estampa o conceito de famlia no art. 226 4: Entende-se, tambm,
como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
Aqui, encontram-se albergadas alm das famlias formadas por qualquer um dos pais e seus
filhos (monoparentais), as famlias formadas entre irmos (anaparentais), as homoafetivas
47
e
as paralelas (quando o homem mantm duas famlias).
Atualmente, as mulheres esto inseridas em todas as profisses e algumas comeam a contar
com a colaborao de seus parceiros na diviso de tarefas e responsabilidades na famlia
como levar/buscar filhos na escola e, apesar de no ocorrer em todas as famlias, em at certas
tarefas da casa. Muitas so afetadas pela discriminao por parte dos empregadores quando
optam por contratar mulheres solteiras e sem filhos, isto quer dizer sem famlia para se
responsabilizar, confirmando que a discriminao contra a mulher no est simplesmente
impressa nos papis modeladores e nas concepes hegemnicas presentes na sociedade
(CAVALCANTI, 2005, p. 86).
Em alguns casos, devido situao familiar o nvel de qualificao profissional tambm se
torna um obstculo para o acesso ao emprego. Helena Hirata (2002, p. 191), apresentando
resultado de ampla pesquisa de repercusso mundial, sobre a temtica das interfaces e
transversalidades entre trabalho, classe e gnero informa que as desigualdades no desenrolar
das trajetrias masculinas e femininas parecem, assim, ter sua origem na qualificao
profissional, mas tambm na situao familiar e na poltica das empresas.
47
O reconhecimento da unio homoafetiva como famlia expresso, na Lei Maria da Penha e incide
independentemente da orientao sexual (arts. 2 e 5, nico). Assim, lsbicas, travestis, transexuais e
transgneros, que tm identidade feminina esto includas desde que tenham relao afetiva no mbito familiar
ou domstico. (DIAS, 2007, p.44)
50
No histrico contexto do declnio do patriarcado e da promoo da igualdade dos direitos dos
homens e das mulheres, o afeto
48
tornou-se um bem jurdico, transformando-se em Princpio
norteador do Direito de Famlia e das relaes familiares. O direito ao afeto constitui na
liberdade de afeio entre indivduos, , pois, um direito que o Estado deve assegurar, sem
discriminaes, visando sempre o bem comum de todos.
Compreende-se que a famlia tem como funo precpua a proteo da pessoa humana, em
razo de seus componentes e do ser considerado como ncleo fundante para o
desenvolvimento dos indivduos e das relaes sociais. A organizao da famlia est
disciplinada na Constituio Federal do Brasil no captulo VII (Da Famlia, da Criana, do
Adolescente e Do Idoso) que, igualmente, reconhece a pluralidade das entidades familiares
49
.
Toda a discusso anterior tem o intuito de refletir sobre o lugar da mulher na famlia. Dessa
forma, segundo Diniz e Pondaag (2006, p.238), no modelo de funcionamento da famlia
traado para a mulher no contexto do patriarcado (ainda vigente em algumas famlias e
sociedades) as mulheres so educadas, fundamentalmente, para a manuteno da vida da
famlia (embora saibamos que algumas trabalham por necessidade), suas tarefas cotidianas
so invisveis e pouco a pouco sua prpria histria e identidade tornam-se, igualmente,
invisveis e diludas na vida dos demais membros. Isto atribudo construo dos papis de
gnero, como exposto anteriormente.
Por outro lado, segundo pesquisa do Instituto NOOS e Instituto Promundo (2003, p.05) sobre
homens e violncia de gnero
50
, a violncia de homens contra mulheres tambm est
associada ao modo como os prprios homens so socializados.
Uma vez que os meninos so geralmente ensinados a reprimir emoes, a raiva
torna-se um dos poucos sentimentos que os homens podem expressar com
aprovao da sociedade. Alm disso, durante o processo de socializao, muitos
homens no desenvolvem habilidade de comunicao interpessoal adequadas s
relaes pautadas pelo dilogo.
A pesquisa acrescenta o fato que os meninos, com freqncia, so educados de forma a
acreditar que tm o:
48
Ver SIMES, Thiago. A famlia afetiva: o afeto como formador de famlia. Disponvel em
<http://www.ibdfam.org.br>, acessado em 30/09/2010; BORDA, Guillermo A.; BORDA, Guillermo J. Manual
de familia. Buenos Aires: Perrot, 2002; NOGUEIRA, Jacqueline Filgueiras. A filiao que se constri: o
reconhecimento do afeto como valor jurdico. So Paulo: Memria Jurdica, 2001.
49
CF. Art.226, 4- Entende-se, tambm, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e
seus descendentes.
50
Instituto NOOS de Pesquisas Sistmicas e Desenvolvimento de Redes Sociais- e Instituto Promundo, Rio de
Janeiro, 2003. Disponvel em <www.noos.org.br e www.promundo.org>.
51
[...] direito de esperar determinados comportamentos das mulheres, bem como de
poder utilizar abuso fsico, verbal ou qualquer outra forma de violncia, caso elas
no cumpram com suas obrigaes, como cuidar da casa ou prover sexo.
Embora haja um consenso consagrado em documentos internacionais e nacionais como a
nossa Constituio Federal, o Estatuto da Criana e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e a
Lei Maria da Penha que a famlia um local de relaes de afeto, privilegiado para o
desenvolvimento humano adequado, a violncia domstica e familiar contra a mulher tem
ocorrido em todas as camadas sociais e dentro do seio relacional e, isto preocupante porque
demonstra a contnua situao de vulnerabilidade vivenciada pelo sexo feminino.
Para compreenso deste fenmeno complexo sero necessrias investigaes complementares
e especficas sobre o que pode desencadear a violncia no ambiente domstico e/ou familiar.
Porm, entende-se que, isoladamente, no h um fator determinante da violncia domstica,
pode-se dizer que existem fatores que contribuem para estimular o comportamento violento.
Tais fatores podem ser distinguidos entre individuais, familiares e sociais. Dentre os
individuais encontramos o sexo, a idade, o nvel socioeconmico, o nvel de educao e
cultura, o uso de lcool e outras drogas, a vivncia de situao de violncia ou at mesmo
maus tratos.
Acrescentamos o fator relacionado aos transtornos mentais em membro(s) da famlia que
tambm podem constituir causa de violncias. Outros fatores relevantes so: a promiscuidade,
muitas vezes relacionada s prprias condies de moradia da famlia
51
, a renda familiar per
capita, histrico de violncia familiar inclusive (DIAS, 1998).
Homens que testemunharam violncias de homens contra mulheres em suas famlias
de origem, ou foram vtimas de abuso ou violncia em casa, esto mais propensos ao
uso de violncia contra suas parceiras, filhos e filhas, reproduzindo o que alguns
estudiosos denominaram de ciclo transgeracional de violncia. (Pesquisa
NOOS/PROMUNDO, 2003, p.5).
Evidentemente que nem todas as pessoas que testemunharam ou foram vtimas so ou sero
agressores. No que diz respeito s vtimas, Berenice Dias (2007, p.41) salienta:
No s esposas, companheiras ou amantes esto no mbito de abrangncia do delito
de violncia domstica como sujeitos passivos. Tambm as filhas e netas do
agressor como sua me, sogra, av ou qualquer outra parente que mantm vnculo
familiar com ele podem integrar o plo passivo da ao delituosa.
51
Aglomerao de muitas pessoas em espaos reduzidos; mistura de adultos com crianas num s
compartimento; reunio, em uma s casa de gente honesta e desonesta proporciona uma inevitvel
promiscuidade.
52
A autora destaca que o importante, no caso da violncia domstica contra a mulher, o fato
de a vtima ser mulher, nesse conceito encontram-se as lsbicas, os transgneros, as
transexuais e as travestis que tenham identidade com o sexo feminino (DIAS, 2007, p.41).
Por outro lado, o agressor pode ser qualquer pessoa, ou seja, o sujeito ativo, tanto o homem
como outra mulher, pois o legislador deu prioridade criao de mecanismos para coibir e
prevenir a violncia domstica contra a mulher, sem se importar com o gnero do agressor
(SOUZA, 2007, p. 47). Por isso, at mesmo os conflitos entre mes e filhas, assim como os
desentendimentos entre irms esto ao abrigo da Lei Maria da Penha quando flagrado que a
agresso tem motivao de ordem familiar (DIAS, 2007, p. 41).
Pode haver uma relao causal entre a pobreza e a violncia domstica contra a mulher
provavelmente associada ao estresse provocado pelas condies precrias de vida, sade e
econmica, mas no causa determinante. Nesse sentido, ao se depararem com a
impossibilidade de cumprir com o tradicional papel de provedor, alguns homens recorrem
violncia na tentativa de reafirmarem o poder masculino (NOOS & PROMUNDO, 2003).
Entende-se que frustrao e estresse, em outras palavras, so gatilhos situacionais para a
violncia (BERKOWITZ, 1993, p. 28).
Fatores sociais influenciam na medida em que interagem com o indivduo e com a famlia.
Nesse contexto, a mdia pode influenciar negativamente a famlia e o indivduo ao expor
determinados tipos de comportamentos violentos que muitas vezes so imitados; a facilidade
do acesso a armas de fogo fator determinante e, ainda, como apontamos anteriormente, nos
lares onde no h privacidade.
Lembramos que a cultura pode determinar o comportamento violento, por exemplo, quando
se tem o hbito de bater em crianas, isto pode ser absorvido como um comportamento
natural de educao e de soluo de conflitos. Essas crianas correm o risco se tornarem
multiplicadores da violncia. Desde que existe a tradio de se ensinar atravs do castigo e
punio, legitimada pela obrigao da famlia em corrigir a criana, possvel que algum
membro recorra sua memria pessoal de procedimentos, adquiridos no processo de
aprendizagem (VICENTE, 2008, p.58). A essa memria que se encontra presente na histria
da vida de cada membro ou nos costumes, h uma intensificao da conduta violenta ao
predominar o ressentimento, o dio, o abuso ou a transgresso. Verifica-se, nesses casos, a
predominncia da tragdia relacional.
53
Gey Espinheira, pesquisador do tema violncia, na obra Sociabilidade e violncia (2004),
toma como base a noo aristotlica de drama e ensina que a tragdia a imitao de uma
ao e no de pessoas. Isso explica a multiplicao dos comportamentos violentos descritos
anteriormente. Alm da violncia domstica, nas relaes ntimas de afeto, a violncia contra
a mulher abala profundamente a crena de que a casa um lugar seguro e que a famlia um
ncleo de proteo. Conta-se com a cumplicidade e a indiferena da sociedade para com
aquilo que acontece no interior da famlia.
Chama a ateno o silncio imposto s mulheres. um silencio que possui diversas formas,
podendo ser traduzidas em silncios e segredos sobre abuso sexual e fsico, chantagens, medo,
proteo prole e at para a proteo da famlia e da sociedade.
[...] dentro da vida familiar que a violncia toma maior configurao e acontece.
Tal fato impe silncios difceis de serem ultrapassados, afinal, as representaes
sociais sobre a famlia sempre a associam com um conjunto de redes de
pertencimento que matizam em lugar privilegiado e protegido, caracterizando-se
pelo afeto positivo e pelo apoio e vnculos entre seus membros. (CAVALCANTI,
2008, p. 101).
Outro dado importante da pesquisa sobre homens e violncia de gnero que, igualmente, diz
respeito ao silncio, o silncio dos homens sobre violncias cometidas por outros homens
contribui para a manuteno da violncia domstica (NOOS & PROMUNDO, 2003, p.05).
Verifica-se que mesmo quando os homens no praticam violncia contra suas parceiras, se
calam diante da violncia cometida contra mulheres por outros homens.
O fenmeno da violncia contra a mulher ganhou maior visibilidade na dcada de 1980
quando despontou a questo da violncia domstica/intrafamiliar de gnero e da violncia
contra a mulher propriamente dita.
A violncia domstica apresenta pontos conexos com a violncia familiar, tambm
chamada intrafamiliar, contudo, desta se destaca na medida em que tambm atinge
pessoas que embora no pertenam famlia, seja consangnea ou afetiva,
convivem integral ou parcialmente no domiclio do agressor (SAFFIOTI, 2004,
p.71).
A violncia domstica atinge as empregadas domsticas e as pessoas agregadas s famlias.
Para essa abordagem, necessrio se faz relembrar o conceito legal de empregado domstico
como nos esclarece Cunha & Pinto (2008, p. 49): aquele que presta servios de natureza
contnua e de finalidade no lucrativa pessoa ou famlia no mbito residencial destas e
ainda acrescentam que a agresso no mbito da unidade domstica compreende aquela
54
praticada no espao caseiro, envolvendo pessoas com ou sem vnculo familiar, inclusive as
esporadicamente agregadas, integrantes dessa aliana. Dentre as agresses domsticas
encontramos: a negligncia, o abandono, a agresso fsica, a sexual, a psicolgica e at a
moral.
O termo violncia de gnero entendido de uma forma mais ampla. A violncia familiar
ocorre naquelas situaes onde h o envolvimento de pessoas de uma mesma famlia, seja
nuclear (formada por pai, me e filho) ou extensiva (familiares que moram juntos, ligados por
laos de sangue ou afinidade) ou de novos modelos familiares. Tambm no namoro
evidencia-se uma relao ntima de afeto e que independe de coabitao. Portanto, agresses e
ameaas de namorado contra a namorada mesmo que o relacionamento tenha terminado e que
ocorram em decorrncia dele caracterizam violncia domstica (STJ, 2009)
52
.
Enfatiza-se a questo da violncia contra a mulher porque, segundo Diniz e Pondaag (2006, p.
235), significa que 2/3 das vtimas de violncia domstica ou familiar do sexo feminino. Isto
gera conseqncias profundas, prejudiciais sobre a sade fsica, mental e emocional e
relacional da mulher, traduzida em medo; ansiedade; insnia; transtornos alimentares;
depresso; psicoses; dificuldade de contato social entre outros males.
essencial que as mulheres, ao procurarem os servios de sade, falem e possam ser ouvidas
sobre a situao que as levaram a esse atendimento e mais importante, ainda, deve ser o
atendimento prestado pelos profissionais envolvidos. Muitos deles, apesar de preparados para
atendimentos mdicos, no esto habituados ou capacitados para interpretar sofrimentos e
52
Entendimento do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justia (STJ) em 05/08/2009.
Ainda sobre o assunto namoro, noivado, casamento. No importa o nvel de relacionamento. O STJ vem
entendendo que qualquer relacionamento amoroso pode terminar em processo judicial com aplicao da Lei
Maria da Penha, se envolver violncia domstica e familiar contra a mulher. preciso existir nexo causal entre
a conduta criminosa e a relao de intimidade existente entre autor e vtima, ou seja, a prtica violenta deve estar
relacionada ao vnculo afetivo existente entre vtima e agressor, salientou a ministra Laurita Vaz. Em outra
questo sobre a Lei Maria da Penha e namoro, a Sexta Turma concluiu ser possvel o Ministrio Pblico (MP)
requerer medidas de proteo vtima e seus familiares, quando a agresso praticada em decorrncia da
relao. Para a desembargadora Jane Silva, poca convocada para o STJ, quando h comprovao de que a
violncia praticada contra a mulher, vtima de violncia domstica por sua vulnerabilidade e hipossuficincia,
decorre do namoro e de que essa relao, independentemente de coabitao, pode ser considerada ntima, aplica-
se a Lei Maria da Penha. Mesmo se a relao j tenha se extinguido, a Terceira Seo reconheceu a
aplicabilidade da norma. Configura violncia contra a mulher, ensejando a aplicao da Lei n. 11.340/2006, a
agresso cometida por ex-namorado que no se conformou com o fim de relao de namoro, restando
demonstrado nos autos o nexo causal entre a conduta agressiva do agente e a relao de intimidade que existia
com a vtima, resumiu o ministro Jorge Mussi, ao determinar que o caso fosse julgado em uma vara criminal e
no em juizado especial criminal. Para o magistrado, o caso do ex-casal se amolda perfeitamente ao previsto no
artigo 5, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, j que caracterizada a relao ntima de afeto, em que o agressor
conviveu com a ofendida por 24 anos, ainda que apenas como namorados, pois aludido dispositivo legal no
exige a coabitao para a configurao da violncia domstica contra a mulher.
Processos: HC 96992; Resp 1097042. Fonte STJ: <http://www.stj.gov.br/portal_stj5>, acessado em 12/08/2010.
55
intervir em carter preventivo na promoo da sade da mulher vtima da violncia domstica
e familiar. Este tipo de violncia pode estar invisibilizada para eles.
As repercusses na sade das mulheres apresentam-se sob a forma de mltiplas
queixas, dores de imprecisa localizao no corpo ou que no possuem
correspondncia com patologias conhecidas, portanto, dores sem nome
(SCHRAIBER et al, 2005, p. 94).
Devem estar atentos para perceberem as violncias simblicas (BOURDIEU, 2009). Ademais,
a Lei Federal 10.778/2003, estabelece a notificao compulsria, no territrio nacional, dos
casos de violncia contra a mulher atendida em servios de sade pblicos ou privados,
constituindo instrumento para o planejamento de polticas pblicas para eliminar a violncia
contra a mulher, tendo como base essas informaes coletadas pelos servios de sade, tais
como: onde acontece que tipo de violncia ocorre com mais freqncia, quem a cometeu e
qual o perfil da mulher que a sofre.
A violncia tambm se encontra associada ao suicdio (relacionado com a sade mental,
decorrente de depresso e outras manifestaes (SANTOS, 2010) como ansiedades, insnias,
medos e pnicos), sade reprodutiva e graves problemas ginecolgicos (gravidez indesejada,
AIDS e outras doenas sexualmente transmitidas alm de problemas decorrentes da prpria
gravidez como abortos, partos prematuros etc.), ainda, leses traumticas (hematomas, leses
musculares, ossos quebrados etc.), invalidez e at a morte.
Contudo constata-se que pode ser muito comum que dores passem despercebidas pela
prpria mulher de sua conexo com a violncia. A justificativa intrnseca que ela:
No entende o que vive como violncia, mas, muitas vezes, como algo justificvel
pelo seu prprio comportamento, culpando-se, assim, pela violncia [...] ou ainda
uma espcie de doena do agressor, algo sem controle que precisa ser tolerado, e
no remediado ou medicado. (SCHRAIBER et al., 2005, p.101)
Muitas vezes, a busca por ajuda quase tardia, quando j no agentam mais tanto
sofrimento. Por isso, nos dados do CRLV, as agresses fsicas e psicolgicas so mais
freqentes que as demais.
A Organizao Mundial de Sade reconhece, desde os anos 1990, a violncia contra a mulher
como um problema de sade pblica, pois as mulheres constituem uma clientela expressiva
nos servios ambulatoriais e hospitalares. Segundo o Relatrio Mundial Sobre Violncia e
Sade (OMS, 2002), tem um alto custo, pois confere nus humanos e econmicos aos pases
difceis de serem calculados.
56
Para a compreenso das razes da violncia praticada por parceiros ntimos e tambm da
violncia contra idosos, crianas e adolescentes, a OMS utiliza o chamado modelo ecolgico
Acredita-se que a interao entre eles pode contribuir para o comportamento violento de
algumas pessoas em relao s outras.
A estrutura ecolgica aponta diferentes causas ou fatores que podem induzir violncia: a
individual que se destaca pela histria pessoal e pelos fatores biolgicos; a das relaes que se
referem famlia, casais, amigos e companheiros; a da comunidade que abarca os contextos
onde so desenvolvidas as relaes sociais como a vizinhana, as escolas e os locais de
trabalho e o fator relativo estrutura da sociedade como as normas culturais e sociais.
Percebe-se na sobreposio dos fatores, na figura, que um pode reforar ou modificar o outro,
ou seja, violncia estrutural e de gnero observadas dentro e a partir do mesmo fenmeno.
Analisar fatores que possam influir no comportamento violento das pessoas fundamental
para se pensar as polticas pblicas e sociais que tratem da violncia contra a mulher.
Sociedade Comunidade Relaes Individuo
Figura 1- Modelo ecolgico para compreender a violncia
Fonte: Organizao Panamericana de Sade (OPS) e Organizao Mundial de Sade (OMS), 2002.
57
CAPTULO II
MOVIMENTOS FEMINISTAS E POLTICAS PBLICAS: O CONTEXTO
BRASILEIRO
Pode-se dizer que as polticas pblicas representam os instrumentos de ao dos
governos, numa clara substituio dos "governos por leis" (government by law)
pelos "governos por polticas" (government by policies). O fundamento mediato e
fonte de justificao das polticas pblicas o Estado social, marcado pela obrigao
de implemento dos direitos fundamentais positivos, aqueles que exigem uma
prestao positiva do Poder Pblico (BUCCI, 1996, p. 231)
Este captulo trata dos movimentos feministas que, no contexto brasileiro, tiveram grande
importncia ao tornar visvel a questo das violncias contra as mulheres, suas implicaes e
das polticas pblicas aplicadas na preveno e ateno violncia domstica e familiar
contra as mulheres.
De acordo com o Relatrio do Banco Interamericano de Desenvolvimento em parceria com o
David Rockefeller Center for Latin America Studies, da Universidade de Harvard (2006, p.
24), o processo de formulao de polticas pblicas envolve atores formais (partidos polticos,
equipes de governo, tribunais etc.) cujas funes na elaborao de polticas encontram-se
estabelecidas na Constituio ou na legislao, e atores informais (movimentos sociais, meios
de comunicao etc.) que embora no possuam um papel formal em diversas ocasies surgem
como atores poderosos.
Contudo, esses atores formais nem sempre se comportam de acordo com seus
papis e funes formais. Eles podem no cumprir os papis que se espera deles ou
desempenhar outros papis (informais) no especificados na Constituio, ou leis ou
podem, ainda, assumir papis na formulao de polticas por meio de mecanismos
no especificados em regras. Ademais existem outros atores (e arenas) informais que
podem exercer papis significativos na elaborao de polticas nacionais em alguns
pases, apesar de a Constituio no lhes atribuir tais papis em termos formais nem
esses atores estarem associados ao sistema formal de polticos (2006, p.91).
Temos assistido um acentuado aumento do poder dos movimentos sociais durante o processo
de contemporaneidade, resultando em significativo impacto poltico e formao de agendas e
planos de aes bastante pontuais e ratificadores dos Direitos Humanos. O protesto social
transformou-se em poderoso instrumento poltico. Tradicionalmente, os movimentos sociais
eram considerados como comportamentos que desviavam da norma, assim, inicialmente foi
entendido com relao ao movimento de mulheres, resultante de frustraes humanas pessoais
e sociais (2006, p. 113).
58
No entanto, o fortalecimento e as interconexes entre movimentos sociais e polticas pblicas,
pelo menos nos ltimos quarenta anos, tem ganhado maior espao e destaque, alm de
avanos na construo de instrumentos e aes regulatrias e preventivas. Ao elencar, neste
captulo, as interfaces entre essas duas esferas de atuao poltica, vale ressaltar que o
objetivo contextualizar a aplicao das polticas pblicas relacionadas ao enfrentamento da
violncia contra a mulher a partir de documentos internacionais e produo historiogrfica.
Tomando como base um percurso histrico-poltico pode-se mencionar que, genericamente,
polticas pblicas so as decises e aes de governo e de outros atores sociais.
Inicialmente, estudiosos como Aristteles, Maquiavel, Bobbio e Thomas Dye, por exemplo,
entendem que o termo poltica encerra vrias acepes. Em sendo tambm, a poltica, a arte
de governar e realizar o bem pblico trata do organismo social como uma totalidade e no
apenas das pessoas como entidades individuais. A poltica deve ser entendida como aes,
diretrizes, fundadas em leis e acima de tudo, compreendidas como funes de Estado por um
governo, para que se possa resolver as questes e anseios sociais envolvidos. Posteriormente,
vrias definies para polticas pblicas foram propostas.
No entendimento de Thomas Dye (2005), poltica pblica tudo aquilo que os governos
decidem fazer ou deixar de fazer e isto tem tudo a ver com o que se observa na prtica, pois
at a inao
53
pode ser considerada uma poltica pblica. Traduz uma deciso de nada fazer a
respeito da prpria poltica ou em relao a determinado fato.
Cabe mencionar, entretanto, que quando se referem a polticas de Estado trata-se daquelas
polticas de carter estvel, portanto, que obrigam a todos os governos de um Estado a
implement-las, diferentemente das polticas pblicas de governo que podem ser flexveis.
2.1 Polticas pblicas para as mulheres e marco legal
As polticas pblicas para as mulheres devem ser entendidas e tratadas como polticas de
Estado isto : de carter perene e transversal a todos os governos.
O ciclo conceitual das polticas pblicas compreende pelo menos quatro etapas: a
primeira refere-se s decises polticas tomadas para resolver problemas sociais
previamente estudados. Depois de formuladas, as polticas decididas precisam ser
implementadas, pois sem aes elas no passam de boas intenes. Numa terceira
etapa, procura-se verificar se as partes interessadas numa poltica foram satisfeitas
53
Dye inclui a inao como uma poltica pblica no sentido de que a ausncia de aes em relao a uma
questo traduz a deciso de nada se fazer em relao a ela ou a prpria inao como fato objetivo
(HEIDEMANN & SALM, 2009, p. 30)
59
em suas demandas. E, enfim, as polticas devem ser avaliadas, com vistas a sua
continuidade, aperfeioamento, reformulao ou, simplesmente, descontinuidade
(HEIDMANN & SALM, 2009, p. 34).
Dessa forma, em ateno s mulheres, devido acentuao dos casos de violncia contra a
mulher, o Estado brasileiro passou a incorporar as questes de gnero nas polticas pblicas,
em especial, no tocante ao combate violncia no mbito domstico e familiar, a partir da
dcada de 70 por presso dos movimentos feministas e dos movimentos sociais de mulheres.
Para Maria Amlia Teles (1993, p.12), a expresso movimento de mulheres significa aes
organizadas de grupos que reivindicam direitos ou melhores condies de vida e trabalho.
Acrescenta que quanto ao movimento feminista refere-se s aes de mulheres dispostas a
combater a discriminao e a subalternidade das mulheres e que buscam criar meios para que
as prprias mulheres sejam protagonistas de suas vidas e histria. justamente a fuso de
esferas privadas, no governamentais e pblicas que fomenta no somente o debate para uma
agenda, mas, sobretudo os efeitos e as efetivaes das mesmas.
No desenrolar de sua trajetria desde os tempos de Beauvoir, o feminismo avanou:
elaborou conceitos, diversificou prticas, rompeu preconceitos, chegando a
conquistar espao como interlocutor da sociedade civil, em todos os seus terrenos:
cultural, social, sindical, estudantil, acadmico, alm de estabelecer relaes
dilogo/luta com os governos (VALADARES, 2007, p.57).
Em 1975, Ano Internacional da Mulher (ONU), o movimento feminista ganhou fora atravs
de estudos, programao de jornadas e campanhas de mobilizao. Tais estudos j abordavam
temas relativos sexualidade, aborto, violncia domstica e sexual bem como os direitos
reprodutivos e a sade da mulher, assim como as relaes trabalhistas e o trabalho domstico.
Foram estruturados servios de atendimentos nas reas de sade, social e jurdica. Naquele
ano, foi redigida em So Paulo a primeira Carta das Mes s autoridades do pas onde
relatavam suas dificuldades de sobrevivncia, reivindicando o controle do custo de vida,
melhores salrios, creches e escolas para seus filhos e foi criado o Movimento Feminino pela
Anistia
54
provocando grande repercusso na Conferncia Internacional da Mulher no Mxico
(ONU, 1975).
A questo da violncia contra a mulher ganhou destaque aps as eleies de 1982, quando em
So Paulo, algumas feministas reivindicaram a formao do Conselho Estadual da Condio
Feminina, que era um rgo voltado para a questo da mulher. Em seguida foi criado,
54
Havia no Brasil a violncia atribuda ao desaparecimento de familiares na ditadura. A luta pela anistia ganhou
tons feministas e femininos (casos de proteo da famlia). Verificou-se que a esfera privada foi alvo de atuao
poltica e pblica. Ver Terezinha Zerbini e o Movimento Feminino pela Anistia (1975).
60
tambm em So Paulo, o Centro de Orientao Jurdica e Encaminhamento Psicolgico
(COJE) que continua atendendo mulheres vtimas de violncia. Depois veio o SOS Mulher
55
,
um servio de denncias.
Em 1985, So Paulo inaugurou a primeira Delegacia Policial de Defesa da Mulher (DPDM)
fruto das reivindicaes dos movimentos de mulheres e das feministas por conta da violenta
realidade em que se encontravam. As demais delegacias, posteriormente inauguradas em todo
o pas passaram a ser denominadas Delegacia Especial de Atendimento Mulher (DEAM).
Mas, segundo Telles (1993, p.136), no foi s a violncia domstica que a Delegacia de
Defesa da Mulher mostrou. Apareceram casos em que as trabalhadoras eram vtimas de
violncia sexual em seu local de trabalho, pelo abuso de autoridade exercido pelos chefes.
Nesses casos, a atuao da DPDM s surtia efeito quando a vtima estivesse acompanhada do
representante do sindicato.
A Constituio Federal Brasileira de 1988
56
determina que sejam criados mecanismos para
prevenir e erradicar a violncia na famlia e no mbito de suas relaes e por essa conquista
comearam a serem implantados, no pas, os servios de assistncia social e atendimento
psicolgico, alm das casas abrigo para o acolhimento das mulheres em situao de violncia
juntamente com seus filhos diante de tamanha gravidade da situao. Estas, entre outras,
constituem aes afirmativas voltadas amenizao ou superao das desigualdades ou
violncias
Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres (SPM-PR), rgo do
Governo Federal, responsvel pela formulao e implementao de polticas para mulheres.
Foram inaugurados centros de referncia, defensorias pblicas e outros rgos que compe a
rede de servios de assistncia necessrios.
Finalmente, em 2006 ocorreu a promulgao Lei Maria da Penha fruto, no s as
reivindicaes dos movimentos de mulheres e feministas como tambm, do Brasil ter sido
responsabilizado por omisso e negligncia pelo no cumprimento de Tratado Internacional
assinado anteriormente.
55
Ver GREGORI, Maria Filomena. Cenas e queixas- um estudo sobre mulheres, relaes violentas e a prtica
feminista. So Paulo: Paz e Terra/ANPOCS, 1993.
56
CF. art. 226. 8: A famlia, base da sociedade, tem especial proteo do Estado- O Estado assegurar a
assistncia famlia na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violncia no
mbito de suas relaes
61
Os tratados, convenes e acordos recepcionados pela legislao brasileira alm da
Constituio Federal de 1988 e da legislao ptria constituem a base jurdica dos
instrumentos e mecanismos de proteo e verificao do cumprimento dos direitos
reconhecidos e estampados. O entendimento de um marco legal propiciado pela
compreenso de seus antecedentes.
Assim, as polticas pblicas para as mulheres emanam das reivindicaes dos movimentos
sociais, dos movimentos feministas, das legislaes nacionais e internacionais que
proporcionaram as bases para as legislaes de combate violncia.
Para que o Brasil aprovasse uma lei especfica que coibisse a violncia domstica e familiar
contra a mulher, a tragdia pessoal da brasileira Maria da Penha Fernandes, produziu na
sociedade e no ordenamento jurdico, um marco que se constitui num verdadeiro estatuto no
combate a esse tipo de violncia.
A promulgao da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, foi a resposta internacional aos
compromissos firmados atravs de tratados, convenes e inclusive em cumprimento ao
prprio preceito constitucional brasileiro (regulamentao do 8 do art.226), conforme visto
anteriormente.
Com sua aprovao o Brasil passou a ser o 18 pas da Amrica Latina e caribe a ter
uma legislao especfica para o enfrentamento da violncia domstica e familiar.
Diferente do que ocorre em outros pases da Amrica do Sul e do Caribe, a legislao
brasileira volta-se para a proteo dos direitos das mulheres, em especial seu direito
por uma vida sem violncia (PASINATO, 2010, p.13).
2.2-Antecedentes legislativos: mbito internacional e nacional
Documentos oficiais internacionais que externaram a ateno situao da mulher, segundo
Campos e Corra (2008, p.41 e 42):
Quadro 4- Documentos Internacionais
1945 I Assemblia Geral da
ONU
Em So Francisco (EUA), o Conselho Econmico e Social estabeleceu uma
subcomisso para tratar da Condio da Mulher no Mundo
1946 A subcomisso Votou a viabilidade da criao de uma Comisso Exclusiva sobre a
Condio da Mulher
1948 Declarao Universal
dos Direitos Humanos
(art.2)
Proclamou que todos os seres humanos tm direitos e liberdades iguais
perante a lei, sem distino de nenhum tipo, seja raa, cor ou sexo
1954 Assemblia-Geral da
ONU
Reconheceu que as mulheres so sujeitos de antigas leis, costumes e
prticas que esto em contradio com a Declarao, convocou os
governos a abol-las
62
Continuao do Quadro 4 Documentos Internacionais
1963 Assemblia-Geral da
ONU
Assinalou a contnua discriminao contra a mulher, convocando os pases-
membros a elaborarem um documento inicial para uma Declarao sobre a
Eliminao de Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher
1963-
1967
Inicio do perodo do
processo de organizao
para a
Preparao para a realizao da Conferncia Mundial do Ano Internacional
da Mulher
1973 Roma Conferncia das Naes Unidas do Ano Internacional da Mulher
1974 Bucareste Conferncia das Naes Unidas sobre a Populao Mundial onde foi
destacada a importncia da mulher para determinar as tendncias
demogrficas
1975 Cidade do Mxico Conferncia Mundial do Ano Internacional da Mulher, patrocinada pela
ONU, assistida por 8 mil mulheres representantes de 113 pases e de
organizaes no-governamentais.
Fonte: Elaborado pela autora, 2010.
Na Conferncia do Mxico foram debatidos trs temas centrais: igualdade entre os sexos,
integrao da mulher no desenvolvimento e promoo da paz. Um acontecimento indito na
luta pelos direitos da mulher. Consolidou novas organizaes como o Centro da Tribuna
Internacional da Mulher, bem como o Instituto Internacional de Fundo Voluntrio para a
Mulher das Naes Unidas.
Essa Conferncia Mundial sobre a Mulher do Mxico em 1975, ano Internacional da Mulher,
foi um marco. Nela, foi elaborado documento para a Conveno Internacional de 1979. Em 18
de dezembro de 1979, a Assemblia Geral das Naes Unidas promoveu a Conveno sobre a
Eliminao de Todas as Formas de Discriminao Contra as Mulheres, denominada
Conveno CEDAW, constituindo numa Declarao Internacional de Direitos para as
Mulheres, onde:
Artigo 1 - Para fins da presente Conveno, a expresso "discriminao contra a
mulher" significar toda distino, excluso ou restrio baseada no sexo e que
tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou
exerccio pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais
nos campos poltico, econmico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.
Entrou em vigor no plano internacional em 1981, sendo ratificada, pelo Brasil, em 1984, com
reservas aos artigos
57
que tratavam da igualdade entre homens e mulheres no mbito da
57
Artigo 15 - 1. Os Estados-partes reconhecero mulher a igualdade com o homem
4. Os Estados-partes concedero ao homem e mulher os mesmos direitos no que respeita legislao relativa
ao direito das pessoas, liberdade de movimento e liberdade de escolha de residncia e domiclio.
Artigo 16 - 1. Os Estados-partes adotaro todas as medidas adequadas para eliminar a discriminao contra a
mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e s relaes familiares e, em particular, com base na
igualdade entre homens e mulheres, asseguraro:
a) o mesmo direito de contrair matrimnio;
c) os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasio de sua dissoluo;
g) os mesmos direitos pessoais como marido e mulher, inclusive o direito de escolher sobrenome, profisso e
ocupao.
63
famlia. Essas reservas decorriam da antiga legislao brasileira: Constituio Federal de
1967
58
e Cdigo Civil
59
que estampavam, entre outras desigualdades, que a chefia da famlia
cabia ao homem. Para aquela Constituio a nica forma de se constituir famlia era atravs
do casamento, que era indissolvel.
Tanto na Constituio quanto no Cdigo Civil de 1916
60
, que vigorou at 2002, no
encontramos definio para o conceito de famlia ou para o casamento. Verifica-se,
entretanto, que o Cdigo Civil reconhecia uma nica forma de constituio da famlia e
protegia juridicamente somente os relacionamentos decorrentes do casamento. Aps a
Constituio de 1988 as reservas foram retiradas. O Estado Brasileiro ratificou plenamente a
Conveno em 1994, dez anos aps a ratificao e treze anos aps a entrada em vigor no
mbito internacional.
Quando o Brasil ratificou a Conveno CEDAW, conseqentemente, incorporou ao
ordenamento jurdico ptrio o significado e definio legal de discriminao contra a mulher,
e em funo disso, se comprometeu a adotar as medidas necessrias para elimin-la, inclusive
de carter legislativo. Ainda, se comprometeu a enviar relatrios com periodicidade
informando sobre as medidas adotadas para a implementao da Conveno no pas.
Em 1989, atravs de recomendao do Comit que monitora a Conveno foi determinado
aos Estados-membros a incluso, em seus relatrios de informao sobre violncia contra a
mulher e sobre quais medidas estavam sendo tomadas porque consideravam tal fato, uma
forma de discriminao. Contudo, porque os relatrios no refletiam a situao de violncia
de maneira apropriada, necessrio se fez a Recomendao Geral n19 (1992) - Violncia
Contra a Mulher, para dispor, expressamente, a definio de violncia contra a mulher (art.1
da CEDAW), acrescentando a violncia baseada no sexo e, ainda, estabelecendo que
autoridades pblicas ou quaisquer pessoas, organizaes e empresas tambm podem praticar
violncia contra a mulher. Assim, os Estados podem ser responsveis por atos privados, se
h) os mesmos direitos a ambos os cnjuges em matria de propriedade, aquisio, gesto, administrao, gozo e
disposio dos bens, tanto a ttulo gratuito quanto a ttulo oneroso.
58
Da Famlia, da Educao e da Cultura
Art. 167 - A famlia constituda pelo casamento e ter direito proteo dos Poderes Pblicos.
1 - O casamento indissolvel.
59
Art. 1 Este Cdigo regula os direitos e obrigaes de ordem privada concernentes s pessoas, aos bens e s
suas relaes.
Art. 233. O marido o chefe da sociedade conjugal, funo que exerce com a colaborao da mulher, no
interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240 247 e 251). (Redao dada pela Lei n 4.121, de 27.8.1962).
60
O Brasil possui novo Cdigo Civil: LEI N 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, de acordo com a
Constituio Federal de 1988.
64
no adotam medidas com a devida diligncia para impedir a violao dos direitos ou para
investigar e castigar os atos de violncia e indenizar as vtimas (PANDJIARJIAN, 2006,
p.88).
Antes da Recomendao acima, importante mencionar a Conferncia Mundial de Nairbi,
no Qunia, ocorrida no final da Dcada da Mulher, em 1985, onde foi adotado por
unanimidade, um documento intitulado: Estratgias Encaminhadas para o Futuro do Avano
da Mulher. Em 1993, na Conferncia das Naes Unidas Sobre Direitos Humanos em Viena,
na ustria, ficou formalmente definido que a violncia contra a mulher constitui uma violao
aos Direitos Humanos. Em 09 de junho de 1994 o Brasil sediou a Conveno Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia Contra a Mulher, popularmente conhecida como
Conveno de Belm do Par, adotada pela OEA.
Hermann (2008, p.86) ressalta que do texto da referida Conveno o artigo 7 merece
destaque por estabelecer como dever dos Estados que a assinarem, a adoo, por todos os
meios apropriados, imediata, de polticas de preveno, represso e erradicao da violncia
contra a mulher, tanto na esfera jurdica quanto administrativa, de forma a oportunizar, de
maneira eficaz e justa o acesso da vtima justia e mecanismos de proteo e assistncia.
Alm do artigo 1 que incorporou nossa legislao o conceito de violncia contra a mulher:
Conveno de Belm do Par:
Art.1: Para os efeitos desta Conveno deve-se entender por violncia contra a
mulher qualquer ao ou conduta, baseada no gnero, que cause morte, dano ou
sofrimento fsico, sexual ou psicolgico mulher, tanto no mbito pblico como no
privado.
O Brasil, por submeter-se aos mecanismos internacionais tanto da CEDAW (ONU) quanto da
Conveno de Belm do Par (OEA), ao ratific-las, passou a ser monitorado pelos
respectivos rgos. Na Quarta Conferncia Mundial sobre as Mulheres (ONU, 1995), em
Pequim, foram estabelecidas metas para serem atingidas em favor das mulheres no milnio,
denominadas Gols do Milnio
61
.
Os Gols do Milnio consistem em oito metas a serem atingidas neste milnio, com
a finalidade de dirimir iniqidades sociais e acabar com a pobreza e fome extremas.
Todos esses objetivos dependem de um sistema legal e uma estrutura jurdica s
61
Em maro de 2010, a comisso sobre a condio da mulher (ONU/UNIFEM) se reuniu para proceder a uma
reviso dos quinze anos da aplicao da Declarao de Pequim e da Plataforma de Ao, enfatizando a partilha
de experincias e boas prticas, a fim de superar os obstculos restantes e novos desafios, principalmente os
relacionados com os gols do milnio e anlise de sua contribuio para a modelagem de uma perspectiva de
gnero visando plena realizao dos objetivos dos mesmos.
Fonte: <www.un.org/womenwatch/beijing15/index.html>. Acessado em 08/05/2010.
65
possvel em uma democracia real e plena, condio fundamental para equidade de
gnero. (GOMES & WEBER, 2009, p. 4).
Essas metas esto inseridas no contexto educacional que, segundo Gomes & Weber, no
tocante educao, o analfabetismo deve ser enfrentado com mensagens que reforcem a
cultura local, criando um currculo sensvel s questes de gnero, e que reconhea o papel e
respeite as diferenas entre gneros; no tocante economia, a contribuio das mulheres no
desenvolvimento muito pouco estimada, tornando seu reconhecimento social muito
limitado. Sobre a questo do empoderamento das mulheres na poltica relatam que o uso
indevido do poder causa de pobreza, violncia, injustia social, econmica e jurdica.
A plataforma de Pequim e os Gols do Milnio propem um poder que entre as
mulheres chamado de poder partilhado, um poder que busca estratgias para
igualar o poder entre homens e mulheres, trazendo a perspectiva feminina e as
questes de gnero, valores e experincias para o contexto de decises. (GOMES &
WEBER, 2009, p.06)
Com referncia sade, entende-se que a fome, a pobreza, a violncia psicolgica tm
conseqncias na sade fsica e mental. Mulheres vtimas de violncia em todos os nveis
constituem grande parte da populao afetada quando se trata da sade pblica. J em relao
ao meio ambiente pode-se afirmar que a sustentabilidade est diretamente relacionada aos
princpios ticos de solidariedade e de Direitos Humanos.
Quanto ao aspecto jurdico entende-se que sua estrutura tem privilegiado os anseios de uma
sociedade voltada para o imediatismo e consumismo, responsvel pela manuteno de uma
parcela nfima da populao mundial na esfera de poder e que por essa razo deve ser
repudiada.
No mbito nacional, de grande significado no plano jurdico e anterior Constituio Federal
Brasileira de 1988, destacamos a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes, documento
redigido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com a as reivindicaes de garantia
constitucional aos tratados e convenes internacionais subscritos pelo Brasil, cujo lema foi
Constituinte pr valer tem que ter palavra de mulher e apresentou propostas para que se
inserissem no texto constitucional a inspirao para a complementao por lei complementar
e ordinria. Entregue ao Congresso Nacional em 26 de agosto de 1986 (PANDJIARJIAN,
2006, p. 90).
Vale lembrar que o momento teve forte influncia do movimento feminista e de mulheres. Foi
muito importante essa movimentao, inclusive, tendo influenciado a prpria Constituio
66
Federal de 1988 no sentido de estabelecer a igualdade entre homem e mulher, art. 5, I
homens e mulheres so iguais em direitos e obrigaes, nos termos desta Constituio,
ainda o inciso XLI, a lei punir qualquer discriminao atentatria dos direitos e liberdades
fundamentais.
No mbito das relaes domsticas e familiares e com conseqncias no campo do direito de
famlia e do direito penal, o artigo 226 da CF
62
reafirma o Princpio da Igualdade e coloca o
tema da violncia domstica e familiar.
Embora sendo um grande avano na legislao h de se admitir que a proteo mulher,
propriamente dita, no foi pontual, ou seja, no foi tratada especificamente. A Lei Maria da
Penha (art.5) a define como violncia baseada no gnero e violadora dos Direitos Humanos
(art. 6), mas trata da violncia nas relaes familiares. Demonstra que a famlia uma
instituio acima dos direitos individuais (IZUMINO, 2009). Talvez esteja nesse aspecto a
raiz da nossa Lei Contra a Violncia Domstica e Familiar no contemplar, como a Lei
espanhola, a violncia de gnero, que abarca todas as violncias contra as mulheres, indo alm
das relaes domsticas e familiares. Vale lembrar, contudo, que a poca da Constituinte foi
anterior recomendao Geral n 19 da CEDAW e da Conveno de Belm do Par.
O Cdigo Civil brasileiro estava em dissonncia com a Constituio Federal, pois datava de
1916, necessitando de total atualizao. Com a entrada em vigor do novo Cdigo em 2003,
foram eliminadas normas discriminatrias de gnero, como a relativa chefia da sociedade
conjugal, ao ptrio poder, administrao de bens do casal, ao casamento e sucesso.
Com relao ao Cdigo Penal (em fase de atualizao), encontra-se em plena discusso a
questo da legalizao do aborto, tema que tratado como crime onde as mulheres so
autoras, art. 124 Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, Pena -
deteno, de 1 (um) a 3 (trs) anos. Esta criminalizao fere os tratados internacionais
assinados pelo Brasil como a CEDAW (Recomendao n 24 art.12)
63
e a Declarao e
62
Art. 226. A famlia, base da sociedade, tem especial proteo do Estado
5 - Os direitos e deveres referentes sociedade conjugal so exercidos igualmente pelo homem e pela mulher
8 - O Estado assegurar a assistncia famlia na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos
para coibir a violncia no mbito de suas relaes
63
Recomendao n 24, art. 12: Priorizar a preveno de gravidez indesejada por meio do planejamento familiar
e educao sexual e reduzir as taxas de mortalidade materna atravs de servios de maternidade e de assistncia
pr-natal. Quando possvel, a legislao que criminaliza o aborto deve ser alterada, a fim de retirar as medidas
punitivas impostas s mulheres que se submetem a aborto (ONU, 2000).
67
Plataforma de Pequim (art. 106 K)
64
. Portanto, o Brasil assumiu compromissos como revisar
as leis que contenham medidas punitivas contra mulheres que realizarem abortos ilegais
conforme descrito no pargrafo 106 K da Plataforma de Ao de Pequim, de 1995 ainda,
apoiou a Resoluo do Conselho de Direitos Humanos da ONU, reconhecendo que a
morbimortalidade materna evitvel como sendo uma questo de Direitos Humanos.
No obstante o Cdigo Penal Brasileiro tipificar crimes, os quais so freqentemente
cometidos no ambiente domstico, principalmente contra as mulheres, art.121
65
, art.129
66
,
art.138
67
, art. 139
68
, art.140
69
, art. 147
70
, art. 148
71
, art. 213
72
e art. 214
73
, entendeu o
legislador, objetivando o acesso mais gil justia, que deveria inserir no mbito dos Juizados
Especiais Criminais os delitos de menor potencial ofensivo (contravenes e crimes cuja pena
mxima prevista em lei fosse igual ou menor que um ano). Nesse contexto, a Lei 9099 de
1995 passou a vigorar sobre os crimes de maior incidncia contra as mulheres que so as
leses leves e as leses culposas, com pena mxima de um ano.
64
Art. 106 K luz do pargrafo 8.25 do Programa de Ao da Conferncia Internacional sobre Populao e
Desenvolvimento reza: Em nenhum caso se deve promover o aborto como mtodo de planejamento familiar.
Insta-se a todos os governos e s organizaes intergovernamentais e no-governamentais pertinentes a revigorar
o seu compromisso com a sade da mulher, a tratar os efeitos que tm sobre a sade os abortos realizados em
condies inadequadas como sendo um importante problema de sade pblica e a reduzir o recurso ao aborto
mediante a prestao de servios mais amplos e melhorados de planejamento familiar. A preveno da gravidez
no desejada deve merecer a mais alta prioridade e todo esforo deve ser feito para eliminar a necessidade de
aborto. As mulheres que engravidam sem o desejar devem ter acesso fcil e confivel informao e orientao
humana e solidria. Quaisquer medidas ou alteraes relacionadas com o aborto no mbito do sistema de sade
s podem ser determinadas em nvel nacional ou local, de conformidade com o processo legislativo nacional.
Nos casos em que o aborto no ilegal, eles devem ser praticados em condies seguras e adequadas. Em todos
os casos, as mulheres devem ter acesso a servios de boa qualidade para o tratamento de complicaes derivadas
de abortos. Servios de orientao, educao e planejamento familiar ps-aborto devem ser oferecidos
prontamente mulher, o que contribuir para evitar abortos repetidos. Considerar a possibilidade de reformar as
leis que prevem medidas punitivas contra as mulheres que tenham sido submetidas a abortos ilegais. (VIANNA
& LACERDA, 2004, p.173).
65
Matar algum: pena- recluso de 6(seis) a 20 (vinte) anos.
66
Ofender a integridade corporal ou sade de outrem: pena- deteno de 3 (trs) meses a1 (um) ano. O artigo,
entretanto, tutela apenas a integridade corporal ou a sade, silencia com relao s agresses sub-reptcias,
praticadas dentro do lar e visvel apenas para os moradores, ou seja: a famlia (grifo nosso)
67
Caluniar algum imputando falsamente fato definido como crime: pena-deteno de 6 (seis) meses a 2(dois)
anos e multa. 1: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputao a propaga e divulga.
68
Difamar algum, imputando fato ofensivo sua reputao: pena- deteno de 3 (trs) meses a 1 (um) ano e
multa.
69
Injuriar algum ofendendo-lhe a dignidade ou decoro: pena-deteno de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.
70
Ameaar algum por palavra escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simblico de causar-lhe mal injusto ou
grave: pena- deteno de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.
71
Privar algum de sua liberdade, mediante seqestro ou crcere privado: pena- recluso de 1 (um) a 3 (trs)
anos. 1- A pena de recluso de 1(um) a 5 (cinco) anos, I- se a vtima ascendente, descendente ou cnjuge
do agente
72
Constranger mulher conjuno carnal, mediante violncia ou grave ameaa: pena- recluso de 6 (seis) 10
(dez) anos.
73
Constranger algum mediante violncia ou grave ameaa, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato
libidinoso diverso da conjuno carnal: pena- recluso de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
68
Essa lei criou os Juizados Especiais (JECrims), estabelecendo os procedimentos para os
delitos de menor potencial ofensivo (pena mxima de um ano) e no com a inteno precpua
de tratar a violncia contra a mulher. Seu objetivo era agilizar e aliviar o sistema judicial e
prisional, sempre sobrecarregados. Mesmo sem a inteno, foi banalizada a violncia contra
as mulheres.
Sabe-se que a prtica dos delitos como as leses leves, no caso da violncia domstica contra
a mulher ocorre num contexto de extrema gravidade e nunca de menor potencial ofensivo.
Isto porque a leso leve caracterizada quando incapacita a vtima para suas atividades
habituais por menos de trinta dias. Se uma mulher ficar incapacitada por 28 dias considerada
leso corporal leve. Por isso, entende-se que tal instrumento no poderia mais ser aplicado nos
casos da violncia domstica contra as mulheres. Infelizmente comprovou-se fato
incapacitante com usuria do CRLV vtima de violncia antes do advento da lei Maria da
Penha em que o agressor foi condenado apenas prestao de servios e a vtima convive
com seqelas fsicas e emocionais. Portanto com relao violncia contra a mulher a Lei
9099/05 teve um impacto essencialmente negativo:
Tem-se a banalizao da violncia na lei 9099/95, na medida em que se mensura a
lesividade de um delito to somente pelo quantum da pena fixada, desconsiderando
a especificidade dos conflitos no mbito da violncia domstica e familiar contra as
mulheres, que por sua natureza demandam uma abordagem diferenciada, especfica
e especial por parte do sistema de segurana e justia. Os crimes mais praticados
contra as mulheres nas relaes domsticas e familiares acabam, assim, recebendo o
mesmo tratamento dado aos praticados por um estranho. Nesses casos, como
sabido, a mulher, quase sempre, encontra-se inserida no chamado ciclo da violncia
domstica, caracterizado por relaes prolongadas, cclicas e sucessivas de tenso-
agresso-reconciliao, em uma espiral progressiva de violncia com a qual difcil
romper, e que em boa parte dos casos acaba levando prtica de crimes ainda mais
graves, como o homicdio. (PANDJIARJIAN 2006, p.116).
Na referida lei foram previstos a aplicao de trs mecanismos alternativos para a resoluo
dos conflitos: a conciliao; a transao e a suspenso condicional do processo. Quando a
autoridade policial tomava conhecimento do fato, fazia o registro na forma do Termo
Circunstanciado (TC), que um documento que substitua o Boletim de Ocorrncia (BO), o
TC deveria ser imediatamente encaminhado ao JECrim, juntamente com o autor do fato
(agressor) e a vtima. Porm, no caso de crimes de ameaa e de leses leves e culposas
(maioria nos casos de violncia domstica contra a mulher), o encaminhamento s era feito se
a vtima representasse o agressor no momento ou em at 6 (seis) meses. Na conciliao, fase
preliminar, em audincia com a presena do Ministrio Pblico, do autor do fato (agressor
(a)) e da vtima, com seus advogados (a lei exige a presena de advogado para o autor e no
69
para a vtima), a autoridade policial verificava a possibilidade de composio dos danos
(pagamento de uma indenizao ou alguma outra medida aceita pelas partes e pelo Juiz),
nessa hiptese, nada constaria nos registros de antecedentes do autor do fato e, caso as
agresses se repetissem, poderiam ocorrer novas conciliaes. Se no houvesse conciliao, a
vtima deveria representar e caberia ao Ministrio Pblico propor, ao autor do fato (agressor).
A transao penal seria a imposio de uma pena restritiva de direitos ou multa. Essas penas
restritivas de direitos podem ser traduzidas em prestao de servio comunidade, limitaes
(ao agressor) no fim de semana, como no sair de casa, limitao de horrios para ir e vir etc.
Em caso levantado, o agressor teve que prestar servios num escritrio de contabilidade, foi
de indignar. Ficou muito barato. Finalmente, no havendo conciliao e nem transao penal,
ainda sob a representao da vtima ao oferecer a denncia, poderia o Ministrio Pblico
propor a suspenso do processo (sem consultar a vtima) por 2 (dois) a 4(quatro) anos. Desde
que o autor do fato no tenha sido processado anteriormente e nem tivesse sido condenado por
outro crime (CP art.77)
74
.
A violncia domstica continuou acumulando estatsticas, infelizmente. Isto porque
a questo continuava sob o plio dos Juizados especiais criminais e sob a incidncia
dos institutos despenalizadores da Lei 9099/95. Alguma coisa precisava ser feita: era
imperiosa uma autntica ao afirmativa em favor da mulher vtima de violncia
domstica, a desafiar a igualdade formal de gnero, na busca de restabelecer entre
eles a igualdade material. (BASTOS, 2006, p.03).
Depois, em 2002, a Lei n 10.455, acrescentou ao pargrafo nico do art. 69 da Lei n
9.099/95 a previso de uma medida cautelar, de natureza penal, que consistia no afastamento
do agressor do lar conjugal na hiptese de violncia domstica, a ser decretada pelo Juiz do
Juizado Especial Criminal. Em 2004, a Lei n 10.886, criou, no art. 129
75
do Cdigo Penal,
74
Requisitos da suspenso da pena
Art. 77 - A execuo da pena privativa de liberdade, no superior a 2 (dois) anos, poder ser suspensa, por 2
(dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I - o condenado no seja reincidente em crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstncias autorizem a concesso do benefcio;
III - No seja indicada ou cabvel a substituio prevista no art. 44 deste Cdigo.
1 - A condenao anterior a pena de multa no impede a concesso do benefcio.
2 - A execuo da pena privativa de liberdade, no superior a 4 (quatro) anos, poder ser suspensa, por 4
(quatro) a 6 (seis) anos, desde que o condenado seja maior de 70 (setenta) anos de idade, ou razes de sade
justifiquem a suspenso.
75
Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a sade de outrem:
Pena - deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano.
Violncia Domstica
9 Se a leso for praticada contra ascendente, descendente, irmo, cnjuge ou companheiro, ou com quem
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relaes domsticas, de coabitao ou de
hospitalidade:
Pena - deteno, de 3 (trs) meses a 3 (trs) anos.37
70
um subtipo de leso corporal leve, decorrente de violncia domstica, aumentando a pena
mnima de 3 (trs) para 6 (seis) meses. Aqui, vale a inferncia de que se trata da violncia
domstica em geral, tanto para homens quanto para as mulheres, sendo denominada em
mbito familiar.
Porm, tais medidas, permitiam que o agressor continuasse a residir no mesmo domiclio da
vtima que o denunciou promovendo a perpetuao das violncias. Tambm, a finalidade da
pena no visava o carter pedaggico de tratamento ao agressor. Dessa forma, os Juizados
Especiais Criminais no conseguiram conter o dominante descrdito proteo feminina da
legislao em vigor.
Tomando como paradigma globalizante da tendncia do incio do Sculo XXI o
advento de legislaes penais de reduo de interveno do Estado, a exemplo das
Leis 9099/95 e 10.529/2001
76
, no seria desarrazoado afirmar que a Lei Maria da
Penha, com a ampliao do recrudescimento penal constitui o vetor de mudana
paradigmtica (MIRANDA, 2008, p.03).
A Lei Maria da Penha uma Poltica Pblica de Estado, no de governo. Uma poltica de
governo frgil porque feita de maneira unilateral, por um s governo, tem carter
momentneo e pode ser revogada, alterada e suspensa, enquanto que uma poltica de Estado
fruto da conscincia da classe poltica e da sociedade, um compromisso. Mesmo que se
mude o governo, seus princpios so preservados.
A lei trouxe para as mulheres brasileiras a possibilidade de contarem com medidas de
preveno, proteo e segurana ao se encontrarem em situao de violncia
77
. O Ttulo III
78
10. Nos casos previstos nos 1 a 3 deste artigo, se as circunstncias so as indicadas no 9 deste artigo,
aumenta-se a pena em 1/3 (um tero).
11. Na hiptese do 9 deste artigo, a pena ser aumentada de um tero se o crime for cometido contra pessoa
portadora de deficincia.
76
Lei que estabelece os Juizados Federais
77
Importante mencionar tambm, a possibilidade da aplicao da legislao complementar nos casos da
violncia domstica e familiar, ou seja, do Estatuto da Criana e do Adolescente que abarca as meninas at 18
anos e do Estatuto do Idoso, para as mulheres de 60 (sessenta) anos ou mais. (nota da autora)
78
Lei Maria da Penha, - Ttulo III:
Art. 8
o
A poltica pblica que visa coibir a violncia domstica e familiar contra a mulher far-se- por meio de
um conjunto articulado de aes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios e de aes no-
governamentais, tendo por diretrizes
I - a integrao operacional do Poder Judicirio, do Ministrio Pblico e da Defensoria Pblica com as reas de
segurana pblica, assistncia social, sade, educao, trabalho e habitao;
II - a promoo de estudos e pesquisas, estatsticas e outras informaes relevantes, com a perspectiva de gnero
e de raa ou etnia, concernentes s causas, s conseqncias e freqncia da violncia domstica e familiar
contra a mulher, para a sistematizao de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliao peridica dos
resultados das medidas adotadas;
III - o respeito, nos meios de comunicao social, dos valores ticos e sociais da pessoa e da famlia, de forma a
coibir os papis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violncia domstica e familiar, de acordo com o
estabelecido no inciso III do art. 1
o
, no inciso IV do art. 3
o
e no inciso IV do art. 221 da Constituio Federal;
71
traa as diretrizes para a articulao de polticas pblicas para coibir e/ou prevenir a violncia
domstica e familiar contra a mulher. Tais diretrizes consistem nas orientaes para coordenar
as aes. Essas orientaes no devem resultar de iniciativas isoladas, mas de planejamentos
estratgicos que envolvam o Poder Judicirio, o Ministrio Pblico e Defensoria com os
rgos de Segurana Pblica, Assistncia Social, Sade, Educao, entre outros.
Neste caso, a integrao operacional significa eficaz, funcional. Exemplificando, o rgo
judicirio que atende s mulheres vtimas de violncia domstica e familiar Estadual, os
servios pblicos de assistncia e sade so a cargo dos Municpios e os servios de educao
se dividem entre a Unio, os Estados e os Municpios. Constituem as medidas integradas de
preveno. As aes em rede evitam duplicidade de atendimento.
2.3- Da preveno e da represso (ou reao) violncia
Num primeiro momento o legislador pretende implementar providncias de carter preventivo
e, caso estas, no produzam os resultados esperados, conta-se com as medidas repressivas. A
Lei Maria da Penha enuncia que as Medidas Integradas de Preveno far-se-o por meio
de um conjunto articulado de aes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municpios (art.8), alm das aes no-governamentais. Aqui, entende-se que a famlia, a
sociedade se uniro ao Estado.
Como atividades de preveno, exemplificamos a criao de grupos especiais, pelo Ministrio
Pblico, para coordenar e apoiar campanhas e aes de conscientizao e apoio s mulheres
vtimas de violncia, como o GEDEM-MP/BA, alm de realizarem seminrios e jornadas em
conjunto com outros rgos governamentais como a 1 Vara da Violncia Domstica e
IV - a implementao de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de
Atendimento Mulher;
V - a promoo e a realizao de campanhas educativas de preveno da violncia domstica e familiar contra a
mulher, voltadas ao pblico escolar e sociedade em geral, e a difuso desta Lei e dos instrumentos de proteo
aos direitos humanos das mulheres;
VI - a celebrao de convnios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoo de parceria entre
rgos governamentais ou entre estes e entidades no-governamentais, tendo por objetivo a implementao de
programas de erradicao da violncia domstica e familiar contra a mulher;
VII - a capacitao permanente das Polcias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos
profissionais pertencentes aos rgos e s reas enunciados no inciso I quanto s questes de gnero e de raa ou
etnia;
VIII - a promoo de programas educacionais que disseminem valores ticos de irrestrito respeito dignidade da
pessoa humana com a perspectiva de gnero e de raa ou etnia;
X - o destaque, nos currculos escolares de todos os nveis de ensino, para os contedos relativos aos direitos
humanos, eqidade de gnero e de raa ou etnia e ao problema da violncia domstica e familiar contra a
mulher.
72
Familiar da Bahia e a Defensoria Pblica do Estado, como a Jornada pela Implementao da
Lei Maria da Penha em 2009.
Na rea da Segurana Pblica, as DEAMs adotam posturas similares de apoio e
conscientizao alm da qualificao de policiais para o atendimento adequado s vtimas. J,
no campo da sade, encontramos as campanhas de preveno e ateno, providas pelo SUS,
campanhas de capacitao dos profissionais de sade em violncia domstica e sexual contra
a mulher. Aqui, exemplificamos com o Acordo de Cooperao Tcnica UNFPA/PMS -
Acordo firmado em maro de 2008 entre o Fundo de Populao das Naes Unidas (ONU) e
a Prefeitura de Salvador cujo objetivo viabilizar o acesso universal sade sexual e
reprodutiva, garantindo padres de equidade racial, gnero e faixa etria para a promoo da
reduo da mortalidade materna.
Na rea da educao, a ateno voltada para a disseminao do tema violncia nos
currculos escolares objetivando a promoo dos Direitos Humanos e o conhecimento da
legislao brasileira antiviolncia contra a mulher. Nesse sentido, a Superintendncia de
Polticas para as Mulheres de Salvador (SPM) executou e ainda executa o projeto A Escola
na Preveno da Violncia contra as Mulheres e Divulgando a Lei Maria da Penha, onde a
SPM realiza palestras sobre a violncia contra as mulheres e divulga a Lei Maria da Penha,
em parceria com a Secretaria Municipal de Educao e Cultura (SMEC), bem como com os
servios da Rede de Ateno violncia contra as mulheres nas escolas municipais em
especial com o Centro de Referncia Loreta Valadares. Surgiram vrios projetos listados pela
ordem em que foram criados.
O projeto Gnero e Incluso Digital: Buscando Novos Horizontes (2005) consiste no
oferecimento de Curso de Informtica bsica e capacitao em Relaes de Gnero e
Cidadania, para as lideranas femininas comunitrias dos bairros de Salvador alm de
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em situao de vulnerabilidade e das internas do
presdio feminino de Salvador
79
.
O Programa de Combate ao Racismo Institucional (2005/2006) que integrado a outros
rgos da PMS com o objetivo de identificar, conscientizar e combater a discriminao de
cor, cultura ou origem tnica dentro dos servios pblicos municipais.
79
Fonte: <www.maissocial.salvador.ba.gov.br>.
73
O Acerto de Contas - Formao Poltica para o Exerccio da Cidadania Ativa das
Mulheres (2007) uma parceria entre o Governo Federal (SPM-PR) e a Prefeitura (PMS) tem
o objetivo de fortalecer a participao de mulheres jovens dos Servios Integrados de
Atendimento (SIGA), antigas Regies Administrativas (AR) de Salvador inclusive mulheres
residentes na Ilha de Mar, Paramana e Bom Jesus, com o objetivo de promover a
qualificao em gnero, raa, controle social e polticas pblicas proporcionando a construo
da cidadania.
E o projeto Implementando aes de capacitao e ateno - 2008 que visa encontros de
sensibilizao das usurias do CRLV atravs de oficinas para profissionais das reas de
assistncia social, direito e psicologia continua ocorrendo permanentemente.
O carter repressivo ou reagente advm das medidas que visem proteo da mulher
vitimizada. So as medidas de socorro, quando a violncia j ocorreu.
80
Significa que o juiz
poder incluir por um tempo determinado a mulher em programas assistenciais do governo
federal, estadual e municipal. A assistncia dever ocorrer em todos os nveis para a total
recuperao da dignidade da mulher. Ressaltamos que o Ministrio Pblico, de acordo com
suas atribuies tem o mesmo dever de agir e fiscalizar o cumprimento da lei.
De acordo com a Lei Orgnica de Assistncia Social (Lei n. 8.742/1993) todos os cidados e
cidads em situao de necessidade, mesmo que no contribuam para a seguridade social,
sero assistidos pelo Estado. O objetivo a proteo da famlia, da maternidade, da infncia,
da juventude e da velhice. Sabe-se que um dos servios sociais especiais prestados pelo Plano
Nacional de Assistncia Social (PNAS) o fornecimento de moradia para aquelas famlias ou
indivduos que, por necessidade, se encontrem sem referncia, em situao de ameaa ou que
precisem ser retirados de seu ncleo familiar ou comunitrio.
80
Art. 9
o
A assistncia mulher em situao de violncia domstica e familiar ser prestada de forma articulada
e conforme os princpios e as diretrizes previstos na Lei Orgnica da Assistncia Social, no Sistema nico de
Sade, no Sistema nico de Segurana Pblica, entre outras normas e polticas pblicas de proteo, e
emergencialmente quando for o caso.
1
o
O juiz determinar, por prazo certo, a incluso da mulher em situao de violncia domstica e familiar no
cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.
2
o
O juiz assegurar mulher em situao de violncia domstica e familiar, para preservar sua integridade
fsica e psicolgica:
I - acesso prioritrio remoo quando servidora pblica, integrante da administrao direta ou indireta;
II - manuteno do vnculo trabalhista, quando necessrio o afastamento do local de trabalho, por at seis meses.
3
o
A assistncia mulher em situao de violncia domstica e familiar compreender o acesso aos benefcios
decorrentes do desenvolvimento cientfico e tecnolgico, incluindo os servios de contracepo de emergncia, a
profilaxia das Doenas Sexualmente Transmissveis (DST) e da Sndrome da Imunodeficincia Adquirida
(AIDS) e outros procedimentos mdicos necessrios e cabveis nos casos de violncia sexual.
74
A Constituio Federal, art.196, informa que a sade um direito fundamental do ser humano
e que o Estado deve prover as condies indispensveis para promov-la. A Unio, os Estados
e os Municpios so os responsveis pela implementao do Sistema nico de Sade (SUS),
criado pela Lei 8.080/1990 e devem garantir um atendimento especializado para as mulheres
em situao de violncia. Enfocando a liberdade e sade sexual da mulher, quanto ao acesso
aos servios de contracepo de emergncia, trata-se, hoje em dia, da plula do dia seguinte e
os demais procedimentos mdicos incluem a preveno e tratamento principalmente das
doenas sexualmente transmissveis. As estatsticas revelam grande incidncia de
contaminao entre mulheres casadas ou que mantm relaes estveis e monogmicas
(HERMANN, 2008, p. 146).
O Sistema nico de Segurana Pblica (SUSP), coordenado pela Secretaria Nacional de
Segurana Pblica do Ministrio da Justia (SENASP) em conjunto com os Estados e
Municpios tem a misso de garantir a segurana de todos os cidados e cidads no territrio
nacional. Nesse sentido, devem garantir a pronta proteo policial
81
s mulheres vitimizadas
pela violncia domstica e familiar. Atendimento previsto na Lei Maria da Penha. As usurias
do CRLV na sua maioria tm procurado as DEAMs e as outras delegacias de polcia. Na
iminncia da prtica de violncia contra a mulher, que significa aquilo que ameaa acontecer
em breve, espera-se que a autoridade policial, ao ser noticiada de atos ou condutas que
constituam esse tipo de crime e que esteja para acontecer, tome as providncias cabveis no
sentido de se evitar maiores danos.
2.4- Sobre as medidas protetivas de urgncia
Dentre as aes da agenda contra a violncia, as medidas protetivas podem ser indicadas e
promovidas tanto pelas prprias mulheres vtimas quanto pelo Ministrio Pblico, ambos
agentes do Direito que podem requerer tais medidas protetivas de urgncia, que o Juiz
analisar concedendo ou no. Importante que seja orientada a faz-lo no ato do registro da
ocorrncia pela autoridade policial. O objetivo assegurar a imediata cessao da violncia.
Quanto a essas medidas, assinalamos, alm daquelas que obrigam o agressor
82
outras que
81
Art. 10. Na hiptese da iminncia ou da prtica de violncia domstica e familiar contra a mulher, a autoridade
policial que tomar conhecimento da ocorrncia adotar, de imediato, as providncias legais cabveis.
Pargrafo nico. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgncia
deferida.
82
Das Medidas Protetivas de Urgncia que Obrigam o Agressor
75
obrigam s mulheres
83
. Tomando-se como exemplo de uso de categoria relacional de gnero,
ou seja, aquilo que vale para um como para o outro.
Ressaltamos a inovao do acompanhamento jurdico previsto, na lei, desde a esfera policial.
Isto , a mulher tem o direito de se fazer acompanhar por advogado desde o incio. A usuria
do CRLV tem direito a ser acompanhada por advogada (o) desde a ocasio da queixa. Ela
pode pedir o acompanhamento de advogados (as) se achar necessrio.
Art. 22. Constatada a prtica de violncia domstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz
poder aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de
urgncia, entre outras:
I - suspenso da posse ou restrio do porte de armas, com comunicao ao rgo competente, nos termos da Lei
n
o
10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domiclio ou local de convivncia com a ofendida;
Constitui uma das primeiras medidas decretadas pelo juiz.
III - proibio de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximao da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mnimo de distncia entre
estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicao;
Proibido contatos telefnicos, mensagens de celulares, e-mails etc.
c) freqentao de determinados lugares a fim de preservar a integridade fsica e psicolgica da ofendida;
IV - restrio ou suspenso de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar
ou servio similar;
1
o
As medidas referidas neste artigo no impedem a aplicao de outras previstas na legislao em vigor,
sempre que a segurana da ofendida ou as circunstncias o exigirem, devendo a providncia ser comunicada ao
Ministrio Pblico.
2
o
Na hiptese de aplicao do inciso I, encontrando-se o agressor nas condies mencionadas no caput e
incisos do art. 6
o
da Lei n
o
10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicar ao respectivo rgo,
corporao ou instituio as medidas protetivas de urgncia concedidas e determinar a restrio do porte de
armas, ficando o superior imediato do agressor responsvel pelo cumprimento da determinao judicial, sob
pena de incorrer nos crimes de prevaricao ou de desobedincia, conforme o caso.
3
o
Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgncia, poder o juiz requisitar, a qualquer momento,
auxlio da fora policial.
4
o
Aplica-se s hipteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos 5
o
e 6 do art. 461
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Cdigo de Processo Civil).
83
Das Medidas Protetivas de Urgncia Ofendida
Art. 23. Poder o juiz, quando necessrio, sem prejuzo de outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitrio de proteo ou de atendimento;
II - determinar a reconduo da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domiclio, aps afastamento do
agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuzo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e
alimentos;
IV - determinar a separao de corpos.
Art. 24. Para a proteo patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da
mulher, o juiz poder determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:
I - restituio de bens indevidamente subtrados pelo agressor ofendida;
II - proibio temporria para a celebrao de atos e contratos de compra venda e locao de propriedade em
comum, salvo expressa autorizao judicial;
III - suspenso das procuraes conferidas pela ofendida ao agressor;
IV - prestao de cauo provisria, mediante depsito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da
prtica de violncia domstica e familiar contra a ofendida.
Pargrafo nico. Dever o juiz oficiar ao cartrio competente para os fins previstos nos incisos II e III deste
artigo.
76
2.5- Sobre a responsabilizao e reeducao do agressor (a)
Entende-se que as pessoas envolvidas na relao violenta devem ter o desejo de mudar, no
somente uma atitude individual e consciente. Muitas vezes, depende da interveno da
sociedade e do Estado, como no caso das polticas pblicas de ateno e preveno
violncia. por esta razo que no se acredita numa mudana radical de uma relao violenta,
quando se trabalha exclusivamente com a vtima. Sofrendo esta algumas mudanas, enquanto
a outra parte permanece o que sempre foi, mantendo seus hbitos, a relao pode, inclusive,
tornar-se ainda mais violenta. Todos percebem que a vtima precisa de ajuda, mas poucos
vem esta necessidade no agressor. As duas partes precisam de auxlio para promover uma
verdadeira transformao da relao violenta (SAFFIOTI, 2004, p. 68).
Por isso, a Lei Maria da Penha, no artigo 45 prev a obrigatoriedade do comparecimento do
agressor a programa de reeducao e, ao mesmo tempo, o artigo 35 menciona a criao de
centros de educao e reabilitao do agressor. A necessidade do atendimento ao agressor
tem o objetivo de responsabilizar e educar o agressor, bem como o acompanhamento das
decises e das penas a ele inerentes. um servio de carter obrigatrio e pedaggico, no
tendo cunho assistencialista e nem carter de tratamento.
O servio de responsabilizao do agressor o equipamento responsvel pelo
acompanhamento das penas e das decises proferidas pelo juzo competente no que
tange aos agressores, conforme previsto na lei 11.340/2006 e na lei de Execuo
penal. Esses devero, portanto, ser necessariamente vinculados ao sistema de
justia, entendido em sentido amplo (Poder judicirio, Secretarias de Justia
Estadual e/ou Municipal)
84
.
A atuao do Servio de Responsabilizao e Educao do Agressor dever ser de forma
articulada com os demais servios da rede por tambm fazer parte da mesma. Portanto, dever
ser articulado com os Juizados de Violncia Domstica e Familiar Contra a Mulher,
Delegacias Especializadas de Atendimento Mulher, Centros de Referncia da Mulher,
Defensorias/Ncleos Especializados da Mulher, Casa Abrigo, Servios de Sade. Estes,
ltimos, inclusive, no sentido de encaminhar para programas de atendimento de sade mental
(quando necessrio for) e de recuperao especficos. O trabalho consiste em atividades
pedaggicas e educativas que visem preveno da violncia contra a mulher e a educao do
agressor, a partir de uma perspectiva feminista de gnero.
84
Fonte: Proposta para implementao dos servios de responsabilizao e educao dos agressores da
Secretaria Especial de Polticas para Mulheres da Presidncia da Repblica, 2009.
77
2.6- Dos desafios
Como desafios na implementao da prpria lei, por exemplo, encontramos no art.32 que o
Poder Judicirio poder prever recursos para a criao e manuteno da equipe de
atendimento multidisciplinar; o art.34 estampa que a instituio dos Juizados da Violncia
Domstica e Familiar Contra a Mulher poder ser acompanhada pela implantao das
curadorias necessrias, o art.35 diz que a Unio, o Distrito Federal, os Estados e os
Municpios podero criar e promover, no limite de suas respectivas competncias, centros de
atendimento multidisciplinar, casas de abrigos, delegacias, ncleos de defensorias, servios de
sade etc., que o pargrafo nico do art. 38 refere-se s Secretarias de Segurana Pblica dos
Estados e do Distrito Federal, dizendo que, as mesmas, podero remeter suas informaes
criminais para a base de dados da Justia. Ainda, o art.39 fala que a Unio, os Estados, o
Distrito Federal e os Municpios, podero estabelecer, no limite de suas competncias e nos
termos das respectivas Leis de Diretrizes Oramentrias (LDO) especficas, em cada exerccio
financeiro para a implementao das medidas estabelecidas na Lei Maria da Penha.
Cabe destacar a importncia da conscientizao das autoridades pblicas e de toda a
sociedade no sentido de transformar o poder fazer previsto na Lei em dever de fazer. Para que
a Lei Maria da Penha seja efetivada preciso que, alm de haver instituies e aes voltadas
ao combate da violncia contra a mulher, que elas sejam efetivas.
2.7- Estrutura do Estado brasileiro no combate violncia contra a mulher
Segundo dados da recente Pesquisa de Informaes Municipais (MUNIC) divulgada pelo
IBGE e publicada em 31 de maio de 2010, referente a 2009, apenas 397 municpios
brasileiros possuem DEAMs, correspondendo a 7% do total de 5.565 municpios do pas.
Ainda, de acordo com o IBGE, em 2009 havia 1.043 municpios com alguma estrutura de
apoio mulher, representando 18,7% do total de municpios brasileiros. Dentre os quais,
apenas 262 possuem Casas Abrigos, 559 tm Centros de Referncia de atendimento mulher,
469 abrigam ncleos especializados de atendimento mulher das Defensorias Pblicas e
somente 274 possuem Juizados de Violncia Domstica e Familiar Contra a Mulher.
A pesquisa aponta que os municpios com esses servios se concentram na Regio Sudeste
que comporta 35,1% dos municpios com Casas Abrigo e 32,2% com Centros de Referncia.
As Regies Norte e Centro- Oeste so as mais carentes desses servios. Em se tratando de
aes para pblicos especficos como idosos, crianas, adolescentes e portadores de
78
deficincias foram constatados que em 77% dos municpios que possuam estrutura para o
apoio s mulheres, este mesmo rgo realizava os atendimentos queles. Os idosos contam
com 86,1%, os adolescentes com 87,2% e as pessoas com deficincia contam com 67,6%.
Importante ressaltar que em 1974 municpios brasileiros (35,5%) existem conselhos dos
Direitos do Idoso, conseqentemente a mulher idosa beneficiada. Segundo o IBGE, mais da
metade desses conselhos surgiu depois da promulgao do Estatuto do Idoso. No Brasil 126
municpios (2,3% do total) em 2009, possuem polticas especficas para lsbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais. Em So Paulo (SP), Amamba (MS), Pelotas (RS) e
Diadema (SP) h um conselho municipal especfico para cada tema
85
.
Desde a criao das DEAMs entendeu-se que a violncia contra as mulheres no se tratava
apenas de um caso de polcia, motivo pelo qual, iniciou-se o atendimento social e psicolgico
nestas delegacias. Isto levou a percepo da necessidade de se construir aes articuladas
entre servios de reas distintas para acolhimento e acompanhamento das mulheres vtimas de
violncia.
A visibilidade dessa peregrinao pelas reparties pblicas - desde a denncia na
Polcia, aos atendimentos no Instituto Mdico Legal, na Sade, no Poder Judicirio-
evidenciou a falta de apoio e a freqncia com que as mulheres ficam isoladas e
entregues prpria sorte. (TRILHAS FEMINISTAS, 2010, p.30)
Primeiramente foram criados os Conselhos da Condio Feminina das DEAMs, seguida da
Poltica de Ateno Integral Sade da Mulher, na dcada de 80
Os primeiros organismos governamentais de defesa dos direito das mulheres foram
os conselhos, sendo os estaduais de So Paulo e de Minas Gerais os pioneiros e, na
seqncia, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM, criado em 1985.
(TRILHAS FEMINISTAS, 2010, p. 31)
Tais conselhos foram esvaziados na dcada de 90, como consta na publicao da CFEMEA,
Trilhas feministas de 2010, voltando a se articular em 1995 durante o processo preparatrio
para a Conferncia de Pequim/95. Em 1999, segundo a mesma publicao, o Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher foi reestruturado no mbito federal.
Em 2002, foi criada a Secretaria Nacional de Defesa da Mulher (SNDM), rgo executivo do
Ministrio da Justia. No ano seguinte, atendendo s reivindicaes dos movimentos de
mulheres, foi criada a Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres (SPM), com .vv.
85
Fonte: http://www.ibge.gov.br Acessado em 27/06/2010.
79
poltico de Ministrio sendo mantido o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, sem o
poder de deliberar, mas participando intensamente.
Os rgos de polticas para as mulheres so ponto de partida e lugares necessrios e
singulares de interao e construo de alianas para consolidar valores e prticas
democrticas tornando-os padro dominante de convivncia para a vida em
sociedade e para o exerccio de qualquer poder. (TRILHAS FEMINISTAS, 2010,
p.40)
Em 2004, a SPM realizou a I Conferncia Nacional de Polticas para as Mulheres resultando
no I Plano Nacional de Poltica para as Mulheres. Na ocasio, foram definidas as diretrizes e
eixos de atuao prioritrios para a implementao de polticas pblicas para as mulheres. Em
2007, houve a II Conferncia onde o I Plano foi revisto e outros eixos foram acrescentados.
Passados 25 anos da criao do primeiro Conselho dos Direitos da Mulher e da instalao da
primeira delegacia da mulher, segundo a publicao Trilhas feministas (2010, p.40) constata-
se a existncia de:
mais de 170 organismos especficos nas prefeituras e governos estaduais
(coordenadorias, superintendncias, secretarias);
aproximadamente 300 conselhos nas esferas de governo municipal, estadual e federal;
410 Delegacias Especializadas de Atendimento s Mulheres;
131 Centros de Referncia so realidade em 1311 cidades em todo o Brasil;
h servios pblicos para o atendimento aos casos de aborto legal em quase todas as
capitais brasileiras;
esto sendo criados juizados e varas de violncia domstica e familiar contra as
mulheres em vrias partes do Pas e comeam a surgir em Defensorias e Ministrios
Pblicos dos estados os ncleos especficos sobre violncia contra a mulher, como
uma resposta a determinaes da Constituio e da Lei Maria da Penha. Em alguns
casos, os recursos para o financiamento desses servios esto claramente identificados
nos oramentos pblicos;
as polticas para as mulheres, desde 2004, com a edio do Plano Nacional de Polticas
para as Mulheres I PNPM tm pressupostos, princpios e diretrizes que as orientam
alm de ser desenvolvido por um conjunto de ministrios sob a coordenao da
Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres.
O II Plano Nacional de Polticas para as Mulheres, em vigor desde cinco de maro de 2008
com previso at 2011, foi aprovado pelo decreto n 6.387. A avaliao do I PNPM (2004-
80
2007) apontou avanos na insero da temtica de gnero, raa/etnia, no processo de
elaborao do oramento e planejamento dos governos, bem como na criao de organismos
governamentais estaduais e municipais para coordenao e gerenciamento das polticas para
as mulheres alm dos avanos na incorporao da transversalidade de gnero nas polticas
pblicas. Os eixos de atuao do II PNPM so onze:
I) Autonomia, igualdade no mundo do trabalho;
II) Educao inclusiva e no sexista;
III) Sade das mulheres e direitos reprodutivos;
IV) Enfrentamento da violncia contra as mulheres;
V) Participao das mulheres nos espaos de poder e deciso;
VI) Desenvolvimento sustentvel no meio rural, na cidade e na floresta, com a
garantia de justia social, soberania e segurana alimentar;
VII) Direito a terra, moradia digna e infraestrutura social nos meios rural e urbano,
considerando as comunidades tradicionais;
VIII) Cultura, comunicao e mdia no-discriminatria;
IX) Enfrentamento ao racismo, sexismo e lesbofobia e
X) Enfrentamento s desigualdades geracionais que atingem as mulheres, com
especial ateno s jovens e idosas.
XI) captulo referente ao monitoramento do Plano (TRILHAS FEMINISTAS, 2010,
p.40).
Nesse contexto, ressaltamos alm da promulgao da Lei Maria da Penha, a criao da
Comisso Tripartite para a reviso da Legislao que pune o aborto e a poltica nacional de
direitos sexuais e reprodutivos. Importante salientar que trabalho, sade e violncia so reas
que exigem prioridade de ateno e tratamento por constiturem esferas de grande atuao na
luta das mulheres.
2.8- Das aes em Salvador
A maioria das aes previstas nos Planos Nacionais realizada nos municpios, assim, em
Salvador, atendendo a aspirao do movimento de mulheres, foi criada em 2005, a
Superintendncia de Polticas para as Mulheres (SPM), rgo de poltica afirmativa da
Prefeitura Municipal. Inicialmente, uma Autarquia, instituda pela Lei Municipal n 6588 de
28 de Dezembro de 2004, entidade com autonomia financeira e administrativa. Contudo
81
temos a informao de que no permanece como tal. A principal caracterstica da SPM a
articulao incorporando as questes de gnero em todas as suas aes.
Os primeiros anos foram dedicados implementao do Plano Nacional de Polticas para as
Mulheres em Salvador, no tocante ao Enfrentamento Violncia Contra a Mulher. Nesse
sentido o municpio passou a integrar a Rede de Ateno implantando o Centro de Referncia
Loreta Valadares (CRLV), o primeiro no Estado da Bahia, com recursos do Governo Federal
(SPM-PR) e Estadual (SEDES) e com a UFBA atravs do Instituto de Sade Coletiva
(MUSA), objeto de nosso estudo em captulo prprio.
Compreende-se que para que a Lei Maria da Penha seja completamente eficaz existe um
comprometimento por parte do Estado, da Unio e dos Municpios na criao de polticas
pblicas que evitem as situaes de violncia. H necessidade de programas especiais que
atuem de forma preventiva no atendimento s mulheres, familiares envolvidos e tambm de
seus agressores.
O desafio para o poder pblico proporcionar, atravs dessas polticas pblicas, instrumentos
de ao eficientes, capazes de atender s denncias, de apoiar e de combater as situaes de
violncia no cotidiano de muitas mulheres. Abaixo a relao dos rgos da rede de preveno
e assistncia s mulheres em Salvador, segundo a SPM.
Quadro 5- Rede de Ateno, Salvador, BA
Centro de Referncia Loreta Valadares (CRLV)
DEAMs, Delegacias Especiais de Atendimento Mulher
Casa Abrigo Mulher Cidad
Defensoria Pblica
1 Vara da Violncia Domstica e Familiar do Estado da Bahia
Ministrio Pblico (GEDEM)
IPERBA (Instituto de Perinatologia da Bahia)
Projeto Viver/IMLNR
Casa de Oxum
86
CEDECA (Centro de Defesa da Criana e do Adolescente)
87
Centro Maria Felipa
88
86
A Casa de Oxum um local de atendimento para meninas de rua em situao de risco, de 08 a 17 anos, rgo
da Prefeitura Municipal de Salvador.
87
Centro de Defesa da Criana e do Adolescente Yves Roussan, uma organizao no governamental de defesa
de crianas e adolescentes que combate, sobretudo a violncia institucional, com o objetivo de combater a
impunidade. Realiza atendimento jurdico e psicossocial s famlias de vtimas de homicdio e s crianas e
adolescentes vtimas de violncia sexual. Abriga um servio de rastreamento de sites de pedofilia tambm.
88
O Centro Maria Felipa, o Centro de apoio Policial Militar Feminina da Polcia Militar da Bahia alm de
esposas, filhas, companheiras de militares e funcionrias civis da PMBA. Suas atividades consistem em tanto
oferecer suporte psicossocial como em combater todas as formas de discriminao, realizar palestras e
seminrios, com temas referentes questo de gnero, trabalhar questes sobre todos os tipos de violncia, em
especial: a violncia sexual e domstica. Em alguns casos encaminham policiais femininas vtimas de violncia
para tratamento em outros rgos como o CRLV.
82
Continuao do Quadro 5- Rede de Ateno, Salvador, BA
CHAME (Centro Humanitrio de Apoio Mulher)
89
CICAN (Centro de Referncia em Oncologia do Estado)
90
CREAS Sentinela
91
Disque Sade da Mulher
92
Disque Denncia (SSP/BA)
93
Fundao Cidade Me
94
Disque 180 da SPM/PR
SAJU/UCSAL (Servio de Assistncia Judiciria da Universidade Catlica do Salvador,
95
SAJU/UFBA (Servio de Assistncia Judiciria da Universidade Federal da Bahia)
Conselhos Tutelares
96
Fonte: elaborado pela autora, 2010.
Quando uma mulher vtima de violncia e resolve romper com essa situao, em geral, a
primeira dificuldade a falta de autonomia individual seguida de dificuldades econmicas.
muito comum a mulher sair da relao com a responsabilidade dos filhos e precisa enfrentar
grandes obstculos como arranjar um emprego, realocao dos filhos em escolas. A
recomposio pessoal difcil. Neste momento, o Estado deve se fazer presente para garantir
que a vtima tenha acesso aos rgos da rede de apoio em carter emergencial e efetivo. O
Centro de Referncia Loreta Valadares (CRLV) ser tratado no Captulo III.
As DEAMs so as Delegacias Especiais de Atendimento Mulher, rgos vinculados
Secretaria de Segurana Pblica da Bahia/Polcia Civil. Possuem equipe composta por
assistentes sociais, psiclogas, delegadas, escrivs, agentes policiais, detetives, comissrios.
Sua funo precpua realizar registros e apuraes de violncias contra a mulher tanto no
ambiente familiar quanto de gnero. Ao todo, o Estado da Bahia possui catorze DEAMs que
alm de registrarem e apurarem as denncias oferecem equipe de apoio psicossocial e
89
O CHAME, Centro Humanitrio de Apoio Mulher, numa organizao no governamental cujas entidades
parceiras so o Centro de informao para mulheres, FIZ (Sua), o UNICEF, o CEDECA e o Conselho
Municipal da Mulher. Suas atividades consistem principalmente na mobilizao da populao e do poder pblico
para a questo do trfico de mulheres e turismo sexual.
90
O CICAN- Centro de Referncia em Oncologia do Estado, rgo da Secretaria Estadual de Sade, centro de
tratamento e preveno do cncer do colo de tero e mama tambm assiste aos casos de doenas sexualmente
transmissveis (HPV) e realiza tratamento quimioterpico de casos de cncer.
91
O CREAS Sentinela, rgo ligado ao governo municipal, apoiado pelo Ministrio da Previdncia e Ao
Social e da Secretaria de Estado de Assistncia Social. Suas atividades constituem no atendimento e proteo s
crianas e adolescentes vitimados sexualmente ou por outro tipo de violncia tambm. Promovendo o apoio
psicossocial a familiares ou responsveis inclusive.
92
O Disque Sade da Mulher o atual disque 180 da Secretaria de Polticas para as Mulheres- SPM/PR, servio
de orientao telefnica s mulheres vtimas de quaisquer violncias.
93
O Disque Denncia da Secretaria de Segurana Pblica da Bahia (3235-0000).
94
A Fundao Cidade Me uma instituio municipal que atua com o objetivo principal de proteger, acolher e
defender crianas e adolescentes em situao de risco, atravs de diferentes aes sociais, a partir da adoo de
polticas pblicas bsicas e especiais, em conformidade com o Estatuto da Criana e do Adolescente (ECA).
95
Ncleos de universidades que contribuem para o combate violncia contra a mulher e apoio s famlias e
seus membros.
96
Os Conselhos Tutelares so rgos permanentes e autnomos, encarregados, pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criana e do adolescente, ou seja, fazer cumprir o prprio ECA.
83
encaminham para a rede de ateno ou ONGs credenciadas. Atualmente, Salvador possui
duas DEAMs. A primeira, localizada no Bairro do Engenho Velho de Brotas (inaugurada em
1986), no final de linha do bairro, lugar de difcil acesso devido ao transporte pblico
insuficiente, e a recm inaugurada (2009), em Periperi, subrbio ferrovirio da capital, na
Praa do Sol, constituem a porta principal de acesso s polticas pblicas de combate
violncia contra a mulher. Importante salientar que foram criadas para o atendimento s
mulheres, vtimas da violncia de gnero e no apenas da violncia domstica e familiar.
Vnia Pasinato Izumino e Ceclia MacDowell Santos (2008, p. 29) realizaram pesquisa dentro
do projeto denominado Acesso justia para mulheres em situao de violncia: Estudo
comparativo das Delegacias da Mulher na Amrica Latina (Brasil, Equador, Nicargua,
Peru) e concluram que a Lei Maria da Penha ampliou a participao policial no combate
violncia contra as mulheres, motivo pelo qual, demanda novos conhecimentos e nova
estrutura.
Dentre os servios interlocutores das delegacias da mulher, os principais so os que integram
o Sistema de Justia Criminal como o Instituto Mdico Legal e o Judicirio (Juizados
Especiais criminais, as Varas Criminais, as Varas da Violncia Contra a Mulher e/ou os
Juizados Especiais para a Violncia Domstica e Familiar Contra a Mulher). Ainda, segundo
as autoras, no existe um modelo nacional, unificado de informao sobre registros policiais e
h diferentes modelos de delegacias da mulher.
muito possvel que esteja havendo certo equvoco por parte da autoridade policial que
atende nas DEAMs/BA, sabe-se de caso em que a mulher no foi atendida nessa unidade
especfica porque no se tratava de violncia no mbito das relaes familiares. A mulher
pode ser vtima de violncia pelo simples fato de ser mulher e procurar a DEAM por se sentir
mais protegida, uma questo de gnero. Aqui, a necessidade de qualificao em questes de
gnero. Percebe-se que, na cidade de Salvador, as Delegacias da Mulher ainda no esto
devidamente estruturadas, apesar de a primeira ter sido inaugurada em 1986. Contam com
recursos insuficientes, tanto materiais quanto de pessoal e, apesar da boa vontade de alguns
(as) em contrapartida, esbarra-se no despreparo e falta de qualificao. Isto prejudica o
enfrentamento da violncia e a prpria finalidade da poltica pblica. Numa situao ideal
seria o caso de todas as delegacias se empenharem efetivamente em priorizarem os servios
policias como, no caso de violncia domstica e familiar, desde a iminncia do fato, adotar as
84
providncias cabveis, proceder ao registro das ocorrncias e adotar os procedimentos
necessrios imediatamente, como previstos na Lei Maria da Penha.
Muito comum nas Delegacias de Mulheres, Marilena Chau (2004, p.37) alerta para as
violncias que as prprias mulheres exercem umas sobre as outras. Alm dos servios
acima, as DEAMs, se necessrio, encaminham as vtimas para a casa abrigo quando correrem
risco de morrer.
As casas abrigos resultam do Programa Nacional de Preveno e Combate Violncia
Domstica e Sexual Mulher (1997). Em 1998, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
(CNDM) assinou convnio com nove municpios brasileiros para a construo de Casas
Abrigo para mulheres em situao de violncia, com financiamento do Ministrio da Justia.
Sobre a segurana, exigida a presena de vigilncia de 24 horas, provida pelo Municpio ou
Estado; as informaes so prestadas pelos Centros de Referncia, Delegacias da Mulher,
Defensorias Pblicas, Servios de Sade, Promotorias, Conselhos Tutelares, Conselhos
Municipais da Criana e do Adolescente, Coordenadoria da Mulher ou Secretaria da Mulher e
outras organizaes da sociedade civil comprometidas com a questo da mulher e seus
direitos humanos.
Como se v, existe um custo social enorme no que se refere violncia de gnero e
domstica. De acordo com Virgnia Falco (2008, p.59) so utilizados recursos financeiros
aprovados pelo Oramento da Unio atravs de convnios celebrados entre o Ministrio da
Justia/Estados/Municpios. Ressalta as previses para abrigamento contidas no Termo de
Referncia para o funcionamento, atualizado em janeiro de 2006, que so:
atendimento integral e interdisciplinar nas reas psicolgica, social e jurdica;
construo de redes de parceria atravs da articulao dos servios, tais como:
Delegacias Especializadas no Atendimento Mulher, Conselhos de Direitos da
Mulher, Centros de Atendimento Mulher, Rede de Sade, Hospitais, Conselhos
Tutelares, Defensoria Pblica, Agncias de Emprego, Polcia Militar e rede social,
dentre outros. Insero social das mulheres e o seu acesso a programas de sade
profissionalizao, emprego e renda, dentre outros;
ambiente propcio para que as mulheres possam resgatar sua auto-estima e auto-
imagem;
suporte propcio para a reflexo sobre a importncia e o exerccio da autonomia e do
fortalecimento da conscincia das mulheres;
85
meios para que a violncia possa ser compreendida como um fenmeno relacional,
inserida em relaes de poder desigual entre homens e mulheres, e no respeita raa,
classe, etnia ou gerao;
suporte em nvel de informaes, instruindo as mulheres para reconhecerem seus
direitos como cidads e os meios para efetiv-los;
meios para o fortalecimento do vnculo me/filhos menores, favorecendo modos de
convivncia no-violentos;
meios para o fortalecimento do vnculo me/filhos menores, favorecendo modos de
convivncia no-violentos.
Em Salvador, a Casa Abrigo Mulher Cidad, hoje em dia, opera atravs de um convnio entre
o Ministrio da Justia/Estados/Municpios e o Governo Federal (FALCO, 2008). Trata-se
de local seguro que oferece abrigo protegido e atendimento integral s mulheres em situao
de risco de vida iminente em razo violncia domstica. O servio de carter temporrio e
essencialmente sigiloso. Essa a condio para seu funcionamento.
97
A Defensoria Pblica do Estado da Bahia um rgo vinculado Secretaria de Justia e
Direitos Humanos e que presta assistncia jurdica gratuita populao. Est presente na 1
Vara da Violncia Contra a Mulher da Bahia. representada por um Defensor que atende as
vtimas e outro que atende aos rus. Os atendimentos so realizados em salas e dias distintos.
O Ministrio Pblico tambm possui uma sala do Promotor de Justia e tem um estagirio.
Sua funo precpua defender os direitos e garantias fundamentais da mulher e da famlia.
A 1 Vara da Violncia Domstica e Familiar Contra a Mulher vinculada ao Tribunal de
Justia do Estado da Bahia, foi criada em complementao Lei Maria da Penha,
especificamente, para processar e julgar casos de violncia domstica e familiar contra a
mulher. Situa-se na Rua Conselheiro Spnola, n77, Barris. Apesar de o bairro estar localizado
na regio central da cidade, no conta com acesso adequado devido inexistncia de qualquer
transporte pblico at o local e as reas para estacionamento de veculos, ao longo da rua, so
limitadas. Inclusive os prprios funcionrios da Vara, que possuem carro, encontram
dificuldade em estacion-los. A inaugurao se deu em novembro de 2008. Antes, os
processos de violncia domstica e familiar contra a mulher eram processados e julgados
pelas Varas Criminais da capital. Com a entrada em funcionamento da 1 Vara da Violncia
97
Ver OLIVEIRA, Anna Paula Garcia. Dissertao de Mestrado, UCSAL/2005. Quem cala consente?
Violncia dentro de casa a partir da perspectiva de gnero, famlia e polticas pblicas.
86
Domstica e Familiar Contra a Mulher houve a transferncia desses processos. Comporta uma
equipe multidisciplinar, alm de a Juza titular. A equipe psicossocial composta por cinco
assistentes sociais e quatro psiclogas. Sua atuao consiste no atendimento e
acompanhamento psicossocial s mulheres e aos seus familiares e acompanhamento de
cumprimento de medidas protetivas.
A Vara funciona com trs oficiais de justia que executam todos os mandados judiciais. O
cartrio da Vara atualmente conta com seis funcionrios, cinco escreventes, um escrivo e
chefe de cartrio e um estagirio.
Observa-se a grande quantidade de processos para serem juntados, protocolados,
despachados, arquivados em armrios enfim, que aguardam a realizao dos atos necessrios
para a soluo do litgio. Como exemplo de aes institucionais promovidas pela Vara,
Defensoria Pblica e Ministrio Pblico, ressalta-se a parceria com o Sistema Nacional de
Emprego Bahia (SINEBAHIA) em cursos de qualificao e capacitao em informtica,
tcnica de redao, telemarketing e qualidade no atendimento, para mulheres que possuam o
ensino mdio, com durao de uma semana. E a parceria com a SETRAS na capacitao e
qualificao profissional para aquelas que possuam, ao menos, a segunda srie do ensino
bsico.
A Vara da Violncia tambm promove encaminhamentos, quando necessrio, para os demais
rgos da Rede de Ateno como para o CRLV. J, outra instituio fundamental na
promoo de efetividade e preveno da violncia o Ministrio Pblico da Bahia, rgo
vinculado Procuradoria Geral de Justia, que presta atendimento populao na defesa da
cidadania, combate ao racismo, proteo queles que se encontrem em situao de
vulnerabilidade como deficientes, idosos, crianas, adolescentes. Atravs do Grupo de
Atuao Especial em Defesa da Mulher (GEDEM) presta atendimento s vtimas de
violncias.
O Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA) uma maternidade da Secretaria da Sade do
Estado da Bahia cuja equipe formada por mdicos ginecologistas, obstetras, pediatras e
anestesistas, ainda por assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, farmacutico,
sanitaristas e auxiliares de enfermagem. Presta servios de assistncia social sade
reprodutiva e profilaxia das DSTs/AIDS, contracepo de emergncia e interrupo da
87
gravidez conforme o artigo 128
98
do Cdigo Penal brasileiro, mulher vitimizada
sexualmente.
O VIVER um servio de ateno a pessoas em situao de violncia sexual. Consiste numa
unidade ligada Secretaria de Segurana Pblica do Estado, instalado no Instituto Mdico
Legal Nina Rodrigues (IML), promove o atendimento especializado mdico e psicossocial,
objetivando reduzir os efeitos da agresso decorrente da violncia sexual. Atende e
acompanha as vtimas e suas famlias.
Todos esses rgos constituem por si s polticas pblicas de preveno e ateno s mulheres
vitimizadas pela violncia tanto de gnero quanto domstica e familiar e fazem parte da Rede
de Ateno e assistncia em Salvador, Bahia que caracteriza a poltica pblica do Estado.
A maioria das usurias do CRLV utiliza ou utilizou algum deles. Como veremos no captulo a
seguir que trata do estudo do CRLV.
98
Art. 128 - No se pune o Aborto praticado por mdico:
Aborto Necessrio
I - se no h outro meio de salvar a vida da gestante;
Exerccio Regular Do Direito
Aborto no Caso de Gravidez Resultante de Estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o Aborto precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de
seu representante legal.
88
CAPTULO III
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS: O ESTUDO DO CRLV
Poder-se-ia dizer que a histria da mulher na sociedade
a histria da invisibilidade visvel. Ou da visibilidade
do invisvel.
Loreta Valadares
3.1- A (In) Visibilidade Feminina e o CRLV
Entende-se que a visibilidade consiste naquilo que podemos ver ou que tomamos
conhecimento. Por outro lado, a invisibilidade se traduz no atributo de quem vive e age sem
ser visto ou percebido pelos outros.
Ao propor uma maneira de visibilizar a invisibilidade feminina, Loreta Valadares (2004, p.64
e 65) sugeriu, por exemplo, que se todas as mulheres fizessem uma greve geral paralisariam
o mundo visto que representam 51% da populao. Acrescenta que a questo histrica, tem
razes profundas e permanece estrutural e culturalmente quase inalterada.
No podem mais ser escondidas as violncias e as discriminaes contra as mulheres
denunciadas pelo movimento feminista e movimento de mulheres, instituies de ensino
superior, academia, organizaes governamentais e no-governamentais, alm da prpria
sociedade sem observar as conquistas nos documentos internacionais e nacionais. Toda uma
agenda e aes no podem ser menosprezadas visto que constituem compromissos assumidos
pelo poder pblico.
Refletindo sobre a distino entre a esfera pblica e a privada encontramos em Hannah
Arendt valiosa explicao para o fenmeno da invisibilidade das violncias sofridas pelas
mulheres no ambiente domstico e familiar.
Embora a distino entre o privado e o pblico coincida com a oposio entre a
necessidade e a liberdade, entre a futilidade e a realizao e, finalmente, entre a
vergonha e a honra, no de forma alguma verdadeiro que somente o necessrio, o
ftil e o vergonhoso tenham o seu lugar adequado na esfera privada. O significado
mais elementar das duas esferas indica que h coisas que devem ser ocultadas e
outras que necessitam ser expostas em pblico para que possam adquirir alguma
forma de existncia. (ARENDT, 2007, p.83-84)
89
Tambm vale recuperar o debate levantado por Marilena Chau (2009) e Eva Blay (2009),
assinalados no Captulo I desta dissertao onde alertam que a manifestao desigual de poder
consiste em violao da dignidade humana.
Este captulo trata dos aspectos visveis das violncias invisveis que ocorreram nas vidas das
usurias do CRLV no perodo de sua inaugurao em 25 de novembro de 2005 at dezembro
de 2008.
Como poltica de ateno e preveno s mulheres em Salvador, o Centro de Referncia
Loreta Valadares
99
(CRLV), est localizado na Rua Aristides Novis, n 44 no bairro da
Federao em Salvador, Bahia. Consiste em um servio pblico e gratuito, resultado da
parceria entre os Governos Federal (SPM-PR), Estadual (SETRAS) e Municipal (SPM) e,
ainda, do Programa de Estudos em Gnero e Sade (MUSA) do Instituto de Sade Coletiva
(UFBA). Suas atividades baseiam, primordialmente, na preveno e atendimento social,
psicolgico e jurdico s mulheres que sofrem violncia pelo simples fato de serem mulheres.
O acolhimento sem discriminao, julgamentos e absoluto respeito so os princpios
norteadores do trabalho da equipe do CRLV, atendendo a uma agenda de Direitos Humanos e
aes afirmativas especficas
100
. Para aquelas que chegam acompanhadas dos filhos, existe
atendimento pedaggico que se encarrega dos mesmos enquanto so atendidas.
101
Fazem parte na composio atual e bsica da equipe tcnica duas psiclogas, cinco assistentes
sociais, uma tele-orientadora, uma advogada e uma estagiria de assistncia social. A equipe
administrativa, atualmente, composta por uma gerente, um chefe de setor administrativo, um
motorista, duas auxiliares de servios gerais, trs auxiliares administrativas e quatro
vigilantes, segundo informao do prprio rgo.
As usurias podem chegar diretamente para o atendimento ou tm a opo de agend-lo. Se
preferirem, utilizam o tele-atendimento.
Alm do atendimento social, psicolgico e/ou jurdico, o CRLV promove palestras e oficinas
sobre gnero e violncia em escolas, grupos, associaes etc., necessitando, apenas que haja
99
A nomeao foi uma homenagem advogada, feminista e ativista Loreta Valadares. Ver nota de rodap 01.
100
Medidas especiais com a finalidade de corrigir o lastro discriminatrio passado, vivenciado por grupos
vulnerveis, como as mulheres, entre outros.
101
Um dado interessante o fato de um deles ser homem porque a equipe julga importante o contato amigvel e
ldico das crianas com a figura masculina, afinal nem todos os homens so agressores. Esse o esprito.
90
requisio e agendamento prvios. O trabalho de ateno tambm desenvolvido com a
finalidade de preveno violncia sexista em Salvador.
Para a definio do perfil das usurias foi utilizado o modelo de registro do prprio Centro de
Referncia de onde foram extradas as informaes relativas idade, cor/raa, escolaridade,
situao conjugal, componente familiar e econmico alm daqueles com relao violncia
em suas inmeras manifestaes. Foram pesquisados 411 perfis, contudo como os itens no
esto uniformemente e/ou totalmente preenchidos, alguns dados foram registrados e melhores
informados que outros (ver anexos I e II)
Procurou-se saber sobre a rede de solidariedade, o histrico de relacionamentos e o
conhecimento e uso dos outros servios da rede de ateno oferecidos s mulheres. Quando
possvel examina-se os dados do agressor, fornecidos pelas prprias usurias
102
. No mbito
institucional responde-se questo sobre a eficcia do Estado em relao ateno e proteo
daquelas mulheres que procuraram e se beneficiaram dos servios de ateno especializada. A
seguir ser apresentado o mapeamento realizado no CRLV.
3.2- Dados que (in) visibilizam a violncia
O incio do funcionamento foi uma fase de ensaio e experincias. No havia modelos ou
rgos semelhantes. Talvez decorrente deste fato no houve nfase no preenchimento total
dos perfis por parte das atendentes, mas o socorro s vtimas sim. Mas, ainda assim, foi
possvel conhecer e analisar obtendo razovel certeza dos dados relativos e parciais
violncia contra as mulheres usurias do CRLV. Desta forma a prpria inconstncia e a
incompletude das informaes indicam a invisibilidade em que estavam mergulhadas as
mulheres vtimas. Sendo ou no por opo poderiam ser chamados de (in) visveis.
Com relao idade verificou-se que no perodo foram atendidas mulheres a partir de 11 anos
at maiores de 60 anos.
O pai biolgico o adulto masculino no qual a criana (menor de 18 anos) mais
confia. Este fato responde pela magnitude e pela profundidade do trauma [...] a
menina pobre, sozinha em casa. [...] no tem a quem apelar. Se no havia
escapatria, ela , indubitavelmente, vtima e como tal se concebe e define
(SAFFIOTI, 2004. p.20 a 22).
Acrescenta-se citao, que assim como o pai, o padrasto, o namorado da me, enfim aqueles
que se encontram nessa posio so os mais identificados com essas violncias. Quanto s
102
Posteriormente pode-se realizar pesquisa de carter qualitativo e em profundidade.
91
mulheres de maior idade verifica-se que sofreram violncia principalmente de seus
companheiros alm dos filhos e parentes.
Grfico 1- Idade
1. Idade
1 2
13
12
28
23
33
39
34
33
23 23
18
10
9
6
3
2 2
0
3
10
13
20
23
30
33
40
43
11 a
14
14 a
17
17 a
20
20 a
23
23 a
26
26 a
29
29 a
32
32 a
33
33 a
38
38 a
41
41 a
44
44 a
47
47 a
30
30 a
33
33 a
36
36 a
39
39 a
62
62 a
66
66 a
69
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
O atendimento de meninas a partir de onze anos de idade se deve ao sujeito protegido pela Lei
Maria da Penha ser a mulher, no importando se ainda criana, neste caso, incidindo a
legislao concorrente do Estatuto da Criana e do Adolescente
103
. Percebe-se que a maior
quantidade de mulheres sofrendo violncia se encontra na fase reprodutiva e de maior
insero no mercado de trabalho (26 a 50 anos). Isto significativo comprovando os estudos
de Dowbor (2008) que apontam que a vitimizao ocorre na fase economicamente mais
produtiva da vida, afetando diretamente no s as relaes familiares, mas tambm sociais.
Soma-se a informao do grfico, atravs dos perfis, que muitas dessas mulheres sofrem
violncia dos companheiros de longa durao.
Pode-se afirmar que a violncia domstica e familiar contra a mulher ocorre em qualquer
idade, concentrando-se, porm na idade reprodutiva. Entre as mais jovens e idosas poder-se-
entender como resultado da impotncia frente cultura o que nem sempre ocorre com as
demais, da a concentrao nestas faixas, ou seja, a visibilidade. Este fato confirma que a
violncia se expressa atravs do poder nas estruturas familiares, compreendida como a
educao ou sujeio imposta por avs, pais, tios, primos e agregados, de onde parte a
aceitao e reproduo de um modelo de educao e cultura que confirma a expresso da
cultura patriarcal (BLAY, 2003) ou dominao masculina (BOURDIEU, 2009) no centro da
103
Em Salvador existem servios especializados de ateno s crianas e adolescentes. Ver notas de rodap 86,
87, 91, 94 e 96.
92
economia das trocas simblicas. Para o autor o princpio da perpetuao da dominao reside
nas instituies como a igreja, a escola e a famlia:
, sem dvida, famlia que cabe o papel na reproduo da dominao e da viso
masculinas, na famlia que se impe a experincia precoce da diviso sexual do
trabalho e da representao legtima dessa diviso, garantida pelo direito e inscrita
pela linguagem (BOURDIEU, 2009, p.103).
Portanto, o que pode modificar o destino da mulher, na maioria das vezes, a cultura
(BUTTLER, 2003), ou seja, a maneira como ela foi criada e educada.
A violncia contra o idoso se apresentou entre as usurias, igualmente incidindo a legislao
complementar Lei Maria da Penha que o Estatuto do Idoso para aquelas com sessenta anos
ou mais. Em alguns casos, o poder familiar expresso nas violncias dos filhos contra os pais
ou entre os irmos, confirmando o acerto da legislao que especifica este tipo de violncia
como objeto de proteo.
A quantidade de mulheres com mais de 50 anos que se aproximou do servio significativa
(34 de 288). O questionamento de que estejam sofrendo h muito uma das invisibilidades:
interface gnero e gerao. Tanto as mais jovens, trs abaixo dos 18 anos e trinta e quatro
acima dos 50 anos, revelam que a violncia nas relaes mais duradouras apresenta
indicadores que merecem ateno e elaborao de boa coleta de dados. J as mais jovens, tudo
indica serem fruto de uma cultura, onde o enfrentamento da violncia se faz presente, apesar
da permanncia da excluso social, econmica e principalmente da cultura familiar dos
silncios, entre outras.
Os silncios que rodeiam o tema requerem ateno, por estarem cerceados de
conspirao, ignorncia ou familiaridade, combinando mltiplos fatores e facetas
que encobrem o cotidiano velado dentro da vida familiar (CAVALCANTI, 2008, p.
95).
As categorias cor/raa envolvem elementos de atribuio de identidade e de percepo,
motivo pelo qual foi utilizada a auto declarao que informa a maneira pela qual a usuria se
define, embora o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) classifique como:
branca, amarela, preta, parda e indgena e adote como a nomenclatura oficial do pas.
Encontramos, entretanto, outros mltiplos tipos de classificao. 37,17% se declararam
negras, 26,70% pardas, 18,85% brancas e 5,76% pretas. relevante assinalar, embora no
seja objeto deste trabalho, que 11,52% no souberam responder ou identificar a que cor/raa
pertencem.
93
O somatrio das que se auto-determinaram como negra parda e preta (69%) menor que a
populao negra (pelo critrio IBGE a soma dos Pretos e Pardos) estabelecida pelo IBGE
para Salvador (82%). Mesmo somando-se o percentual que no se identificou, o nmero
menor ou no mximo igual ao do IBGE, o que demonstra no se tratar de uma questo de
cor/raa, pois a maior parte da populao do Estado formada por afrodescendentes. A
vitimizao feminina ocorre independentemente da raa/cor.
Grfico 2- Cor/Raa
2.Cor]kaa
36
71
11
2
S1
1
19
0
3
10
13
20
23
30
33
40
43
30
33
60
63
70
73
3
.
8
r
a
n
c
a
4
.
n
e
g
r
a
3
.
r
e
t
a
6
.
l
n
d
l
g
e
n
a
7
.
a
r
d
a
8
.
A
m
a
r
e
l
a
9
.
C
u
t
r
o
s
1
0
.
8
e
c
u
s
o
u
a
r
e
s
p
o
n
d
e
r
1
1
.
n
o
s
a
b
e
numero de mulheres vltlmlzadas
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Com relao escolaridade foram apurados os seguintes dados:
Grfico 3- Escolaridade
12. Lsco|ar|dade
S 1 4
14
47
S0
23
10
24
3
0
3
10
13
20
23
30
33
40
43
30
1
3
.
n
u
n
c
a
e
s
t
u
d
o
u
e
n
o
s
a
b
e
l
e
r
.
.
1
4
.
S
a
b
e
a
s
s
l
n
a
r
o
n
o
m
e
1
3
.
A
l
l
a
b
e
t
l
z
a
d
a
(
s
a
b
e
l
e
r
e
e
s
c
r
e
v
e
r
)
1
6
.
L
n
s
l
n
o
l
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
c
o
m
p
l
e
t
o
1
7
.
L
n
s
l
n
o
l
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
n
c
o
m
p
l
e
t
o
1
8
.
S
e
g
u
n
d
o
g
r
a
u
c
o
m
p
l
e
t
o
1
9
.
S
e
g
u
n
d
o
g
r
a
u
l
n
c
o
m
p
l
e
t
o
2
0
.
S
u
p
e
r
l
o
r
c
o
m
p
l
e
t
o
2
1
.
S
u
p
e
r
l
o
r
l
n
c
o
m
p
l
e
t
o
2
2
.
s
-
g
r
a
d
u
a
d
o
numero de mul heres vl tl ml zadas
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Verificou-se que 3,31% no eram alfabetizadas; 7,73% tinham ensino bsico completo e
25,97% incompleto; 27,62% tinham ensino mdio completo e 12,71% incompleto; 5,52%
94
ensino superior completo e 13,36% incompleto; tendo 1,66% nvel de ps-graduao. Estes
porcentuais no se diferenciam muito do existente na populao (as diferenas no so
significativas para ensejar alguma explicao). Pode-se dizer que embora a maioria seja
escolarizada, esta educao formal no impediu uma sobrevivncia sem violncia domstica.
A educao no Brasil, segundo o recente Relatrio da ONU sobre o ndice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de 2010, continua sendo um fator limitador do
desenvolvimento. Isto revela que no se est cumprindo a determinao da Declarao de
Pequim art.21 (ONU), 1995.
Promover um desenvolvimento sustentado centrado na pessoa, incluindo o
crescimento econmico sustentado atravs da educao bsica, educao durante
toda a vida, alfabetizao e capacitao e ateno primria sade das meninas e
das mulheres
O acesso educao e informao, embora seja um direito garantido na Declarao dos
Direitos Humanos e nas Convenes realizadas pela ONU e pela OEA e assinadas pelo Brasil,
dever do Estado brasileiro (CF art.6)
104
porm, no est formando pessoas preparadas para
lidar com as questes da violncia contra a mulher.
Chama a ateno que grande nmero de vtimas da violncia, usurias, escolarizada.
Contudo, como no se educa sem discriminao e sem violncia, o avano em busca da
igualdade de condies entre homens e mulheres, um dos objetivos do milnio (Conveno de
Pequim, 1995), ainda est longe de ser alcanado. Isso indica que a necessidade de maior
promoo educativa e informacional deve compor agendas e aes de servios como do
CRLV.
Resguardar os direitos bsicos da mulher deve ser ensinado a partir da escola
elementar, sem conter o discurso discriminatrio e patriarcal que leva meninas a
verem seu lugar de forma diferente daquelas pregadas inclusive pelas prprias
polticas pblicas. (WEBER & GOMES, 2009, p 07).
A deficincia da educao escolar em todos os nveis em relao violncia contra a mulher
comprovada pelas declaraes de vrias usurias ao afirmarem que gostariam de freqentar
cursos profissionalizantes, de extenso ou at mesmo de capacitao profissional como os
promovidos pela Vara da Violncia, pelas Voluntrias Sociais, entre outros. A busca pela
igualdade de direitos e melhores condies de vida passa pela satisfao de necessidades
104
So Direitos Sociais a educao, a sade, a alimentao, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurana, a
previdncia social, a proteo maternidade e infncia, a assistncia aos desamparados.
95
bsicas, entre elas, a educao bsica de qualidade para que se possa enfrentar as dificuldades
e as transformaes ao longo da vida.
Umas das caractersticas da sociedade contempornea so as dinmicas familiares diversas e
distintas. Aps a Constituio de 1988, a famlia assumiu diferentes feies. Embora o
casamento continue sendo uma forma solene de constituir famlia h outros modelos
familiares que igualmente merecem proteo Estatal como as unies estveis (art. 226 3)
105
, as famlias monoparentais e, inclusive, as famlias homoafetivas.
A Lei Maria da Penha abriga estas novas formas, ampliando o conceito de famlia
regulamentada pelo Direito. As relaes, sejam verticais ou horizontais, so norteadas pelo
Princpio do Afeto
106
. Face ao carter plural a anlise do estado civil ou da situao conjugal
relevante para que se possa identificar a possvel conjuntura em que se instalou a violncia.
Grfico 4- Estado civil/Situao conjugal
23.Lstado C|v||]S|tuao Con[uga|
S6
107
39
S
0
3
10
13
20
23
30
33
40
43
30
33
60
63
70
73
80
83
90
93
100
103
110
2
4
.
S
o
l
t
e
l
r
a
2
3
.
C
a
s
a
d
a
/
c
o
m
c
o
m
p
a
n
h
e
l
r
o
(
a
)
e
m
c
a
s
a
2
6
.
S
e
p
a
r
a
d
a
/
d
e
s
q
u
l
t
a
d
a
/
d
l
v
o
r
c
l
a
d
a
2
7
.
v
l
u
v
a
numero de mul heres vl tl ml zadas
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
105
CF. Art. 226. A famlia, base da sociedade, tem especial proteo do Estado.
3- Para efeito da proteo do Estado, reconhecida a unio estvel entre o homem e a mulher como entidade
familiar, devendo a lei facilitar sua converso em casamento.
106
Ver artigo de BARROS, Srgio Resende de. O direito ao afeto. Disponvel em
<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=50> acesso em 05 de Nov. de 2010.
96
A situao conjugal revelou que 27% das usurias so solteiras; 52% so casadas ou vivem
com companheiros em casa; 19% so separadas/divorciadas e 2% so vivas.
Preocupa a violncia na fase do namoro, pois, teoricamente, seria uma poca de construo da
relao, de estabelecimento de vnculos. Este dado revela que a violncia vem para a relao a
partir de uma cultura naturalizada a tal ponto que aceita desde o inicio do relacionamento. A
pesquisa lana dvida sobre como foi construda a relao para a maioria das usurias
solteiras. Pode-se questionar que nem sempre ocorreu uma fase de namoro anterior
convivncia, podendo, esta (convivncia) ter se estabelecido antes de construrem projetos de
vida em comum ou projeto de futuro, caracterizando relacionamentos temporrios.
No prximo grfico pode-se observar que o tempo de convivncia entre namoro e unio
indica que a maior parte (60%) possui vnculo estabelecido embora seja significante aquelas
que esto em fase inicial do relacionamento (20%) e aqueles de longa durao (20%),
coerente com a maior incidncia que na idade frtil e mais produtiva das mulheres
(DOWBOR, 2008) e confirmando que a violncia pode ocorrer em todas as fases do
relacionamento. Essas assertivas comprovam que a famlia se modificou sob os princpios do
patriarcado (SAFFIOTI, 2004) na hierarquia entre homem/mulher, onde o fundamento no
mais se d na autoridade do homem, mas sim na complexidade hierrquica entre o homem e a
mulher.
O fato de o homem ser identificado com a figura da autoridade, no entanto, no
significa que a mulher seja privada da autoridade. Existe uma diviso
complementar de autoridades entre homem e mulher na famlia que corresponde
diferenciao entre casa e famlia. A casa identificada com a mulher e a famlia
com o homem. Casa e famlia, como mulher e homem, constituem um par
complementar, mas hierrquico. A famlia corresponde a casa; a casa est, portanto,
contida na famlia (SARTI, 2005, p.63).
Grfico 5- Se casada/ com companheiro em casa; tempo de convivncia
28. Se casada]com companhe|ro em casa: 1empo de
conv|vnc|a
4
14 14
28
30
23
14
10
0
3
10
13
20
23
30
33
Menos de 01
ano
ue 01 a 03
anos
ue 03 a 03
anos
ue 03 a 10
anos
ue 10 a 13
anos
ue 13 a 20
anos
ue 20 a 30
anos
Mal s de 20
anos
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
97
Nos relatos das usurias do CRLV constam que, para a maioria, no incio do relacionamento
em geral no havia agresses, mas depois de certo tempo ou de algum evento marcante, como
perda do emprego pelo companheiro ou, at mesmo, quando a mulher passou a trabalhar
fora, comeam por agresses verbais e evoluem at as fsicas sem excluir os demais tipos de
violncias (moral, psicolgica, sexual, entre outras). Este dado confirma que o estresse a as
frustraes podem ser desencadeadores da violncia (BERKOWITZ, 1993).
Outro fato evidenciado a mulher inserida no ciclo da violncia que pode se instalar nas
relaes prolongadas, difceis de romper (PANDJIARJIAN, 2006). Isto significa que pode
haver uma repetio sucessiva de episdios de violncia que se caracterizam por fases ou
ciclos de tenso e de reconciliao que podem levar a situaes limites at a femicdios
107
.
Geralmente, quando cometido por parceiros ocorre sem premeditao em oposio ao
homicdio onde pode h planejamento.
A mulher vivencia o medo, a esperana e o afeto. Medo da violncia, esperana que a situao
se reverta e o agressor se arrependa e embora sofrendo, muitas acreditam que o afeto que as
uniu ainda pode retornar e ocupar seu lugar no relacionamento. Esto sempre dispostas a um
recomeo. E assim, depois de algum tempo, tambm recomeam as agresses, perfazendo um
ciclo.
Grfico 6- Tipos de violncia- 2005 a 2008
1|po de V|o|nc|a - Soma de todos os anos
281
49
104
277
70
0
10
20
30
40
30
60
70
80
90
100
110
120
130
140
130
160
170
180
190
200
210
220
230
240
230
260
270
280
llsl ca atrl monl al Moral sl col gl ca Sexual
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
107
Femicdio significa morte de mulheres em razo do sexo. Ver SAFFIOTI. Gnero, patriarcado e violncia,
2004, p.73.
98
O Grfico 6 confirma que violncia fsica e psicolgica so interdependentes atravs da
semelhana entre nmero de ocorrncias. importante salientar que, mesmo sem a percepo
da vtima, sempre que ocorreu a agresso fsica implicou na agresso psicolgica. A violncia
fsica, definida na Lei Maria da Penha (art.7, I)
108
a ofensa integridade e sade corporal e
a violncia psicolgica (art.7, II)
109
consiste na conduta que causa qualquer dano emocional,
ou seja, prejuzo sade psicolgica e autodeterminao. Os episdios de violncia
caracterizam as relaes desiguais do poder entre os sexos e as assimetrias na famlia tambm.
Tambm sempre vi na dominao masculina, e no modo como imposta e
vivenciada, o exemplo por excelncia desta submisso paradoxal, resultante daquilo
que eu chamo de violncia simblica, violncia suave, insensvel, invisvel a suas
prprias vtimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simblicas da
comunicao e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do
reconhecimento ou, em ltima instncia, do sentimento (BOURDIEU, 2009, p, 7 e
8).
Pode-se identific-la nos relatos das usurias sobre as situaes de tenso, silncios
prolongados, agresses verbais e manipulaes. Tais fatos evidentemente produzem
conseqncias na sade individual, familiar e coletiva. Alm da violao da integridade fsica
e psquica, ocorre a violao da dignidade humana (CHAU, 2009).
O Princpio da Dignidade Humana nasceu para a proteo do ser humano, ensejou pactos e
tratados internacionais, amplamente apresentados neste trabalho e tornou-se a base de todos
os direitos constitucionais. uma garantia fundamental que estabelece nova forma de pensar
as pessoas.
A histria, progressivamente, foi demonstrando que os seres humanos, no obstante
as profundas diferenas biolgicas e culturais que os distinguem entre si, so
merecedores de idntico respeito, como nicos seres no mundo capazes de amar,
descobrir a verdade e criar a beleza (CUNHA JNIOR, 2009, p. 553).
A Declarao de Viena (ONU, 1993), a Conveno de Belm do Par (OEA, 1994)
reconheceram a violncia sexual como violncia contra a mulher. J a Lei Maria da Penha
(art.7, III)
110
ao definir a violncia sexual, alm dos delitos contra os costumes acrescentou
108
Art. 7
o
So formas de violncia domstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I-a violncia fsica, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou sade corporal;
109
II- a violncia psicolgica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuio da
auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
aes, comportamentos, crenas e decises, mediante ameaa, constrangimento, humilhao, manipulao,
isolamento, vigilncia constante, perseguio contumaz, insulto, chantagem, ridicularizao, explorao e
limitao do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuzo sade psicolgica e
autodeterminao
110
III- a violncia sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relao sexual no desejada, mediante intimidao, ameaa, coao ou uso da fora; que a induza a
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impea de usar qualquer mtodo
99
que qualquer maneira que force a mulher a contrair matrimnio tambm constitui violncia
sexual (ONU - Declarao Universal dos Direitos Humanos, art.XVI)
111
. Chama a ateno a
invisibilidade da violncia sexual que pode ser perpetrada, inclusive, pelo prprio parceiro,
como tambm a invisibilidade dos casos de abuso sexual como a pedofilia, entre outros,
traduzidos em silncios e segredos (CAVALCANTI, 2008).
A violncia patrimonial (art. 7, IV)
112
definida assim como os crimes do Cdigo Penal
contra o patrimnio, ou seja, o furto
113
, dano
114
, apropriao indbita
115
. Os tipos de violncia
patrimonial mais comumente ocorridos foram as inutilizaes de documentos de identidade,
de escrituras e certides de imveis e registro de nascimento dos filhos objetos de trabalho da
usuria alm da destruio parcial das residncias entre outros.
A violncia moral (art.7, V)
116
se manifesta atravs dos delitos contra a honra como nos
casos de calnia
117
, difamao
118
ou injria
119
. Assim, os xingamentos, as falsas atribuies e
as ofensas so violncias comumente relatadas no dia-a-dia do CRLV. Com freqncia, esse
tipo de violncia ocorre junto com a violncia psicolgica, pois atinge frontalmente a auto-
estima da pessoa.
Outro fato a ser observado no grfico anterior, o de nmero seis, que os nmeros dos casos
classificados de violncias somam 781 (setecentos e oitenta e um) em um total de
411(quatrocentos e onze) perfis analisados, permitindo inferir com razovel possibilidade de
acerto que as violncias moral, sexual e patrimonial esto inclusas nos casos de violncia
fsica e psicolgica, confirmando consistentemente o pressuposto terico da existncia de
violncias de diferentes tipos em cada um dos episdios em que ocorre. Pode-se afirmar:
existe sobreposio da violncia.
contraceptivo ou que a force ao matrimnio, gravidez, ao aborto ou prostituio, mediante coao,
chantagem, suborno ou manipulao; ou que limite ou anule o exerccio de seus direitos sexuais e reprodutivos;
111
Art. XVI: Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrio de raa, nacionalidade ou religio,
tm o direito de contrair matrimnio e fundar uma famlia. Gozam de iguais direitos em relao ao casamento,
sua durao e sua dissoluo
112
IV- a violncia patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure reteno, subtrao, destruio
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econmicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
113
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia mvel.
114
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.
115
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia mvel, de que tem a posse ou a deteno.
116
V- a violncia moral, entendida como qualquer conduta que configure calnia, difamao ou injria.
117
Art. 138 - Caluniar algum, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
118
Art. 139 - Difamar algum, imputando-lhe fato ofensivo sua reputao.
119
Art. 140 - Injuriar algum, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro
100
Grfico 7- Quantidade de filhos
32.uant|dade de I||hos
34
63
31
10
8
3
1 1 1
1 ll l ho 2 ll l hos 3 ll l hos 4 ll l hos 3 ll l hos 6 ll l hos 7 ll l hos 8 ll l hos 12
ll l hos
numero de mul heres vl tl ml zadas
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Embora alguns dos perfis no estivessem totalmente preenchidos
120
neste quesito, observa-se
que a maioria possui um filho ou dois filhos, respectivamente (31%) e (37%), configurando
que se pode afirmar como normal (68%) que as usurias sejam mes, cuidadoras e, em muitos
casos, chefes de famlia. Este fato revela e refora a importncia de se coibir a violncia
contra a mulher atravs de polticas pblicas adequadas, pois esto relacionadas com a
formao cultural e reproduo de aes (ESPINHEIRA, 2004), matriz da violncia em nossa
sociedade.
Grfico 8- O agressor o companheiro?
38. C agressor o companhe|ro?
146
78
0
10
20
30
40
30
60
70
80
90
100
110
120
130
140
130
39. Sl m 40.no
numero de mul heres
vl tl ml zadas
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
O componente familiar estudado demonstrou que em 65% dos casos o agressor o
companheiro, reforando os estudos de Maria Beatriz Nader (2006, p. 37) que assinala que o
espao domstico como um palco de tratamento grosseiro e rgido, de prticas humilhantes
e constrangedoras. Constatou-se que, na maioria das vezes, o agressor a pessoa que
120
Embora exista no formulrio a opo no para responder se possuam filhos, este quesito no foi assinalado
nos perfis.
101
convive com a vtima o que tambm pode ser observado no grfico seguinte quando o recorte
a relao com o agressor.
Grfico 9- Relao com o agressor
41.ke|ao com o agressor
2 1
6
23
3 3
7
26
0
3
10
13
20
23
30
4
2
.
n
a
m
o
r
a
d
o
4
3
.
M
a
r
l
d
o
/
C
o
m
p
a
n
h
e
l
r
o
4
4
.
L
x
-
n
a
m
o
r
a
d
o
4
3
.
L
x
-
m
a
r
l
d
o
/
e
x
-
c
o
m
p
a
n
h
e
l
r
o
4
6
.
a
l
4
7
.
l
r
m
o
4
8
.
v
l
z
l
n
h
o
4
9
.
C
u
t
r
o
s
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Importante salientar que no se confunde a luz da legislao brasileira unio estvel com
namoro, noivado etc. Contudo, a Lei Maria da Penha protege as relaes ntimas de afeto sem
distino e aqui cabe, eventualmente, at as relaes de trabalho como, em alguns casos, com
relao s empregadas domsticas
121
. H relatos de casos de violncia contra mulheres nesse
tipo de relao.
No CRLV, identificam-se agressores que alm de serem ligados por relaes de afeto, eram
tambm vizinhos e patres, em outros casos, eram desconhecidos. Dessa forma, encontramos
que 31% o ex-companheiro/ex-marido; 3% o namorado; 8% ex-namorado; 1% o marido;
7% o irmo; 9% o vizinho e 34% outros.
Sobre essa questo do relacionamento com o agressor confirmou-se a violncia de gnero
(SAFFIOTI, 2004) como expresso da cultura patriarcal (SCOTT, 1988 e BLAY, 2003),
presentes nas relaes de convvio e conjugalidade. grande o nmero de mulheres que
sofreram violncias dos ex parceiros, razo pela qual h o entendimento de que configura
violncia contra a mulher e enseja a aplicao da lei Maria da Penha (art.5, III)
122
s
121
O assdio sexual no trabalho encontra-se formalmente estampado no art. 2, II da Conveno Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia Contra a Mulher, inspiradora da Lei Maria da Penha.
122
Art. 5
o
Para os efeitos desta Lei, configura violncia domstica e familiar contra a mulher qualquer ao ou
omisso baseada no gnero que lhe cause morte, leso, sofrimento fsico, sexual ou psicolgico e dano moral ou
patrimonial:
102
agresses por ex-namorados ou ex-companheiros quando caracterizada a relao ntima de
afeto.
Enfatiza-se que a variao na instabilidade dos dados se refere ao fato das fichas no
estarem preenchidas por completo em todos os itens, o que no invalida o estudo como fonte
primria de informaes.
Grfico 10- Condio financeira
88.Cond|o I|nance|ra
30
48
33
0
3
10
13
20
23
30
33
40
43
30
33
89. vl ve s prprl as custas 90. arcl al mente dependente 91. 1otal mente dependente
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Sobre a condio financeira das usurias, apurou-se que 33% vivem s prprias custas; 31%
so parcialmente dependentes e 35% so totalmente dependentes. Isto significa que para esse
universo, a dependncia financeira individualmente no constitui fator desencadeador da
violncia, pois sofrem da mesma forma aquelas que vivem s prprias custas. Outro fato que
merece registro ocorre quando a usuria beneficiria do Bolsa Famlia
123
ou outra forma de
assistncia social, por exemplo, existem recorrentes relatos que vitimizada pelo
companheiro ao exigir o carto e senha com intuito de comprar bebidas alcolicas.
A maior parte do trabalho feminino em casa no valorado pelo fato de no trazer um ganho
monetrio por sua realizao. Essa situao acaba provocando problemas de auto-estima,
emocionais, entre outros.
III- em qualquer relao ntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitao.
Pargrafo nico. As relaes pessoais enunciadas neste artigo independem de orientao sexual.
123
Fato relatado verbalmente por usurias.
103
Grfico 11- Trabalha fora de casa?
79.1raba|ha Iora de Casa?
90
31
121
80. Sl m 83. no 1otal
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Pode-se concluir pelo acerto de polticas que buscam resgatar o papel da mulher no mbito
social atravs da valorizao de seu trabalho ou daquilo que ela possui e/ou ajudou a
construir. Isto contribui com a efetivao do esprito da Lei Maria da Penha. Constata-se que
para muitas usurias, no possuir renda prpria, muitas vezes, fator impeditivo para a
tomada de uma deciso necessria de rompimento no enfrentamento da violncia. Na medida
do possvel e quando solicitado, so encaminhadas para oficinas profissionalizantes ou de
atualizao promovidas pela prpria SPM ou outras entidades da rede ou da sociedade.
Grfico 12- Tempo de relao com o agressor
S0. 1empo de re|ao com o agressor
24
6
7
8
10
17
13
0
0
3
10
13
20
23
30
31.
Menos
de 01
ano
32. ue
03 a 10
anos
33. ue
20 a 30
anos
34. ue
01 a 03
anos
33.ue 03
a 03
anos
36. ue
10 a 13
anos
37. ue
13 a 20
anos
38.
Cutros
numero de mul heres vl tl ml zadas
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Quanto ao tempo de relao com o agressor verifica-se que a grande maioria convivia j h
algum tempo. Faz-se necessrio destacar com freqncia a idia de que os ciclos da violncia
predominante em relacionamentos prolongados esto e foram registrados. Isto demonstra que,
depois de algum tempo, houve o desgaste na relao conjugal, configurando tenses e
conflitos no cotidiano e na vivncia diria. Provocada por vrias causas, sendo relatado por
todas que o cime muito relevante. Outro aspecto identificado a possvel inconsistncia
104
entre o tempo de relao e a declarao do tipo de relacionamento, aps um perodo de 5 a 10
anos declara-se em muitos dos casos como namoro. No existem dados que permitam afirmar,
mas pode-se supor que a informalidade do relacionamento pode concorrer para a violncia,
uma vez que declaram como motivo o cime.
3.3- Dados do agressor:
Conforme visto anteriormente o agressor na maioria das vezes o companheiro, o ex
companheiro, namorado ex namorado, filho (a), vizinho, enfim a pessoa envolvida na relao
afetuosa. Constatou-se uma aproximao da idade do agressor com relao idade das
vtimas. Sendo que os dados indicam que, na pratica, um hbito que se inicia desde a
adolescncia, novamente confirmando que se trata de uma prtica social advinda da cultura ou
hbito de tratar mal as mulheres. Tambm lcito concluir que no existem aes preventivas
advindas da educao. A maioria deles, assim como as mulheres, est na faixa de 26 a 50
anos, em plena fase produtiva e, portanto social, o que indica a aceitao do comportamento
como normal.
Grfico 13- Idade do agressor
S9. Idade do Agressor
3 3
16
6
13
18
13
23
14
13
11
7
10
4
3 3
1 1 1
0
3
10
13
20
23
17 a
20
20 a
23
23 a
26
26 a
29
29 a
32
32 a
33
33 a
38
38 a
41
41 a
44
44 a
47
47 a
30
30 a
33
33 a
36
36 a
39
39 a
62
62 a
66
66 a
69
70 83 1otal
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Quanto cor e raa do agressor, observa-se inicialmente que este item referenciado pela
usuria, portanto, pode nem sempre ser absolutamente preciso e nem atende as especificaes
do trato da questo que so centradas na autodefinio. O que relevante no dado a
semelhana da percepo da cor/raa entre vtima e agressor pela vtima (62% de soma entre
pretas, pardas e negras de para as vtimas e 70% para os agressores na mesma soma), sem, no
entanto permitir afirmar que existem outras possibilidades de correlaes devido falta de
dados precisos ou detalhados.
105
Grfico 14- Cor/raa- agressor
60.Cor]kaa - Agressor
30
33
10
23
1
14
0
3
10
13
20
23
30
33
40
8ranca negra reta arda Amarela Cutros
Cuantldade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Quanto escolaridade do agressor, constatou-se que a maioria escolarizada, porm com um
nmero menor de anos de estudo em relao s usurias (vtimas), contudo no existem dados
suficientes nos perfis das usurias para concluir se este fato influencia ou influenciou a
relao do casal.
Mas, escolaridade no significa educao que tem a ver com conscincia, opinio etc. Alm
disso, h aquelas vtimas que admitem no importarem as diferenas culturais ou escolares,
pois se submetem pelo fato de terem por perto algum no papel de guardio da
respeitabilidade familiar ou provedor das necessidades de sobrevivncia. Isto comprova os
estudos de Cynthia Sarti: Para mandar tem que ter carter moral. Assim, o homem quando
bebe, perde a moral dentro de casa. No consegue mais dar ordens (2005, p.63):
Grfico 15- Escolaridade do agressor
61.Lsco|ar|dade - Agressor
3 4 3
7
33
31
9 9 9
1
0
3
10
13
20
23
30
33
6
2
. n
u
n
c
a
e
s
t
u
d
o
u
e
n
o
s
a
b
e
le
r
o
u
...
6
3
.S
a
b
e
a
s
s
ln
a
r
o
n
o
m
e
6
4
. A
ll
a
b
e
t
lz
a
d
a
(
s
a
b
e
le
r
e
e
s
c
r
e
v
e
r
)
6
3
. L
n
s
ln
o
l
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l c
o
m
p
le
t
o
6
6
. L
n
s
ln
o
l
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l ln
c
o
m
p
le
t
o
6
7
. S
e
g
u
n
d
o
g
r
a
u
c
o
m
p
le
t
o
6
8
. S
e
g
u
n
d
o
g
r
a
u
ln
c
o
m
p
le
t
o
6
9
. S
u
p
e
r
lo
r
c
o
m
p
le
t
o
7
0
. S
u
p
e
r
lo
r
ln
c
o
m
p
le
t
o
7
1
.
s
-
g
r
a
d
u
a
d
o
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
106
A maioria dos agressores possui trabalho, mesmo que seja na informalidade. Tal fator
demonstra que vinculao profissional e remunerao no so agravantes ou devem ser
destacados como fator gerador da violncia. Entretanto, os dados dos perfis indicam que
embora tenham trabalho ou renda no significa que contribuam com o sustento da famlia,
conforme atesta o grfico 10- condio financeira (das vtimas) podendo a renda dos
agressores ser somente complementar.
Grfico 16- Trabalha? (agressor)
72.1raba|ha - Agressor
142
20
2
0
10
20
30
40
30
60
70
80
90
100
110
120
130
140
130
73. Sl m 73. no 76. no Sabe
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
3.4- Territrios e Localizao da violncia
Com respeito localizao geogrfica onde ocorreu a violncia, no CRLV so atendidas
mulheres no s de Salvador como de outras cidades (Alagoinhas, Dias Dvila, Feira de
Santana, Ilha de Mar, Lauro de Freitas, Mata de So Joo, Palmeiras, Paraman, So
Sebastio do Pass, Santo Amaro e Teodoro Sampaio) ou at de outros estados (Rondnia),
conforme a necessidade de proteo da mulher. No obstante, podemos informar que em
Salvador os bairros da Mata Escura, Brotas, Fazenda Coutos III, So Cristvo e Federao,
apresentaram mais queixas de violncias contra a mulher segundo as usurias. No significa
que sejam os bairros mais violentos, mas so os bairros onde as mulheres mais tm
denunciado e procurado ajuda e proteo.
107
Figura 2 - Mapa dos bairros de Salvador com queixas de violncias
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
3.5- Violncias na famlia
A famlia o espao de socializao das relaes e deveria garantir proteo aos seus
membros, mas dentro do contexto familiar podem existir fatores que predispem violncia
dos quais ressaltamos a desigual distribuio de autoridade e poder entre seus membros,
ambiente de agressividade, situaes de crise, baixo nvel de desenvolvimento e autonomia
entre os indivduos, abuso de lcool ou outras drogas, comprometimento psiquitrico ou
psicolgico, dependncia econmica e emocional entre seus membros etc. Encontramos
inmeros exemplos de situaes familiares assim descritas, desencadeadoras da violncia nas
famlias das usarias do CRLV.
A respeito dessa situao encontramos o seguinte quadro: questionadas se seus filhos sofriam
com a violncia, 60% respondeu que sim o que comprova que a violncia contra a mulher
atinge toda a famlia e principalmente os filhos, novamente permitindo concluir na reproduo
da cultura da violncia como um aprendizado intrafamiliar.
N. Ocorrncias:
4
5 6
7 9
10 16
108
Grfico 17- Seus filhos (as) sofrem com a violncia?
104.Seus f||hos]f||has sofrem com a v|o|nc|a?
34
23
0
3
10
13
20
23
30
33
103-Sl m 108-no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
importante lembrar, apesar dos perfis das usurias no indicarem dados sobre o assunto, a
existncia de mulheres que tambm praticam violncias no ambiente familiar, em especial
contra os filhos, companheiros ou at mesmo outras mulheres, fato confirmado pela prpria
pesquisadora quando executava trabalho voluntrio no CRLV.
Grfico 18- Por parte de quem?
106.or parte de quem?
21
7
1 1
0
3
10
13
20
23
al Companhel ro namorado da me Lx- marl do
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Os filhos sofrem com a violncia e percebe-se que novamente a figura masculina protagoniza
a violncia na famlia. Destaca-se, comparativamente, apesar da precariedade dos dados, que
um tero das violncias foram praticadas por pessoas que no so os pais, mas companheiros,
namorados e ex-maridos da me.
Os tipos de violncias sofridos pelos filhos apresentaram-se da seguinte maneira: ameaa que
um tipo de violncia psicolgica que produz conseqncias devastadoras podendo se
manifestar desde dores silenciosas a transtornos emocionais graves (SCHRAIBER et al,
2005), alm da dificuldade de contato social.
109
Grfico 19- De que tipo foi a violncia sofrida pelos filhos?
107.De que t|po?
1
10
2
4
19
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Ameaa llsl ca verbal Moral sl col gl ca Abuso Sexual
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL, 2005-2008
Quando a agresso provoca repercusses graves, como na violncia fsica ou psicolgica, o
problema da violncia alcana os servios de sade. As denominaes violncia verbal e
moral, embora possam significar sinnimos foram informadas separadamente pelas usurias.
O abuso sexual universamente uma violncia difcil de ser revelada, porm est presente em
relatos de algumas usurias. Este fato pode ser atribudo, entre outras causas, cultura, aos
relacionamentos diversos, ao convvio em espaos restritos com namorados e companheiros
das mes e at mesmo s condies de moradia e habitao imprprias como, por exemplo,
quando todos compartilham o mesmo e nico espao domiciliar at para dormir.
Grfico 20- Lembra se havia violncia na relao entre seus pais (da usuria)?
109.Lembra se hav|a v|o|nc|a na re|ao entre seus
pa|s?
29
30
0
3
10
13
20
23
30
110-Sl m 113-no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Para a metade das usurias j havia violncia na relao entre os pais, mas o fato de terem
presenciado esta violncia entre seus pais no evitou que ela se repetisse com elas mesmas.
Pelo contrrio, parece que esse era o que se esperava da vida.
110
Grfico 21- Lembra se havia violncia na relao de seus pais com os filhos?
114.Lembra se hav|a v|o|nc|a na re|ao de seus pa|s
com os f||hos?
23
33
0
3
10
13
20
23
30
33
113-Sl m 119-no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Percebem-se situaes distintas onde aquilo que determinado na teoria nem sempre se
confirma na prtica. Para a maioria no havia violncia na relao dos pais com os filhos,
portanto, no configurando violncia intergeracional. Mas, um dado que deve ser destacado
o fato de que, quando havia, essa mesma violncia era da parte de ambos (pai e me).
Grfico 22- Por parte de quem?
116.or parte de quem?
16
1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
al s adrasto Av e tl a
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Pais violentos e a cultura de ensinar batendo em crianas/ filhos, como informa Vicente
(2008) tende a se tornar um comportamento natural de soluo de conflitos onde toda a
famlia atingida. Reproduzindo o ciclo transgeracional de violncia (Pesquisa
NOOS/PROMUNDO, 2003) que comprova que homens que testemunharam violncias em
suas famlias ou foram vtimas de abuso ou violncia em casa so mais propensos a
praticarem violncia contra suas companheiras, filhos e filhas.
111
Grfico 23- Com quais filhos?
118.Com qua|s f||hos?
11
3
1 1
0
2
4
6
8
10
12
1odos lllha lrmo mals velho Cutros lrmos
Cuantldade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
A informao possibilita compreender a percepo por parte da vtima sobre a violncia. Para
ela, a violncia era natural, para todos os irmos, portanto naturalizada como um
comportamento esperado dos pais e igual para todos os filhos.
Grfico 24- Violncia na relao de seus pais com voc?
120.V|o|nc|a na re|ao de seus pa|s com voc?
24
34
0
3
10
13
20
23
30
33
121-Slm 124-no
Cuantldade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Maior parte das usurias informou no ter sofrido violncia dos pais diretamente, mas aquelas
que sofreram foram por parte do pai e da me seguido de outros membros da famlia, como
avs, tias e padrastos. Novamente, assinala-se a tragdia relacional e confirma um quadro de
cultura familiar reprodutora da violncia.
Ainda cabe observar que as usurias enxergam castigos fsicos como instrumentos da
educao, portanto no os reconhecem como violncia, o que est expresso neste grfico
que julgam no haver sofrido violncias de acordo com as concepes que elas possuem.
112
Grfico 25- Por parte de quem?
122. or parte de quem?
13
11
1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
al Me adrasto Av e tl a
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Enfatiza-se o comportamento violento determinado pela cultura traduzido no hbito de bater
em crianas ou filhos mesmo crescidos pode ser entendido como um modelo de educao, ou
seja, ensinar atravs de castigo e punio conforme j citado anteriormente (VICENTE,
2008). lcito supor que essas pessoas podem vir a se tornarem multiplicadores da
violncia.
Grfico 26- De que tipo?
123. De que t|po?
21
2 1
0
3
10
13
20
23
llsl ca sl col gl ca Moral
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Percebe-se o predomnio da violncia fsica, seguido da psicolgica. Violncia fsica aqui
entendida como tapas, empurres, chutes, pontaps, arremessos de objetos, socos, puxes de
cabelo, perfuraes com objetos cortantes ou vidros, entre outros.
Grfico 27- E entre seus irmos e irms?
12S. L entre seus |rmos e |rms?
16
38
0
3
10
13
20
23
30
33
40
126. Sl m 129. no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
113
Da mesma forma, ao se examinar a violncia entre irmos constata-se que na maior parte dos
casos no havia violncia entre os irmos, enfatizando tratar-se da viso naturalizada.
Grfico 28- Por parte de quem?
127.or parte de quem?
3
3
7
0
1
2
3
4
3
6
7
8
lrmo lrm 1odos
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Todavia, nos casos positivos, ocorria entre todos os irmos e irms. A violncia da parte das
irms era em menor quantidade, embora os dados sejam insuficientes para pretender uma
generalizao, eles indicam a existncia de um ambiente familiar onde a violncia se propaga
e o nascimento da violncia masculina.
Grfico 29- De que tipo?
128. De que t|po?
13
2
1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
llsl ca sl col gl ca verbal
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Existe a predominncia da violncia fsica, caracterizada por brigas com socos e pontaps.
Neste caso, a violncia psicolgica mais reduzida, no afeta tanto quanto na relao pais e
filhos e entre cnjuges. Para a maioria trata-se, novamente de um comportamento natural
violncia naturalizada.
114
3.6- Violncia e Sade
A percepo a respeito da violncia na sade das usurias do CRLV demonstrou que as
conseqncias podem ser imediatas ou em longo prazo.
A violncia afeta a sade da mulher e existem indcios suficientes para afirmar tratar-se de um
problema de sade coletiva embora as doenas, seu diagnstico e seus sintomas nem sempre
foram confirmados por profissionais de sade, fato este que pode ser atribudo a questo do
silncio, da vergonha, da invisibilidade.
Grfico 30- A violncia lhe tem causado algum problema de sade?
130.A v|o|nc|a |he tem causado a|gum prob|ema de sade?
0
3
10
13
20
23
30
33
40
43
131. Sl m 133. no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Encontramos mulheres contaminadas por seus prprios parceiros por infeces sexualmente
transmissveis (idosas inclusive), nestes casos, por tratar-se de conduta tipificada como
criminosa, o assunto deveria passar a ser alcanado, tambm, pelos rgos de Segurana
Pblica (polcia) e Judicirio (justia). Alm disso, encontramos a gravidez indesejada,
problemas de sade mental tais como depresso e problemas emocionais; problemas
psicossomticos como presso alta e arritmias cardacas e as doenas mais graves como
cnceres, entre outros.
A prpria classificao do perfil das usurias do CRLV explicativo e recai sobre sintomas
caractersticos de doenas psicossomticas (de fundo emocional). Estes dados foram obtidos
pelas declaraes das usurias, no implicando em diagnstico mdico preciso.
115
Grfico 31- De que tipo?
132.De que t|po?
4 4
11
12
1
3
2
3
1 1
3 3
2 2
1 1
0
1
2
3
4
3
6
7
8
9
10
11
12
13
P
lp
e
r
t
e
n
s
o
u
o
r
e
s
n
o
c
o
r
p
o
ln
s
n
la
u
e
p
r
e
s
s
o
u
la
b
e
t
e
ln
a
p
e
t
n
c
la
l
e
r
lm
e
n
t
o
d
e
l
a
c
a
S
t
r
e
s
s
ln
c
a
p
a
c
ld
a
d
e
l
ls
lc
a
C
a
s
t
r
lt
e
r
o
b
le
m
a
C
a
r
d
la
c
o
s
lc
o
l
g
lc
o
A
n
s
le
d
a
d
e
e
r
d
a
d
e
M
e
m
r
la
C
u
e
b
r
a
d
o
d
e
n
t
e
L
n
u
r
e
s
e
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
3.7- Violncia e sade dos filhos
Sobre a possibilidade de algum (a) filho (a) ter nascido (a) com problemas causados pela
violncia afirmaram que sim, embora, da mesma forma que a pergunta anterior, no tenha
sido comprovado por profissional.
Grfico 32- Qual problema?
134.ua| o prob|ema?
2
1 1 1
0
0,3
1
1,3
2
2,3
nervoso uepresso lnsnl a sl col gl co
Serl e1
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Verifica-se a predominncia de problemas de fundo emocional que, a nosso ver, tm relao
direta com a reproduo da violncia.
116
3.8- Da rede de solidariedade
Com relao s redes de solidariedade entende-se que elas se originam da proximidade e da
convivncia entre as pessoas no intuito de resolverem seus problemas comuns, so os amigos
prximos, a famlia, vizinhos, conhecidos etc. Esses, sim, representam um grande apoio para
todas elas.
Grfico 33- Com quem voc falou primeiro?
140.Com quem voc fa|a]fa|ou pr|me|ro quando
sofre]sofreu v|o|nc|a?
16
4 4
3
0 0 1 1
7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
4
1
.
A
m
l
g
a
1
4
2
.
M
e
1
4
3
.
l
r
m
1
4
4
.
C
u
t
r
a
p
e
s
s
o
a
d
a
l
a
m
l
l
l
a
1
4
3
.
C
r
l
e
n
t
a
d
o
r
(
a
)
/
l
l
d
e
r
r
e
l
l
g
l
o
s
o
1
4
6
.
C
o
m
p
a
n
h
e
l
r
a
d
e
g
r
u
p
o
d
e
m
u
l
h
.
.
.
1
4
7
.
r
o
l
l
s
s
l
o
n
a
l
d
e
s
a
u
d
e
1
4
8
.
o
l
l
c
l
a
l
1
4
9
.
C
u
t
r
a
p
e
s
s
o
a
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Como a maioria no conta com rede de apoio oficial ou no-governamental prximas, quase
todas falaram primeiro com uma amiga ou outra pessoa fora das relaes familiares seguido
de algum da famlia e da prpria me. Ressalta-se a importncia que podero ter as
instituies de proteo do Estado e das ONGs articuladas e distribudas no territrio de
prevalncia da violncia. Pode-se concluir pela importncia de estudos sobre a localizao da
violncia.
3.9- Sobre os relacionamentos
Algumas j passaram por outros relacionamentos conjugais onde sofreram violncias ou no.
Este fato no tem nenhum significado a esse respeito.
117
Grfico 34- Teve outro companheiro conjugal?
1S0.1eve ma|s de um companhe|ro (a) sexua|]con[uga|?
21
14
0
3
10
13
20
23
131. Sl m 133. no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Em relao ao nmero total de usurias, a fragilidade dos dados - muitas vezes incompletos -
no possibilita uma concluso clara sobre o significado deste, mas sim inferncias e
aproximaes com a realidade sofrida e vivenciada quando da violncia contra essas
mulheres. Porm, lcito observar que a maioria j passou por relacionamento anterior.
Grfico 35- Sofreu violncia de outro companheiro?
1S4.Sofreu v|o|nc|a de outro (a) companhe|ro (a)?
7
21
0
3
10
13
20
23
133. Sl m 137. no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
A maioria no sofreu nenhum tipo de violncia em relacionamento anterior, deduzindo assim
que no existe argumentao para ligar este fato com a violncia posterior, a no ser, talvez,
pela possibilidade da gerao de cimes em relao ao parceiro anterior, fato este que emerge
ao se notar que a maioria declarou como relacionamento estar namorando.
118
Grfico 36- J se separou alguma vez?
1S8.I se separou forma|mente
( [ud|c|a|mente ou no) a|guma vez?
14 14
0
3
10
13
139. Sl m 161. no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Embora os dados sejam insuficientes para generalizar, chama a ateno que existe igual
nmero de separadas ou no judicialmente. Metade respondeu que sim e a outra metade no.
Isto leva ao entendimento de que no mais ou menos relevante esse aspecto. Contudo, indica
um elevado nmero de relacionamentos sem a formalidade dos atos jurdicos e levanta a
possibilidade de produzirem situaes geradoras de violncia.
3.10- Dos tipos de separao
Dentre as que formalizaram a separao h predominncia para a separao judicial.
Grfico 37- De que tipo?
160.De que t|po
7
3
0
1
2
3
4
3
6
7
8
!udl cl al no [udl cl al
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Grande parte contou com assistncia jurdica no processo, pois alm das medidas protetivas
da Lei Maria da Penha (art.22) a questo pode envolver alimentos, penso diviso de bens,
guarda de filhos, entre outros.
119
Grfico 38- J teve alguma assistncia Jurdica para a separao?
163.I teve a|guma ass|stnc|a [ur|d|ca para separao?
0
1
2
3
4
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
164. Slm 166. no
Cuantldade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Este fato demonstra a necessidade dos servios da rede de proteo mulher ser capaz de
atender juridicamente a grande demanda existente.
Grfico 39- De onde?
16S.De onde?
2
4
3
1
0
1
2
3
4
3
6
uelensorla Advogado artlcular C8Lv ll8
Cuantldade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Verifica-se que contaram com o apoio de rgos da Rede de Ateno para a separao,
principalmente com o CRLV e a Defensoria Pblica do Estado, alm de advogado particular e
escritrio jurdico de uma faculdade.
120
Grfico 40- Qual foi o resultado do processo?
167.ua| fo| o resu|tado do processo?
3
2
3
1
0
1
2
3
4
3
6
Lm andamento Aconsel hada a manter o
rel acl onamento
ll nal l zado no sabe l nlormar
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Sobre os resultados apurou-se que dentre as usurias que conseguiram ter seus processos
ajuizados na poca, metade foi finalizado significando que metade ainda est em andamento.
Em relao aos finalizados, a maioria se trata de Aes Alimentcias, penses, separaes e
Aes de Reconhecimento e Dissoluo de Unio Estvel. Disseram ter desistido da ao
(15%), por terem sido aconselhadas a manter o relacionamento. No ficou claro, portanto, a
questo de quem as aconselhou.
3.11- Do conhecimento e uso de servios
Os rgos oficiais da Rede de Ateno s Mulheres em Situao de Violncia constituem um
conjunto de pessoas, instituies e entidades que desenvolvem aes de ateno e
disponibilizam, de forma articulada, cooperativa e complementar, seus servios para o
atendimento a pessoas que as buscam, no caso da violncia em questo formado por
Servios de Sade, de Segurana Pblica, de Justia, de Ao Social e de garantia de Direitos
Humanos.
Grfico 41- J recorreu a algum servio de ateno?
168.I recorreu a a|gum serv|o de ateno pessoas em s|tuao de
v|o|nc|a?
31
3
0
3
10
13
20
23
30
33
169. Sl m 176. no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
121
Constata-se que a maioria no silencia, mas, tambm, que esta maioria ainda no conseguiu
ser ouvida na sua plenitude, pois apesar de ter recorrido ao servio ou rgo, este pedido de
socorro no foi atendido.
Grfico 42- Qual/quais?
169. ua|]qua|s?
26
4
1 1 0
17
0
3
10
13
20
23
30
170. uLAM 171. vl ver 172. Casa do Abrl go 173. lL88A 174. vara da vl ol ncl a
uomestl ca
173. Cutros
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
A maioria das usurias do Centro de Referncia Loreta Valadares se dirigiu DEAM de
Brotas para registrar a primeira ocorrncia de forma espontnea e, por vezes, levadas por
parentes, vizinhas, amigas etc. Algumas, inclusive, se fizeram acompanhar dos filhos.
Um dos aspectos mais marcantes com relao a elas a vontade de que a Delegada chame
logo o agressor para conversar, aconselhar ou dar um susto, que pode ser uma bronca ou
ameaa. Nem sempre, demonstram a vontade de punio na forma de priso para seus
agressores embora algumas temam pela soltura quando os agressores esto presos.
A DEAM considerada a porta de acesso s polticas pblicas de atendimento s mulheres
em situao de violncia. Contudo, as queixas so inmeras, desde a insensibilidade no
acolhimento falta de providncias bsicas bem como o aparelhamento insuficiente e
deficitrio como a inexistncia de papel para se fornecer a cpia do registro da ocorrncia e o
desinteresse na soluo imediata sob a alegao de falta de pessoal e estrutura para o pronto
atendimento.
Outro servio tambm procurado pelas usurias do CRLV o VIVER, de ateno e
atendimento a pessoas em situao de violncia sexual e suas famlias. Dessa forma quando
vtimas de estupro, por exemplo, so primeiramente encaminhadas ou acolhidas no VIVER e
posteriormente continuam se tratando no CRLV. Dentre elas encontram-se aquelas
vitimizadas sexualmente que necessitam de atendimento no Instituto de Perinatologia da
Bahia, de assistncia sade reprodutiva, profilaxia das DST/AIDS, contracepo de
122
emergncia e interrupo da gravidez (de acordo com a Lei, Cdigo Penal, art.128) para onde
so imediatamente encaminhadas seja pela DEAM ou qualquer outro rgo da rede.
Aquelas que necessitaram de serem albergadas foram acolhidas, temporariamente, na Casa de
Acolhimento (antiga Casa-Abrigo) por se encontrarem em situao de risco com ou sem
filhos.
A 1 Vara da Violncia Contra a Mulher, rgo do Poder Judicirio, foi inaugurada em
novembro de 2008 (no trmino desta pesquisa) e vem atuando na responsabilizao e punio
dos agressores para onde foram transferidos os processos relativos violncia domstica e
familiar contra a mulher. Portanto, mesmo tendo sido inaugurada no final de 2008, todos os
processos das usurias aqui inseridas que ainda no foram finalizados sero examinados pelo
juzo da Vara.
3.13- Da eficcia do Estado
Em resposta questo norteadora sobre a eficcia do Estado encontramos o seguinte
Grfico 43- Qual a sua opinio sobre o atendimento nos servios onde foi atendida?
177.ua| a sua op|n|o sobre o atend|mento receb|do nos serv|os onde fo|
atend|da?
2
7
9
0
1
2
3
4
3
6
7
8
9
10
8om Lxcel ente essl mo
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Dentre aquelas que consideraram o atendimento pssimo, seis delas se referiram DEAM.
Aqui nos reportamos qualidade do atendimento e ateno desde o primeiro momento, na
hora do registro da queixa como, posteriormente, nas ocasies subseqentes. Desta forma
pode-se dizer que foi identificada a violncia institucional (MARTINEZ, 2008) cometida
principalmente contra os grupos vulnerveis, no caso, mulheres e idosas, perpetradas por
agentes que deveriam proteger as vtimas e garantir-lhes ateno humanizada, preventiva e
reparadora de danos. E, ainda, a violncia das prprias mulheres contra as mulheres, muito
comum nas delegacias de mulheres, como j alertou Chau (1995, p.40):
123
A mulher pode ser alvo de violncia quando seus direitos morais no forem
respeitados, mas tambm pode ser autora de violncia no s quando no respeitar
os direitos morais de outrem, mas quando no respeitar seus prprios deveres
morais.
Pode-se concluir que algumas precisaram ir vrias vezes DEAM para ver sua queixa
atendida. Isso significa inmeros contratempos como transporte, o deslocamento, perda de
tempo, humilhaes. Foram diversos os casos em que as vtimas ainda se encontravam em
recuperao e tinham de peregrinar atrs de suporte fsico e emocional. Nem todas tm
conhecimento dos demais rgos, mas da Delegacia sim, podendo representar naquele
momento o principal apoio que necessitam.
Grfico 44- Quantas vezes precisou ir a cada? (DEAM)
178.uantas vezes prec|sou |r em cada? (DLAM)
10
7
3
1
0
2
4
6
8
10
12
179. uLAM 1 vez 2 vezes 3 vezes 3 vezes
Serl e1
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
A maioria prestou queixa porque diz acreditar na presena da polcia como inibidora e
pacificadora das situaes, apesar desta pesquisa identificar a ineficcia da medida.
Grfico 45- J prestou queixa policial contra o agressor?
18S.I prestou que|xa po||c|a| contra o agressor (a)?
18
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
186. Sl m 189. no
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
124
Algumas se dirigiram a outras delegacias mais prximas de suas residncias. Numa delas o
atendimento, foi relatado como melhor que na DEAM. Noutra, depararam com preconceitos e
discriminaes alm do desconhecimento da aplicao da Lei Maria da Penha por parte dos
agentes do rgo de polcia. Outra queixa relatada por usurias de que em algumas ocasies,
nas delegacias, se sentiram constrangidas ou at mesmo culpadas de sua prpria sorte.
Grfico 46- Onde?
187. Cnde?
17
1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
uLAM 10 u 14 u
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
Verificou-se que as medidas estampadas na Lei Maria da Penha, Ttulo III ainda no esto
sendo apropriadamente executadas, deixando muito a desejar no tocante ao atendimento e
ateno da autoridade policial. A morosidade nos procedimentos administrativos relevante,
seja por dificuldades estruturais e de pessoal, ou seja, por total descaso das questes de gnero
por parte do poder pblico que no tem priorizado a questo da mulher em seus programas de
governo. Ressalta-se a demora das delegacias de polcia na investigao dos casos, revelando
que a morosidade e tempo de interveno Estatal podem ser determinantes para o
agravamento da violncia, inclusive havendo uma permisso a etapas mais graves da
violncia perpetrada dentro de casa e contra a mulher.
Grfico 47- Quantas vezes?
188.uantas vezes?
3
3
4
2
0
1
2
3
4
3
6
1 vez 2 vezes 3 vezes vrl as vezes
Cuantl dade de pessoas
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
125
Percebe-se, a partir desses dados, o verdadeiro descaso pelo drama das mulheres vtimas de
violncia domstica, sendo lcito concluir que ainda persiste a cultura de que se trata de uma
questo familiar, confirmando o dito popular extremamente danoso que Em briga de marido
e mulher ningum mete a colher.
Grfico 48- Quais os encaminhamentos dados a essas queixas?
190.ua|s os encam|nhamentos dados a essas que|xas?
0
3
3
0
2
0
1
2
3
4
3
6
n
o
s
a
b
e
P
o
u
v
e
p
r
o
v
l
d
n
c
l
a
,
m
a
s
n
o
c
o
n
c
l
u
l
u
n
o
h
o
u
v
e
p
r
o
v
l
d
n
c
l
a
r
o
c
e
s
s
o
e
n
c
a
m
l
n
h
a
d
o
p
a
r
a
[
u
s
t
l
a
P
o
u
v
e
c
o
n
c
l
l
l
a
o
/
A
c
o
r
d
o
Cuantl dade
Fonte: Perfis das usurias CRVL 2005-2008
O mais claro sintoma da posio subalterna da mulher na sociedade brasileira se
revela pela ausncia de dados estatsticos sobre ela [...] na rea da Segurana
Pblica, at hoje as informaes no so apresentadas com separao por sexo das
vtimas ou agressores (BLAY, 2008, p.25).
Ficou claro que as vtimas no tiveram seus pleitos atendidos principalmente no tocante
esfera policial. Quase nada foi concludo ou no houve providncias. Essas queixas ainda no
foram encaminhadas para a Justia. At a data final da pesquisa, em 2008, apenas processos
oriundos de Aes de Alimentos, Reconhecimento e Dissoluo de Unio Estvel, Guarda de
Menores, enfim, aqueles que no precisaram passar pela queixa policial foram encaminhados
Justia. Contudo, infelizmente, esses, no possuem registros nos perfis. Concluindo a
anlise de todos os dados apresentados nesta pesquisa, recorre-se Gey Espinheira (2004, p.
23) que utiliza a noo aristotlica de drama para explicar que a tragdia a imitao de uma
ao (personagens em ao imitam pessoas em ao) diz: [...] a fico do real traduz
sentimentos, emoes que os dados estatsticos por si mesmos so incapazes de faz-lo.
126
CONSIDERAES FINAIS
A soluo da questo da mulher no se restringe s a seus problemas especficos, no
apenas uma luta da mulher contra uma sociedade machista; tambm a luta da
mulher contra uma sociedade injusta [...]. uma conquista da mulher ter chegado a
cargos polticos importantes, mas isso por si s no garante que [...] tero realmente
maior acesso aos Direitos Humanos (OLIVEIRA & CARNEIRO, 2001, p.249).
Consoante a Organizao das Naes Unidas (1995), a violncia contra as mulheres acontece
em todos os pases do mundo sendo uma barreira conquista da igualdade de gnero e ao
desenvolvimento social. Por isso foram realizadas Conferncias Mundiais ao longo das
ltimas trs dcadas priorizando denncias e aes relacionadas violncia de gnero,
considerada como uma ofensa dignidade humana. Determinou-se aos Estados-partes que
assumissem compromissos voltados para sua eliminao. Dessa forma, o Estado brasileiro
assumiu compromissos internacionais para implantar aes afirmativas para corrigir as
desigualdades e discriminaes de todas as formas contra as mulheres.
At a Constituio de 1988, a legislao brasileira era discriminatria em relao s mulheres,
principalmente no mbito do Cdigo Civil e, em especial, quanto s questes da famlia. Com
a entrada em vigor do Novo Cdigo Civil em 2003, foram incorporados os novos preceitos
constitucionais. No entanto, devido longa vigncia do Cdigo Civil de 1916 percebe-se que
ainda h influncias ideolgicas e culturais tanto na sociedade quanto, especificamente, nos
rgos do Judicirio e, acentuadamente, nos de Segurana Pblica no que se refere s
desigualdades entre homens e mulheres, ou seja, s desigualdades de gnero.
Por descumprimento aos tratados e convenes assinados e prpria Constituio Federal, o
Brasil foi responsabilizado por negligncia e omisso em relao violncia domstica. Em
resposta a essa condenao, foi aprovada a Lei Contra a Violncia Domstica n 11.340 de
2006, conhecida como Lei Maria da Penha e os crimes de violncia domstica e familiar
contra a mulher deixaram de ser tratados como se fossem de menor potencial ofensivo (Lei
9099/95), como antes.
Destaca-se como ponto positivo na Lei Maria da Penha o fato de ser o marco legislativo
principal na defesa da vida, sem violncia, das mulheres. Atravs dela, as mulheres
conquistaram o direito de no serem discriminadas, humilhadas, agredidas e/ou violentadas
impunemente, especialmente quando em ambiente domstico e familiar.
127
A compreenso do fenmeno da violncia contra a mulher e o conhecimento dos meios de
enfrentamento so essenciais para que se possam identificar os danos e suas conseqncias.
Vale ressaltar que o enfrentamento da violncia de gnero, de carter relacional e
multifacetado, no depende s da legislao e das polticas pblicas. Depende de aes
efetivas de apoio s famlias que esto refns, sem paradigmas, de uma sociedade banalizada
pelo medo, que maltrata e oprime quando no oferece segurana, nem esperana.
Revelaram-se os aspectos visveis das violncias invisveis praticadas contra as mulheres no
ambiente domstico e familiar, usurias do CRLV em Salvador, Bahia, no perodo de
novembro de 2005 a dezembro de 2008, onde foram analisados os perfis de 411 mulheres.
Assim, foi possvel conhecer um pouco aquelas que procuraram ajuda para sarem da situao
de violncia em que se encontravam.
Foram apresentados os conceitos de violncia e suas manifestaes sob a gide dos Direitos
Humanos, fundamentalmente dos Direitos Humanos das Mulheres e mapeada a violncia
contra a mulher em suas respectivas famlias. Dessa forma, podem-se avaliar os atendimentos
nos rgos de ateno e de preveno que representam as polticas pblicas existentes nesta
capital que as apoiaram naquele momento.
Destacamos no plano familiar as piores violncias, principalmente a simblica, fsica, sexual,
patrimonial, psicolgica e moral, que ocorrem na privacidade do lar e que podem apontar a
origem das demais. Ao enveredar pela temtica da violncia, essa dissertao objetivou a
anlise das aes a das polticas pblicas implementadas para combat-las. Observar e
analisar as conexes, multireferencialidade e, sobretudo, a sobreposio da violncia foi alvo
dessa investigao.
Quando uma mulher vtima de violncia, nesse ambiente, ocorre uma verdadeira tragdia
relacional porque atinge todos os membros da famlia. Muitas delas sofrem violncia por
parte de seus parceiros, filhos (as), familiares, conhecidos e desconhecidos. O territrio e o
mapa dessa violncia encontram no corpo feminino e nas relaes de afeto/intimidades
lugares para seu desenvolvimento.
O que acontece quando essas mulheres procuram ajuda para se livrarem dessa situao?
128
Quais so os sinais e os gritos de alerta? As instituies so receptoras, diligentes e
promotoras de igualdade, mas como realizar o enfrentamento sem cair num discurso
antiquado e j resolvido?
Geralmente s procuram as delegacias ou alguma outra ajuda quando j no agentam mais
ou esto temendo pela prpria vida, mas imprescindvel que o faam. Em muitas situaes
pode parecer difcil, por isso importante o apoio e a solidariedade das amigas, da me, de
algum familiar, de um profissional de sade, de um (a) policial. Essas pessoas, envolvidas,
podero ajud-la a tomar providncias, pois, o medo, a vergonha e a falta de informao e
apoio podem impedi-las de denunciar.
Nos estados e municpios existe uma rede interdisciplinar de preveno e ateno formada por
Servios de Sade, de Segurana Pblica, de Justia, de Assistncia Social para a garantia dos
Direitos Humanos, que representam as polticas pblicas para a erradicao da violncia
contra a mulher. Contudo, o Estado precisa ser eficaz na aplicao dessas polticas. Tem que
haver o envolvimento total dos segmentos que devem apoiar as mulheres, juntos e ao mesmo
tempo. No basta, apenas, ter uma legislao comprometida e respaldada na agenda de aes
internacionais.
Recuperando a base das questes geradoras dessa dissertao, pode-se detectar que existem
sim polticas, aes e agendas. No entanto, a pergunta que no cala : Nos casos das usurias
do CRLV, o Estado tem sido eficaz? O acesso justia e cidadania alcanado? A pesquisa
comprovou que as maiores queixas so dirigidas ao atendimento policial nas DEAMs, que
vo desde a insensibilidade e discriminao no atendimento inicial ao descaso na
continuidade e apurao dos fatos. Muitas vezes, o atendimento foi feito por profissionais no
policiais e no qualificados (estagirios, guardas municipais, pessoas contratadas pelo Regime
Especial em Direito Administrativo - REDA etc.).
Uma usuria relatou que ficou muito triste porque a DEAM no quis registrar sua queixa por
no se tratar de violncia domstica. Isto muito significativo, pois comprova o
desconhecimento do papel institucional da delegacia da mulher que de atend-la sem
discriminao visto que pode se sentir constrangida quando se dirige a uma delegacia no
especializada. O atendimento digno e eficiente nessa ocasio um enorme desafio a ser
superado.
129
Por outro lado, foram constatadas grandes dificuldades operacionais para os profissionais
atuantes no tocante questo de pessoal (nmero insuficiente de policiais e agentes para a
demanda de trabalho), falta de recursos materiais como papel para imprimir cpias das
ocorrncias, computadores interligados internet representando grande dificuldade para que
se crie um sistema de informao integrado entre os demais rgos da rede. Faltam tambm
viaturas para o cumprimento das diligncias, coletes prova de balas, armas de fogo, cmeras
fotogrficas (para documentarem, se autorizadas pelas vtimas, como provas). Esse um
panorama j estudado e detectado desde os anos 80. H de serem estabelecidos parmetros
124
de atendimento entre as delegacias (no somente s DEAMs no tocante violncia domstica)
e de acompanhamento na rede para que se possa informar s mulheres o andamento das suas
queixas. No prprio site da Secretaria de Segurana Pblica
125
da Bahia no h informaes
estatsticas sobre os crimes de violncia contra a mulher, no se menciona violncia de
gnero. Os telefones das DEAMs no esto facilmente acessveis, no se encontram junto dos
demais nmeros das delegacias. Essa informao essencial e facilita o acesso e efetivao da
poltica de preveno e ateno.
A Lei Maria da Penha ampliou a participao policial no combate violncia contra a mulher
(Ttulo III, art. 10, 11, 12). Contudo as medidas protetivas de urgncia salvo rarssimos casos
(de sangue) no esto sendo aplicadas em tempo hbil (pela Lei 48 horas), e, algumas
vezes, quando so, a impresso que se tem que, param por ai. Os outros servios da rede
sentem dificuldade em trabalhar com as DEAMs. Poder-se-ia concluir que existe um
isolamento institucional. Percebem-se dificuldades nos atendentes em informar claramente as
mulheres sobre sua condio e seus direitos. Muitas sofrem mais violncia nesse momento, a
violncia institucional.
Tal realidade, por vezes, conflitante face ao empenho de alguns profissionais que embora
dependam do sistema para realizarem seu trabalho, se empenham na execuo do melhor
possvel dentro do contexto vivenciado. Nossos aplausos para eles.
muito importante registrar que o trabalho das DEAMs, assim como o do CRLV, precisa ser
considerado, de fato, como parte de uma poltica pblica essencial e, portanto indispensvel
124
No ms de outubro de 2010 foi assinado pela SENASP e SPM o protocolo de unificao dos atendimentos
policiais nas DEAMs, mas ainda no se tem previso da aplicao, segundo informao oral do Observatrio da
Lei Maria da Penha/NEIM/UFBA.
125
SSP/BA <http://www.ssp.ba.gov.br/estatistica.asp>, acesso em 12/10/2010
130
para o atendimento das mulheres vitimizadas. No apenas violncia domstica e familiar, mas
a violncia de gnero.
As instituies deveriam representar mais que aes pontuais, assim, a elaborao,
implementao e acompanhamento das polticas pblicas que responde agenda
internacional, s reivindicaes dos movimentos sociais, sobretudo os feminismos e a
proteo social das cidads, como misso do Estado.
Em uma etapa mais especfica verifica-se que tambm previsto o encaminhamento das
vtimas para o Instituto Mdico-Legal para o exame de corpo de delito (prova pericial) para os
casos que deixam vestgios, contudo o IML em Salvador no tem cumprido o prazo legal (dez
dias, CPP art.160) para a remessa dos respectivos laudos (embora possa ser prorrogado de
acordo com a necessidade). Algumas usurias foram examinadas, mas no foram informadas
do encaminhamento do resultado do laudo. passada a informao que o mesmo, ser
enviado delegacia em 30 dias, segundo relatos das vtimas, acrescendo-se que a busca por
informaes nas delegacias no resultam em respostas.
No mesmo prdio do IML, em Salvador, funciona o VIVER que um rgo de ateno s
vtimas de violncia sexual e seus familiares. No foi observada nenhuma queixa quanto aos
atendimentos prestados neste rgo. Tem atuado principalmente na acolhida e
acompanhamento de crianas e adolescentes. Registra-se a importncia da localizao deste
rgo, junto do IML.
O funcionamento da casa abrigo na poca em questo era muito precrio e deficiente. No
havia condies de funcionamento embora abrigasse mulheres e seus filhos em condies
complicadas. Atualmente o problema parece ter sido foi resolvido segundo relato em
Seminrio no Ministrio Pblico da Bahia (2009), funciona em outro lugar em melhores
condies de abrigamento.
O IPERBA, nico hospital autorizado a praticar a interrupo da gravidez nos casos
permitidos em lei, nessa poca foi pouco procurado pelas usurias daquele perodo, que
apenas recorreram para informaes. Apesar de promover a educao permanente de
profissionais de sade, esses profissionais ainda precisam descobrir como identificar mais
cedo as dores da violncia domstica e encaminhar para a rede para complementao do
atendimento com o tratamento psicossocial ou atendimento jurdico.
131
Os rgos do Judicirio esto tentando se adequar s demandas da violncia domstica e
familiar ao lado da violncia de gnero. Constatou-se que o problema maior o tempo que os
processos permanecem nos cartrios entre um ato e outro do juiz e do escrivo. A cada
movimentao eles retornam a seus armrios (nomenclatura utilizada para guardar e
arquivar processos na justia, nome que carrega o simbolismo de guarda e no de arquivo),
ficando guardados e, pela quantidade da demanda, acabam por demonstrar ineficincia e no
cumprimento do objetivo maior: proteo e segurana s mulheres. claro que h falta de
pessoal (funcionrios, oficiais de justia, escrives e juzes), de informatizao do sistema, de
material bsico de papelaria e de capacitao e qualificao do pessoal, inclusive dos
magistrados, isto fundamental. Entretanto, as mulheres vtimas de violncia com processos
encontram-se em situao difcil, de vulnerabilidade extrema e discriminao, ademais de
necessitarem que suas pretenses fossem resolvidas em tempo hbil para que possam
reconstituir suas existncias, sem que sejam penalizadas ainda mais bem como seus
familiares.
At a presente data existe processo de usuria do CRLV, na Vara de Famlia, concluso desde
maio de 2008, aguardando andamento. Procurado, o processo no foi encontrado, o que
denota problemas srios de falta de organizao e de estrutura. Nesse tempo, a usuria passou
pela Casa Abrigo, acompanhada dos filhos. Saiu e ficou em outra cidade, mas acabou
voltando para onde morava, perto do agressor, marido que, apesar de ter sido preso em
flagrante, depois de um ms foi solto e nunca foi apenado nem mesmo est prestando
alimentos. Este fato no to isolado como parece.
H exemplos de muitas outras prestaes jurisdicionais no atendidas a contento. Vale
ressaltar que no Judicirio, existem pessoas empenhadas na questo, que merecem todo
respeito pelo profissionalismo e envolvimento algumas vezes, at pessoal, nas oportunidades
de ajudar e resolver questes atinentes dignidade humana, particularmente, Dignidade
Humana das Mulheres.
A avaliao do CRLV pelas usurias essencialmente positiva, pois promove um
atendimento de excelncia por contar com profissionais altamente qualificados.
Conta-se com acompanhamento psicolgico e social continuado, com hora marcada e caso a
usuria no tenha meios de se deslocar providenciada a passagem ou outro meio que
possibilite o comparecimento. Tambm so feitos os acompanhamentos psicolgicos e sociais
132
das mulheres albergadas na Casa Abrigo, que so transportadas em veculo oficial, com toda
segurana. Como visto, a estrutura ampla e confortvel o que permite imaginar o
atendimento de um nmero maior de pessoas. Poder-se-ia pensar em mais divulgao do
servio. Outra maneira seria cogitar a localizao mais prxima a outros servios ou vice e
versa como ocorre em Pernambuco, por exemplo.
Para este estudo de localizao, pesquisas como esta fundamental porque possibilitam a
informao pontual dos bairros onde esto sendo denunciadas as violncias. Neste trabalho
concluiu-se, por exemplo, que nos bairros de Brotas, Mata Escura e So Cristvo tem
ocorrido muitas denncias de violncia contra a mulher.
Em Brotas h uma DEAM, mas naqueles outros bairros mais distantes, poder-se-ia pensar em
capacitar os policiais e agentes nas questes de gnero para que as mulheres dessas reas no
precisassem se deslocar at alguma DEAM.
A outra delegacia de mulheres est localizada em Periperi, olhando no mapa (p.112), verifica-
se pelo numero de ocorrncias que na parte da orla, regio de Itapu em direo ao litoral,
Stella Maris, poderia se pensar na instalao de outra DEAM e, at l se imaginar uma
soluo semelhante de preparar as delegacias existentes, com profissionais capacitados para
atenderem s demandas de violncia contra as mulheres.
Da mesma forma, esse mapeamento pode indicar os locais para se criarem postos de trabalho
e capacitao profissional para mulheres e seus familiares, bem como creches para os filhos
daquelas que precisam trabalhar fora de casa. Pensar em polticas para as famlias com
destaque para o apoio s mulheres poder contribuir para aumentar a participao feminina no
mercado de trabalho, melhorar a educao e conseqentemente elevar a auto-estima de todas.
Assim sendo, caminha-se para a erradicao real da matriz de todas as violncias.
Outra observao importante refere-se ao atendimento jurdico do CRLV. Por tratar-se de
uma prestao de excelncia necessita ser dotado de mais advogadas e estagirias, como
ocorre com as demais profissionais do rgo (psiclogas, assistentes sociais e pedagogos).
Inicialmente deveriam ser no nmero de trs, porm nunca funcionou como previsto. O
trabalho do advogado consiste em atendimentos e consultas, acompanhamentos de processos,
acompanhamentos pessoais (Delegacias, Frum, audincias), estudos e pesquisas, alm de
prestarem informaes s usurias sobre os andamentos dos processos. Apenas um nico
133
profissional para atender toda a demanda no apropriado haja vista a grande procura por
esse atendimento.
Alm disso, caberia uma sala para o escritrio jurdico, dotada de computador e mobilirio
necessrio para arquivamento de processos e documentos. Isto precisa ser pensado, pois j se
passaram cinco anos de sua inaugurao e o atendimento jurdico, que poderia estar ampliado,
continua no adequado demanda existente. Caso haja dificuldades, outra sugesto seria o
encaminhamento das usurias para a Defensoria Pblica e o atendimento jurdico do CRLV
ficaria encarregado de acompanhar os processos junto Defensoria e trazer as informaes
para as usurias, alm de ter um planto para consultas e acompanhamento nas audincias e
outros rgos, de acordo com as necessidades.
Importante tambm a implantao do pronturio virtual a fim de coletar e armazenar os
dados estatsticos e proporcionar o acompanhamento da tramitao da mulher na rede.
Reivindica-se o fornecimento de vale transporte para os atendimentos contnuos das usurias.
O rgo no possui sede prpria, fator que onera o poder pblico.
Quando perguntamos se o Estado tem sido eficaz nas polticas de preveno e ateno s
mulheres vtimas de violncia? As possibilidades de respostas so dbias e indicam ainda um
processo em construo. O sim e o no esto l, referenciados e respondidos, mas a avaliao
da construo, da implementao do marco legal e da efetivao atravs de instituies no
pode ser observada para alm de uma descrio e acompanhamento inicial nesta dissertao.
A resposta Sim, quando operacionaliza os meios de atuao e funcionamento dos rgos
encarregados de executar tais polticas afirmativas bem como quando promove o
aparelhamento das unidades e No, quando se trata do real e afetivo atendimento baseado
na dignidade da mulher e quando os componentes da rede de ateno mulher vtima de
violncia domstica e familiar (Segurana Pblica, Assistncia Social, Sade, Justia,
Educao) atuarem de forma isolada e burocrtica.
134
REFERNCIAS
ADORNO, Rodrigo dos Santos. A positivao dos direitos fundamentais nas Declaraes
de Direitos. Boletim Jurdico. Uberaba/MG, a. 3, n 136. Disponvel em:
<http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto>. Acesso em: 20 mar. 2010.
AGUADO, Ana. Violncia de gnero: sujeto femenino y ciudadana en la sociedad
contempornea. In Marcadas a ferro. Mrcia Castillo-Martn - Suely de Oliveira (org), Brasil:
Presidncia da Repblica. Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres, 2005.
AGUIAR, Cristina (Coord) [et al]. Guia de servios de ateno a pessoas em situao de
violncia. Salvador: Frum comunitrio de combate violncia/ Grupo de trabalho rede de
ateno, 2003. 64 p.
ALMEIDA, ngela Maria de Oliveira (org) [et. al.]. Violncia, excluso social e
desenvolvimento humano: estudos em representaes sociais. Braslia: Editora Universidade
de Braslia, 2006. 300 p.
ALMEIDA, Tnia Mara Campos de. As razes da violncia na sociedade patriarcal. Soc.
estado, Braslia, v.19, n.1, June 2004. Disponvel em<http://www.scielo.br/scielo>. Acesso
em 20 de mar. 2010.
APWLD. Domestic Violence Collection of Laws. Disponvel em <apwld@apwld.org>
acesso em 13/03/2010.
ARENDT, Hannah. A condio humana. Traduo de Roberto Raposo. Rio de Janeiro:
Forense Universitria, 2007.
ARENDT, Hannah. Sobre a violncia. Rio de Janeiro: Relume- Dumar, 1994.
ATHABAHIAN, Serge. Princpio da igualdade e aes afirmativas. So Paulo: RCS
Editora, 2004.
AZAMBUJA, Darcy. Introduo cincia poltica. 11. Ed. So Paulo: Globo, 1998.
BARATTA, Alessandro. Criminologa crtica y crtica del derecho penal: introduccin a la
sociologa jurdico penal. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2004.
BARROS, Ndia Regina Loureiro (coord.). Mulher em questo. Macei: Editora
Universitria, 1987.
BASTOS, Marcelo Lessa. Violncia Domstica e familiar contra a mulher- Lei Maria da
Penha-Alguns Comentrios. Disponvel<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto>. Acesso em
30 jun. 2010.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. So Paulo: Nova Fronteira, 2000.
135
BERKOVITZ, Leonard. Aggression: its causes, consequences and control. New York:
Mcgraw Hill, 1993. In A famlia ameaada: Violncia domstica nas Amricas. MORRISON
& BIEL. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
BLAY, Eva Alterman. Violncia contra a mulher e polticas pblicas. Estud. av., So
Paulo, v. 17, n. 49, Dez. 2003. Disponvel em <http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em 01
Jul. 2010.
BLAY, Eva. Assassinato de mulheres e direitos humanos. Rio de Janeiro: Editora 34, 2008.
BORDA, Guillermo A.; BORDA, Guillermo J. Manual de familia. Buenos Aires: Abeledo
Perrot, 2002.
BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean-Claude, PASSERRON, Jean-Claude. Le
mtier de sociologue. Paris: cole Pratique des Hautes tudes/Mouton-Bordas, 1968.
BOURDIEU, Pierre. A dominao masculina. Traduo Maria Helena Khner. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
BRASIL. Cdigo Civil. LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 30 mai. 2010.
BRASIL. Cdigo Penal. DECRETO-LEI N
o
2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Disponvel em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em 30
jun. 2010.
BRASIL. Constituio Federal de 1967. Disponvel em <http://www.planalto.gov.br>.
Acesso em 18/06/2010.
BRASIL. Constituio Federal de 1988. Disponvel em <http://www.planalto.gov.br>.
Acesso em 18 jun. 2010.
BRASIL. Lei 8069/1990. Estatuto da criana e do adolescente. Disponvel em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm. Acesso em 30 jun.2010.
BRASIL. Decreto 1.973/96. Disponvel em <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao>.
Acesso em 05 jul. 2010.
BRASIL. Decreto 4.377/2002. Disponvel em <http://legislacao.planalto.gov.br>.Acesso em
05 jul. 2010.
BRASIL. Lei 10.098/2000. Lei para os Deficientes fsicos, sensoriais e mentais. Disponvel
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis>. Acesso em 30 jun. 2010.
BRASIL. Lei 10.741/2003. Estatuto do idoso. Disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis>. Acesso em 30 jun. 2010.
BRASIL. Lei 10.778/2003. Disponvel em <http://legislacao.planalto.gov.br>. Acesso em 06
jul. 2010.
136
BRASIL. Lei Maria da Penha. Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em 30 jun.
2010.
BRASIL. LEI N 9.099, de 26 de setembro de 1995. Disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9099.htm>. Acesso em 30 jun. 2010.
BRASIL. Declarao Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948): Disponvel em
<http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-
humanos/declar_dir_dev_homem.pdf>. Acesso em 06 jun. 2010.
BRUSCHINI, Cristina. Teoria crtica da famlia. In Infncia e violncia domstica fronteiras
do conhecimento. So Paulo: Ed. Cortez, 1993.
BUCCI, Maria Paula Dallari. As polticas pblicas e o Direito Administrativo. Revista
Trimestral de Direito Pblico, n. 13, So Paulo: Malheiros, 1996.
BUTLER, Judith- RODRIGUES, Carla. Revista de Estudos Feministas. Problemas de
gnero: feminismo e subverso da identidade. Traduo de Renato Aguiar. Rio de Janeiro:
Editora Civilizao Brasileira, 2003.
BUVINIC, MORRISON e SHIFER. Violncia na Amricas: um plano de ao. A famlia
ameaada. Traduo de Gilson Baptista Soares. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
CABRAL, Juara Teresinha. A sexualidade no mundo ocidental. Campinas, SP: Papirus
Editora, 1995.
CAMPOS, Amini Haddad & CORRA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das
mulheres. Curitiba: Juru Editora, 2008.
CARVALHO, Ana Maria Almeida et al . Mulheres e cuidado: bases psicobiolgicas ou
arbitrariedade cultural? Paidia, Ribeiro Preto, v. 18, n. 41, Dec. 2008. Disponvel em
<http://www.scielo.br/scielo>. Acesso em 30 Out. 2010
CASTRO, Mary Garcia, LAVINAS, Lena. Do feminino ao gnero: a construo de um
objeto. In: COSTA, Albertina, O. & BRUSCHINI, Cristina (orgs) Uma questo de gnero.
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992.
CAVALCANTI, Stela Valria Soares de Farias. Violncia domstica contra a mulher no
Brasil: anlise da Lei Maria da Penha, n 11.340/06. Salvador: JusPodivm, 2010.
CAVALCANTI, Vanessa Ribeiro Simon. A Violncia de Gnero no Brasil a partir de um
olhar Interdisciplinar. In: GOMES.C.A.C. (ORG). Segurana e Educao: uma abordagem
para construo de medidas pr-ativas, preventivas e repressivas coerentes com a realidade da
juventude. Salvador: Bureau, 2008.
CAVALCANTI, Vanessa, Ribeiro Simon. Memrias femininas: tempo de viver, tempo de
lembrar. Revista Brasileira de histria. So Paulo, v. 27, n 54, p. 59-82, 2007.
CHODOROW, Nancy. Psicanlise da maternidade. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos,
1978.
137
CHAU, Marilena. Participando do Debate sobre Mulher e Violncia. In: Franchetto,
Bruna, Cavalcanti, Maria Laura V. C. e Heilborn, Maria Luiza (org.). Perspectivas
Antropolgicas da Mulher 4. So Paulo: Zahar, 1985.
CHAU, Marilena. Convite Filosofia. So Paulo: Editora tica, 2009.
ONU. Conferncia Mundial de Copenhagem em 1980. Disponvel em
<http://www.escueladefeminismo.org/spip.php?article383>. Acessado em 13 jun. 2010.
ONU. Conferncia Mundial de Nairbi em 1985. Disponvel em
<http://www.escueladefeminismo.org/spip.php?article383>. Acesso em 13 jun. 2010
ONU. Conferncia Mundial sobre Direitos Humanos da ONU em Viena, ustria. Disponvel
em <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23>. Acesso em 25
mai. 2010.
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Editora Martim Claret, So Paulo: 2002.
CRETELLA, Jnior Jos. Direito romano moderno. Rio de Janeiro: Editora Forence, 1994.
CUNHA JNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Editora Jus Podivm,
2009.
CUNHA, Rogrio Sanches & PINTO, Ronaldo Batista. Violncia Domstica: Lei Maria da
Penha (Lei 11.340/2006). So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
DIAS & PEREIRA. Direito de famlia e o novo Cdigo Civil. Belo Horizonte: Del Rey
Editora, 2005.
DIAS, Isabel. Excluso Social e Violncia Domstica. 1 Congresso Portugus de Sociologia
Econmica. Lisboa. 1998.
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justia: A efetividade da Lei 11.340/2006
de combate violncia domstica e familiar contra a mulher. So Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007.
DINIZ, Glaucia Ribeiro Starling & PONDAAG, Miriam Cssia Mendona. A face oculta da
violncia contra a mulher: o silncio como estratgia de sobrevivncia. In Almeida, A.
Santos, M.F.S., Diniz, G.R.S. & Trindade, Z.A. (orgs.). Violncia, excluso social e
desenvolvimento humano. Estudos de representaes sociais. Braslia: Editora UnB, 2006.
DONATI, Pierpaolo. Famlia no sculo XXI: abordagem relacional. Traduo Joo Carlos
Petrini. So Paulo: Paulinas, 2008.
DOWBOR, Ladislau. A economia da famlia. In ACOSTA, Ana Rojas e VITALE, Maria
Amlia Faller (Orgs.). Famlia: redes, laos e polticas pblicas. So Paulo: Cortez: Instituto
de Estudos Especiais- PUC/SP, 2008.
DURKHEIM, Emile. [1921]. La famille conjugale.In Emile Durkheim, Textes III, Paris:
Minuit, 1975.
138
ESPANHA. Ley orgnica 1/2004 de 28/12/2004 de Medidas de Protecin Integral Contra La
Violncia de Gnero. Disponvel em <http://www.mjusticia.es/cs/Satellite>. Acesso em 30
jun. 2010.
ESPINHEIRA, Gey (Coord). Sociabilidade e violncia: criminalidade no cotidiano dos
moradores do subrbio ferrovirio de salvador. Salvador: Universidade Federal da Bahia,
2004.
FALCO, Virgnia. Poltica de abrigamento a casa abrigo na Bahia: histria de um difcil
processo Dissertao de Mestrado/UFBA/ 2008.
FALQUET, Jules. Mujeres, feminismo y desarrollo: un anlisis crtico de las polticas de las
instituciones internacionales. Centro de Investigaciones y Estdios Superiores em
Antropologia Social. Mxico, 2003.
FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Direito das Famlias. Rio de Janeiro:
Lmen Jris, 2008.
FINKIELKRAUT, Alain. A humanidade perdida- Ensaio sobre o sculo XX. Traduo de
Luciano Machado. So Paulo: Ed. tica. 1998.
GALLI, Beatriz. Aborto: o governo tem medo? Disponvel em
<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/index.php>. Acesso em 10 mai. 2010.
GEERTZ, Clifford. A interpretao das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
GOMES, Carlos Alberto da Costa & SANTOS, Marcos Csar Guimares dos. O sonho e a
realidade. ESPINHEIRA, C.G.D. (org)-Sociedade do medo. Salvador: EDUFBA, 2008.
GOMES, Gina Emlia Barbosa de Oliveira Costa. & WEBER, ngela. Instituies Legais:
soluo ou perpetuao das violncias de gnero? Artigo apresentado no II Congresso
Feminista Internacional em Buenos Aires, Argentina, 19 a 22 de maio de 2010.
GREGORI, Maria Filomena. Cenas e queixas- um estudo sobre mulheres, relaes violentas
e a prtica feminista. So Paulo: Paz e Terra/ANPOCS, 1993.
HEIDDEMANN e SALM (orgs). Polticas pblicas e desenvolvimento: bases
epistemolgicas e modelos de anlise; Toms de Aquino Guimares, apresentao. Braslia:
Editora Universidade de Braslia, 2009.
HEILBORN, Maria Luza (org). Sexualidade: o olhar das cincias sociais. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed., 1999.
HERMAN, Leda. Maria da Penha Lei com nome de mulher: consideraes Lei n
11.340/2006, contra a violncia domstica e familiar. Campinas, SP: Servanda, 2008.
HIRATA, Helena. Nova diviso sexual do trabalho? Traduo de Wanda Caldeira Brant.
So Paulo: Boitempo, 2002.
IZUMINO, Wnia Pasinato e MACDOWELL, Ceclia. Mapeamento das Delegacias da
mulher no Brasil. Campinas: Pagu/UNICAMP, 2008.
139
IZUMINO, Wnia Pasinato. Justia e violncia contra a mulher: o papel do judicirio na
soluo dos conflitos de gnero. So Paulo: Annablume: FAPESP, 2004.
KALOUSTIAN, Silvio Manoug (org.). Famlia brasileira, a base de tudo. Braslia, DF:
Cortez, UNICEF, 2008.
KRAMER, Heinrich e SPRENGER, Jacobus. Malleus Malleficarum: Manual da caa s
bruxas. So Paulo: Trs, 1976 (Edio especial em lngua portuguesa).
LAMAS, Marta. Gnero: os conflitos e desafios do novo paradigma. In proposta n. 84/85.
Maro/agosto de 2000. Mxico.
LEVI-STRAUSS, Claude. Las estructuras elementares Del parentesco. Barcelona: Planeta
Agostini, 1974.
LINDOSO, Mnica Bezerra de Arajo. A Violncia praticada co0ntra a mulher idosa e os
direitos humanos In Direitos humanos no cotidiano jurdico- Procuradoria Geral do Estado
de So Paulo. Grupo de Trabalho. Imprensa oficial do Estado de So Paulo, 2004, p.71-99.
MACHADO, Lia Zanotta. Feminismo, academia e interdisciplinaridade. In: A. de O. Costa
e C. Bruschini (orgs). Uma Questo de gnero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos/FCC. 1992.
MARTINEZ, Simone Duran Toledo. Palestra realizada no II Frum de Violncia Contra
a Mulher/Presidente Prudente, em 21/11/2008. Disponvel em
<HTTP://recriaprudente.org.br/abre_artigo.asp?c=16>.Acesso em 24 nov. 2009.
MENDES, Eber da Cunha: A teologia poltica de Joo Calvino (1509-1564) nas Institutas
da Religio Crist (1536), 2009. Disponvel em <www.ufes.br>. Acesso em 06 jun. 2010.
MENICUCCI, Eleonora. A mulher, a sexualidade e o trabalho. So Paulo: Hucitec, 1999.
MINAYO, Maria Ceclia de Souza. & SOUZA, Edinilsa Ramos de: Violncia e sade como
um campo interdisciplinar e de ao coletiva'. Histria, Cincias, SadeManguinhos,
IV(3): 513-531, nov. 1997-fev. 1998.
MIRANDA, Alessandra de La Veja. Lei Maria da Penha: paradigma emancipatrio luz
das consideraes da criminologia crtica feminista. Disponvel em
<http://jusvi.com/artigos/36150>. Acesso em 09 mai. 2010.
MONGOLIA EMBASSY. Lei da Contra a Violncia Domstica. Mensagem enviada por
Altangerel L. Bugat Second Secretary/Consular MONGOLIAN EMBASSY- USA. E-mail:
<altan@mongolianembassy.us>. Recebida por <ginacgadv@gmail.com>, em 14 mai. 2009.
NADER, Maria Beatriz, SILVA Gilvan e FRANCO, Sebastio, Organizadores. Violncia
sutil contra a mulher no ambiente domstico: uma nova abordagem de um velho
fenmeno. In Histria, mulher e poder. Vitria: Edufes PPGHis, 2006.
NOGUEIRA, Jacqueline Filgueiras. A filiao que se constri: o reconhecimento do afeto
como valor jurdico. So Paulo: Memria Jurdica Editora, 2001.
140
NLIBOS, Paulina Terra: Eros e Bia entre Helena e Cassandra: Gnero, sexualidade e
matrimnio no imaginrio Ateniense, 2006. Disponvel em <www.lume.ufrgs.br>. Acesso
em13 jun. 2010.
NOOS e PROMUNDO Institutos. Pesquisa: Homens, violncia de gnero e sade sexual e
reprodutiva: um estudo sobre homens no Rio de Janeiro/Brasil. Rio de Janeiro, 2003.
NUNES, Csar Aparecido. Desvendando a sexualidade. Campinas, Papirus, 1987. Apud
CABRAL, Jussara Teresinha. A sexualidade no mundo ocidental. Campinas: Papirus, 1995.
NUNES, Pedro. Dicionrio de tecnologia jurdica. 10 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
1979.
OEA. Conveno Americana dos Direitos Humanos- Pacto de San Jos da Costa Rica.
Disponvel em
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>.
Acesso em 06 jun. 2010.
OEA. Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia Contra a
Mulher (Conveno de Belm do Par, OEA, 1994). Disponvel em
<http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-61.htm>. Acesso em 30 jun. 2010.
OEA. Declarao Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Bogot, abril de 1948.
Disponvel em <www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeadcl.htm>. Acesso em 30 jun. 2010.
OEA. Relatrio 54: caso Maria da Penha Fernandes. Disponvel em
<http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em 30 jun. 2010.
OKIN, Susan Moller. Gnero, o pblico e o privado. Revista de estudos feministas. Vol. 16,
Nr 2, 2008.
OLIVEIRA, Anna Paula Garcia. Quem cala consente? Violncia dentro de casa a partir da
perspectiva de gnero, famlia e polticas pblicas. Dissertao de Mestrado, UCSAL/2005.
OLIVEIRA, Guacira Cesar de, BARROS, Ivnio e SOUZA, Maria Helena, (orgs). Trilhas
feministas na gesto pblica. Braslia: CFEMEA: Fundao Ford. 2010.
ONU. Conferencia Internacional da Mulher - Mxico 1975. Disponvel em
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conferen
ce%20report%20optimized.pdf>. Acesso em 13 mar. 2010.
ONU. Conferncia Mundial sobre Direitos Humanos da ONU em Viena, na ustria,
Disponvel em <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23>.
Acesso em 25 mai. 2010.
ONU. Conveno sobre a Eliminao de todas as formas de violncia contra a mulher
(CEDAW/ONU). Disponvel em <http://www.un.org/womenwatch>. Acesso em 30 jun.
2010.
ONU. Recomendao Geral n. 19 do Comit CEDAW (ONU). Disponvel em
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm>. Acesso em 30
jun. 2010.
141
ONU. Relatrio do Comit CEDAW em relao ao Brasil (ONU, 2003). Disponvel em
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw39/introstatements/Brazil.pdf>. Acesso
em 30 jun. 2010.
PANDJIARJIAN, Valria. Vinte e cinco anos de respostas brasileiras em violncia contra
a mulher. So Paulo: Coletivo Feminista Sexualidade e Sade, 2006. Disponvel em
<www.agende.org.br> e <www.cladem.org>. Acesso em 13 mar. 2010.
PASINATO, Wnia & SARDENBERG, Ceclia (orgs). Juizados especiais de violncia
domstica contra a mulher e a rede de servios de atendimento de mulheres em situao
de violncia em Cuiab, Mato Grosso. Salvador: NEIM/UFBA, 2010.
PEREIRA, Caio Mrio. Instituies de Direito Civil. Rio de Janeiro: Companhia Editora
Forence, 1979.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de famlia: uma abordagem psicanaltica. Belo
Horizonte: Del Rey Editora, 2003.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princpios fundamentais norteadores para o Direito de
Famlia. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
PIOVESAN, Flvia e IKAWA, Daniela. A violncia domstica contra a mulher e a
proteo dos direitos humanos In Direitos humanos no cotidiano jurdico. Procuradoria
Geral do Estado de So Paulo. Grupo de Trabalho. Imprensa oficial do Estado de So Paulo,
2004, p.43-70.
QUIVY, Raymond. e CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de Investigao em Cincias
Sociais. Lisboa: Editora Gradiva, 2005.
Relatrio 2006/ banco Interamericano de Desenvolvimento e David Rockfeller Center for
Latin America Studies, Harvard University. A poltica das polticas pblicas: processo
econmico e social na Amrica Latina. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2007.
SAFFIOTI, Heleieth & ALMEIDA, Suely de Souza. Violncia de gnero: Poder e
Impotncia. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.
SAFFIOTI, Heleieth. Gnero, patriarcado e violncia. Perseu Abramo, So Paulo: 2004.
SO PAULO. Conveno Americana dos Direitos Humanos- Pacto de San Jos da Costa
Rica. Disponvel em <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual>. Acesso
em 06 jun. 2010.
SO PAULO. LINDOSO, Mnica Bezerra de Arajo. A Violncia praticada co0ntra a
mulher idosa e os direitos humanos In Direitos humanos no cotidiano jurdico- Procuradoria
Geral do Estado de So Paulo. Grupo de Trabalho. Imprensa oficial do Estado de So Paulo,
2004, p.71-99.
SARDENBERG, Ceclia Maria Bacellar. Enfoque de gnero. Salvador, NEIM/UGBA, 1992.
SARTI, Cynthia Andersen. A famlia como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres.
So Paulo: Cortez, 2005.
142
SARTI, Cynthia Andersen. Feminismo e contexto: lies do caso brasileiro. Cadernos de
Pagu n16. Campinas: 2001. Disponvel em <http://www.scielo.br>. Acesso em 18 jun. 2010.
SCHRAIBER, Llia Blima et al. Violncia di e no direito: a violncia contra a mulher, a
sade e os direitos humanos. So Paulo: Editora UNESP, 2005.
SCHOLZ, Roswitha. O valor o homem. Teses sobre a socializao pelo valor e a relao
entre os sexos. S. Paulo: Novos Estudos CEBRAP, n. 45 - julho de 1996, pp. 15-36.
SCOTT, Joan Wallach. A mulher trabalhadora. In: DUBY, G. & PERROT, M. Histria das
mulheres no Ocidente. Porto: Edies Afrontamento, vol. IV, 1994.
SCOTT, Joan. Gnero: Uma Categoria til para a Anlise Histrica. Traduo de Christine
Rufino Dabat e Maria Betnia vila. 1998. Disponvel em
<http://www.dhnet.org.br/direitos/textos/generodh/gen_categoria.html>. Acesso em 05 Jan.
2010.
SCOTT, Joan. Prefcio a Gender and politics of History. Cadernos de Pagu n03, 1994.
Disponvel em <http://www.ieg.ufsc.br/revista_detalhe.php?id=6>. Acesso em 13 mar. 2010.
SILVA JNIOR, Edison Miguel da. Direito penal de gnero. Lei n 11.340/06: violncia
domstica e familiar contra a mulher. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1231, 14 nov. 2006.
Disponvel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9144>. Acesso em 20 mar.
2010.
SILVA, Jos Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. So Paulo: Malheiros,
2000.
SILVA, Kamila Cristina. DEAMs: Pesquisa nacional sobre as condies de funcionamento-
relatrio final. Braslia: Rede Nacional Feminista de Sade e Direitos Reprodutivos
Regional Pernambuco, 1999.
SINGLY, Franois de. O nascimento do indivduo individualizado e seus efeitos na vida
conjugal e familiar. In: PEIXOTO, Clarice Ehlers, SINGLY, Franois de e CICCHELLI,
Vincenzo (orgs.). Famlia e individualizao. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000.
SIMES, Thiago Felipe Vargas. A famlia afetiva: O afeto como formador de famlia.
|Disponvel em <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=336>. Acesso em 24 out. 2007
SINGLY, Franois de. Sociologia da famlia contempornea. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
SORJ, Bila. O feminismo na encruzilhada da modernidade e ps modernidade. In: A. de
O. Costa e C. Bruschini (orgs). Uma questo de gnero. Rio de Janeiro: Rosa dos
tempos/FCC. 1992.
SOUZA, Srgio Ricardo de. Comentrios lei de combate violncia contra a mulher:
Lei Maria da Penha 11.340/2006. Juru, Curitiba, 2007.
TELES, Maria Amlia de Almeida. Breve histria do feminismo no Brasil. So Paulo:
Brasiliense, 1993.
143
THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Pierre Bourdieu: a teoria na prtica. Rev. Adm.
Pblica, Rio de Janeiro, v. 40, n. 2006. Disponvel em <http://www.scielo.br/scielo>. Acesso
em 30 jun. 2010
SCOTT, Joan Wallach. A mulher trabalhadora. In: DUBY, G. & PERROT, M. Histria das
mulheres no Ocidente. Porto: Edies Afrontamento, vol. IV, 1994.
VIANNA, Adriana e LACERDA, Paula. Direitos e polticas sociais no Brasil: mapeamento
e diagnstico. Rio de Janeiro: CEPESC, 2004.
VICENTE, Cenise Monte. O direito convivncia familiar e comunitria: uma poltica de
manuteno do vnculo. Disponvel em <http://www.abmp.org.br/textos>. Acesso em 30 jun.
20
ANEXO A Perfil das mulheres usurias do Centro de
Referncia Loreta Valadares
UNIVERSIDADE CATLICA DO SALVADOR
MESTRADO EM FAMLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORNEA
GINA EMLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA GOMES
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS:
VIOLNCIA CONTRA A MULHER NA FAMLIA NOS CASOS DAS
USURIAS DO CENTRO DE REFERNCIA LORETA VALADARES
EM SALVADOR-BA
Salvador
2010
PRONTURIO N.........
Perfil das mulheres usurias do Centro de Referncia Loreta Valadares
A- Identificao:
1- Idade............
2- Cor/raa (auto- referenciada)
3. Branca ( ) 5. Preta ( ) 7. Parda ( ) 9. Outros ( ) 11. No sabe ( )
4. Negra ( ) 6. Indgena ( ) 8. Amarela ( ) 10. Recusou-se a responder
12- Escolaridade:
13- nunca estudou e no sabe ler ou escrever
14- sabe assinar o nome
15- alfabetizada ( sabe ler e escrever)
16 ensino fundamental completo
17- ensino fundamental incompleto
18- segundo grau completo
19- segundo grau incompleto
20- superior completo
21- superior incompleto
22- ps-graduao
23- Estado civil/situao conjugal
24- solteira
25- casada/com companheiro (a) em casa
26- separada/desquitada/divorciada
27- viva
28- Se casada/com companheiro em casa: tempo de convivncia...........
29- Filhos? 30-Sim ( ) 32-Quantos? ( )
31-No ( )
33- Bairro....................................
34- Municpio................................
35- Mora com algum? 36-Sim ( ) 37-No ( )
38- O agressor o companheiro? 39-Sim ( ) 40-No ( )
41- Se no, qual a relao com o (a) agressor (a)?
42-namorado ( ) 44-- ex-namorado ( ) 46-pai ( )
43- marido/ companheiro ( ) 45-ex- marido/ex companheiro ( ) 47- irmo ( )
48- vizinho ( ) 49-outros ( )
50- Tempo de relao com o agressor
51- ( ) menos de 01 ano 52- ( ) de 05 a 10 anos 53- ( ) de 20 a 30 anos ou mais
54- ( ) de 01 a 03 anos 56- ( ) de 10 a 15 anos 58- ( ) outros
55- ( ) de 03 a 05 anos 57- ( ) de 15 a 20 anos
B- Dados do agressor:
59- Idade...........
60- Cor/raa (referenciada pela usuria)..................
61- Escolaridade
62- nunca estudou e no sabe ler ou escrever
63- sabe assinar o nome
64- alfabetizada ( sabe ler e escrever)
65- ensino fundamental completo
66- ensino fundamental incompleto
67- segundo grau completo
68- segundo grau incompleto
69- superior completo
70- superior incompleto
71- ps-graduao
72- Trabalha? 73-Sim ( ), 74-em qu?......................................
75-No ( ) 76-No sabe ( )
77- Bairro...............................................
78- Municpio.........................................
C- Trabalho:
79- Trabalha fora de casa? 80-Sim ( ), 81-onde?......................................
82- O qu faz?................................................................................
83- No ( )
84- Trabalha em casa com remunerao? 85- Sim ( )
86- O qu faz?................................................................................
87- No ( )
D- Condio financeira:
88--Condio financeira:
89- vive s prprias custas ( )
90- parcialmente dependente ( )
91- totalmente dependente ( )
92- se parcial ou totalmente dependente, de quem recebe ajuda financeira ( em $ ou
em produtos)? ( )
93--marido/companheiro ( ) 94- pai/me ( ) 95- filhos ( )
96- parentes ( ) 97-amigos ( ) 98-outros
E- Dados relativos violncia:
99- fsica ( )
100- sexual ( )
101- psicolgica ( )
102- moral ( )
103- patrimonial ( )
F- Violncia na famlia:
104- Seus filhos/filhas sofrem com a violncia?
105-Sim ( ), 106-por parte de quem?...................................
107-de que tipo?....................................
108-No ( )
109- lembra se havia violncia na relao entre seus pais?
110-Sim ( ), 111-por parte de quem?...................................
112-de que tipo?....................................
113-No ( )
114- lembra se havia violncia na relao de seus pais com os filhos?
115-Sim ( ), 116-por parte de quem?...................................
117-de que tipo?....................................
118-com quais filhos?
119-No ( )
120- e na relao de seus pais com voc?
121- Sim ( ), 122-por parte de quem?......................
123- De que tipo?..........................................
124- No ( )
125- e entre seus irmos e irms?
126-Sim ( ), 127-por parte de quem?....................
128-De que tipo?...........................................
129-No ( )
G- Violncia e sade ( percepo):
130- a violncia lhe tem causado algum problema de sade?
131-Sim ( ), 132-de que tipo?..........................................................
133-No ( )
134- algum filho nasceu com problemas causados pela violncia?
135-Sim ( ), 136-qual problema?.............................................
137- isso foi confirmado por algum profissional de sade?
138-Sim ( ) 139-No ( )
H- Rede de solidariedade:
140- Com quem voc fala/falou primeiro quando sofre/sofreu violncia?
141- amiga ( ) 142- me ( ) 143- irm ( ) 144- outra pessoa da famlia ( )
145- orientador (a)/lder religioso ( ) 146- companheira de grupo de mulheres ( )
147- profissional de sade ( ) 148- policial ( ) 149- outra pessoa( ).
I- Histrico de relacionamentos:
150- Teve mais de um companheiro (a) sexual/conjugal?
151-Sim ( ) 152-quantos?............153-No ( )
154- Sofreu violncia de outro (a) companheiro (a)?
155-Sim ( ) 156-de que tipo?...............................................157-No ( )
158- J se separou formalmente ( judicialmente ou no) alguma vez?
159-Sim ( ), 160-de que tipo? ...................................161- No ( )
162-Est atualmente em processo de separao ( )
163- J teve alguma assistncia jurdica para separao?
164-Sim ( ) 165-de onde?........................................166-No ( )
167-Qual foi o resultado do processo?
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................
J- Conhecimento e uso de servios:
168- J recorreu a algum servio de ateno pessoas em situao de violncia?
169-Sim ( ) -qual/quais? 170-( ) DEAM 171- ( ) VIVER 172-( ) Casa Abrigo
173- ( ) IPERBA
174- ( ) Vara da Violncia Domstica 175-( ) outros
176- No ( )
( preencher por ordem de procura: 1, 2 3, 4, 5, 6 )
177- Qual a sua opinio sobre o atendimento recebido nos servios onde foi atendida?
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
178- quantas vezes precisou em cada?
179-( ) DEAM 180-( ) VIVER 181-( ) Casa Abrigo 182-( ) IPERBA
183-( ) Vara da Violncia
184-( ) Outros......................
185- J prestou queixa policial contra o agressor (a)?
186-Sim ( ) 187-Onde?................................
188-Quantas vezes?................................
189- No ( )
189-Quais os encaminhamentos dados a essas
queixas?...............................................................................................................................
ANEXO B CD com a Tabulao dos dados do Perfil das
mulheres usurias do Centro de Referncia Loreta
Valadares
UNIVERSIDADE CATLICA DO SALVADOR
MESTRADO EM FAMLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORNEA
GINA EMLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA GOMES
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS:
VIOLNCIA CONTRA A MULHER NA FAMLIA NOS CASOS DAS
USURIAS DO CENTRO DE REFERNCIA LORETA VALADARES
EM SALVADOR-BA
Salvador
2010
ANEXO C Lei 11340 de 07 de agosto de 2006 LEI MARIA
DA PENHA
UNIVERSIDADE CATLICA DO SALVADOR
MESTRADO EM FAMLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORNEA
GINA EMLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA GOMES
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS:
VIOLNCIA CONTRA A MULHER NA FAMLIA NOS CASOS DAS
USURIAS DO CENTRO DE REFERNCIA LORETA VALADARES
EM SALVADOR-BA
Salvador
2010
Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
LEI N 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006.
Cria mecanismos para coibir a violncia domstica
e familiar contra a mulher, nos termos do 8
o
do
art. 226 da Constituio Federal, da Conveno
sobre a Eliminao de Todas as Formas de
Discriminao contra as Mulheres e da Conveno
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violncia contra a Mulher; dispe sobre a criao
dos Juizados de Violncia Domstica e Familiar
contra a Mulher; altera o Cdigo de Processo
Penal, o Cdigo Penal e a Lei de Execuo Penal;
e d outras providncias.
O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
TTULO I
DISPOSIES PRELIMINARES
Art. 1
o
Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violncia domstica e familiar contra a
mulher, nos termos do 8
o
do art. 226 da Constituio Federal, da Conveno sobre a Eliminao de
Todas as Formas de Violncia contra a Mulher, da Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violncia contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela Repblica
Federativa do Brasil; dispe sobre a criao dos Juizados de Violncia Domstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de assistncia e proteo s mulheres em situao de violncia
domstica e familiar.
Art. 2
o
Toda mulher, independentemente de classe, raa, etnia, orientao sexual, renda, cultura,
nvel educacional, idade e religio, goza dos direitos fundamentais inerentes pessoa humana,
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violncia, preservar sua sade
fsica e mental e seu aperfeioamento moral, intelectual e social.
Art. 3
o
Sero asseguradas s mulheres as condies para o exerccio efetivo dos direitos vida,
segurana, sade, alimentao, educao, cultura, moradia, ao acesso justia, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e convivncia
familiar e comunitria.
1
o
O poder pblico desenvolver polticas que visem garantir os direitos humanos das
mulheres no mbito das relaes domsticas e familiares no sentido de resguard-las de toda forma
de negligncia, discriminao, explorao, violncia, crueldade e opresso.
2
o
Cabe famlia, sociedade e ao poder pblico criar as condies necessrias para o
efetivo exerccio dos direitos enunciados no caput.
Art. 4
o
Na interpretao desta Lei, sero considerados os fins sociais a que ela se destina e,
especialmente, as condies peculiares das mulheres em situao de violncia domstica e familiar.
TTULO II
DA VIOLNCIA DOMSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
CAPTULO I
DISPOSIES GERAIS
Art. 5
o
Para os efeitos desta Lei, configura violncia domstica e familiar contra a mulher
qualquer ao ou omisso baseada no gnero que lhe cause morte, leso, sofrimento fsico, sexual
ou psicolgico e dano moral ou patrimonial:
I - no mbito da unidade domstica, compreendida como o espao de convvio permanente de
pessoas, com ou sem vnculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no mbito da famlia, compreendida como a comunidade formada por indivduos que so ou
se consideram aparentados, unidos por laos naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relao ntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida, independentemente de coabitao.
Pargrafo nico. As relaes pessoais enunciadas neste artigo independem de orientao
sexual.
Art. 6
o
A violncia domstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violao dos
direitos humanos.
CAPTULO II
DAS FORMAS DE VIOLNCIA DOMSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
Art. 7
o
So formas de violncia domstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violncia fsica, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou sade
corporal;
II - a violncia psicolgica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuio da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas aes, comportamentos, crenas e decises, mediante ameaa,
constrangimento, humilhao, manipulao, isolamento, vigilncia constante, perseguio contumaz,
insulto, chantagem, ridicularizao, explorao e limitao do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuzo sade psicolgica e autodeterminao;
III - a violncia sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter
ou a participar de relao sexual no desejada, mediante intimidao, ameaa, coao ou uso da
fora; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impea
de usar qualquer mtodo contraceptivo ou que a force ao matrimnio, gravidez, ao aborto ou
prostituio, mediante coao, chantagem, suborno ou manipulao; ou que limite ou anule o
exerccio de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violncia patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure reteno, subtrao,
destruio parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econmicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violncia moral, entendida como qualquer conduta que configure calnia, difamao ou
injria.
TTULO III
DA ASSISTNCIA MULHER EM SITUAO DE VIOLNCIA DOMSTICA E FAMILIAR
CAPTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENO
Art. 8
o
A poltica pblica que visa coibir a violncia domstica e familiar contra a mulher far-se-
por meio de um conjunto articulado de aes da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municpios e de aes no-governamentais, tendo por diretrizes:
I - a integrao operacional do Poder Judicirio, do Ministrio Pblico e da Defensoria Pblica
com as reas de segurana pblica, assistncia social, sade, educao, trabalho e habitao;
II - a promoo de estudos e pesquisas, estatsticas e outras informaes relevantes, com a
perspectiva de gnero e de raa ou etnia, concernentes s causas, s conseqncias e freqncia
da violncia domstica e familiar contra a mulher, para a sistematizao de dados, a serem unificados
nacionalmente, e a avaliao peridica dos resultados das medidas adotadas;
III - o respeito, nos meios de comunicao social, dos valores ticos e sociais da pessoa e da
famlia, de forma a coibir os papis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violncia domstica
e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1
o
, no inciso IV do art. 3
o
e no inciso IV do
art. 221 da Constituio Federal;
IV - a implementao de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas
Delegacias de Atendimento Mulher;
V - a promoo e a realizao de campanhas educativas de preveno da violncia domstica e
familiar contra a mulher, voltadas ao pblico escolar e sociedade em geral, e a difuso desta Lei e
dos instrumentos de proteo aos direitos humanos das mulheres;
VI - a celebrao de convnios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoo
de parceria entre rgos governamentais ou entre estes e entidades no-governamentais, tendo por
objetivo a implementao de programas de erradicao da violncia domstica e familiar contra a
mulher;
VII - a capacitao permanente das Polcias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de
Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos rgos e s reas enunciados no inciso I quanto s
questes de gnero e de raa ou etnia;
VIII - a promoo de programas educacionais que disseminem valores ticos de irrestrito respeito
dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gnero e de raa ou etnia;
IX - o destaque, nos currculos escolares de todos os nveis de ensino, para os contedos
relativos aos direitos humanos, eqidade de gnero e de raa ou etnia e ao problema da violncia
domstica e familiar contra a mulher.
CAPTULO II
DA ASSISTNCIA MULHER EM SITUAO DE VIOLNCIA DOMSTICA E FAMILIAR
Art. 9
o
A assistncia mulher em situao de violncia domstica e familiar ser prestada de
forma articulada e conforme os princpios e as diretrizes previstos na Lei Orgnica da Assistncia
Social, no Sistema nico de Sade, no Sistema nico de Segurana Pblica, entre outras normas e
polticas pblicas de proteo, e emergencialmente quando for o caso.
1
o
O juiz determinar, por prazo certo, a incluso da mulher em situao de violncia
domstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e
municipal.
2
o
O juiz assegurar mulher em situao de violncia domstica e familiar, para preservar
sua integridade fsica e psicolgica:
I - acesso prioritrio remoo quando servidora pblica, integrante da administrao direta ou
indireta;
II - manuteno do vnculo trabalhista, quando necessrio o afastamento do local de trabalho, por
at seis meses.
3
o
A assistncia mulher em situao de violncia domstica e familiar compreender o
acesso aos benefcios decorrentes do desenvolvimento cientfico e tecnolgico, incluindo os servios
de contracepo de emergncia, a profilaxia das Doenas Sexualmente Transmissveis (DST) e da
Sndrome da Imunodeficincia Adquirida (AIDS) e outros procedimentos mdicos necessrios e
cabveis nos casos de violncia sexual.
CAPTULO III
DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL
Art. 10. Na hiptese da iminncia ou da prtica de violncia domstica e familiar contra a mulher,
a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrncia adotar, de imediato, as providncias
legais cabveis.
Pargrafo nico. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida
protetiva de urgncia deferida.
Art. 11. No atendimento mulher em situao de violncia domstica e familiar, a autoridade
policial dever, entre outras providncias:
I - garantir proteo policial, quando necessrio, comunicando de imediato ao Ministrio Pblico e
ao Poder Judicirio;
II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de sade e ao Instituto Mdico Legal;
III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando
houver risco de vida;
IV - se necessrio, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local
da ocorrncia ou do domiclio familiar;
V - informar ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os servios disponveis.
Art. 12. Em todos os casos de violncia domstica e familiar contra a mulher, feito o registro da
ocorrncia, dever a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem
prejuzo daqueles previstos no Cdigo de Processo Penal:
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrncia e tomar a representao a termo, se
apresentada;
II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstncias;
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da
ofendida, para a concesso de medidas protetivas de urgncia;
IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros
exames periciais necessrios;
V - ouvir o agressor e as testemunhas;
VI - ordenar a identificao do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes
criminais, indicando a existncia de mandado de priso ou registro de outras ocorrncias policiais
contra ele;
VII - remeter, no prazo legal, os autos do inqurito policial ao juiz e ao Ministrio Pblico.
1
o
O pedido da ofendida ser tomado a termo pela autoridade policial e dever conter:
I - qualificao da ofendida e do agressor;
II - nome e idade dos dependentes;
III - descrio sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.
2
o
A autoridade policial dever anexar ao documento referido no 1
o
o boletim de ocorrncia e
cpia de todos os documentos disponveis em posse da ofendida.
3
o
Sero admitidos como meios de prova os laudos ou pronturios mdicos fornecidos por
hospitais e postos de sade.
TTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS
CAPTULO I
DISPOSIES GERAIS
Art. 13. Ao processo, ao julgamento e execuo das causas cveis e criminais decorrentes da
prtica de violncia domstica e familiar contra a mulher aplicar-se-o as normas dos Cdigos de
Processo Penal e Processo Civil e da legislao especfica relativa criana, ao adolescente e ao
idoso que no conflitarem com o estabelecido nesta Lei.
Art. 14. Os Juizados de Violncia Domstica e Familiar contra a Mulher, rgos da Justia
Ordinria com competncia cvel e criminal, podero ser criados pela Unio, no Distrito Federal e nos
Territrios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execuo das causas decorrentes da
prtica de violncia domstica e familiar contra a mulher.
Pargrafo nico. Os atos processuais podero realizar-se em horrio noturno, conforme
dispuserem as normas de organizao judiciria.
Art. 15. competente, por opo da ofendida, para os processos cveis regidos por esta Lei, o
Juizado:
I - do seu domiclio ou de sua residncia;
II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;
III - do domiclio do agressor.
Art. 16. Nas aes penais pblicas condicionadas representao da ofendida de que trata esta
Lei, s ser admitida a renncia representao perante o juiz, em audincia especialmente
designada com tal finalidade, antes do recebimento da denncia e ouvido o Ministrio Pblico.
Art. 17. vedada a aplicao, nos casos de violncia domstica e familiar contra a mulher, de
penas de cesta bsica ou outras de prestao pecuniria, bem como a substituio de pena que
implique o pagamento isolado de multa.
CAPTULO II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGNCIA
Seo I
Disposies Gerais
Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caber ao juiz, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas:
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgncia;
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao rgo de assistncia judiciria, quando for o
caso;
III - comunicar ao Ministrio Pblico para que adote as providncias cabveis.
Art. 19. As medidas protetivas de urgncia podero ser concedidas pelo juiz, a requerimento do
Ministrio Pblico ou a pedido da ofendida.
1
o
As medidas protetivas de urgncia podero ser concedidas de imediato,
independentemente de audincia das partes e de manifestao do Ministrio Pblico, devendo este
ser prontamente comunicado.
2
o
As medidas protetivas de urgncia sero aplicadas isolada ou cumulativamente, e podero
ser substitudas a qualquer tempo por outras de maior eficcia, sempre que os direitos reconhecidos
nesta Lei forem ameaados ou violados.
3
o
Poder o juiz, a requerimento do Ministrio Pblico ou a pedido da ofendida, conceder
novas medidas protetivas de urgncia ou rever aquelas j concedidas, se entender necessrio
proteo da ofendida, de seus familiares e de seu patrimnio, ouvido o Ministrio Pblico.
Art. 20. Em qualquer fase do inqurito policial ou da instruo criminal, caber a priso
preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico ou
mediante representao da autoridade policial.
Pargrafo nico. O juiz poder revogar a priso preventiva se, no curso do processo, verificar a
falta de motivo para que subsista, bem como de novo decret-la, se sobrevierem razes que a
justifiquem.
Art. 21. A ofendida dever ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor,
especialmente dos pertinentes ao ingresso e sada da priso, sem prejuzo da intimao do
advogado constitudo ou do defensor pblico.
Pargrafo nico. A ofendida no poder entregar intimao ou notificao ao agressor.
Seo II
Das Medidas Protetivas de Urgncia que Obrigam o Agressor
Art. 22. Constatada a prtica de violncia domstica e familiar contra a mulher, nos termos desta
Lei, o juiz poder aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes
medidas protetivas de urgncia, entre outras:
I - suspenso da posse ou restrio do porte de armas, com comunicao ao rgo competente,
nos termos da Lei n
o
10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domiclio ou local de convivncia com a ofendida;
III - proibio de determinadas condutas, entre as quais:
a) aproximao da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mnimo de
distncia entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicao;
c) freqentao de determinados lugares a fim de preservar a integridade fsica e psicolgica da
ofendida;
IV - restrio ou suspenso de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de
atendimento multidisciplinar ou servio similar;
V - prestao de alimentos provisionais ou provisrios.
1
o
As medidas referidas neste artigo no impedem a aplicao de outras previstas na
legislao em vigor, sempre que a segurana da ofendida ou as circunstncias o exigirem, devendo a
providncia ser comunicada ao Ministrio Pblico.
2
o
Na hiptese de aplicao do inciso I, encontrando-se o agressor nas condies
mencionadas no caput e incisos do art. 6
o
da Lei n
o
10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz
comunicar ao respectivo rgo, corporao ou instituio as medidas protetivas de urgncia
concedidas e determinar a restrio do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor
responsvel pelo cumprimento da determinao judicial, sob pena de incorrer nos crimes de
prevaricao ou de desobedincia, conforme o caso.
3
o
Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgncia, poder o juiz requisitar, a
qualquer momento, auxlio da fora policial.
4
o
Aplica-se s hipteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos
5
o
e 6 do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Cdigo de Processo Civil).
Seo III
Das Medidas Protetivas de Urgncia Ofendida
Art. 23. Poder o juiz, quando necessrio, sem prejuzo de outras medidas:
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitrio de proteo ou
de atendimento;
II - determinar a reconduo da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domiclio, aps
afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuzo dos direitos relativos a bens,
guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separao de corpos.
Art. 24. Para a proteo patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade
particular da mulher, o juiz poder determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:
I - restituio de bens indevidamente subtrados pelo agressor ofendida;
II - proibio temporria para a celebrao de atos e contratos de compra, venda e locao de
propriedade em comum, salvo expressa autorizao judicial;
III - suspenso das procuraes conferidas pela ofendida ao agressor;
IV - prestao de cauo provisria, mediante depsito judicial, por perdas e danos materiais
decorrentes da prtica de violncia domstica e familiar contra a ofendida.
Pargrafo nico. Dever o juiz oficiar ao cartrio competente para os fins previstos nos incisos II
e III deste artigo.
CAPTULO III
DA ATUAO DO MINISTRIO PBLICO
Art. 25. O Ministrio Pblico intervir, quando no for parte, nas causas cveis e criminais
decorrentes da violncia domstica e familiar contra a mulher.
Art. 26. Caber ao Ministrio Pblico, sem prejuzo de outras atribuies, nos casos de violncia
domstica e familiar contra a mulher, quando necessrio:
I - requisitar fora policial e servios pblicos de sade, de educao, de assistncia social e de
segurana, entre outros;
II - fiscalizar os estabelecimentos pblicos e particulares de atendimento mulher em situao de
violncia domstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabveis
no tocante a quaisquer irregularidades constatadas;
III - cadastrar os casos de violncia domstica e familiar contra a mulher.
CAPTULO IV
DA ASSISTNCIA JUDICIRIA
Art. 27. Em todos os atos processuais, cveis e criminais, a mulher em situao de violncia
domstica e familiar dever estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta
Lei.
Art. 28. garantido a toda mulher em situao de violncia domstica e familiar o acesso aos
servios de Defensoria Pblica ou de Assistncia Judiciria Gratuita, nos termos da lei, em sede
policial e judicial, mediante atendimento especfico e humanizado.
TTULO V
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
Art. 29. Os Juizados de Violncia Domstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados
podero contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais
especializados nas reas psicossocial, jurdica e de sade.
Art. 30. Compete equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuies que lhe forem
reservadas pela legislao local, fornecer subsdios por escrito ao juiz, ao Ministrio Pblico e
Defensoria Pblica, mediante laudos ou verbalmente em audincia, e desenvolver trabalhos de
orientao, encaminhamento, preveno e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os
familiares, com especial ateno s crianas e aos adolescentes.
Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliao mais aprofundada, o juiz poder
determinar a manifestao de profissional especializado, mediante a indicao da equipe de
atendimento multidisciplinar.
Art. 32. O Poder Judicirio, na elaborao de sua proposta oramentria, poder prever recursos
para a criao e manuteno da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de
Diretrizes Oramentrias.
TTULO VI
DISPOSIES TRANSITRIAS
Art. 33. Enquanto no estruturados os Juizados de Violncia Domstica e Familiar contra a
Mulher, as varas criminais acumularo as competncias cvel e criminal para conhecer e julgar as
causas decorrentes da prtica de violncia domstica e familiar contra a mulher, observadas as
previses do Ttulo IV desta Lei, subsidiada pela legislao processual pertinente.
Pargrafo nico. Ser garantido o direito de preferncia, nas varas criminais, para o processo e
o julgamento das causas referidas no caput.
TTULO VII
DISPOSIES FINAIS
Art. 34. A instituio dos Juizados de Violncia Domstica e Familiar contra a Mulher poder ser
acompanhada pela implantao das curadorias necessrias e do servio de assistncia judiciria.
Art. 35. A Unio, o Distrito Federal, os Estados e os Municpios podero criar e promover, no
limite das respectivas competncias:
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em
situao de violncia domstica e familiar;
II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situao de violncia
domstica e familiar;
III - delegacias, ncleos de defensoria pblica, servios de sade e centros de percia mdico-
legal especializados no atendimento mulher em situao de violncia domstica e familiar;
IV - programas e campanhas de enfrentamento da violncia domstica e familiar;
V - centros de educao e de reabilitao para os agressores.
Art. 36. A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios promovero a adaptao de seus
rgos e de seus programas s diretrizes e aos princpios desta Lei.
Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poder ser
exercida, concorrentemente, pelo Ministrio Pblico e por associao de atuao na rea,
regularmente constituda h pelo menos um ano, nos termos da legislao civil.
Pargrafo nico. O requisito da pr-constituio poder ser dispensado pelo juiz quando
entender que no h outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da
demanda coletiva.
Art. 38. As estatsticas sobre a violncia domstica e familiar contra a mulher sero includas nas
bases de dados dos rgos oficiais do Sistema de Justia e Segurana a fim de subsidiar o sistema
nacional de dados e informaes relativo s mulheres.
Pargrafo nico. As Secretarias de Segurana Pblica dos Estados e do Distrito Federal
podero remeter suas informaes criminais para a base de dados do Ministrio da Justia.
Art. 39. A Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios, no limite de suas competncias
e nos termos das respectivas leis de diretrizes oramentrias, podero estabelecer dotaes
oramentrias especficas, em cada exerccio financeiro, para a implementao das medidas
estabelecidas nesta Lei.
Art. 40. As obrigaes previstas nesta Lei no excluem outras decorrentes dos princpios por ela
adotados.
Art. 41. Aos crimes praticados com violncia domstica e familiar contra a mulher,
independentemente da pena prevista, no se aplica a Lei n
o
9.099, de 26 de setembro de 1995.
Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei n
o
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de Processo
Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
Art. 313. .................................................
................................................................
IV - se o crime envolver violncia domstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei especfica,
para garantir a execuo das medidas protetivas de urgncia. (NR)
Art. 43. A alnea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Cdigo Penal), passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 61. ..................................................
.................................................................
II - ............................................................
.................................................................
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relaes domsticas, de coabitao ou de
hospitalidade, ou com violncia contra a mulher na forma da lei especfica;
........................................................... (NR)
Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo Penal), passa a
vigorar com as seguintes alteraes:
Art. 129. ..................................................
..................................................................
9
o
Se a leso for praticada contra ascendente, descendente, irmo, cnjuge ou companheiro, ou
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relaes domsticas,
de coabitao ou de hospitalidade:
Pena - deteno, de 3 (trs) meses a 3 (trs) anos.
..................................................................
11. Na hiptese do 9
o
deste artigo, a pena ser aumentada de um tero se o crime for cometido
contra pessoa portadora de deficincia. (NR)
Art. 45. O art. 152 da Lei n
o
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuo Penal), passa a
vigorar com a seguinte redao:
Art. 152. ...................................................
Pargrafo nico. Nos casos de violncia domstica contra a mulher, o juiz poder determinar o
comparecimento obrigatrio do agressor a programas de recuperao e reeducao. (NR)
Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias aps sua publicao.
Braslia, 7 de agosto de 2006; 185
o
da Independncia e 118
o
da Repblica.
LUIZ INCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff
Este texto no substitui o publicado no D.O.U. de 8.8.2006
ANEXO D APRESENTAO DA PESQUISADORA E
AUTORIZAO PARA A PESQUISA
UNIVERSIDADE CATLICA DO SALVADOR
MESTRADO EM FAMLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORNEA
GINA EMLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COSTA GOMES
ASPECTOS VISVEIS DAS VIOLNCIAS INVISVEIS:
VIOLNCIA CONTRA A MULHER NA FAMLIA NOS CASOS DAS
USURIAS DO CENTRO DE REFERNCIA LORETA VALADARES
EM SALVADOR-BA
Salvador
2010
14
Anverso da folha de rosto
UCSAL. Sistema de Bibliotecas
0
G633 Gomes, Gina Emlia Barbosa de Oliveira Costa
Aspectos visveis das violncias invisveis: violncia contra a mulher
na famlia nos casos das usurias do Centro de Referncia Loreta Valadares
em Salvador - Ba/ Gina Emlia Barbosa de Oliveira Costa Gomes.
Salvador, 2010.
170 f.
Dissertao (mestrado) - Universidade Catlica do Salvador.
Superintendncia de Pesquisa e Ps-Graduao. Mestrado em Famlia na
Sociedade Contempornea.
Orientao: Profa. Dra. Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti.
1. Violncia 2. Gnero 3. Famlia 4. Polticas Pblicas 5. Leis I. Ttulo.
.
CDU 316.346.2-055.2(813.8)
Você também pode gostar
- Projeto Intervenção Leitura e EscritaDocumento17 páginasProjeto Intervenção Leitura e EscritaÚnica Ipatinga Polo Salgueiro100% (1)
- TCC TDAH Na Escola Conhecimento e Atuação Do Professor de Educação FísicaDocumento52 páginasTCC TDAH Na Escola Conhecimento e Atuação Do Professor de Educação FísicaÚnica Ipatinga Polo SalgueiroAinda não há avaliações
- A FAMÍLIA Igreja DomesticaDocumento2 páginasA FAMÍLIA Igreja DomesticaÚnica Ipatinga Polo Salgueiro100% (2)
- Jogos e Brincadeiras para Aprender Matemática ResumoDocumento9 páginasJogos e Brincadeiras para Aprender Matemática ResumoÚnica Ipatinga Polo SalgueiroAinda não há avaliações
- Formação de Professores para Uso Das Novas Tecnologias de Comunicação e InformaçãoDocumento17 páginasFormação de Professores para Uso Das Novas Tecnologias de Comunicação e InformaçãoÚnica Ipatinga Polo SalgueiroAinda não há avaliações
- Dossiê Violência Contra A MulherDocumento39 páginasDossiê Violência Contra A MulherÚnica Ipatinga Polo SalgueiroAinda não há avaliações
- Repensando o Relacionamento Interpessoal Professor e Aluno No Cotidiano Escolar - 3-1Documento15 páginasRepensando o Relacionamento Interpessoal Professor e Aluno No Cotidiano Escolar - 3-1Única Ipatinga Polo SalgueiroAinda não há avaliações
- A Saúde Doença Como Processo Social Ana Cristina LaurellDocumento22 páginasA Saúde Doença Como Processo Social Ana Cristina LaurellÚnica Ipatinga Polo SalgueiroAinda não há avaliações