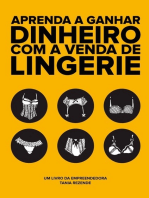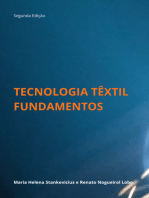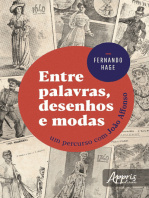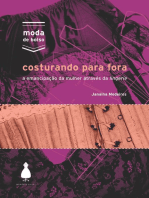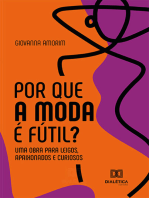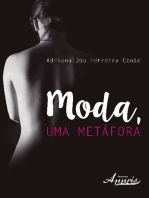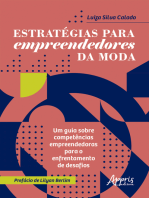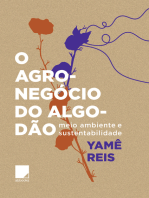Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Guia Textil
Guia Textil
Enviado por
fernandeslimaraquelDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Guia Textil
Guia Textil
Enviado por
fernandeslimaraquelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GUIA TCNICO AMBIENTAL DA INDSTRIA TXTIL - SRIE P + L.
X
T
I
L
Guia Tcnico Ambiental da
Indstria Txtil - Srie P+L
GOVERNO DO ESTADO
DE SO PAULO
GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO
Jos Serra Governador
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Francisco Graziano Neto Secretrio
CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL
Fernando Cardozo Fernandes Rei Diretor Presidente
SINDITXTIL SP - SINDICATO DAS INDSTRIAS TXTEIS DO
ESTADO DE SO PAULO
Rafael Cervone Netto - Presidente
2009
Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental
Fernando Cardozo Fernandes Rei
Diretor Presidente
Marcelo Minelli
Diretor de Controle de
Poluio Ambiental
Ana Cristina Pasini da Costa
Diretoria de Engenharia, Tecnologia
e Qualidade Ambiental
Edson Tomaz de Lima Filho
Diretor de Gesto Corporativa
Sindicato das Indstrias Txteis do
Estado de So Paulo
Rafael Cervone Netto
Presidente
Paulo Antonio Skaf
Presidente Emrito
Gilmar Valera Nabanete
1 Vice-Presidente
Dorivaldo Ferreira
2 Vice-Presidente
Luiz Arthur Pacheco de Castro
3 Vice-Presidente
Alfredo Emlio Bonduki
Diretor Tesoureiro
Paulo Vieira
1 Tesoureiro
Alessandro Pascolato
2 Tesoureiro
Marielza Pinto de Carvalho Milani
Secretrio
Eduardo San Martin
Coordenador de
Meio Ambiente
CETESB
Dados Internacionais de
Catalogao na Publicao (CIP)
(CETESB Biblioteca, SP, Brasil)
B324g Bastian, Elza Y. Onishi
Guia tcnico ambiental da indstria txtil / Elaborao Elza Y. Onishi Bastian,
Jorge Luiz Silva Rocco ; colaborao Eduardo San Martin ... [et al.]. - - So Paulo :
CETESB : SINDITXTIL, 2009.
85 p. (1 CD) : il. col. ; 21 cm. - - (Srie P + L, ISSN 1982-6648)
Publicado tambm de forma impressa.
Disponvel tambm em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/producao_limpa/documentos/textil.pdf>.
ISBN 978-85-61405-08-3
1. Indstria txtil 2. Poluio controle 3. Poluio - preveno 4. Produo
limpa 5. Resduos industriais minimizao 6. Tecido - processo industrial I. Rocco,
Jorge Luiz Silva II. San Martin, Eduardo, Coord. III. Ribeiro, Flvio de Miranda, Coord.
IV. Ttulo. V. Srie.
CDD (21.ed. Esp.) 677.00286 CDU (2.ed. port.) 628.51/.54 : 677.08
Normalizao para editorao e Catalogao na fonte: Margot Terada CRB 8.4422
Apresentao da CETESB
No decorrer dos ltimos anos a CETESB vem desenvolvendo Guias Ambientais
de Produo mais Limpa, com o intuito de incentivar e orientar a adoo de
aes de P+L nos diversos setores produtivos, alm de fornecer uma ferramenta
de auxlio para a difuso e aplicao do conceito de P+L junto ao setor pblico
e s universidades.
Os guias mais recentes, publicados a partir de 2005, tem uma importante par-
ticipao do setor produtivo em sua elaborao, fruto de fundamental parce-
ria rmada entre a CETESB e representantes da indstria, estabelecendo novas
formas conjuntas de ao na gesto ambiental, com o objetivo de assegurar
maior sustentabilidade nos padres de produo.
No h dvidas de que a adoo da P+L pode trazer resultados ambientais
satisfatrios, de forma contnua e perene, ao contrrio da adoo de aes
pontuais de controle corretivo. Na maioria dos casos estes resultados permitem
aprimorar a produtividade, obter reduo do consumo de matrias-primas e
de recursos naturais, eliminar substncias txicas, reduzir da carga de resduos
gerados e diminuir o passivo ambiental, colaborando reduo de riscos para
a sade ambiental e humana. Adicionalmente, a P+L em geral contribui signi-
cativamente para a obteno de benefcios econmicos pelo empreendedor,
melhorando sua competitividade e imagem empresarial.
Neste contexto, o intercmbio maduro entre o setor produtivo e o rgo am-
biental uma importante condio para que se desenvolvam ferramentas de
auxlio, tanto na busca de solues adequadas para a resoluo dos proble-
mas ambientais, como na manuteno do desenvolvimento social e econmi-
co sustentvel.
Esperamos assim, que a troca de informao iniciada com esses documentos
gere uma viso crtica, que identique e concretize oportunidades de melhoria
ambiental nos processos produtivos, bem como venha a subsidiar o aumento
do conhecimento tcnico, promovendo o desenvolvimento de tecnologias
mais limpas para a efetiva garantia de aprimoramento da qualidade ambi-
ental.
Fernando Cardozo Fernandes Rei
Diretor Presidente
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Apresentao do Sinditxtil
O setor txtil pioneiro em prticas de produo mais limpa. Isto se deve
contnua procura pela melhoria de seu processo produtivo onde o compo-
nente ambiental exerce papel da maior importncia. Neste sentido, tm sido
direcionados todos os esforos para, cada vez mais, garantir uma maior sus-
tentabilidade na produo, atravs da reduo no consumo de gua e de
energia eltrica em todas as etapas de sua cadeia.
Este GUIA de P+ L, elaborado pela Cmara Ambiental da Indstria Txtil a partir
de um piloto coordenado pela CETESB e de experincias bem sucedidas realiza-
das por empresas do setor, descreve a atividade txtil, relaciona medidas prticas
genricas e especicas, alm de indita apresentao de indicadores ambientais
que podero ser quanticados a partir de informaes fornecidas pelas empre-
sas.
To importante quanto utilizar este GUIA ser a necessidade de sua constante
atualizao. Para tanto, fundamental que as empresas txteis continuem co-
laborando e informando o SINDITXTIL sobre os resultados de suas prticas com
o qu ser possvel aprimorar este manual orientativo. Este trabalho mais um
passo dado no caminho traado para melhorar ainda mais a qualidade ambi-
ental do produto txtil.
Rafael Cervone Netto
Presidente
Sinditxtil - Sindicato das Indstrias Txteis do Estado de So Paulo
Realizao:
CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 Alto de Pinheiros
05459-900 So Paulo/SP
Telefone: (11) 3133-3000
Site: http:\\www.cetesb.sp.gov.br
Coordenao Tcnica da Srie P+L
Meron Petro Zajac
Flvio de Miranda Ribeiro
Departamento de Desenvolvimento Institucional Estratgico
Rodrigo Csar de A. Cunha
Diviso de Coordenao de Cmaras Ambientais
Zoraide de S. Senden Carnicel
Sinditxtil Sindicado das Indstrias Txteis do Estado de So Paulo
Rua Marqus de It, 968 - 01223-000 - So Paulo/SP
Telefone: (11) 3823-6100
Site: http:\\www.sinditextilsp.org.br
Coordenadoria de Meio Ambiente
Eduardo San Martin
Cmara Ambiental da Indstria Txtil
Membros representantes do Sinditxtil:
Rafael Cervone Netto
Eduardo San Martin
Alfredo Bonduki
Fabio Volonte
George Tomic
Gisele Dal Belo
Jacques Conchon
Jos Eduardo Cintra de Oliveira
Luiz Antonio Furquim da Silva
Luiz Artur Pacheco de Castro
Luiz Roberto Jesus
Mrio Alves Rodrigues
Raquel Alvim
Vitor Hugo Bolzan
Membros representantes da CETESB:
Elza Yuriko Onishi Bastian
Gilson Alves Quinglia
Jeov Ferreira de Lima
Jorge Luiz Silva Rocco
Meron Petro Zajac
Elaborao Tcnica:
Elza Yuriko Onishi Bastian (CETESB)
Jorge Luiz Silva Rocco (CETESB)
Colaboradores:
Eduardo San Martin (Sinditxtil)
Flvio de Miranda Ribeiro (CETESB)
Giovanni Frascolla (Texpal Qumica)
Jos Wagner Faria Pacheco (CETESB)
Leonardo Jos de SantAna (Guainunby Txtil)
Luiz Antonio Furquim da Silva (Santista Txtil / Tavex)
Maria Luiza Padilha (ABIT)
Mateus Sales dos Santos (CETESB)
Pedro Paulo Moraes Soares (Paramount Txteis)
Mrio Alves Rodrigues (Coats Corrente)
Rafael Cervone Netto (Sinditxtil)
Rafael Covolan (Covolan Ind. Txtil)
Reinaldo Aparecido Rozzatti (ABTT)
Ricardo Murilo (Txtil Matec)
Sylvio Napoli (ABIT)
Wilson de Oliveira Costa Junior (Sinditxtil)
Capa:
j3p
Projeto Grco:
Cia. de Desenho
Impresso:
Grca Ideal
Mdia:
JCN Mdia Digital
LISTA DE ILUSTRAES
Foto 1 - Utilizao de telhas translcidas no galpo industrial
medida de P+L com reduo do consumo de energia
Foto 2 - Texturizao polister 5
Foto 3 - Secador de bras de viscose 8
Foto 4 - Fardo de PET para reciclagem 9
Foto 5 - Retoro de polister 10
Foto 6 - Processo de tingimento 11
Foto 7 - Malharia 12
Foto 8 - Aquecedor de leo 15
Foto 9 - Detalhe de navalhadeira 16
Foto 10 - Reao qumica com a formao do o de viscose 18
Foto 11 - Enroladeira 20
Fotos 12 - Tanques de equalizao e de aerao do STAR
Foto 13 - Tecelagem 37
Foto 14 - Abridora 38
Foto 15 - Lavadeira preparao 40
Foto 16 - Lavagem de piso 42
Foto 17 - Reaproveitamento da gua de resfriamento
utilizada na sanforizadeira 42
Foto 18 - Planta osmose reversa / Reutilizao de gua do STAR 48
Foto 19 - Rama 55
Foto 20 - Engomadeira recuperao de goma 58
Foto 21 - Recipiente para coleta seletiva de resduos 59
Foto 22 - Lodo em leito de secagem 61
Ilustrao 1 - Cadeia Txtil 6
Quadro 1 - Ficha Tcnica do Setor Paulista 4
Quadro 2 - Plos Txteis 5
Quadro 3 - Fibras Txteis 7
Quadro 4 - Reciclagem de PET para a indstria txtil 9
Quadro 5 - Principais processos da Fiao 10
Quadro 6 - Principais processos de Beneciamento 11
Quadro 7 - Principais processos de Tecelagem / Malharia 12
Quadro 8 - Principais processos de Enobrecimento 13
Quadro 9 - Principais processos de Confeco 14
Quadro 10 - reas de apoio para a produo 15
Quadro 11 - Corantes e as etapas de aplicao 19
Quadro 12 - Caractersticas dos corantes utilizados nas
operaes de tingimento 20
Quadro 13 - Resumo dos impactos ambientais potenciais 35
Quadro 14 - Relao de cargas orgnicas especcas 36
Quadros 15 - Indicadores Ambientais para o Setor Txtil 38
3
37
Quadro 16 - Medidas para reduo do consumo de gua
nas operaes de lavagem 41
Quadro 17 - Medidas para reduo do consumo de gua
nas operaes de resfriamento 42
Quadro 18 - Medidas para reduo do consumo de gua
nas operaes de tingimento 43
Quadro 19 - Relao de banhos em equipamentos
de tingimento 43
Quadro 20 - Comparao da energia necessria para
os diferentes tipos de processos 44
Quadro 21 - Medidas para reduo do consumo de gua
nas instalaes hidrulicas 44
Quadro 22 - Comparao entre equipamentos convencionais e
economizadores de gua 45
Quadro 23 - Utilizao de gua de chuva no processo produtivo 45
Quadro 24 - Utilizao de gua de chuva no conforto interno
de ambiente 46
Quadro 25 - Reutilizao de euente tratado de sistemas pblicos 46
Quadro 26 - Reutilizao de euentes industriais tratados na
gerao de vapor das caldeiras 47
Quadro 27 - Reutilizao de euentes industriais tratados no STAR 47
Quadro 28 - Medidas de reduo de energia em instalaes para
gerao de vapor 49
Quadro 29 - Reaproveitamento de calor gerado proveniente
de banhos 50
Quadro 30 - Outras medidas para reaproveitamento de
calor gerado 50
Quadro 31 - Procedimentos operacionais para reduo do
consumo de energia 51
Quadro 32 - Reviso de equipamentos e motores 51
Quadro 33 - Iluminao 53
Quadro 34 - Ecincia luminosa dos principais tipos de lmpadas 53
Quadro 35 - Lavagem a seco 54
Quadro 36 - Reduo de emisses de substncias odorferas 55
Quadro 37 - Reduo das emisses de rudo 56
Quadro 38 - Reduo das emisses de partculas de vibrao 57
Quadro 39 - Recuperao de goma 57
Quadro 40 - Recuperao de soda custica 59
Quadro 41 - Reduo da gerao de resduos de embalagens 60
Quadro 42 - Reutilizao de resduos 60
Quadro 43 - Procedimentos operacionais para reduo
de produtos qumicos 62
Quadro 44 - Substituio de produtos qumicos e auxiliares 62
Quadro 45 - Substituio de cozinha de cores manual por
automatizada 65
Quadro 46 - Reutilizao de gua de banho em processos
de acabamento 66
Quadro 47 - Reutilizao de gua de banho dos processos
de tingimento 66
Quadro 48 - Modicao de equipamentos no processo
de estamparia 67
Quadro 49 - Modicao de equipamentos nos
processos produtivos 67
Quadro 50 - Procedimentos operacionais nos equipamentos
de gerao de vapor 68
Quadro 51 - Substituio de combustvel utilizado na(s) caldeira(s) 69
Quadro 52 - Substituio de combustvel na gerao de vapor e
aquecedor de uido trmico 70
Quadro 53 - Armazenamento de produtos perigosos sob
condies adequadas 71
Quadro 54 - Seleo de bras da matria-prima 73
Quadro 55 - Resumo das oportunidades de P+L 74
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABIT Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeces
ABIPET Associao Brasileira da Indstria do PET
ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas
ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
BPF leo de baixo ponto de uidez
CFC Clorouorcarbonos
CMC Carboximetilcelulose
CMA Carboximetilamido
CNRH Conselho Nacional de Recursos Hdricos
Conmetro Conselho Nacional de Metrologia, Normalizao
e Qualidade Industrial
COVs Compostos Orgnicos Volteis (VOCs)
DBO
5,20
Demanda Bioqumica de Oxignio
DTPMP Dietilenetriaminopentafosfato
EDTMP Etilenediaminotetrafosfato
ECP Equipamento de Controle de Poluio
ETA Estao de Tratamento de gua
GN Gs Natural
GLP Gs Liquefeito do Petrleo
IEMI Instituto de Estudos e Marketing Industrial
IBGE Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica
LCD Liquid Cristal Display (monitor)
MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e
Comrcio Exterior
NTA Nitrilo triacetato
PET Tereftalato de polietileno
pH Potencial hidrogeninico
PURA Programa de Uso Racional da gua (Sabesp)
P+L Produo mais Limpa
Sabesp Companhia de Saneamento do Estado de So Paulo
SMA Secretaria do Meio Ambiente
STAR Sistema de Tratamento de guas Residurias
TNT Tecidos NoTecidos
3R Reduzir / Reusar / Reciclar (processo)
SUMRIO
1 INTRODUO 1
2 PERFIL DA CADEIA PRODUTIVA 4
2.1 Os Plos Txteis Paulistas
3 DESCRIO DO PROCESSO PRODUTIVO 6
3.1 Fibras Txteis 7
3.2 Fiao 10
3.3 Processo de Beneciamento 11
3.4 Processo de Tecimento (Tecelagem e Malharia) 12
3.5 Processo de Enobrecimento 13
3.6 Confeces 14
3.7 Utilidades 15
3.8 Tecidos NoTecidos TNT 16
3.9 Corantes 17
4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 21
4.1 Fiao 21
4.2 Processo de Beneciamento 22
4.3 Processo de Tecimento (Tecelagem / Malharia) 25
4.4 Processo de Enobrecimento 26
4.5 Processo de Tingimento 30
4.6 Confeces 32
4.7 Utilidades 32
4.8 Impactos Ambientais Potenciais 34
4.9 Indicadores Ambientais para as Atividades Produtivas 38
5 PRODUO MAIS LIMPA ( P+L ) 39
5.1 Reduo, recuperao e reutilizao de gua 40
5.2 Reduo / conservao de energia 49
5.3 Lavagem a Seco 53
5.4 Reduo de emisses de Substncias Odorferas 55
5.5 Reduo de emisses de Rudo e Vibrao 56
5.6 Recuperao de Insumos 57
5.7 Reduo, reutilizao e reciclagem de resduos gerados 59
5.8 Produtos Qumicos 62
5.9 Modicao de Equipamentos 67
5.10 Reduo da gerao de Poluentes Atmosfricos 68
5.11 Armazenamento de produtos perigosos sob condies adequadas 71
5.12 Instalaes e atividades administrativas 72
5.13 Outras medidas de P+L 73
5.14 Quadro resumo das Oportunidades de P+L 74
6 REFERNCIAS CONSULTADAS 76
7 APNDICE 78
7.A Glossrio 78
8 ANEXO 81
8.A Fluxo de Produo da Cadeia Txtil 81
5
1 INTRODUO
Este Guia foi desenvolvido para levar at voc informaes que o auxiliaro a inte-
grar o conceito de Produo mais Limpa - P+L gesto de sua empresa.
Ao longo deste documento voc poder perceber que, embora seja um con-
ceito novo, a P+L trata, principalmente, de um tema bem conhecido das inds-
trias: a melhoria na ecincia dos processos.
Contudo, ainda persistem dvidas na hora de adotar a gesto de P+L no co-
tidiano das empresas, tais como:
- De que forma ela pode ser efetivamente aplicada nos processos e na
produo?
- Como integr-la ao dia-a-dia dos colaboradores?
- Que vantagens e benefcios traz para a empresa?
- Como uma empresa de pequeno porte pode trabalhar luz de um conceito
que, primeira vista, parece to sosticado ou dependente de tecnologias de
alto custo?
Para responder a estas e outras questes, este Guia traz algumas orientaes
tericas e tcnicas, com o objetivo de auxiliar voc a dar o primeiro passo na
integrao de sua empresa a este conceito, que tem levado diversas orga-
nizaes busca de uma produo mais eciente, econmica e com menor
impacto ambiental.
Em linhas gerais, o conceito de P+L pode ser resumido como uma srie de estra-
tgias, prticas e condutas econmicas, ambientais e tcnicas, que evitam ou
reduzem a emisso de poluentes no meio ambiente por meio de aes preven-
tivas, ou seja, evitando a gerao de poluentes ou criando alternativas para
que estes sejam reutilizados ou reciclados.
Na prtica, essas estratgias podem ser aplicadas a processos, produtos e at
mesmos servios, e incluem alguns procedimentos fundamentais que inserem
a P+L nos processos de produo. Dentre eles, possvel citar a reduo ou
eliminao do uso de matrias-primas txicas, aumento da ecincia no uso
de matrias-primas, gua ou energia, reduo na gerao de resduos e eu-
entes, e reuso de recursos, entre outros.
As vantagens so signicativas para todos os envolvidos, do indivduo socie-
dade, do Pas ao Planeta. Mas a empresa que obtm os maiores benefcios
para o seu prprio negcio. Para ela, a P+L pode signicar reduo de custos de
produo; aumento de ecincia e competitividade; diminuio dos riscos de
acidentes ambientais; melhoria das condies de sade e de segurana do tra-
balhador; melhoria da imagem da empresa junto a consumidores, fornecedores,
poder pblico, mercado e comunidades; ampliao de suas perspectivas de
atuao no mercado interno e externo; maior acesso a linhas de nanciamento;
melhoria do relacionamento com os rgos ambientais e a sociedade, entre
outros.
Por tudo isto vale a pena adotar esta prtica, principalmente se a sua empresa
for pequena ou mdia e esteja dando os primeiros passos no mercado, pois
com a P+L voc e seus colaboradores j comeam a trabalhar certo desde o
incio. Ao contrrio do que possa parecer num primeiro momento, grande parte
1
compreende medidas muito simples. Algumas j so amplamente dissemina-
das, mas neste Guia elas aparecem organizadas segundo um contexto global,
tratando da questo ambiental por meio de suas vrias interfaces: a individual
relativa ao colaborador; a coletiva referente organizao; e a global, que
est ligada s necessidades do Pas e do Planeta.
provvel que, ao ler este documento, em diversos momentos, voc pare e
pense: mas isto eu j fao! Tanto melhor, pois ir demonstrar que voc j
adotou algumas iniciativas para que a sua empresa se torne mais sustentvel.
Em geral, a P+L comea com a aplicao do bom senso aos processos, que
evolui com o tempo at a incorporao de seus conceitos gesto do prprio
negcio.
importante ressaltar que a P+L um processo de gesto que abrange diversos
nveis da empresa, da alta diretoria aos diversos colaboradores. Trata-se no
s de mudanas organizacionais, tcnicas e operacionais, mas tambm de
uma mudana cultural que necessita de comunicao para ser disseminada e
incorporada ao dia-a-dia de cada colaborador.
uma tarefa desaadora, e que por isto mesmo consiste em uma excelente
oportunidade. Com a P+L possvel construir uma viso de futuro para a
sua empresa, aperfeioar as etapas de planejamento, expandir e ampliar o
negcio, e o mais importante: obter simultaneamente benefcios ambientais e
econmicos na gesto dos processos.
De modo a auxiliar as empresas, este Guia foi estruturado em cinco captulos. Inicia-
se com a introduo a Produo mais Limpa P+L, seguindo para a descrio do
perl do setor, no qual so apresentados os dados socioeconmicos de produo,
importao e exportao, faturamento, e as caractersticas dos plos txteis pau-
listas.
Em seguida, apresenta-se a descrio das etapas dos processos produtivos:
bras, ao, beneciamento, tecelagem/malharia, enobrecimento, con-
feces, utilidades, TNT e corantes. No captulo 4, voc conhecer os aspectos
e impactos ambientais potenciais gerados por cada etapa do processo produ-
tivo, assim como, sugestes de indicadores ambientais.
O ltimo captulo apresenta diversos exemplos de procedimentos de P+L,
aplicveis ao processo de produo e as atividades administrativas, tais como:
reduo, recuperao e reutilizao de gua; reduo e conservao de
energia; lavagem a seco; reduo de emisses de substncias odorferas;
reduo de emisses de rudo e vibrao; recuperao de insumos; reduo,
reutilizao e reciclagem de resduos gerados; produtos qumicos; modicao
de equipamentos; reduo de poluentes atmosfricos; armazenamento de
produtos perigosos sob condies adequadas; instalaes e atividades admi-
nistrativas, alm de outras medidas.
2
3
O objetivo deste material demonstrar a responsabilidade de cada empresa,
seja ela, pequena, mdia ou grande, com seu potencial de impacto ambiental.
Embora em diferentes escalas, todos contribumos de certa forma com os impac-
tos no meio ambiente. Entender, aceitar e mudar isto so atitudes imprescindveis
para a gesto responsvel das empresas.
Esperamos que este Guia torne-se uma das bases para a construo de um
projeto de sustentabilidade na gesto da sua empresa.
Fonte: Vicunha Txtil S/A
Foto 1 - Utilizao de telhas translcidas no
galpo industrial - medida P+L com reduo do
consumo de energia eltrica
2 PERFIL DA CADEIA PRODUTIVA
O Setor txtil brasileiro investe uma mdia de US$ 1 bilho por ano para manter
seus parques sempre atualizados, com tecnologia de ponta, respeitando as leis
ambientais e investindo em prossionais capacitados.
O setor paulista apresentou um crescimento em torno de 5% no faturamento
em 2007, saltando de US$ 12,5 bilhes em 2006 para US$ 13,1 bilhes. Este fato
atribudo estratgia que os empresrios esto adotando para fugir da con-
corrncia com os asiticos, onde a maior parte das empresas passou a investir
em produtos com maior valor agregado, portanto mais caros, tanto para ex-
portar quanto para o mercado domstico.
De janeiro a outubro/2007, o Estado de So Paulo, que detm 25% das expor-
taes nacionais de txteis e confeccionados, acumulou US$ 466 milhes de
faturamento externo (5% mais que no mesmo perodo em 2006).
No Quadro 1 so apresentados os dados registrados no ano de 2007.
Quadro 1 - Ficha Tcnica do Setor Paulista
Faturamento US$ 12,9 bilhes
Balana
comercial
US$ 227 milhes de dcit contra US$ 88 milhes de dcit
em 2006
Exportaes
de SP
US$ 561 milhes contra US$ 535 milhes no mesmo perodo
2006
Importaes
de SP
US$ 788 milhes contra US$ 623 milhes no mesmo perodo
2006
Empregos 465 mil empregos diretos
Produo Txtil cresceu 5,28% e vesturio em 3,46%
Varejo Crescimento de 12,46%
ICMS Paulista 12% para indstrias
Fontes: ABIT, IEMI, IBGE, MDIC, adaptado pela ABIT/Sinditxtil
4
5
2.1 Os Plos Txteis Paulistas
O Quadro 2 apresenta os plos txteis paulista com suas caractersticas produ-
tivas.
Quadro 2 Plos Txteis
Plos Txteis (*) Caractersticas produtivas
Regio de
Americana
Cadeia txtil integrada, desde bras at con-
feco, mais voltada para a linha articial e sin-
ttica, envolvendo os Municpios de Americana,
Sta. Brbara dOeste, Nova Odessa, Sumar e Hor-
tolndia.
Tiet/
Cerquilho
Confeco em geral predominncia de moda
infanto-juvenil e jeans.
Sorocaba/
Itapetininga
Confeco em geral predominncia de jeans e
indstrias voltadas s fbricas de confeco para
brinquedos.
Cidade de So Paulo
(zonas Leste e Sul)
Confeces e principalmente a explorao do
uso da marca.
Regio de Amparo,
Itatiba e Jundia
Cadeia txtil integrada mais voltada a algodo e
moda praia.
Regio das guas Cadeia Txtil voltada malharia retilnea envol-
vendo os Municpios de Lindia, Serra Negra e So-
corro.
Regio de So Jos
do Rio Preto
Cadeia Txtil voltada moda infantil.
Glia e Bastos Produo da seda incluindo as indstrias txteis.
Fonte: Sinditxtil (*) Envolve diversos municpios paulistas
Fonte: Vicunha Txtil S/A
Foto 2 - Texturizao Polister
3 DESCRIO DO PROCESSO PRODUTIVO
O presente Guia destaca as etapas do processo produtivo a partir da diviso
das bras txteis, ao, tecelagem e/ou malharia, beneciamento e enobre-
cimento dos os e tecidos e confeces. Apresenta-se na ilustrao abaixo,
uma congurao simplicada da Cadeia Txtil:
Ilustrao 1 Cadeia Txtil
Fiao
Beneficiamento
Malharia Tecelagem
Enobrecimento
Confeces
Mercado: Fios / Tecidos / Peas
Fibras Naturais e/ou Manufaturadas
Fonte: Sinditxtil
A) Fiao: etapa de obteno do o a partir das bras txteis que pode ser
enviado para o beneciamento ou diretamente para tecelagens e malharias.
B) Beneciamento: etapa de preparao dos os para seu uso nal ou no, en-
volvendo tingimento, engomagem, retoro (linhas, barbantes, os especiais,
etc.) e tratamento especiais.
C) Tecelagem e/ou Malharia: etapas de elaborao de tecido plano, tecidos
de malha circular ou retilnea, a partir dos os txteis.
D) Enobrecimento: etapa de preparao, tingimento, estamparia e aca-
bamento de tecidos, malhas ou artigos confeccionados.
E) Confeces: nesta etapa o setor tem aplicao diversicada de tecnologias
para os produtos txteis, acrescida de acessrios incorporados nas peas.
No item 4 do presente Guia, que trata de Aspectos e Impactos Ambientais nos
processos, sero consideradas as atividades denominadas de Utilidades que
apiam ou do suporte aos processos tais como: gerao de vapor, gua tra-
tada, ar comprimido, entre outros.
6
7
3.1 Fibras Txteis
A cadeia produtiva pode ser inicialmente classicada em funo das bras tx-
teis utilizadas. O quadro a seguir, divide as bras em 02 (dois) grupos denomina-
dos de Fibras Naturais e Fibras Manufaturadas, conhecidas tambm como bras
qumicas, conforme o regulamento tcnico do Mercosul sobre etiquetagem de
produtos txteis Resoluo Conmetro/MDIC n.02, de 06.05.2008.
Quadro 3 Fibras Txteis
Fonte: Sinditxtil
Algodo
Linho
Rami
Juta
Cnhamo
Retama ou Giesta
Kenaf ou Papola
de S. Francisco
Rami
Henequen
Maguey
Bambu natural
Palma
Caro
Alfa
Sisal
Sunn (Bis Sunn)
Malva
Pita
Coco
Capoque
Abac
Guaxima
Tucum
Seda
L
Angor
Lhama
Camelo
Cachemir
Alpaca
Cabra
Mohair
Vicunha
Iaque
Guanaco
Castor
Lontra
Crina
Vidro txtil
Viscose
Acetato
Alginato
Cupramonio
Modal
Protica
Triacetato
Liocel
Polinsico
Poliltico
Polister
Poliamida
Acrlico
Elastano
Anidex
Clorobra
Fluorbra
Aramida
Polietileno
Polipropileno
Policarbamida
Poliuretano
Vinil
Trivinil
Elastodieno
Metalizada
Modacrlico
Carbono
Lastol
Articiais
Sintticas
Manufaturadas
( Qumicas )
Semente
Caule
Folhas
Frutos
Secrees
Pelos
Vegetais
Animais
Minerais
Naturais
As bras naturais esto divididas pela sua origem: vegetais, animais e minerais.
O processo de produo das bras manufaturadas dividido em articiais e sin-
tticas que consistem na transformao qumica de matrias-primas naturais.
Entre as bras articiais a partir das lminas de celulose, destacam-se como
principais o acetato e a viscose que seguem uxos diferentes de produo:
- Acetato: Passa inicialmente por um banho de cido sulfrico, diluio em
acetona, extruso e por uma operao de evaporao da acetona.
- Viscose: Passa por banho de soda custica, em seguida por subprocessos
de moagem, sulfurizao, maturao e, nalmente extrudada assumindo a
forma de lamento contnuo ou bra cortada.
Fonte: Vicunha Txtil S/A
O processo de produo das bras sintticas se inicia com a transformao
da nafta petroqumica, um derivado de petrleo, em benzeno, eteno, p-xileno
e propeno (produtos intermedirios da chamada 1 gerao petroqumica e
insumos bsicos para a produo destas bras).
O segmento produtor de bras sintticas, que integra o chamado complexo
petroqumico-txtil, se caracteriza por ser intensivo na utilizao de capital
e matrias-primas, o que torna suas empresas altamente dependentes de
freqentes investimentos em pesquisa e modernizao, como forma de aumen-
tar a eccia de suas operaes industriais, reduzir seus custos e assegurar a sua
competitividade internacional. Alm desses aspectos, este segmento tambm
se notabiliza por alta sosticao tecnolgica que exige a utilizao, em larga
escala, de microeletrnica e mecnica de preciso, alm de velocidade rigi-
damente controlada e climatizao adequada, dentre os diversos fatores que
contribuem para sua complexidade tecnolgica.
O setor txtil propriamente dito, destaca-se por ser incorporador de tecnologia
desenvolvida em outros setores, ou seja, grande parte dos avanos tecnolgi-
cos no processo produtivo da indstria txtil provm dos avanos ocorridos na
produo de suas mquinas e de suas matrias-primas, nesse ltimo caso, es-
pecialmente no desenvolvimento das bras sintticas.
Foto 3 Secador de bras de viscose
8
9
A produo de bras sintticas direcionada principalmente ao mercado in-
terno, sendo uma caracterstica mundial da indstria. As exportaes so uma
opo para comercializao da produo excedente. No caso das bras
articiais, diferentemente das sintticas, o mercado externo tem sido uma al-
ternativa procurada sistematicamente, porquanto o setor produtor nacional
competitivo.
A qualidade das bras sintticas fabricadas no Brasil comparvel s observa-
das no mercado internacional, j que neste segmento existe um elevado grau
de controle de qualidade e rigor nas especicaes tcnicas. A qualidade
tambm provm da atualizao das empresas internas em tecnologia de pro-
cesso. Este um importante fator de competitividade deste segmento.
Ainda nesta diviso de bras sintticas destacamos o tipo polister, denomi-
nado de PET (Tereftalato de polietileno), um polmero termoplstico utilizado
cada vez mais pelo setor, proveniente da reciclagem das garrafas de plstico
ou da matria-prima virgem.
Segundo os dados da ABIPET Associao Brasileira da Indstria do PET, vide
Quadro 4, a cadeia txtil tem papel importante neste cenrio da reciclagem
de PET no mbito nacional e o quadro abaixo ilustra a evoluo desta partici-
pao, destacando o volume consumido em toneladas de PET que so desti-
nados aos processos produtivos txteis.
Quadro 4 Reciclagem de PET para a indstria txtil
PET
Reciclado
Total de PET
Reciclado
(toneladas)
Destino para a
Cadeia Txtil
(toneladas)
Representatividade da
Cadeia Txtil neste mer-
cado de reciclagem
1 Censo 2004 167,0 61,9 37,1 %
2 Censo 2005 174,0 74,8 43,0 %
3 Censo 2006 194,0 77,6 40,0 %
4 Censo 2007 231,0 116,6 50,5 %
As bras de polister geradas da reciclagem de PET, e mesmo da matria-prima
virgem, so utilizadas para confeces de peas de cama e mesa, tecidos
para produo de camisetas e calas.
Foto 4 Fardo de PET para reciclagem
Fonte: CETESB / Projeto Reciclar 2000
Nota: A NBR 13230 da ABNT -
Associao Brasileira de Normas
Tcnicas padroniza os smbolos
que identicam os diversos tipos de
resinas plsticas utilizadas, normal-
mente encontrados nos fundos das
embalagens plsticas. O objetivo
facilitar a etapa de triagem dos di-
versos resduos plsticos que sero
encaminhados reciclagem.
Fonte: ABIPET
3.2 Fiao
O Quadro 5 apresenta os principais processos desta etapa de produo com
sua nalidade bsica.
Quadro 5 Principais processos da Fiao
Principais Processos Finalidade bsica
Fibras Naturais
- abertura
- carda
- passadeira
- reunideira
- penteadeira
- maaroqueira
- latrio
- conicaleira
- retorcedeira
- vaporizador
Esses processos consistem basicamente em:
- remover impurezas da bra;
- separar bras de menor tamanho;
- paralelizar, estirar e torcer as bras para confec-
cionar o o;
- unir os para a formao de os retorcidos;
- enrolar os os (mudana na forma de acondicio-
namento);
- xar o o, por meio de calor.
Fibras Sintticas /
Articiais
- chips
- extruso
- bobinagem
- estiragem
- enrolamento
- texturizao
Esses processos consistem basicamente em:
- elaborao dos os;
- estirar, torcer e unir os os;
- enrolar os os (mudana na forma de acondicio-
namento);
- xar o o, por meio de calor.
Fonte: Sinditxtil
Foto 5 Retoro de Polister
Fonte: Vicunha Txtil S/A
10
11
3.3 Processo de Beneciamento
O Quadro 6 apresenta os principais processos desta etapa de produo com
sua nalidade bsica.
Quadro 6 Principais processos de Beneciamento
Foto 6 Processo de Tingimento
Fonte: Txtil Matec Ltda.
Principais
Processos
Finalidade bsica
Chamuscagem Eliminar brilas da superfcie do material txtil, por meio de queima.
Purga / Limpeza Remover materiais oleosos (graxos ou no) e impurezas atravs de
reaes de saponicao, emulso e solvncia para proporcio-
nar hidrolidade ao substrato.
Nota: As lavanderias utilizam este processo para remoo das
impurezas, dependendo do grau de sujidade do material, outros
produtos qumicos podero ser adicionados: agentes oxidantes,
enzimas, cidos, etc.
Alvejamento Remover colorao amarelada (natural) do material txtil.
Mercerizao e
Causticao
(operaes
individuais)
Tratamento alcalino do material txtil com objetivo de melhorar
propriedades fsico-qumicas da bra (brilho, aumento da ani-
dade por corante, estabilidade dimensional etc.).
Nota: a diferena bsica entre a mercerizao e causticao
que a primeira trabalha com maior concentrao de lcali, sob
tenso e em equipamento especco (mercerizadeira).
Tingimento Conferir colorao ao material txtil.
Estamparia Conferir colorao ao material txtil de forma localizada.
Secagem Retirar umidade do material, atravs de energia trmica.
Compactao Proporcionar encolhimento do material (atravs de ao fsica),
a m de evitar encolhimento posterior da pea confeccionada,
quando submetida lavagem.
Calandragem Eliminar vincos e conferir brilho (mais utilizada em tecido de malha).
Felpagem Conferir aspecto de felpa superfcie do material podendo atuar
como isolante trmico (utilizado em moletons, malhas soft etc.) ou
apenas alterar o aspecto (felpado).
Amaciamento Conferir toque agradvel ao material.
Acabamento
anti-chama
Evitar propagao de chama.
3.4 Processo de Tecimento (Tecelagem / Malharia )
O Quadro 7 apresenta os principais processos desta etapa de produo com
sua nalidade bsica.
Quadro 7 Principais processos de Tecelagem / Malharia
Fotos 7 Malharia
Fonte: Txtil Matec Ltda.
12
Principais
Processos
Finalidade bsica
Urdimento Dispor os de urdume, provenientes de
cones, em rolos de urdume.
Engomagem Aplicar pelcula de goma (natural ou sin-
ttica) nos os de urdume, para posterior
tecimento.
Tecimento
(tecido)
Confeccionar tecido plano (teares de
pina, de ar ou de gua, etc.).
Tecimento
(malha)
Confeccionar tecido de malha utilizando
teares circulares ou retilneos (de cone ou
de urdume).
13
3.5 Processo de Enobrecimento
O Quadro 8 apresenta os principais processos desta etapa de produo com
sua nalidade bsica.
Quadro 8 Principais processos de Enobrecimento
Principais
Processos
Finalidade bsica
Chamuscagem Eliminar brilas da superfcie do material txtil, por meio de queima.
Desengomagem
(tecidos planos)
Remover a goma aplicada ao o de urdume durante o processo de
engomagem de os (aplicado para favorecer o tecimento).
Purga / Limpeza Remover materiais oleosos (graxos ou no) e impurezas atravs de
reaes de saponicao, emulso e solvncia.
Nota: As lavanderias utilizam este processo para remoo das impu-
rezas, dependendo do grau de sujidade do material, outros produtos
qumicos podero ser adicionados: agentes oxidantes, enzimas, ci-
dos, etc.
Alvejamento Remover colorao amarelada (natural) do material txtil.
Mercerizao e
Causticao
(operaes individuais)
Tratamento alcalino do material txtil com objetivo de melhorar pro-
priedades fsico-qumicas da bra (brilho, aumento da anidade por
corante, estabilidade dimensional etc.).
Nota: a diferena bsica entre a mercerizao e causticao que
a primeira trabalha com maior concentrao de lcali, sob tenso e
em equipamento especco (mercerizadeira).
Efeito seda Tratamento alcalino do material txtil de polister com objetivo de
conferir toque sedoso.
Tingimento Conferir colorao ao material txtil.
Estamparia Conferir colorao de forma localizada ao material txtil.
Secagem Retirar umidade do material, atravs de energia trmica.
Sanforizao Proporcionar encolhimento do material (atravs de ao fsica), a m
de evitar encolhimento posterior da pea confeccionada, quando
submetida lavagem.
Calandragem Eliminar vincos e conferir brilho (mais utilizada em tecido de malha).
Felpagem Conferir aspecto de felpa superfcie do material podendo atuar
como isolante trmico (utilizado em moletons, malhas soft etc.) ou
apenas alterar o aspecto (felpado).
Navalhagem Cortar / Aparar pelos.
Esmerilhagem Espcie de lixamento da superfcie do material, a m de melhorar o
toque, tirando o brilho.
Amaciamento Conferir toque agradvel ao material.
Repelncia gua/
leo
Conferir repelncia gua e s sujidades.
Acabamento
anti-ruga
Evitar amarrotamento.
Encorpamento Conferir toque volumoso ou encorpado ao material.
Acabamento
anti-chama
Evitar propagao de chama.
3.6 Confeces
Boa parte das indstrias txteis no implanta o ciclo completo das etapas de
produo, incluindo as confeces, e muitas vezes terceiriza etapas do pro-
cesso para outra empresa. No caso especco das confeces utilizado o
trabalho de mo-de-obra especializada que trabalham em seus atelier ou mes-
mo, em residncias. Deste modo, existem as chamadas indstrias de faco
que constituem a maioria das empresas do ramo da confeco. Em diversos
plos txteis tm-se grande nmero de empresas que s se dedicam a uma
fase do processo de fabricao das roupas, com a incluso das lavanderias
acopladas ao seu uxo produtivo.
Geralmente, as indstrias da cadeia produtiva esto instaladas em prdios
modernos e com layout bem estruturado, enquanto que a maioria das em-
presas de faco ou ocinas de costura esto instaladas em locais menores
e muitas vezes improvisados; iniciando inclusive o negcio de prestao de
servios, com a instalao das mquinas nos cmodos das casas de seus pro-
prietrios. Neste caso, a mo-de-obra basicamente formada por familiares ou
de alguns poucos empregados.
As empresas deste ramo tm investido em tecnologia, equipamentos moder-
nos, enquanto as pequenas empresas, em muitos casos, utilizam os equipamen-
tos j descartados pelas empresas maiores. As confeces podem trabalhar de
forma fragmentada e organizada na linha de produo em que o uxograma
bsico domina todo o processo da fabricao do vesturio. Podem ser consti-
tudas dos seguintes setores:
- administrativo: criao, compras, modelagem, almoxarifado (tecidos e avia-
mentos, os, entre outros) e manuteno mecnica;
- produo: modelagem, enfesto e corte, costura, artesanato (bordado, es-
tampagem, etc.), lavanderia, passadoria, acabamento/reviso, etiqueta-
gem e embalagem/expedio, vide quadro a seguir.
Quadro 9 Principais processos de Confeco
Principais
Processos
Finalidade bsica
Modelagem O esboo idealizado pelo estilista preparado em papel ou sistema
computadorizado gerando o molde base.
Enfesto Etapa que aumenta o rendimento do corte do tecido. Este feito em
diversas folhas de tecido (camadas sobrepostas).
Corte O corte do enfesto a base da confeco que pode ser feito com
faca circular ou com serra vertical.
Costura Tem a nalidade de unir os diferentes componentes de uma pea de
vesturio pela formao de uma costura, utilizando tcnicas mecnicas
(costura), fsica (solda ou termoxao), ou qumica (por meio de resinas).
Acabamento Envolve o arremate das peas (sistema no automatizado), a reviso
para vericao da qualidade da costura, passadoria e lavanderia
de peas (*).
Embalagem/
Expedio
Envolve a embalagem da confeco utilizando saco plstico, papel,
caixa de papelo, etc.
(*) As lavanderias podem estar acopladas s confeces que possuem caractersticas especcas de
impactos ambientais, que podem tambm adotar medidas de P+L.
14
15
3.7 Utilidades
Aplica-se o conceito de utilidades s reas de apoio ou suporte de matrias-
primas e/ou insumos das etapas produtivas anteriormente mencionadas. Para
tanto, destacamos no Quadro 10, as atividades de interesses para indicao
posterior de medidas de P+L.
Quadro 10 reas de apoio para a produo
Apoio / Suporte Finalidade bsica
Gerador de Vapor
(caldeira)
Fornecer vapor para os equipamentos e/ou operaes que
envolvem transferncia de calor.
Aquecedor de
uido trmico
Fornecer uido aquecido para os equipamentos e/ou op-
eraes que envolvem transferncia de calor.
Compressores
de Ar
Fornecer ar comprimido para equipamentos pneumticos.
Armazenamento
de GLP
Fornecimento de combustvel para processo de combusto
(caldeira, rama, chamuscagem, etc.).
Sistema de clima-
tizao
Realiza a circulao do ar interior dos prdios mantendo
condies especcas para: ao, tecelagem e outros.
Estao de Trata-
mento
gua ETA
Trata da unidade responsvel pela captao (supercial ou
subterrnea) e tratamento de gua bruta que processa e
purica a gua para uso na linha de produo ou mesmo
para consumo humano (potvel)
Sistema de Trata-
mento das guas
Residurias STAR
Trata dos euentes lquidos de origem industrial e domstico,
gerados numa planta industrial. Despeja e armazena tempo-
rariamente o lodo gerado.
Armazenamento
de Produtos Peri-
gosos
Instalaes e sistema de proteo para armazenamento de
produtos perigosos.
Atividades
Administrativas
Trata das etapas e atividades de suporte na administrao
da empresa.
Foto 8 Aquecedor de leo
Fonte: Txtil Matec Ltda.
3.8 Tecidos NoTecidos - TNT
Destaca-se a seguinte terminologia aplicada a TNT: estrutura plana, exvel e
porosa, constituda de vu ou manta de bras ou lamentos, orientados dire-
cionalmente ou ao acaso, consolidada por processo mecnico (frico) e/
ou qumico (adeso) e/ou trmico (coeso), ou combinaes destes (ABNT,
2002).
Na fabricao dos TNTs podem ser utilizadas bras naturais ou manufaturadas
(qumicas), lamentos contnuos ou formados in situ, ou seja, grupos de tecno-
logias especializadas, onde a produo da bra, formao e consolidao do
vu ocorrem geralmente ao mesmo tempo e no mesmo local. Por exemplo:
lmes brilados/fendilhados, malhas/redes extrudadas.
No presente Guia, no sero abordados ou detalhados os aspectos e os im-
pactos ambientais referenciados no item 4 e as medidas de Produo mais
Limpa P+L, referenciados no item 5.
Foto 9 Detalhe de Navalhadeira
Fonte: Vicunha Txtil S/A.
16
17
3.9 Corantes
Considerando a diviso produtiva da cadeia txtil no se pode deixar de mencio-
nar a importncia dos corantes utilizados nos processos de acabamento, inclu-
indo as lavanderias acopladas s atividades produtivas. Existem vrias maneiras
para se classicar os corantes, por exemplo, de acordo com a sua constituio
qumica, sua aplicao, solidez em geral, tipo de excitao eletrnica, quando
exposto luz, etc. A classicao dada a seguir segue o padro adotado pelo
Colour Index, publicado pela The Society of Dyers and Colourists, em conjunto
com a Association of Textile Chemists an Colorists.
a) Corantes tina (VAT DYES): Os corantes tina, com poucas excees, so
subdivididos em dois grupos: os indigides e os antraquinnicos. Todos eles pos-
suem, como caracterstica qumica, a presena de um grupo cetnico (>C=O)
e so essencialmente insolveis em gua. A solubilizao desses corantes se d
por reduo em soluo alcalina/redutora e o produto obtido recebe o nome
de LEUCO. O grupo cetnico toma a forma reduzida (>C-OH), solvel em gua,
e o corante passa a ter anidade qumica com a bra celulsica. O corante
original, insolvel, recuperado por uma oxidao posterior. O corante ndigo
se encaixa nesta classicao, por ser um indigide.
b) Corantes reativos: os corantes reativos se caracterizam por terem pelo me-
nos um grupo cromforo e um grupo reativo, sendo solveis em gua. O grupo
cromforo aquele que responsvel pela cor do produto e o grupo reativo
a parte qumica do corante que reage com os grupamentos hidroxlicos (OH)
da celulose. Da estes corantes se chamarem corantes reativos.
c) Corantes dispersos ou plastosolveis: os corantes dispersos so denidos como
substncias insolveis em gua, de carter no inico, que possuem anidade
com bras hidrofbicas, a exemplo do acetato de celulose, geralmente aplica-
dos a partir de uma na disperso aquosa. So tambm empregados para tingir
polister, acetato, triacetato e em alguns casos poliamida e acrlicas.
d) Corantes diretos: so corantes que foram originalmente concebidos para
tingir algodo. Formalmente, so denidos como corantes aninicos, com
grande anidade para a celulose. Os corantes diretos apresentam a maneira
mais simples de colorir materiais celulsicos, uma vez que so aplicados a partir
de um banho neutro ou levemente alcalino, prximo ou no ponto de ebulio,
no qual so aplicados cloreto ou sulfato de sdio em quantidade e intervalos
de tempo apropriados.
e) Corantes cidos: so corantes aninicos, bastante solveis em gua, cuja
aplicao se d em bras nitrogenadas como a l, seda, couro e algumas
bras acrlicas modicadas. No so recomendados para algodo, uma vez
que no possuem anidade com bras celulsicas, sendo, entretanto, larga-
mente empregados para a poliamida. Possui uma ampla gama de colorao
e, tambm, as mais diversas propriedades com relao ao tipo de tingimento
e solidez.
Alguns corantes cidos so metalizados e absolutamente indispen-
sveis para certas aplicaes na indstria txtil (alta solidez). A estabilidade
desses complexos tal que esses corantes permanecem estveis durante o
processo de tingimento, mesmo sob severas condies de uso, no liberando
o metal de sua estrutura mesmo que haja utuaes dramticas de pH e tem-
peratura.
f) Corantes catinicos (bsicos modicados): so corantes solveis em gua
que produzem solues coloridas catinicas devido a presena de grupamen-
to amino (NH2). Suas aplicaes so direcionadas principalmente para as bras
acrlicas, e em casos especiais para a l, seda e acetato de celulose. Fornecem
cores bastante vivas e algumas at mesmo uorescentes de boa solidez.
J os antigos corantes bsicos (catinicos no modicados), devido a
sua pouca solidez (principalmente luz), hoje em dia, possuem utilizao tx-
til bastante reduzida, tendo sofrido forte presso do mercado quanto segu-
rana de seu manuseio, visto que grande parte dos mesmos utiliza a benzidina
(CAS-92-87-5) como matria-prima, produto reconhecidamente carcinognico
(CAS Chemical Abstracts Service).
g) Corantes ao enxofre (sulfurosos): uma classe de corantes que se carac-
teriza por compostos macromoleculares com pontes dissulfdicas (-S-S-). So
produtos insolveis em gua e sua aplicao assemelha-se dos corantes
tina, devendo ser inicialmente reduzidos a uma forma solvel, quando passam
a ter anidade com bras celulsicas. Aps o tingimento, so trazidos sua
forma original, insolvel por oxidao. Possuem uma boa solidez luz e lava-
gem, mas resistem muito pouco ao cloro.
h) Corantes naturais: So corantes obtidos a partir de substncias vegetais ou
animais, com pouco ou nenhum processamento qumico, so principalmente,
do tipo mordente, embora existam alguns do tipo tina, solventes, pigmentos,
diretos e cidos. No existem corantes naturais dispersos, azicos ou ao enxofre.
A toxicologia de corantes sintticos no difere fundamentalmente dos
corantes naturais, quando avaliados sob os mesmos critrios. Diferentemente
dos corantes naturais, os corantes sintticos possuem composio denida e
uniforme e so submetidos a testes toxicolgicos antes de serem lanados no
mercado, o que faz com que as informaes sobre suas propriedades sejam
amplamente conhecidas e bastante consistentes.
A principal utilizao dos corantes naturais ocorre em tingimentos do
tipo mordente, ou seja, esses corantes no liberam sua cor nas bras, a menos
que estejam na presena de certos metais. Assim, uma grande quantidade de
sais minerais necessria para se efetuar o tingimento e, conseqentemente, ons
metlicos so liberados durante as fases de lavagem. Como exemplo mais cls-
sico deste tipo de corante temos o pau-brasil, que quando da descoberta do
Brasil pelos portugueses, foi de grande valia para tingir roupas de papas e de reis.
Foto 10 Reao qumica com a formao do o de viscose
Fonte: Vicunha Txtil S/A.
18
19
Quadro 11 Corantes e as etapas de aplicao
Corantes Campo de aplicao Processo de aplicao
4 tina
Leuco
steres
(Indigosol)
Fibras celulsicas em os,
tecidos ou malhas
Estampagem direta, por reserva
e corroso colorida, com xao
por vaporizao. Tingimento
semi-contnuo, contnuo e des-
contnuo
Fibras celulsicas e mistu-
ras com PES em tecidos
e os, principalmente em
cores claras
Estampagem seguida de xao
por vaporizao e tingimento
semi-contnuo, contnuo e des-
contnuo
b) Reativos Basicamente bras
celulsicas e em menor
escala proticas e po-
liamdicas, na forma de
tops, os, tecidos ou
malhas
Estampagem com xao por
termoxao a seco ou vapor-
izao. Tingimento semi-contnuo
(Pad-Batch), contnuo e des-
contnuo
c) Dispersos Principalmente bras de
polister, Em segundo
plano acetato, tria-
cetato, poliamdicas e
poliacrilonitrilas na forma
de tops, os, tecidos ou
malhas
Estampagem com termoxao
a seco ou termosublimao (pa-
pel). Tingimento semi-contnuo,
contnuo e descontnuo
d) Diretos Basicamente bras
celulsicas, esporadi-
camente proticas e
poliamdicas na forma
de tops, os, tecidos ou
malhas
Estampagem e xao por
vaporizao. Tingimento semi-
contnuo e descontnuo
e) cidos Fibras proticas, po-
liamdicas e acrlicas
modicadas, em tops,
os, tecidos ou malhas
Estampagem seguida de xao
por vaporizao. Tingimento
semi-contnuo, contnuo e des-
contnuo
f) Catinicos
(bsicos)
Fibras de poliacrilonitrilas,
polister e poliamidas
modicadas, em tops,
os ou malhas
Estampagem com xao por
termoxao a seco ou vapo-
rizao. Tingimento descontnuo
g) Enxofre
(Sulfurosos)
Principalmente bras ce-
lulsicas na forma de os,
tecidos ou malhas
Tingimento semi-contnuo,
contnuo e descontnuo
Fonte: Companhia Pernambucana do Meio Ambiente, 2001.
Nota: os corantes AZO que produzem aminas aromticas, as quais so comprovadamente cancergenas,
foram banidos pelo Setor Txtil desde 11.09.2003, seguindo a recomendao da Directiva 2002/61/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 19.07.2002 que altera pela dcima nona vez a Directiva 76/769/
CEE do Conselho, no que diz respeito limitao da colocao no mercado e da utilizao de algumas
substncias e preparaes perigosas.
Quadro 12 Caractersticas dos corantes utilizados
nas operaes de tingimento
Classe
Corantes
Descrio Tipo de
bras
Fixao
Tpica
( % )
Poluentes associados
cidos Compostos aninicos
solveis em gua.
L e Po-
liamida
80 93 Cor, cidos orgnicos e
corantes no xados.
Catini-
cos ou
Bsicos
Compostos catinicos,
solveis em gua,
aplicveis em banho
fracamente cido.
Acrlico
e alguns
tipos de
polister
97 98 Fixao quase que total
na bra.
Sal, cidos orgnicos,
retardantes, disper-
santes, etc.
Diretos Solveis em gua,
compostos aninicos.
Podem ser aplicados
diretamente na ce-
lulose sem mordente
(ou metais como
cromo e cobre).
Algodo,
Raion e
demais
bras ce-
lulsicas
70 95 Cor, sal, corante no
xado, xadores; agen-
tes catinicos surfac-
tantes, antiespumante,
agentes retardantes e
igualizantes, etc.
Dispersos Insolveis em gua,
compostos no-
inicos.
Polister,
Acetato e
outras
bras sint-
ticas
80 90 Cor, cidos orgnicos,
agentes de igualizao,
fosfatos, antiespuman-
tes, lubricantes, disper-
santes, etc.
Reativos Solveis em gua,
compostos aninicos,
classe mais impor-
tante de corantes.
Algodo,
L e outras
bras ce-
lulsicas.
60 90 Cor, sal, lcalis, corantes
hidrolisados, surfac-
tantes, antiredutores
orgnicos, antiespuman-
tes, etc.
Sulfuro-
sos
(Enxofre)
Mercapto corantes.
Compostos orgnicos
contendo enxofre e
polisulfetos em sua
formulao.
Algodo
e outras
bras ce-
lulsicas
60 70 Cor, sal, lcalis, agentes
oxidantes, agentes redu-
tores e corantes no
xados, etc.
Cuba ou
Tina
Corantes tipo Redox,
insolveis em gua. A
mais nobre classe
de corantes.
Algodo
e outras
bras ce-
lulsicas
80 95 Cor, lcalis, agentes
oxidantes, agentes redu-
tores, etc.
Foto 11 Enroladeira
Fonte: Txtil Matec Ltda.
20
21
4 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
A implementao de leis e normas ambientais cada vez mais restritivas e a cria-
o de mercados mais competitivos vm exigindo que as empresas sejam mais
ecientes do ponto de vista produtivo e ambiental. O aumento da produo
industrial dever estar aliado a um menor gasto de insumos e gerao de po-
luentes.
As organizaes tm estabelecido e mantido procedimentos para identicar
os aspectos ambientais de suas atividades, denominados neste trabalho de
entradas no sistema produtivo, produtos ou servios que possam por ela ser
controlados e sobre os quais presume-se que tenha inuncia, a m de deter-
minar aqueles que tenham ou possam ter impactos signicativos sobre o meio
ambiente, denominados de sadas do sistema produtivo.
As identicaes das entradas esto relacionadas aos principais aspectos am-
bientais. Para cada aspecto ambiental est associado pelo menos um impacto
ambiental, que pode ser denido como qualquer alterao das propriedades
fsico-qumicas e/ou biolgicas do meio ambiente, devido a qualquer forma de
matria ou energia gerada por atividades humanas.
Para melhor compreenso do assunto, os dados esto dispostos na forma de
diagrama, onde foram identicadas as entradas e sadas, tais como: os insumos
(gua, formas de energia e produtos qumicos) e geraes (gases, particula-
dos, vapores, euente lquido, resduo slido, calor, rudo e vibrao).
Nesta anlise pode-se xar um olhar tcnico e crtico para aplicao de aes
de Produo mais Limpa P+L contribuindo para o atendimento de normas
legais e a melhoria do desempenho ambiental do processo produtivo.
4.1 Fiao
No diagrama abaixo esto identicados os insumos de entrada e de sada (ge-
rao) para cada etapa do processo de ao.
Entrada no sistema
- energia eltrica;
- leos de enzimagem (leos
minerais e vegetais);
- ar comprimido (principal-
mente, conicaleiras);
- uido trmico.
Sada no sistema
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
riais particulados brilas);
- emisses de rudos e inc-
modo populao;
- condensado proveniente da
operao de vaporizao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos slidos
(cascas, bras, os, cones,
etc.);
- emisso de vibrao de
partcula e incmodo
populao.
Processo
Com Fibras
Naturais
- abertura
- carda
- passadeira
- reunideira
- penteadeira
- maaroqueira
- latrio
- conicaleira
- retorcedeira
- vaporizador
(continuao do item 4.1)
4.2 Processo de Beneciamento
No diagrama a seguir, esto identicados os insumos de entrada e de sada
(gerao) para cada etapa do processo de beneciamento.
22
Entrada no sistema
- energia eltrica;
- vapor (utilizado nas opera-
es de texturizao de os
e outros);
- leos de enzimagem (leos
minerais e vegetais), e para-
na (os para malharia);
- ar comprimido (principal-
mente, conicaleiras);
- ar interno (sistema de clima-
tizao).
Sada no sistema
Poluio do Ar:
- calor (atravs da troca de
calor);
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado brilas);
- emisses de rudos e inc-
modo populao;
- condensado proveniente da
operao de vaporizao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos slidos
(borra de bra, cones, etc.);
- emisso de vibrao de
partcula e incmodo
populao.
Processo
Com Fibras
Sintticas /
Articiais
- chips
- extruso
- bobinagem
- estiragem
- enrolamento
- texturizao
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- vapor (cilindros);
- gs natural ou GLP;
- gua (resfriamento dos
cilindros).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (gases
de combusto / queima).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
queimadas, etc.);
- gerenciamento de risco
(volume do armazenamento
de GLP).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(gua de resfriamento /
temperatura).
Chamuscagem
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operao de purga,
lavagem do material txtil e
lavagem de equipamentos);
- produtos qumicos: lcalis,
tensoativos, agentes comple-
xantes, etc.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
/ vapores).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
retiradas do material txtil,
durante as operaes de
purga e lavagem).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual de purga e
guas de lavagem prove-
niente da lavagem do mate-
rial txtil e de equipamentos).
Purga /
Limpeza
23
(continuao do item 4.2)
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de
alvejamento, lavagem do
material txtil e lavagem de
equipamentos);
- oxidantes (perxido de
hidrognio, hipoclorito de
sdio, clorito de sdio etc.),
lcalis, cidos, redutores
(hidrossulto de sdio, meta-
bissulto de sdio, dixido de
tio-uria), agentes complex-
antes, sais (silicato de sdio,
cloreto de magnsio, nitrato
de sdio, etc.) e tensoativos.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (Cloro
Cl
2
e calor / vapores).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
retiradas do material txtil,
durante as operaes de
alvejamento e lavagem).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual de alveja-
mento, guas de lavagem
proveniente da lavagem do
material txtil e de equipa-
mentos).
Alvejamento
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de mer-
cerizao, causticao,
neutralizao e lavagem do
material txtil, bem como
lavagem de equipamentos);
- lcali, cido ou gs car-
bnico (operao de neutral-
izao), e tensoativos;
- ar comprimido (cilindros
espremedores).
Poluio do Ar:
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
retiradas do material txtil,
durante as operaes de
impregnao de lcali e
lavagem).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual fortemente
alcalino e guas de lavagem
proveniente da lavagem do
material txtil e de equipa-
mentos).
Mercerizao
e Causti-
cao
(operaes
individuais)
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de estam-
paria, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
Estamparia com pigmento:
- solvente (hidrocarboneto),
lcali (hidrxido de amnia),
pigmento, espessante (acrlico),
ligante (resinas acrlicas, es-
tireno, butadieno etc.), amaci-
ante (derivado de acido graxo,
derivados de silicone etc.),
compostos orgnicos volteis.
Estamparia com corante reativo:
- lcali, corante reativo, sais
(cloreto de sdio, sulfato de
sdio, carbonato de sdio,
bicarbonato de sdio, silicato de
sdio, trifosfato de sdio), uria,
tensoativo, espessante (alginato
de sdio).
Estamparia por corroso:
- redutores (sulfoxilato de zinco e
sdio), lcalis (soda custica,
barrilha), oxidante (neutraliza-
o do redutor).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
gases de combusto e
vapores de solventes, cido
actico e material particu-
lado);
- emisses de substncias
odorferas e incmodo
populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (pastas
de estampar, telas, embala-
gens diversas, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de euentes
lquidos (guas de lavagem
proveniente da lavagem
do material txtil, piso e de
equipamentos).
Estamparia
(continuao do item 4.2)
24
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- gs natural ou GLP (equipa-
mento rama) e/ou vapor,
leo trmico.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
atravs da troca de calor,
gases e vapores resduos
de substncias qumicas
presentes no material txtil,
volatilizadas em alta tem-
peratura);
- emisses atmosfricas (com-
postos orgnicos volteis
COVs / VOCs).
Secagem
- energia eltrica;
- vapor, leo trmico;
- gua (umedecimento do ma-
terial, antes do encolhimento
e molhagem do mancho).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
atravs da troca de calor)
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
Compactao
- energia eltrica;
- vapor, leo trmico.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
atravs da troca de calor).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (leo
trmico).
Calandragem
- energia eltrica.
Poluio do Ar:
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
do material txtil retiradas
durante o processo de
felpagem);
- emisses de vibraes de
partculas e incmodo
populao.
Felpagem
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de amacia-
mento);
- derivados de cidos graxos,
polisiloxanos, polietileno, etc.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (banho
de acabamento).
Poluio do Solo:
- gerao de euentes lquidos
(descarte do banho).
Amaciamento
- energia eltrica;
- gua;
- organofosforados e compos-
tos a base de bromo.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (banho
de acabamento).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(descarte do banho).
Acabamento
anti-chama
25
4.3 Processo de Tecimento (Tecelagem / Malharia )
No diagrama abaixo esto identicados os insumos de entrada e de
sada (gerao) para cada etapa do processo de tecimento.
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado - brilas).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos slidos
(cones, etc.).
Urdimento
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (preparao do banho
de goma e lavagem de
equipamentos);
- produtos qumicos: amido,
lcool polivinlico, acrilato,
tensoativos, biocidas carboxi-
metilcelulose, carboximetil-
amido, etc;
- ar comprimido (cilindros
espremedores da engoma-
deira).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
- proveniente da operao
de secagem e do tanque de
goma);
- emisses atmosfricas (com-
postos orgnicos volteis -
COVs / VOCs).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos slidos
(restos do banho de goma,
embalagens, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(gua de lavagem de equi-
pamentos e bacias).
Engomagem
- energia eltrica;
- ar comprimido (tear a jato
de ar);
- gua (tear a jato de gua);
- ar interno (sistema de clima-
tizao).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado - brilas);
- emisses de rudo e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras,
os e tecidos, etc.);
- vibrao de partcula e inc-
modo populao.
Poluio da gua:
- gerao de euentes orgni-
cos.
Tecimento
(tecido)
- energia eltrica;
- ar comprimido (tear a jato
de ar)
- parana, leo lubricante
- ar interno (sistema de clima-
tizao)
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado - brilas);
- emisses de rudo e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras,
os e tecidos de malha, leo
usado, etc.);
- emisses de vibraes de
partculas e incmodo
populao.
Tecimento
(malha)
4.4 Processo de Enobrecimento
No diagrama abaixo esto identicados os insumos de entrada e de sada (ge-
rao) para cada etapa do processo de enobrecimento.
26
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- vapor (cilindros);
- gs natural ou GLP;
- gua (resfriamento dos
cilindros).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (gases
de combusto / queima).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
queimadas, etc.);
- gerenciamento de risco
(volume de armazenamento
de GLP).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(gua de resfriamento /
temperatura).
Chamuscagem
- energia eltrica;
- vapor (cilindros);
- gua (operaes de desen-
gomagem, lavagens de piso
e dos equipamentos);
- ar comprimido (cilindros
espremedores).
Lavagem quente: tensoa-
tivo.
Desengomagem Oxidativa:
oxidante, lcali, sais (silicato
de sdio, cloreto de mag-
nsio, p.ex.), tensoativos,
agentes complexantes.
Desengomagem Enzimtica:
enzimas, sais (cloreto de
sdio, p.ex.), tensoativos.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (com-
postos orgnicos volteis
- COVs / VOCs).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
retiradas do material txtil,
durante as operaes de
desengomagem e lava-
gem).
Poluio da gua:
- gerao de euentes
lquidos (banho residual de
desengomagem, guas de
lavagem proveniente da
lavagem do material txtil,
de equipamentos e pisos).
Desengo-
magem
(tecidos
planos)
- energia eltrica;
- vapores;
- gua (operao de purga,
lavagem do material txtil e
lavagem de equipamentos);
- produtos qumicos: lcali,
tensoativos, agentes com-
plexantes, etc.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor /
vapores emitidos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
retiradas do material txtil,
durante as operaes de
purga e lavagem).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual de purga e
guas de lavagem prove-
niente da lavagem do mate-
rial txtil e de equipamentos).
Purga /
Limpeza
27
(continuao do item 4.4)
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de alveja-
mento, lavagem do material
txtil e lavagem de equipa-
mentos);
- oxidantes (perxido de
hidrognio, hipoclorito de s-
dio, clorito de sdio, dixido
de tiouria, etc.), lcalis,
cidos, redutores (hidrossulto
de sdio, metabissulto de s-
dio, agentes complexantes),
sais (silicato de sdio, cloreto
de magnsio, nitrato de s-
dio, etc.), e tensoativos.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (Cloro
- Cl
2
e calor/vapores).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
retiradas do material txtil,
durante as operaes de
alvejamento e lavagem).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual de alveja-
mento, guas de lavagem
proveniente da lavagem do
material txtil e de equipa-
mentos).
Alvejamento
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de mer-
cerizao, causticao,
neutralizao e lavagem do
material txtil, bem como
lavagem de equipamentos);
- lcali, cido ou gs carbni-
co (operao de neutraliza-
o), e tensoativos;
- ar comprimido (cilindros
espremedores).
Poluio do Ar:
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
retiradas do material txtil,
durante as operaes de
impregnao de lcali e
lavagem).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual fortemente
alcalino e guas de lavagem
proveniente da lavagem do
material txtil e de equipa-
mentos).
Mercerizao e
Causticao
(operaes
individuais)
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de estam-
paria, lavagem do material
txtil e de equipamentos).
Estamparia com pigmento:
- solvente (hidrocarboneto),
lcali (hidrxido de amnia),
pigmento, espessante
(acrlico), ligante (resinas
acrlicas, estireno, butadieno
etc.), amaciante (derivado
de acido graxo, derivados
de silicone etc.), compostos
orgnicos volteis.
Estamparia com corante reativo:
- lcali, corante reativo, sais
(cloreto de sdio, sulfato de
sdio, carbonato de sdio,
bicarbonato de sdio, silicato
de sdio, trifosfato de sdio),
uria, tensoativo, espessante
(alginato de sdio).
Estamparia por corroso:
- redutores (sulfoxilato de
zinco e sdio), lcalis (soda
custica, barrilha), oxidante
(neutralizao do redutor).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
- gases de combusto e,
vapores de solventes, cido
actico e material particu-
lado);
- emisses atmosfricas de
substncias odorferas e
incmodo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (pastas
de estampar, telas, embala-
gens diversas, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de euentes (guas
de lavagem proveniente da
lavagem do material txtil,
piso e de equipamentos).
Estamparia
28
(continuao do item 4.4)
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- vapor;
- gua;
- lcali, cido (operao de
neutralizao), e tensoativos.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor -
atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual alcalino e
guas de lavagem prove-
niente da lavagem do mate-
rial txtil e dos equipamentos).
Efeito
seda
- energia eltrica;
- gs natural ou GLP (equipa-
mento rama) e/ou vapor,
leo trmico.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (gases
e vapores - resduos de sub-
stncias qumicas presentes
no material txtil, volatilizadas
em alta temperatura);
- emisses atmosfricas (com-
postos orgnicos volteis
COVs / VOCs);
- emisses atmosfricas (calor -
atravs da troca de calor).
Secagem
- energia eltrica;
- vapor, leo trmico;
- gua (umedecimento do ma-
terial, antes do encolhimento
e molhagem do mancho).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor -
atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos.
Sanforizao
- energia eltrica;
- vapor, leo trmico.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor -
atravs da troca de calor).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (leo
trmico).
Calandragem
- energia eltrica;
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado);
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
do material txtil retiradas
durante o processo de
felpagem);
- emisses de vibraes de
partculas e incmodo
populao.
Felpagem
29
(continuao do item 4.4)
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado);
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
do material txtil retiradas
durante o processo de naval-
hagem);
- emisses de vibraes de
partculas e incmodo
populao.
Navalhagem
- energia eltrica
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado)
- emisses de rudos e inc-
modo populao
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (bras
do material txtil retiradas
durante o processo de esmer-
ilhagem)
- emisses de vibraes de
partculas e incmodo
populao
Esmerilhagem
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de ama-
ciamento)
- derivados de cidos graxos,
polisiloxanos, polietileno, etc.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (banho
de acabamento).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(descarte do banho).
Amaciamento
- energia eltrica;
- gua;
- uorcarbonos.
Poluio do Solo e gua:
- gerao de resduos (banho
de acabamento).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(descarte do banho).
Repelncia
gua / leo
- energia eltrica;
- gua;
- resinas glioxlicas, resinas
de uria-formol, melamina-
formol etc.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (banho
de acabamento).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(descarte do banho).
Acabamento
anti-ruga
- energia eltrica;
- gua;
- amido, acetato de polivinila,
lcool polivinlico; etc.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (banho
de acabamento).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(descarte do banho).
Encorpamento
4.5 Processo de Tingimento
No caso do Setor de Tingimento sero apresentadas as entradas e as sadas
considerando as caractersticas dos corantes utilizados.
30
(continuao do item 4.4)
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- gua;
- organofosforados e com-
postos base de bromo.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (banho
de acabamento).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(descarte do banho).
Acabamento
anti-chama
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- formaldedo (xao do
corante), corante direto, sais
(cloreto de sdio, sulfato de
sdio, carbonato de sdio,
em alguns casos), tensoativo,
resina catinica (condensao
de sais de dicianodiamida/
amnia ou formaldedo utiliza-
dos na xao do corante),
agentes complexantes (EDTA,
DTPA,DTPMP), igualizantes (ami-
nas graxas etoxiladas), etc;
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de tingi-
mento, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
- ar comprimido (cilindros espre-
medores).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
- atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes
lquidos (banho residual
de tingimento e guas de
lavagem proveniente da
lavagem do material txtil e
de equipamentos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (em-
balagens).
Tingimento
com
corante direto
- corante reativo, sais (cloreto
de sdio, sulfato de sdio),
lcalis (carbonato de sdio,
bicarbonato de sdio,
silicato de sdio, trifosfato
de sdio), uria, tensoa-
tivo, agentes complexantes
(EDTA,DTPA,DTPMP), etc;
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de tingi-
mento, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
- ar comprimido (cilindros
espremedores).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
- atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes
lquidos (banho residual
de tingimento e guas de
lavagem proveniente da
lavagem do material txtil e
de equipamentos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (em-
balagens).
Tingimento
com
corante
reativo
31
(continuao do item 4.5)
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- lcalis, oxidantes (perxido de
hidrognio, sais halogenados,
etc.) redutores (sulfeto de
sdio, glucose, hidrossulto de
sdio), corante sulfuroso, sais
(sulfato de sdio, cloreto de
sdio), tensoativos, etc;
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de tingi-
mento, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
- ar comprimido (cilindros
espremedores).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
- atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes
lquidos (banho residual
de tingimento e guas de
lavagem proveniente da
lavagem do material txtil e
de equipamentos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (em-
balagens).
Tingimento
com
corante sul-
furoso
- lcalis, oxidantes (perxido
de hidrognio) redutores
(hidrossulto de sdio),
corante tina, sais (sulfato de
sdio), tensoativo, iguali-
zantes (polivinilpirrolidona);
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de tingi-
mento, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
- ar comprimido (cilindros
espremedores).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor -
atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual de tingi-
mento e guas de lavagem
proveniente da lavagem do
material txtil e de equipa-
mentos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (em-
balagens).
Tingimento
com
corante tina
- cido;
- corante catinico, tensoativo,
sal (sulfato de sdio), retar-
dante (amina quaternria ),
dispersante, etc;
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de tingi-
mento, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
- ar comprimido (cilindros espre-
medores).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
- atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes
lquidos (banho residual
de tingimento e guas de
lavagem proveniente da
lavagem do material txtil e
de equipamentos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (em-
balagens).
Tingimento
com
corante
catinico
-carrier (N-alquilftalamida,
derivados de metilnaftaleno,
o-fenil-fenol);
- corante disperso, tensoativo,
dispersante (co-polmero
cido acrlico e malico),
redutores, etc;
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de tingi-
mento, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
- ar comprimido (cilindros espre-
medores).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor
- atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes
lquidos (banho residual
de tingimento e guas de
lavagem proveniente da
lavagem do material txtil e
de equipamentos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (em-
balagens).
Tingimento
com
corante
disperso
(continuao do item 4.5)
32
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- cido;
- corante cido e complexo
metlico, tensoativo, iguali-
zantes, xadores, etc;
- energia eltrica;
- vapor;
- gua (operaes de tingi-
mento, lavagem do material
txtil e de equipamentos);
- ar comprimido (cilindros
espremedores).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (calor -
atravs da troca de calor).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(banho residual de tingimento
e guas de lavagem prove-
niente da lavagem do mate-
rial txtil e de equipamentos).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (embala-
gens).
Tingimento
com
corante
cido/
complexo
metlico
4.6 Confeces
A seguir, esto identicados os insumos de entrada e sada (gerao) do pro-
cesso de confeco.
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- combustvel (caldeira) /
vapor;
- gua (lavagem de peas);
- matria-prima (os e tecidos);
- produtos qumicos (aca-
bamento de peas);
- ar interno (climatizao).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (cal-
deira e climatizador interno).
Poluio da gua:
- gerao de resduos slidos
(retalhos e embalagens
diversas).
Poluio do Solo:
- gerao de euentes lquidos
(lavagem de peas).
Confeces
4.7 Utilidades
No diagrama abaixo esto identicados os insumos de entrada e sada (gera-
o) das reas de apoio ou suporte aos processos produtivos.
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- gua tratada;
- combustvel: gs natural (GN),
GLP, lenha, leo combustvel,
etc;
- lcali, aminas orgnicas, fosfa-
tos orgnicos, etc.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado / fumaa
preta, SOx e NOx);
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (cinzas,
embalagens de produtos
qumicos, borra de leo,
pano com leo, etc.).
- armazenamento de produtos
perigosos;
- emisses de vibrao de
partculas e incmodo
populao.
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(gua com impurezas -
operaes de descarga).
Gerador de
Vapor
(caldeira)
33
(continuao do item 4.7)
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- gua tratada;
- combustvel: gs natural, GLP,
lenha, leo combustvel etc;
- lcali, aminas orgnicas,
fosfatos orgnicos, etc.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
rial particulado, SOx e NOx).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (emba-
lagens de produtos qumicos,
borra de leo, pano com
leo, etc.).
Aquecedor de
uido trmico
- energia eltrica;
- gua tratada;
- ar (atmosfrico);
- leo lubricante.
Poluio do Ar:
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (emba-
lagem de produtos qumicos,
pano com leo, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(mistura de gua e leo).
Compressores
de Ar
- energia eltrica;
- gua;
- ar (atmosfrico).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (mate-
riais particulados - brilas);
- emisses de rudos e inc-
modo populao.
Poluio do Solo:
- emisses de vibraes de
partculas e incmodo a
populao;
- gerao de resduos (bras
retiradas do interior dos
prdios e do sistema de
climatizao).
Sistema de
climatizao
- energia eltrica;
- combustvel: GLP.
Poluio do Ar:
- potencial de ocorrncia de
acidente ambiental (volume
de armazenamento - geren-
ciamento de risco).
Armazena-
mento de GLP
- energia eltrica;
- produtos qumicos: corantes,
auxiliares, gomas, solventes,
etc;
- gua tratada ou potvel.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (com-
postos orgnicos volteis
COVs / VOCs).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (embal-
agens de produtos qumicos,
corantes reprovados, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lqui-
dos (lavagem de equipa-
mentos e pisos).
Cozinha de
Cores ou
Qumica
(Manual ou
Automa-
tizada)
(continuao do item 4.7)
4.8 Impactos Ambientais Potenciais
Para melhor visualizao dos impactos ambientais potenciais, o Quadro 13 apresenta um
resumo destes impactos ambientais potenciais nos meios ou elementos relacionados a
cada etapa do processo produtivo.
34
Entrada no sistema Sada no sistema Processo
- energia eltrica;
- recurso hdrico (gua bruta);
- produtos qumicos: sulfato de
alumnio, cal, cloro, etc.
Poluio do Ar:
- emisses de substncias
odorferas e possibilidade
de causar incmodo
populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (lodo,
embalagens de produtos
qumicos, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
(lavagem dos decantadores
e retrolavagem dos ltros).
Estao de
Tratamento de
gua - ETA
- energia eltrica;
- ar comprimido ou puro;
- produtos qumicos: sulfato de
alumnio, cido fosfrico, cal,
nutrientes, etc.
Poluio do Ar:
- emisso de substncias
odorferas e possibilidade
de causar incmodo
populao.
Poluio do Solo:
- gerao de resduos (lodo
biolgico, embalagens de
produtos qumicos, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de euentes lquidos
tratados (corpo receptor).
Sistema de
Tratamento
das guas
Residurias -
STAR
- energia eltrica;
- produtos qumicos.
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (subs-
tncias volteis).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos slidos;
- ocorrncia de risco de vaza-
mento e acidentes ambientais.
Poluio da gua:
- ocorrncia de riscos gua
supercial e subterrnea.
Armazena-
mento de
Produtos
Perigosos
- energia eltrica;
- gua potvel;
- matrias-prima;
- ar interno (climatizao).
Poluio do Ar:
- emisses atmosfricas (siste-
ma de climatizao).
Poluio do Solo:
- gerao de resduos slidos
(embalagem de papel e
papelo, de plstico e de
vidro, cartucho de impres-
sora, etc.).
Poluio da gua:
- gerao de esgoto sanitrio
(banheiros, vesturios, co-
zinha, etc.).
Atividades
Administra-
tivas
35
Processo Produtivo
A
r
S
o
l
o
g
u
a
R
u
d
o
V
i
b
r
a
o
I
n
c
m
o
d
o
P
o
p
u
l
a
o
Fibras Naturais X X X
Fibras Articiais / Sintticas X X X X
Urdimento X X
Engomagem X X X
Tecimento (tecido) X X X X X X
Tecimento (malha) X X X X X
Chamuscagem X X X
Desengomagem (tecidos planos) X X X
Purga / Limpeza X X X
Limpeza a seco X X
Alvejamento X X X
Mercerizao e Causticao X X X X
Efeito "seda" X X
Tingimento X X X
Estamparia X X X
Secagem X
Compactao e Sanforizao X X
Calandragem X X X
Felpagem X X X X X
Navalhagem X X X X
Esmerilhagem X X X
Amaciamento X X X
Repelncia gua/leo X X
Acabamento anti-ruga X X
Encorpamento X X
Acabamento anti-chama X X
Gerador de Vapor (caldeira) X X X X X
Trocador de calor com uido trmico X X
Compressores de Ar X X X X X
Armazenamento de GLP X
Sistema de climatizao X X X X X
Cozinha de Cores ou Qumica X X X
Estao Tratamento de gua - ETA X X X
Sist. Tratamento guas Residurias - STAR X X X X X
Armazenamento de Produtos Perigosos X X X
Atividades administrativas X X X
Quadro 13 - Resumo dos impactos ambientais potenciais
4.8.1 Principais impactos ambientais identicados
Os principais impactos ambientais do setor txtil esto relacionados a seguir
considerando os uxos produtivos apresentados anteriormente.
a) Gerao de euente e cor: a composio dos euentes txteis varia de
acordo com as diversas caractersticas dos processos produtivos, dicultando a
consolidao de dados gerais. Os setores produtivos de tinturaria, estamparia
e engomagem/desengomagem so os principais geradores de euentes com
concentraes de carga orgnica por matria-prima ou produto, vide Quadro
14. A indstria txtil utiliza diversos tipos de corantes ou anilinas, auxiliares qumi-
cos que ao serem processados geram um euente lquido com caractersticas
especcas, necessitando tratamento especco para atender a legislao am-
biental.
Quadro 14 - Relao de cargas orgnicas especcas
Atividade / Processo Carga orgnica / MP ou produto
Algodo 155 kg DBO5,20/t.produto
Algodo acabado com tingimento 35 a 325 kg DBO5,20/t.produto
Alvejamento de algodo 7,2 kg DBO5,20/t.matria-prima
Tingimento de algodo 0,5 a 294 kg DBO5,20/t.produto
Desengomagem de algodo 11,3 kg DBO5,20/t.matria-prima
L com limpeza (branqueamento) 314 kg DBO5,20/t.produto
L sem limpeza 87 kg DBO5,20/t.produto
Limpeza do algodo 1,6 kg DBO5,20/t.matria-prima
Macerao de algodo 6,9 kg DBO5,20/t.matria-prima
Mercerizao de algodo 8,3 kg DBO5,20/t.matria-prima
Poliamida 45 kg DBO5,20/t.produto
Polister 185 kg DBO5,20/t.produto
Raion 30 kg DBO5,20/t.produto
Tingimento cuba 17,95 kg DBO5,20/t.produto
Tingimento bsico 31,1 kg DBO5,20/t.produto
Tingimento de anilina preta 6,75 kg DBO5,20/t.produto
Tingimento direto 6,25 kg DBO5,20/t.produto
Tingimento enxofre 133,25 kg DBO5,20/t.produto
Tingimento ndigo 4,95 kg DBO5,20/t.produto
Fonte: CETESB (cargas orgnicas especcas kg DBO5,20 / matria-prima ou produto) para as principais
atividades industriais txteis.
Nota: As novas tecnologias, aliadas a alteraes de matrias-primas e produtos auxiliares empregados
pelas empresas, podem implicar em fatores de emisso diferentes dos que foram mencionadas.
b) Odor do leo de enzimagem (ou odor de rama): os leos de enzimagem
so utilizados com a nalidade de lubricar os os das bras txteis, sejam
naturais ou sintticas, visando impedir o acmulo de cargas estticas nas bras
36
37
(provocam a repulso e eriamento das brilas, podendo levar a quebra ou
rompimento dos os no processo), facilitar o deslizamento dos os nas guias e
maquinrios e aumentar a coeso das bras. A questo relativa a estes produ-
tos, no entanto, que durante o processo de termoxao em rama, com o
aquecimento ocorre a volatilizao deste leo por volta de 160C a 180C.
Estes vapores ao serem descartados atmosfera causam forte odor, podendo
se constituir em fonte de incmodo populao do entorno.
Fonte: Covolan Indstria Txtil Ltda.
c) Gerao de resduos: ao longo da cadeia txtil existem diversas operaes
que geram resduos, desde o descaroamento do algodo at restos de os
e tecidos nas confeces, variando estes rejeitos quanto caracterstica e
quantidade. Em especial, merecem destaque os resduos perigosos oriundos
de embalagem ou mesmo do uso de produtos qumicos, como por exemplo, a
perda de pasta na estamparia, a gerao de lodos biolgicos de tratamento,
entre outros. No que se refere ao lodo biolgico importante salientar que este
possui poder calorco e poder ser utilizado com substituto de combustvel em
caldeiras de biomassa.
d) Rudo e Vibrao: diversos equipamentos utilizados nas sucessivas etapas da
cadeia txtil podem ser fonte potencial de emisses de rudo e de vibrao,
que se no controladas podem gerar incmodo vizinhana das indstrias.
Foto 13 Tecelagem
Fonte: Santista Txtil / Tavex
Fotos 12 Tanques de equalizao e de aerao do STAR
4.9 Indicadores ambientais para as atividades produtivas
Assim como em qualquer ao de gerenciamento, no planejamento e implan-
tao das medidas de P+L um bom diagnstico fundamental. Conhecer o
qu e quanto se consome e se emite em cada etapa do processo facilita a
identicao das oportunidades e o estabelecimento de prioridades de gesto
ambiental. Em muitos casos, o simples fato de se desenvolver medies ade-
quadas j suciente para que diversas possibilidades de ao sejam percebi-
das. Neste sentido, recomenda-se que cada empresa realize o monitoramento
frequente de seus aspectos ambientais mais importantes em cada uma das
principais etapas do processo, de modo a posteriormente orientar as aes de
acordo com as operaes mais signicativas.
Apenas desta forma, com cada empresa fazendo seu papel, que ser criada
no Brasil uma cultura de medio de indicadores, essencial para a competi-
tividade internacional de nossa indstria. De modo a auxiliar neste processo h
ampla literatura disponvel e, ainda que de modo muito simples, a seguir so
oferecidas algumas sugestes de indicadores que podem ser signicativos para
as empresas do setor txtil.
Quadro 15 Indicadores Ambientais para o Setor Txtil
Indicador ambiental Unidade/ Modo de medio
Consumo de gua m
3
/ produto produzido
Reutilizao da gua porcentagem
Consumo total de energia kWh/produto produzido
Carga orgnica especca/vazo especi-
cada (despejo bruto) desengomagem,
tingimento, estamparia, alvejamento e
mercerizao
kg DBO
5,20
/t ou m
3
/t de produto pro-
duzido
Gerao total de resduos kg/produto produzido
Gerao total de resduos Classe I - peri-
gosos
kg/produto produzido
Gerao total de resduos Classe II - no
perigosos
kg/produto produzido
Resduos reciclveis kg/produto produzido
Fonte: Padilha, M. L. M. L., 2009.
Foto 14 Abridora
Fonte: Txtil Matec Ltda.
38
39
5 PRODUO MAIS LIMPA - P+L
A implementao de leis e normas ambientais cada vez mais restritivas e a criao
de mercados cada vez mais competitivos vm exigindo que as empresas sejam mais
ecientes, do ponto de vista produtivo e ambiental, ou seja, o aumento da produo
industrial dever estar aliado a um menor gasto com insumos e matrias-primas e,
ainda, menor gerao de poluentes.
As informaes contidas neste guia visam orientar e recomendar ao setor quanto s
medidas de Produo mais Limpa - P+L aplicadas aos processos txteis, tendo em
vista os aspectos ambientais relacionados ao consumo e gerao anteriormente
mencionados.
Salienta-se que para implementao de medidas de P+L cabe vericar a viabili-
dade tcnico-econmica e consultar a legislao ambiental vigente. Para qualquer
planejamento que vise a alterao nas condies de instalao ou operao da
empresa que foi objeto de licena ambiental prvio (por exemplo, alterao do(s)
processo(s) produtivo(s), substituio ou alterao de matrias-primas e insumos,
mudana de combustvel utilizado, etc.), recomenda-se consultar o rgo ambien-
tal para as devidas orientaes.
possvel identicar e levantar as diversas oportunidades de P+L, porm deve-se
proceder a avaliao tcnica, ambiental e econmica de cada opo levantada
e denir as prioridades para implementao.
No caso da avaliao tcnica so considerados as propriedades e os requisitos de
matrias-primas e outros materiais e modicaes nos equipamentos sem alterar a
qualidade do produto. Sendo tecnicamente possvel implementar a opo, pro-
cede-se a avaliao ambiental.
Na avaliao ambiental devero ser observados os benefcios ambientais que
podero ser obtidos pela empresa, criando ou utilizando indicadores ambientais,
podendo-se citar, dentre eles: reduo do consumo de matrias-primas, reduo
da gerao de carga orgnica, inorgnica e metais txicos no euente nal e modi-
cao da classicao dos resduos slidos. Estes resultados devero ser medidos
e comprovados por meio da realizao de anlises laboratoriais (laudos tcnicos
comprobatrios).
A avaliao econmica ser a ltima etapa onde se realiza o dimensionamento do
investimento necessrio, todo o custo tcnico e ambiental envolvido e at mesmo
a obteno da licena ambiental e outras autorizaes necessrias. Portanto, neste
raciocnio, tem-se o perodo de retorno do investimento que pode ser calculado
como:
1 Situao atual - pergunta-se: Qual o custo das operaes atuais (R$)?
2 Situao esperada pergunta-se: Quanto custar manter e implementar a(s)
modicao(es) e operao(es) prevista(s) (R$)?
3 Perodo de retorno do investimento: Tempo de recuperao do capital investido
em um projeto.
Perodo de retorno do investimento (meses) =
Investimento total previsto (R$)
(Custo da Situao Atual Custo da Situao Esperada)
Nota: Aps decorrido o nmero de meses do clculo acima, os valores obtidos sero ganhos permanen-
tes da empresa.
As oportunidades de P+L identicadas devem ser descritas de modo a permitir a
reduo do consumo e da gerao de resduos nais sem afetar a produo.
5.1 Reduo, recuperao e reutilizao de gua
A economia de gua de grande importncia na indstria txtil, consideran-
do que se encontra em andamento a implementao da Cobrana pelo Uso
da gua pelo Comit de Bacias Hidrogrcas (Poltica Estadual de Recursos
Hdricos Lei 12183/2005 e seu regulamento pelo Decreto 50.667/2007), que
considera o volume captado e consumido, assim como as caractersticas do
euente tratado e seu lanamento em corpo receptor, para o clculo do valor
a ser cobrado.
A seguir so sugeridas algumas boas prticas para uso racional de gua:
instalar equipamento controlador de uxo e vlvulas automticas de para-
da em mquinas quando em processo contnuo;
instalar controladores automticos (hidrmetros) de volume nos banhos e
mquinas;
otimizar tabelas de produo e ajustar a qualidade do pr-tratamento,
seguindo as necessidades de produo;
pesquisar a possibilidade de combinar diferentes tratamentos em um nico
processo;
instalar maquinrio de baixa e ultra-baixa vazo nos banhos;
introduzir tcnicas de baixa adio em processos contnuos;
melhorar a ecincia de lavagem em banhos e processos contnuos;
reutilizar gua de resfriamento como gua de processo (possibilitar tambm
recuperao de calor);
pesquisar possibilidades de reuso da gua - reciclar por caracterstica de
qualidade, observar o volume dos vrios processos a m de identicar pos-
sibilidades nas quais as substncias so valorveis e/ou no interferem com
a qualidade do produto;
na reciclagem em processos por batelada, instalar o maquinrio dentro da
planta construda para recuperao e reusar a gua contra corrente;
segregar as correntes de gua residurias fria e quente para recuperao
de calor.
Foto 15 Lavadeira Preparao
Fonte: Vicunha Txtil S/A.
40
41
5.1.1 Reduo do consumo de gua nas operaes de lavagem:
Essas aes podem ser conjugadas e ento se ter maior economia pelo menor
consumo de gua, como apresentadas a seguir:
Quadros 16 Medidas para reduo do consumo de gua
nas operaes de lavagem.
Exemplo I:
Implementao (processo produtivo):
- uso de guas de lavagem em contra- cor-
rente;
- evitar padronizar a quantidade de gua nos
processos, tendo como referncia a pior
condio, que reete em maior consumo;
- utilizao de diversas lavagens com quanti-
dade reduzida de gua, ao invs de nica
lavagem com grande quantidade de gua;
- remover o excesso de gua do material, antes
dos processos subseqentes, a m de evitar a
contaminao dos banhos novos;
- reutilizao das guas de lavagem, prove-
nientes das operaes de tratamento alcalino
(mercerizao, etc.), nas lavagens do mate-
rial txtil aps operaes de desengomagem;
- reutilizao das guas de lavagem, prove-
nientes das operaes de alvejamento, nas
lavagens do material txtil aps operaes
de tratamento alcalino.
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
- Reutilizao da gua reduz o
consumo de gua nos banhos em
quase 50%. Isto , maximizando a
partir da reduo das relaes de
banho 1:400 (1kg para 400 L de
gua) para 1:20 (1kg para 20 L de
gua);
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo do uso de produtos
qumicos;
- Reduo do custo das parcelas
dos volumes de captao e de
lanamento referente a Cobrana
pelo Uso da gua (Comit de
Bacia Hidrogrca).
Exemplo II:
Implementao
(Estao de Tratamento de gua - ETA):
- recuperar e reutilizar a gua de lavagem
do(s) decantador(es) e do(s) ltro(s) da
ETA;
- aps prvio tratamento, utilizar na lava-
gem de piso ou mesmo recircular para a
entrada da ETA.
Benefcio ambiental:
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
Aspectos econmicos:
- Reduo do uso de produtos qumicos;
- Reduo do custo das parcelas dos
volumes de captao e de lanamento
referente a Cobrana pelo Uso da gua
(Comit de Bacia Hidrogrca).
Foto 16 Lavagem de piso
5.1.2 Reduo do consumo de gua nas operaes de resfriamento
No quadro abaixo esto identicados algumas medidas de P+L para reduo
do consumo de gua nas operaes de resfriamento.
Quadro 17 Medidas para reduo do consumo de gua
nas operaes de resfriamento.
Implementao:
- recirculao no prprio equipamento,
por meio de sistema de resfriamento;
- reutilizao em processos que no
requeiram gua potvel.
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
- Reduo do consumo de gua em torno
de 15 a 20% de gua potvel;
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo do uso de produtos qumicos;
- Reduo do custo das parcelas dos
volumes de captao e de lanamento
referente a Cobrana pelo Uso da gua
(Comit de Bacia Hidrogrca).
Fonte: Cetesb - Relatrio P2 / Santista Txtil / Tavex.
Foto 17 - Reaproveitamento da gua de
resfriamento utilizada na sanforizadeira
Fonte: Cetesb Relatrio P2
42
43
5.1.3 Reduo do consumo de gua nas operaes de tingimento
No quadro abaixo esto identicadas algumas medidas de P+L para reduo
do consumo de gua nas operaes de tingimento.
Quadro 18 Medidas para reduo do consumo de gua
nas operaes de tingimento
Implementao:
-- no tingimento de cores mdias a escu-
ras possvel a eliminao da etapa
de preparao (purga), mediante a
utilizao de compounds especcos.
Estes produtos proporcionam um sistema
de purga e tintura simultnea, aplicvel
a qualquer tipo de bra, embora sua
principal aplicao se de no caso dos
substratos de algodo, notadamente
em banhos longos (malharia);
- no tingimento de polister, reutilizao
de banhos claros para lavar equipamen-
tos (1 ou 2 lavagem), como tambm,
no tingimento de banhos escuros.
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
- Se conseguir usar de forma articulada,
dependendo do tipo de substrato/coran-
te, a reduo ser em torno de 20 a 40%;
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo do uso de produtos qumicos;
- Reduo do tempo empregado em
processos;
- Reduo do custo das parcelas dos
volumes de captao e de lanamento
referente a Cobrana pelo Uso da gua
(Comit de Bacia Hidrogrca).
5.1.3.1 Consideraes
Os quadros a seguir apresentam a relao de banho convencional para dife-
rentes equipamentos de tingimento e energia necessria para diferentes pro-
cessos produtivos.
Quadro 19 Relao de banhos em equipamentos de tingimento
Equipamento de tingimento Relao de banho convencional
Tingimento de cones 1:8
Tingimento de rolos 1:8
Tingimento de tecidos Barca 1:20 - 1:40
Tingimento em Jet 1:4 - 1:12
Tingimento em Over-ow 1:4 1:7
Tingimento em Jigger 1:3 - 1:6
Tingimento em Foulard (Impregnao) 1:1
Quadro 20 - Comparao da energia necessria
para os diferentes tipos de processos
Processo de tingimento
Relao
de banho
Temp.
(C)
Energia consumida
nos processos em
(MJ/kg)
Tingimento a quente com corantes reati-
vos por esgotamento em barca
20:1 80 16,2
30:1 80 22,7
Tingimento a quente com corantes diretos
por esgotamento em barca
20:1 95 10,1
30:1 95 13,7
Tingimento a frio com corantes reativos
por esgotamento em barca
20:1 30 10,1
30:1 30 14,4
Tingimento a quente com corantes diretos
por esgotamento em jigger
2:1 95 1,8
3:1 95 2,2
Tingimento a frio com corantes reativos
por esgotamento em jigger
2:1 30 4,4
3:1 30 4,7
Tingimento a quente com corantes reati-
vos por esgotamento em jigger
2:1 80 5,4
3:1 80 5,8
Estamparia por termo-transferncia (subli-
mao) em polister
3,6
Fonte: Wagner e Wehrmeyer (1999).
5.1.4 Reduo do consumo de gua nas instalaes hidrulicas
A seguir, so apresentadas algumas medidas de P+L para reduo do con-
sumo de gua nas instalaes hidrulicas.
Quadro 21 Medidas para reduo do consumo
de gua nas instalaes hidrulicas
Implementao:
- substituio de peas hidrulicas nos
sistemas dos banheiros, dos vesturios,
da cozinha, entre outras.
Benefcio ambiental:
- Reduo do uso de recursos natural
(gua).
Aspectos econmicos:
- Investimento inicial com a reviso do
sistema hidrulico e reparos nas edica-
es;
- Reduo no consumo de gua e na
taxa/tarifa de gua potvel.
5.1.4.1 Considerao
Segundo dados do Programa de Uso Racional da gua - PURA da SABESP
Companhia de Saneamento do Estado de So Paulo, destaca-se a compara-
o entre equipamentos convencionais (peas) e equipamentos economiza-
dores de gua. Exemplos no Quadro 21, a seguir:
44
45
Quadro 22 Comparao entre equipamentos convencionais e
economizadores de gua
Equipamentos con-
vencionais
Consumo do
equipamento
convencional
Equipamentos
economizadores
de gua
Consumo do
equipamento
economizador
Economia
( % )
Bacia com caixa
acoplada
12,0 L/descarga Bacia VDR 6,0 L/descarga 50 %
Bacia com vlvula
bem regulada
10,0 L/descarga Bacia VDR 6,0 L/descarga 40 %
Ducha (gua quente
+ fria) at 6 mca
0,19 L/seg Restritor de
vazo 8 L/min
0,13 L/seg 32 %
Ducha (gua quente
+ fria) at 15 a 20 mca
0,34 L/seg Restritor de
vazo 8 L/min
0,13 L/seg 62 %
Torneira de pia at
6 mca
023 L/seg Arejador vazo
cte (6 L/min)
0,10 L/seg 57%
Torneira de pia at
15 a 20 mca
042 L/seg Arejador vazo
cte (6 L/min)
0,10 L/seg 76 %
Torneira uso geral/
tanque at 6 mca
0,26 L/seg Restritor de
vazo
0,10 L/seg 62 %
Torneira uso geral/
tanque at 15 a 20
mca
0,42 L/seg Restritor de
vazo
0,10 L/seg 76 %
Mictrio 2,0 L/seg Vlvula au-
tomtica
1,00 L/seg 50 %
5.1.5 Utilizao de gua de chuva
Outra medida de P+L identicada a utilizao da gua de chuva no processo
produtivo e os procedimentos sugeridos so apresentados no Quadro 22.
Quadro 23 Utilizao de gua de chuva no processo produtivo
Implementao:
- recolhimento e armazenamento de
guas de chuva em cisternas, prove-
nientes dos telhados do(s) salo(es)
industrial(is) e rea(s) administrativa(s);
- utilizao nas primeiras lavagens de
tingimento ou outros usos menos nobres.
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais ou gua potvel;
- Contribuio para minimizar pico de
enchentes na comunidade local.
Aspectos econmicos:
- Reduo de consumo de gua, aproxi-
madamente 2% a 10 % no perodo de
um ano, considerando o perodo de
chuva e de seca;
- Reduo do uso de produtos qumicos e
do consumo de energia;
- Reduo do custo da parcela do
volume de captao referente a Co-
brana pelo Uso da gua (Comit de
Bacia Hidrogrca).
5.1.5.1 Recomendao
recomendvel descartar os primeiros minutos da chuva porque esta gua
lava o telhado levando possivelmente poluentes para o reservatrio em funo
da sedimentao de partculas (sujeiras).
Quadro 24 Utilizao de gua de chuva no conforto interno de ambiente
Implementao:
- recolhimento e armazenamento de
guas de chuva em cisternas, prove-
nientes dos telhados do(s) salo(es)
industrial(is) e rea(s) administrativa(s);
- utilizao desta gua armazenada para
sistema de refrigerao de telhado da
rea industrial, usando aspersores em
circuito fechado (moto-bomba, tubula-
es, calha para coleta e aspersores na
cumeeira).
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais ou gua potvel;
- Deixando de utilizar sistema de refrigera-
o mais complexos em rea industrial
e, por consequncia, economizando
energia eltrica;
- Melhora a umidade relativa do ambi-
ente interno.
Aspectos econmicos:
- Reduo de consumo de gua, aproxi-
madamente 2% a 10 % no perodo de
um ano, considerando o perodo de
chuva e de seca;
- Reduo do uso de produtos qumicos
e do consumo de energia eltrica em
comparao a sistema de refrigerao
convencionais;
- Reduo de utilizao de sistemas de
refrigerao;
- Reduo do custo da parcela de capta-
o referente Cobrana pelo Uso da
gua (Comit de Bacia Hidrogrca).
5.1.6 Reutilizao de euente tratado de sistemas pblicos
No quadro abaixo esto identicadas medidas para reutilizao de euente
tratado de sistemas pblicos nos processo de tingimento e alvejamento.
Quadro 25 Reutilizao de euente tratado de sistemas pblicos
Implementao:
- instalao de tubulao ligando a
empresa at a estao de tratamento
ou uso de caminhes pipa para o trans-
porte da gua;
- adequao do tratamento da estao
para atender s necessidades dos
parmetros de qualidade da gua para
os processos;
- construo de caixas de gua para
recebimento e estocagem da gua de
reso.
Benefcio ambiental:
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Reduo do custo de processo uma vez
que a gua de reso cerca de 75%
mais barata que a gua potvel;
- Reduo do custo da parcela de capta-
o referente a Cobrana pelo Uso da
gua (Comit de Bacia Hidrogrca).
46
47
5.1.7 Reutilizao de euentes industriais tratados
A seguir, so apresentadas medidas de P+L para reutilizao de euentes in-
dustriais tratados.
Quadro 26 Reutilizao de euentes industriais tratados
na gerao de vapor das caldeiras
Implementao:
- instalao de tubulao ligando a
empresa at a estao de tratamento
ou uso de caminhes pipa para o trans-
porte da gua;
- construo de caixas de gua para
recebimento e estocagem da gua de
reutilizao
- adequao da qualidade da gua para
entrada na caldeira (dureza, condutivi-
dade, sais), por meio de abrandador,
bombas e dosadores automticos.
Benefcio ambiental:
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Reduo do custo de processo uma vez
que a gua de reutilizao cerca de
75% mais barata que a gua potvel;
- Reduo do custo das parcelas de
captao e de lanamento referente a
Cobrana pelo Uso da gua (Comit de
Bacia Hidrogrca).
Quadro 27 Reutilizao de euentes industriais tratados no STAR
Implementao:
- utilizao do euente nal do sistema de
tratamento de guas residurias (STAR)
para a lavagem de equipamentos,
pisos, uso no ltro prensa e outros.
Benefcio ambiental:
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Reduo do uso de produtos qumicos;
- Reduo do consumo de energia;
- Reduo do custo de processo uma vez
que a gua de reutilizao cerca de
75% mais barata que a gua potvel;
- Reduo do custo das parcelas dos
volumes de captao e de lanamento
referente a Cobrana pelo Uso da gua
(Comit de Bacia Hidrogrca).
5.1.7.1 Consideraes
1 - No caso da reutilizao do euente nal tratado faz-se necessrio a reduo
da unidade de COR no euente, para tanto, dever ser utilizada tecnologia
disponvel no mercado para remoo de cor do euente tratado, por exem-
plo: ozonizao; tratamento fsico-qumico com uso de polieletrlitos, adio
de cloreto frrico (FeCl3) e descolorao bacteriana, entre outros.
2 - Utilizar gua de reutilizao do prprio STAR ou de terceiros ao invs de
gua potvel em seus processos industriais, mantendo a gua potvel especi-
camente para uso no refeitrio, pias, chuveiros e instalaes para combate a
incndio, acarretando em economia signicativa de gua.
5.1.7.2 Recomendao
Recomenda-se que a empresa, quando do planejamento de reutilizao de
euentes tratados consulte a Resoluo CNRH 54/2005 que estabelece modali-
dades, diretrizes e critrios gerais para a prtica de reso direto no potvel
de gua, e principalmente, consulte ao rgo ambiental da rea de jurisdio
onde localiza sua empresa, antes da elaborao do projeto em funo da pos-
svel alterao da Licena Ambiental.
Foto 18 - Processo de osmose reversa / Reutilizao de gua do STAR
Fonte: Vicunha Txtil S/A.
48
49
5.2 Reduo / conservao de energia
Nos itens a seguir, sero apresentadas medidas de P+L para reduo/conservao
de energia.
5.2.1 Instalaes para Gerao de vapor
No quadro abaixo esto identicadas medidas nas instalaes de gerao de
vapor.
Quadro 28 Medidas de reduo de energia em instalaes
para gerao de vapor
Implementao:
- isolamento trmico das tubulaes;
- identicao de vazamento de vapor
que pode depender do tempo de vida
til das instalaes e do estado das
mesmas.
Benefcios ambientais:
- Reduo do consumo de vapor em
torno de 20 a 30%, com conseqente
reduo de energia;
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Reduo nos custos com matrias-
primas;
- Reduo com os custos e na taxa de
consumo de energia.
5.2.1.1 Recomendao
Reduo de Presso: existe uma srie de boas razes para se reduzir a presso do
vapor antes de utiliz-lo em equipamentos. Primeiro, porque com a diminuio da
presso aumenta-se o calor latente do vapor e isso garante uma mdia 10% de
economia no consumo de energia. Tambm por que com a reduo, diminui-se a
as perdas de energia por irradiao para a atmosfera, tornando o processo mais
eciente. Finalmente, a reduo de presso possibilita o uso de tubulaes sistemas
de isolamento, suporte e acessrios dimensionados mais economicamente, alm de
reduzir custos de manuteno, uma vez que os equipamentos que trabalham com
altas presses esto sempre sujeitos a desgastes maiores.
A reduo de presso prximo aos pontos de consumo pode ser facilmente con-
seguida com a instalao de vlvulas redutoras de presso, especialmente desen-
volvidas para esta funo. Existem dois tipos de vlvulas redutoras e controladoras
de presso: as de ao direta, que tem construo simples e que apresentam ex-
celente desempenho onde no h variaes bruscas das condies de trabalho
(consumo, presso de entrada e sada), e as auto-operadas, que so projetadas
para se adequar a estas variaes e possibilitar uma presso de ajuste perfeita. A es-
colha da instalao da opo mais adequada fundamental para que se obtenha
melhor desempenho e maior vida til dos equipamentos. Mas, o maior benefcio
da aplicao destas vlvulas to signicativo que a possibilidade da reduo de
presso deve ser sempre analisada, seja visando expanso da linha, mudanas, ou
simples aperfeioamento do processo.
Como exemplo: Para uma presso relativa de 10 Kgf/cm, o calor Latente de 478,3
Kcal/Kg de vapor, com uma temperatura do vapor de 183,2C Se reduzirmos esta
presso para 1 kgf/cm o calor Latente ser de 525,9 Kcal/Kg de vapor, com uma
temperatura do vapor de 119,6C (temperatura suciente para aquecer a gua
100C ) Isto dar uma economia de 9,1% no consumo de vapor.
5.2.2 Reaproveitamento de calor gerado
Nos quadros abaixo esto identicadas medidas de P+L para reaproveita-
mento de calor gerado.
Quadro 29 Reaproveitamento do calor gerado proveniente de banhos
Implementao:
- instalao de tubulaes para coleta
dos banhos quentes de descarga das
mquinas de tingimento e instalao de
um sistema de trocador de calor antes
do descarte nal para o STAR.
Nota: Aproveitamento deste calor para
aquecer a gua limpa, armazenando
em tanques com isolamento e reutilizan-
do com a instalao de tubulao para
uso direto nos aparelhos.
Benefcios ambientais:
- Reduo dos recursos naturais;
- Reduo do consumo de combustvel
para gerao de vapor;
- Eliminao da necessidade de sistemas
de resfriamento dos euentes na entrada
do STAR;
- Reduo da temperatura dos euentes,
melhorando a ecincia e estabilidade
do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo no consumo de vapor em at
50%;
- Reduo do consumo e da taxa de
energia eltrica;
- Reduo do tempo de processos de
tingimento, alvejamento, lavagens, etc.
Quadro 30 Outras medidas para reaproveitamento de calor gerado
Implementao:
- utilizao do calor da descarga de
fundo das caldeiras para aquecer a
gua de entrada das caldeiras;
- reaproveitamento do ar quente dos
compressores nas ramas e outros equi-
pamentos.
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
- Reduo do consumo de combustvel
para gerao de vapor.
Aspectos econmicos:
- Reduo nos custos com matrias-
primas;
- Reduo do consumo e da taxa de
energia eltrica;
- Reduo dos custos operacionais.
50
51
5.2.3 Reduo do consumo de energia (procedimento operacional)
A seguir so apresentados procedimentos operacionais visando a reduo do
consumo de energia.
Quadro 31 Procedimentos operacionais para reduo
do consumo de energia
Implementao:
-programao dos equipamentos para
evitar consumo de energia eltrica,
alm da demanda contratada;
- medio e monitoramento do consumo
de energia eltrica;
- reviso das instalaes eltricas.
Benefcio ambiental:
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Reduo com os custos e na taxa de
consumo de energia.
5.2.3.1 Recomendaes
1 O banco de capacitores serve para controlar o fator de potncia (ndice
que faz com que a indstria tenha aproveitamento mximo de energia, a
qual a indstria pode consumir), alm da demanda contratada.
2 - Como a elevao da demanda, acima do contrato estabelecido, pode
provocar multas muito severas, recomenda-se a instalao de equipamen-
tos que controlem esse pico, criando-se, assim, prioridades para a reduo
do uso de eletricidade nos equipamentos.
3 - A reviso das instalaes eltricas pode depender do tempo de vida til das
instalaes e do estado das mesmas.
4 No caso de medio e monitoramento importante estipular uma mdia
mensal de consumo, e realizar medies dirias de aes preventivas.
5.2.4 Na reviso de equipamentos e motores
Grande parte do consumo de energia eltrica destina-se alimentao de
motores. Estes equipamentos encontram-se normalmente distribudos em um
amplo espectro de utilizaes, que abrange desde mquinas voltadas ao pro-
cesso industrial at sistemas de ventilao e condicionamento ambiental. Tais
equipamentos representam elevada parcela no consumo de energia eltrica.
Quadro 32 Reviso de equipamentos e motores
Implementao:
- instalao de inversores de frequncia
e soft starter nos equipamentos pode
proporcionar uma economia em torno
de 25%;
- reviso dos motores eltricos e utilizao
de motores de alto rendimentos.
Benefcio ambiental:
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Reduo com os custos de manuten-
o;
- Reduo de consumo de energia.
52
5.2.4.1 Consideraes
No caso da reviso dos motores eltricos deve-se fazer um mapa com acom-
panhamento de cada motor da fbrica e vericar o tempo de uso de cada
equipamento, podendo vericar se est ocorrendo freqentes queimas de mo-
tores acima da mdia. A partir da se estipula uma mdia de ciclo de vida
adequado dos motores e se houver problemas antes da mdia, signicar que
o motor no est sendo bem cuidado, devendo ser vericado se necessrio
refazer o rebobinamento do motor.
5.2.5 No equipamento de ar comprimido
As instalaes de ar comprimido apresentam grandes oportunidades de eco-
nomia de energia, desde que se empregue um projeto adequado, com a for-
ma correta de operao e a implantao de um programa de manuteno
eciente. Algumas medidas importantes podem ser adotadas:
- posicionar o ponto de captao do ar a ser comprimido, em local de baixa in-
cidncia de calor. O acrscimo de 5C na temperatura do ar aspirado implica
em aumento do consumo de energia da ordem de 1%;
- escolher um tipo de compressor adequado s necessidades do processo
produtivo, devendo-se vericar, por exemplo, a possibilidade de utilizar com-
pressores com mltiplos estgios de compresso;
- empregar reguladores para operao automtica de compressores, per-
mitindo que o motor seja desativado sempre que houver longos perodos sem
consumo de ar. Ressalva-se que atualmente existem motores que ligam e des-
ligam automaticamente;
- instalar registros nas linhas de distribuio, pois permite ao operador efetuar
manobras de fechamento quando apenas parte da linha estiver sendo uti-
lizada;
- evitar o uso desnecessrio de ar comprimido, por exemplo, na limpeza de
mquinas ou pisos, que alm de antieconmico pode danicar partes impor-
tantes do equipamento;
- realizar manuteno adequada em toda a linha de distribuio e equipa-
mentos utilizadores de ar comprimido, dando especial ateno aos cilindros
pneumticos e suas vlvulas de controle, pois a maior causa do desperdcio
de energia nesses sistemas devido aos vazamentos.
5.2.6 Na iluminao
Os ambientes no devem ser iluminados alm do recomendado nas normas,
pois alm de no melhorar o desempenho visual, acarretam consumos eleva-
dos de energia. A utilizao da luz natural sob todos os aspectos, o ponto de
partida para se obter um sistema de iluminao energeticamente eciente.
53
Quadro 33 Iluminao
Implementao:
- utilizar telhas translcidas com a nali-
dade de aproveitar a luz natural;
- apagar a iluminao de setores desa-
tivados ou que esto temporariamente
em desuso, mesmo que por poucas
horas podendo-se utilizar detectores de
presena;
- empregar lmpadas que consomem
menos energia por lmens. Particular-
mente, pode-se substituir iluminao
incandescente por uorescente ou
lmpadas metlicas.
Benefcio ambiental:
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Reduo de consumo d a, em torno de
30%.
5.2.6.1 Considerao
O quadro abaixo demonstra os dados de ecincia luminosa dos principais ti-
pos de lmpadas.
Quadro 34 Ecincia luminosa dos principais tipos de lmpadas
Incandescente
Tipo de
lmpada
Ecincia (m/W)
Comum 8 a 18
Halgena 17 a 22
Halgena Di-
crica
19
Descarga
Tipo de
lmpada
Ecincia
(m/W)
Fluorescente 56 a 75
Vapor de mercrio 40 a 75
Vapor metlico 68 a 100
Vapor de sdio 80 a 125
Luz mista 19 a 27
5.2.7 Outras medidas recomendadas
O reaproveitamento do calor proveniente de condensao, gua de resfria-
mento de processo e banhos residuais aquecidos, baseado num Programa de
Reaproveitamento do Calor, pode gerar ganhos em torno de 15%, j que o
calor a mais pobre das energias.
5.3 Lavagem a seco
No quadro a seguir, est identicada medida de P+L no processo de lavagem
a seco.
Quadro 35 Lavagem a seco
Implementao:
- Substituio de equipamento com
melhor tecnologia para o uso de perclo-
roetileno.
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de produtos
qumicos (percloroetileno);
- Melhoria na ecincia do equipamento
(rendimento) de cerca de 12 Kg de roupa
por litro de percloroetileno para 32 Kg de
roupa lavada por litro.
Aspectos econmicos:
- Reduo de custo com o percloroetile-
no gerado, retorno do investimento em
cerca de 36 meses.
5.3.1 Recomendao
Substituio de equipamento que utiliza percloroetileno para equipamentos
que utilizam hidrocarbonetos para lavagem a seco.
recomendvel consultar a Resoluo-RDC n 161, de 23.06.2004, da Agn-
cia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA, que proibiu a instalao de
novas mquinas de lavagem a seco que operem com percloroetileno, como
substncia ou produto em qualquer concentrao, que no possuam sistema
de adsoro de gases capaz de esgotar o percloroetileno residual do tambor
de lavagem, antes da abertura da porta de acesso, aps o ciclo de lavagem,
a partir de 1 de dezembro de 2004.
Aps a data mencionada, todas as mquinas de lavar a seco que utilizem o
percloroetileno devem estar adequadamente equipadas, considerando os ris-
cos avaliados pela Organizao Mundial da Sade - OMS, para analisar com-
postos sujeitos de causarem cncer e a necessidade de resguardar a sade
humana, o meio ambiente e os riscos de exposio.
54
55
5.4 Reduo de emisses de substncias odorferas
No quadro a seguir, esto identicadas medidas para reduo de emisses de
substncias odorferas.
Quadro 36 Reduo de emisses de substncias odorferas
Implementao:
- Reviso das caractersticas das bras
considerando a decomposio dos
leos e/ou volatizao dos solventes
presentes na bra, nas operaes de
tratamento trmico. recomendado
a aquisio de os com leos de enz-
imagem termoestveis ou facilmente
emulsionveis por processo de purga;
- Monitoramento dos processos quando
da utilizao de produtos qumicos que
podem desprender odores caractersti-
cos (como por exemplo, sulfetos).
Benefcio ambiental:
- Reduo ou eliminao do odor e
sanando o incmodo populao da
vizinhana.
Aspectos econmicos:
- Aumento no custo da bra;
- Reduo do risco de recebimento de
multa administrativa ambiental em fun-
o do incmodo populao.
Foto 19 Rama
Fonte: Txtil Matec Ltda.
56
5.5 Reduo de emisses de Rudo e Vibrao
Na sequncia, so apresentadas medidas de P+L visando a reduo de emis-
ses de rudo e vibrao.
5.5.1 Reduo das emisses de rudo
No quadro abaixo esto identicadas algumas medidas para reduo das
emisses de rudo.
Quadro 37 Reduo das emisses de rudo
Implementao:
- Efetuar a manuteno dos equipamen-
tos (quando for o caso), bem como por
meio de enclausuramento prvio do(s)
equipamento(s) especco(s) (isolamen-
to acstico).
Benefcio ambiental:
- Reduo de emisso de rudo.
Aspectos econmicos:
- Reduo de aes administrativa, civil e
trabalhista.
5.5.1.1 Recomendaes
1 - Selecionar, dentre as alternativas adequadas e viveis, equipamentos com
menores emisses de rudo;
2 - Instalar equipamentos ruidosos em uma ou mais salas fechadas. Dotar essas
salas de barreiras acsticas especialmente projetadas para os equipamen-
tos dentro do galpo industrial, ou, ainda, prever de prdio especco para
instalao e operao de equipamentos como: ar comprimido, sistema de
climatizao, entre outros;
3 - Posicionar operaes ruidosas, bem como reas de movimentao e esta-
cionamento de veculos, afastadas o quanto possvel de atuais ou futuras
reas sensveis a rudos;
4 - Melhorar layout dos edifcios posicionando-os de forma a us-los como bar-
reiras acsticas, aproveitando tambm, a prpria topograa do local.
57
5.5.2 Reduo das emisses de partculas de vibrao
No quadro abaixo, esto identicadas algumas medidas visando a reduo
das emisses de partculas de vibrao.
Quadro 38 Reduo das emisses de partculas de vibrao
Implementao:
- Pode ser efetuada por meio da instala-
o de sistema de amortecimento, piso
isolante, bem como vericao da base
do equipamento (estrutura).
Benefcio ambiental:
- Reduo de emisso de partculas de
vibrao.
Aspectos econmicos:
- Aumento da vida til dos equipamentos
e edicaes;
- Reduo de aes administrativa, civil e
trabalhista.
5.5.2.1 Considerao
Para efeito do controle de poluio ambiental relacionado ao incmodo
populao aplica-se a Deciso de Diretoria CETESB 215-07-E (2007) que dispe
sobre a sistemtica para a avaliao de incmodo causado por vibraes
geradas em atividades poluidoras.
5.6 Recuperao de insumos
Na sequncia, so apresentadas medidas de P+L para recuperao de alguns
insumos.
5.6.1 Goma
No quadro abaixo esto identicadas medidas para recuperao da goma.
Quadro 39 Recuperao de goma
Implementao:
- recuperao da goma consiste em l-
trar (processo de ultraltrao) o banho
de desengomagem, a m de reutiliz-lo
no processo de engomagem. Atual-
mente aplicvel para gomas sintticas
e articiais (amido modicado);
- em caso de empresas que possuem dois
ou mais tanques de armazenagem de
goma, recomenda-se a interligao de
modo a permitir que a goma restante ao
trmino de um processo, possa ser reuti-
lizada por outra engomadeira, evitando-
se o descarte desnecessrio.
Benefcios ambientais:
- Reduo na quantidade de resduos
gerados;
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo do consumo de produtos
qumicos e energia utilizados no sistema
de tratamento de guas residurias,
alm da reduo de lodo gerado, con-
siderando a reduo da carga orgnica
a ser enviada ao sistema de tratamento.
58
5.6.1.1 Consideraes
1 - O uso de agentes engomantes sintticos aumenta a vida til dos banhos de
engomagem e, consequentemente, reduz a frequncia/ volume de des-
carte.
2 - Atualmente, existe tendncia nas indstrias de se abolir as gomas tradicio-
nais a base de amido para gomas sintticas, facilitando com essa alter-
ao, a recuperao dessa goma, porm quanto se ganha depende do
processo.
3 - Substituir a fcula de amido por composto modicado base de CMC (Car-
boximetilcelulose) ou CMA (Carboximetilamido) que so passveis de recu-
perao em torno de 80%.
5.6.1.2 Recomendao
Em muitos casos, a reduo do tamanho das cubas, como nas engomadeiras,
foulards e ramas, acarretar uma diminuio da quantidade da goma a ser
descartada.
Foto 20 - Engomadeira recuperao de Goma
Fonte: CETESB Relatrio P2.
5.6.2 Soda Custica
Grandes quantidades de soda custica (hidrxido de sdio) so utilizadas no
processo de mercerizao de txteis de algodo, sejam tecidos, malhas ou os.
O excesso de soda custica extrado do substrato por lavagem na prpria
mercerizadeira e normalmente lanado no euente, o qual, requer consid-
erveis adies de cido para sua neutralizao.
O elevado teor de soda custica (produto qumico de preo considervel)
despejado no tratamento pode ser recuperado e reciclado. Isto tecnica-
mente possvel e economicamente vivel, sendo que a soda custica recicla-
da comparvel originalmente utilizada, no tocante ao resultado da mer-
cerizao.
59
Quadro 40 Recuperao de soda custica.
Implementao:
- Recuperao e recirculao de soda
caustica seguindo as etapas:
- euente da mercerizadeira;
- tanque armazenamento;
- litros;
- evaporador;
- decantador;
- tanques de soda reconcentrada.
Nota: A energia trmica do vapor uti-
lizado na sua quase totalidade, recu-
perada sob forma de gua quente a ser
usada nos processos do acabamento,
inclusive na prpria mercerizadeira.
Benefcio ambiental:
- Reduo de resduos gerados.
Aspectos econmicos:
- Reduo do consumo de produtos
qumicos e energia utilizados no STAR;
- Recuperao de aproximadamente 80%
da soda custica aplicada na mercer-
izao, seja de tecido, malha, o ou das
caixas de causticao do processo de
ndigo;
- Reduo de custos de neutralizao e
tratamento do euente;
- Perodo de amortizao do equipamen-
to de 1 a 2 anos.
5.7 Reduo, reutilizao e reciclagem de resduos gerados
A orientao bsica aplicada nas medidas de P+L para os resduos praticar
sempre os denominados 3Rs, de forma cclica ou peridica, nesta ordem:
1 Reduzir a gerao de resduos (nos processos produtivos e operaes auxiliares);
2 Reusar os resduos inevitveis (aproveit-los, sem quaisquer tratamentos);
3 Reciclar os resduos inevitveis (aproveit-los aps quaisquer tratamentos
necessrios dentro do processo ou mesmo fora do processo produtivo).
Para 2 e 3 passos, procurar esgotar primeiro as possibilidades de aproveita-
mento interno, nas prprias atividades da unidade produtiva; somente depois,
procurar alternativas de aproveitamento externo, em instalaes de terceiros.
Os resduos que restarem dos 3Rs, devem ser segregados, coletados, acondi-
cionados e destinados adequadamente, de acordo com normas tcnicas e
com a legislao ambiental.
Foto 21 - Recipientes para coleta seletiva de resduos
Fonte: Santista Txtil / Tavex.
60
5.7.1 Reduo da gerao de resduos de embalagens
No quadro abaixo esto identicadas medidas de P+L visando a reduo da
gerao de resduos de embalagens.
Quadro 41 Reduo da gerao de resduos de embalagens
Implementao:
- Desenvolvimento de estudo de alternati-
vas para minimizao e de mercado;
- Estabelecimento de critrios de aceita-
o de materiais com o cliente;
- Controle das condies de armazena-
gem;
- Treinamento de pessoal;
- Estabelecimento de procedimentos
operacionais.
Benefcios ambientais:
- Reduo na quantidade de resduos
gerados;
- Reduo no consumo de recursos
naturais.
Aspectos econmicos:
- Menor consumo de material para em-
balagem;
- Menor custo de gerenciamento de
resduos de embalagens gerados na
empresa;
- Custos adicionais para os estudos de
minimizao e mercado;
- Custos adicionais para modicao nas
operaes e estocagem das embala-
gens.
5.7.2 Reutilizao de Resduos
No quadro abaixo esto identicadas medidas visando a reutilizao de re-
sduos.
Quadro 42 Reutilizao de resduos
Implementao:
O reaproveitamento dentro ou fora do
processo produtivo e/ou comercializao
de resduos slidos gerado, exemplo:
- no processo de ao cardado se tem
um desperdcio de at 15% dos quais
certamente a metade poder ser
reaproveitada;
- no processo de ao penteada pode
se chegar at uma perda de 30% no
processo, dos quais mais de 20% pode
ser reaproveitado;
- utilizao do lodo biolgico gerado no
STAR como combustvel em caldeiras de
biomassa.
Benefcios ambientais:
- Reduo na quantidade de resduos
gerados;
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
- Reduo do volume de lodo biolgico e
demais resduos no perigosos gerados na
planta industrial;
- Reduo no consumo de combustvel.
Aspectos econmicos:
- Reduo no consumo de combustvel;
- Reduo nos custos de destinao nal
de lodos biolgicos e demais resduos
no perigosos gerados.
61
Foto 22 - Lodo em processo de secagem (Leito de Secagem)
Fonte: CETESB
5.7.2.1 Consideraes
1- Para reaproveitamento de resduos recomenda-se inicialmente aplicar os
procedimentos da NBR 10004:2004 - Classicao dos resduos slidos, para
vericao da classicao como perigosos e no perigosos.
2- Existem sistemas de reaproveitamento de confeccionados que geram
matria-prima para a ao. to importante que est inserido num pro-
cesso especico que o da fabricao de os mais grossos destinados
produo de produtos menos nobres.
5.7.2.2 Recomendaes
1- A comercializao das guas de lavagem alcalina, resduo lquido, para
indstrias que geram euentes cidos, atuando como neutralizante (siner-
gismo);
2- Retalhos de tecidos gerados em confeces ou vesturios:
- podem ser utilizadas para confeccionar bolsas, toalhas, colchas, tapetes, cor-
tinas, etc., em um nico tom ou multicolorido ou estampado, por exemplo: os
retalhos de algodo, tricoline e chita. Vale misturar tecidos, desde que eles no
tenham elastano na composio. Os materiais escorregadios, como cetim, ou
muito nos, como voal de seda, no so recomendados para o trabalho com
retalhos, pois so difceis de manusear. A(s) ala(s) precisa(m) de uma estrutura
reforada, por isso, use uma entretela grossa. Para o forro, prera tecidos resis-
tentes. Jeans e sarja so boas opes;
- podem ser utilizados para novas peas, artesanatos, organizado na forma de
cooperativa ou associao, que podem gerar peas diversas para aplicao
em roupas ou objetos de cama e mesa ou diretamente na forma de artesanato
com comercializao direta ao consumidor;
- podem ser utilizados como matria-prima de os e tecidos, aps o desbra-
mento.
62
5.8 Produtos Qumicos
Na sequncia, so apresentadas medidas de P+L relativas aos produtos qumi-
cos utilizados pelo setor txtil.
5.8.1 Controle de recebimento de matrias-primas e produtos auxiliares
A implantao de sistema de controle de qualidade para matrias-primas e
produtos auxiliares implica no estabelecimento de critrios e no conhecimento
das especicaes dos produtos considerados aceitveis. Essa medida exige
treinamento de pessoal para a realizao de testes analticos e procedimentos
operacionais que garantam sua adequada aplicao.
Quadro 43 Procedimentos operacionais
para reduo de produtos qumicos
Implementao:
- estabelecimento de critrios de aceita-
o de materiais;
- implantao de laboratrio e/ou kit para
testes expeditos;
- controle das condies de armazena-
gem;
- treinamento de pessoal;
- estabelecimento de procedimentos
operacionais.
Benefcios ambientais:
- Reduo na quantidade de resduos
gerados;
- Reduo no consumo de recursos
(gua, energia);
- Otimizao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo nos custos de matrias-primas;
- Reduo nos custos de tratamento/
disposio de resduos e/ou produtos
rejeitados;
- Custos de equipamentos para testes;
- Investimento em recursos humanos.
5.8.2 Substituio de Produtos Qumicos e Auxiliares
No quadro a seguir esto identicadas medidas para substituio de produtos
qumicos e auxiliares, visando os benefcios ambientais e econmicos.
Quadro 44 Substituio de produtos qumicos e auxiliares
Implementao:
- estabelecimento de critrios de compra
e aceitao de materiais na linha de
produo;
- controle do laboratrio, manipulao;
- controle das condies de armazena-
gem;
- treinamento de pessoal;
- estabelecimento de procedimentos
operacionais.
Benefcios ambientais:
- Reduo na quantidade de resduos
gerados;
- Reduo no consumo de recursos
(gua, energia);
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo nos custos de matrias-primas;
- Reduo nos custos de tratamento/
disposio de resduos e/ou produtos
rejeitados;
- Investimento em recursos humanos.
63
5.8.2.1 Consideraes
1 - Substituir a enzima por perxido de hidrognio na desengomagem, visando a
reduo da carga orgnica do euente, pois enquanto a primeira degrada o amido
em dextrinas (carboidratos de baixo peso molecular), o segundo o decompe em
gs carbnico e gua.
2 Substituir, tanto quanto possvel, os corantes que apresentam metal na molcula
por corantes que no apresentam, pois a presena de metais no euente lquido
poder inibir o tratamento biolgico.
3 - Substituir hipoclorito de sdio e clorito de sdio por perxido de hidrognio, visan-
do eliminar a reao de agentes clorados com matria orgnica que resulta na
formao de organoclorados, produtos potencialmente txicos.
4 - Substituir cido actico por cido frmico que demanda menor quantidade de
oxignio para sua degradao, sob condies aerbias (a substituio de cidos
orgnicos por cidos minerais, tende a aumentar o teor de sal no euente lquido).
5 - Trabalhar com baixas relaes de banho (maior rendimento do corante): Rela-
es de banhos mais baixas (menor diluio dos produtos qumicos) favorecem a
interao produto/bra, principalmente no caso dos corantes, aumentando o ren-
dimento do processo.
6 - Substituir o uso de dicromato de sdio como oxidante: o cromo hexavalente
(presente no dicromato de sdio) carcinognico. Nos processos de oxidao dos
corantes sulfurosos deve ser substitudo preferencialmente por perxido de hidrognio
ou ento oxidantes base de sais halogenados.
7 - Usar corantes lquidos ao invs de corantes em p: essa informao vlida
principalmente para corantes dispersos. No caso dos corantes em p, ao serem
utilizados no processo, iro demandar quantidade de dispersante muito maior do
que quando apresentados na forma lquida, tendo em vista que esses corantes so
comercializados na forma dispersada, requerendo, portanto menor quantidade de
dispersante durante o tingimento.
Os corantes, sempre que possvel, devem ser adquiridos na sua forma lquida, visto
conter um tero da quantia de dispersante do corante em p. A razo para esta
diferena esta no processo de produo do corante em p, para gerar as partculas
durante a moagem deve ser protegidos durante os processos de secagem e isto s
possvel adicionando maiores quantidades de agente dispersante. Observar ta-
bela a seguir: Os aditivos no so txicos ao meio aqutico, mas so fracamente
bio-eliminveis. Estes dispersantes resultam principalmente da condensao de
produtos tipo naftaleno formaldedos sulfonados e lignina sulfonato, de fenis com
formaldedo e sulto de sdio.
8 - Eliminar o uso do querosene nas pastas de estampar favorecendo a reduo/
eliminao dos VOCs (compostos orgnicos volteis), principalmente durante as
operaes de xao do pigmento.
9 - Uria: a uria aumenta o teor de nitrognio no euente. A possibilidade de reduo
da quantidade utilizada no processo de estampagem pode ser obtida atravs de:
- choque alcalino (estampagem com corante reativo);
- adio de diciandiamida pasta de estampar, diminuindo a quantidade de uria;
- instalando sistema de umidicao do material estampado antes da xao
quente.
10 - Substituir CFCs: os clorouorcarbonos (CFCs) utilizados nos sistemas de refrigera-
o, so os responsveis pela degradao da camada de oznio. Os CFCs podem
ser substitudos pelos HCFCs (menos prejudicial camada de oznio) e HFCs.
5.8.2.2 Recomendaes
1. Evitar o uso de xadores base de formaldedo: o aldedo frmico (formalde-
do) uma substncia altamente reativa, tendo em vista que para evitar sua
polimerizao, necessita de inibidor. Essa propriedade reativa tende a carac-
teriz-lo como produto txico. Portanto, deve-se reduzir ao mnimo, sua con-
centrao nos materiais txteis.
2. Evitar o uso de tensoativos nas lavagens aps estamparia: a m de evitar ou
reduzir a quantidade de tensoativos nas lavagens aps a estampagem, prin-
cipalmente para os corantes reativos, interessante melhorar a ecincia da
lavagem.
3. Utilizar corantes reativos que demandem baixas concentraes de sal: o alto
teor de sais no euente lquido pode ocasionar:
- sob condies anaerbias o sulfato reduzido a gs sulfdrico, exalando odor
desagradvel (ovo podre), bem como por apresentar caractersticas cidas,
tambm pode ocasionar corroso das tubulaes;
- favorecer a desidratao das clulas vivas dos organismos aquticos, em fun-
o do efeito de osmose que ocorre na parede celular (o lquido no interior da
clula tende a uir para o ambiente de maior concentrao de sal);
- dar preferncia a tingimentos pelo processo pad-batch.
4. Evitar/reduzir o uso de uria nos processos de tingimento pad-batch: a uria
nos processos txteis apresenta duas funes bsicas:
- auxiliar na dissoluo de corantes;
- permitir que o material contendo banho/pasta de corante conserve sua umi-
dade (devido ao higroscpica), durante os processos de xao quente,
promovendo a difuso do corante para o interior da bra e favorecendo sua
xao.
- entretanto, face sua propriedade nutriente, a uria tende a aumentar a carga
de alimento no meio, favorecendo o crescimento de microorganismos em de-
masia. aconselhvel, portanto, para aumentar a ecincia do tratamento de
euente reduzir a quantidade de uria dos processos de produo.
5. Evitar o uso de fosfatos: os fosfatos, assim como as substncias nitrogenadas,
atuam como nutrientes. aconselhvel que tambm tenham sua quantidade
reduzida nos processos de produo.
6. Estabelecer o controle de qualidade dos produtos qumicos: controle de
qualidade ir reduzir no conformidades do material processado, consequent-
emente, evitar reprocesso decorrente da falta de especicao dos produtos
qumicos.
7. Reduzir o uso de produtos qumicos: a reduo dos sais na gua, que pode
ser efetuada pelo processo de abrandamento e/ou desmineralizao, ir di-
minuir signicativamente a quantidade de produtos qumicos necessria para
o tratamento da gua da caldeira. Utilizar leos de enzimagem termoestveis
ou de fcil remoo (ao).
8. Seleo e uso de qumicos: como princpio geral, dever ser estabelecida
uma seleo quanto aos produtos qumicos a serem utilizados, bem como o
treinamento de seus usurios. Sempre que possvel, dar preferncia a processo
64
65
sem o uso de produtos qumicos, ou ento minimizar a sua dosagem. Onde no
for possvel, deve-se adotar um risco calculado para a seleo dos qumicos e
sua utilizao, de modo a assegurar o menor risco ambiental possvel. Existem
diversas listas e ferramentas de classicaes para produtos qumicos, principal-
mente de acordo com sua relevncia em relao aos impactos na gua e no
ar. Os mtodos de operao que asseguram o menor risco incluem tcnicas
como o uso em circuito fechado.
5.8.3 Substituio de cozinha de cores manual por automatizada
No quadro abaixo esto identicadas medidas para substituio de cozinha de
cores manual por automatizada e seus benefcios ambientais e econmicos.
Quadro 45 Substituio de cozinha de cores manual por automatizada
Implementao:
- aquisio do sistema automatizado de
soluo de cores;
- sistema de informtica para o gerencia-
mento operacional e o desenvolvimento
de software para acompanhamento
on-line do processo para otimizao do
mesmo;
- treinamento dos operadores;
- uso de corantes em p e em soluo;
- instalao de tubulao hidrulica para
alimentao direta dos equipamentos
produtivos, em circuito fechado, e ad-
equao dos equipamentos dos setores
produtivos.
Benefcios ambientais:
- Reduo no descarte e destinao nal
de resduos slidos (embalagens diversas)
e semi-slidos (pastas ou restos de tintas);
- Reduo do descarte de solues de
corantes no sistema de tratamento de
euentes lquidos;
- Reduo do consumo de corante via
otimizao do processo e consequente
reduo de custos (ambientais e opera-
cionais) devido a utilizao exata de
insumo (sem excedentes).
Aspectos econmicos:
- Investimento inicial alto, porm com
retorno rpido (pay-back);
- Reduo do uso e de compra de produ-
tos qumicos (corantes e auxiliares);
- Reduo do custo de destinao nal e
transporte de resduos;
- Reduo dos custos das parcelas dos
volumes de captado e do lanamento
na Cobrana pelo Uso da gua (Comit
de Bacia Hidrogrca local);
- Investimento em recursos humanos para
o aprimoramento da mo-de-obra;
- Reduo de variaes operacionais
(diferentes cores /nuances) e otimizao
da qualidade;
- Facilidade na obteno de dados
gerenciais para efeitos de custos e
administrao;
- Diminuio da movimentao interna
de tambores/containeres, materiais e
mo-de-obra;
- Contribuio signicativa de limpeza da
fbrica na rea de tinturaria;
66
5.8.4 Reutilizao de gua de banho
Nos quadros a seguir, esto identicadas medidas para reutilizao de gua
de banho.
Quadro 46 Reutilizao de gua de banho em processos de acabamento
Implementao:
- os processos de acabamento por
impregnao (fulardagem), pratica-
mente no sofrem alteraes, quanto
concentrao de seus componentes
nos banhos residuais, sendo passveis de
reutilizao (desde que no existam al-
teraes de suas propriedades durante
o perodo de armazenamento, como:
hidrlise, polimerizao, etc.).
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo do uso de produtos qumicos;
- Reduo no consumo de energia;
- Reduo do custo da parcela o volume
de captao referente Cobrana pelo
Uso da gua (Comit de Bacia Hidro-
grca).
Quadro 47 Reutilizao de gua de banho dos processos de tingimento
Implementao:
- reutilizao do banho dos processos
de tingimento, em equipamentos de
elevada relao de banho, tais como
turbos e ows, considerando aspectos
como temperatura e concentraes
residuais de corante, sal, lcali, redutor,
etc.
Nota: calculando os respectivos reforos
possvel reutilizar a contento estes
banhos, principalmente no caso de
corantes sulfurosos. Partindo de cores
claras para escuras, a mecnica de re-
utilizao se torna bastante mais simples,
podendo ser estendidas a outras classes
como diretos e dispersos.
Benefcios ambientais:
- Reduo no consumo de recursos
naturais;
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo do uso de produtos qumicos;
- Reduo no consumo de energia;
- Reduo do custo da parcela do vol-
ume de captao referente a Cobran-
a pelo Uso da gua (Comit de Bacia
Hidrogrca).
67
5.9 Modicao de equipamentos
No quadro abaixo esto identicadas medidas de modicao de equipa-
mentos nos processos produtivos e seus benefcios ambientais e econmicos.
Quadro 48 Modicao de equipamentos no processo de estamparia
Implementao:
- algumas alteraes na(s) mquina(s) de
estampar podem favorecer a reduo
no consumo das pastas de estampar,
como por exemplo: diminuir a extenso
da mangueira de alimentao da pasta
de estampar, para que sobre menos
pasta;
- utilizar bomba com recurso de reverso
para retornar a pasta residual de pro-
cesso aos recipientes alimentadores.
Benefcios ambientais:
- Reduo na quantidade de resduos
gerados;
- Reduo no consumo de recursos
(gua, energia);
- Otimizao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo de produtos qumicos;
- Reduo do consumo de gua, energia.
Quadro 49 Modicao de equipamentos nos processos produtivos
Implementao:
- instalar dosador automtico e sistema
de diluio, que mede a quantidade
exata dos produtos qumicos e auxiliares
desejados e os distribui diretamente nas
vrias mquinas atravs dos tubos de
distribuio, sem o contato humano.
Nota: Outra possibilidade de sistema
usar um roteiro individual para cada
produto a ser liberado. Neste caso os
qumicos no so pr-misturados antes
de serem introduzidos no aplicador ou
mquina, e no h necessidade de
limpeza dos vasilhames, bombas e tubos
antes da prxima batelada.
Benefcios ambientais:
- Reduo na quantidade de resduos
gerados;
- Reduo no consumo de recursos
(gua, energia);
- Otimizao da operao do STAR.
Aspectos econmicos:
- Reduo de produtos qumicos;
- Reduo do consumo de gua, energia.
68
5.10 Reduo da gerao de poluentes atmosfricos
Os itens a seguir apresentam medidas de P+L visando a reduo da gerao
de poluentes atmosfricos.
5.10.1 Medidas nos equipamentos de gerao de vapor
No quadro abaixo esto identicados procedimentos operacionais nos equipa-
mentos de gerao de vapor visando a reduo de poluentes atmosfricos.
Quadro 50 Procedimentos operacionais
nos equipamentos de gerao de vapor
Implementao:
- manuteno preventiva da(s)
caldeira(s);
- amostragem peridica das emisses;
- estabelecimento de procedimentos
operacionais;
- controle visual da fumaa;
- treinamento de pessoal;
- realizar monitoramento anual das emis-
ses na chamin.
Benefcios ambientais:
- Reduo nas emisses de poluentes
gasosos;
- Reduo no consumo de combustvel;
- Diminuio de conitos com a comuni-
dade;
- Facilidade na renovao da Licena de
Operao.
Aspectos econmicos:
- Reduo no consumo de combustvel;
- Custos adicionais para amostragem e
anlises das emisses;
- Custos adicionais com pessoal (treina-
mento);
- Diminuio no custo xo na operao
do Equipamento de Controle de Polu-
io ECP do Ar.
5.10.1.1 Consideraes
A implantao de programa de manuteno peridica de caldeiras, bem
como o monitoramento e controle das emisses dos gases de combusto aux-
iliam o funcionamento apropriado do sistema e proporcionam a otimizao da
combusto, reduzindo a emisso de poluentes, e ainda, facilitando os atendi-
mentos aos aspectos legais e a renovao da Licena de Operao.
5.10.2 Substituio de combustvel utilizado na(s) caldeira(s).
A utilizao do lodo biolgico como produto energtico representa um
reaproveitamento do lodo biolgico proveniente do Sistema de Tratamento
de guas Residurias STAR como substituto de combustvel em caldeira de
biomassa, alternativa para uso e gerao de vapor de forma sustentvel. Para
tanto, a empresa dever atender o disposto na Deciso de Diretoria CETESB
027/2008/P, em 04.03.2008: Procedimento para Utilizao de Resduos no Peri-
gosos da Indstria Txtil em Caldeiras.
69
Quadro 51 Substituio de combustvel utilizado na(s) caldeira(s)
Implementao:
- substituio de combustvel do tipo
biomassa por lodo biolgico gerado
no sistema de tratamento de euentes
lquidos (STAR);
- manuteno preventiva da(s)
caldeira(s);
- amostragem peridica das emisses;
- estabelecimento de procedimentos
operacionais;
- controle visual da fumaa;
- treinamento de pessoal;
- realizar monitoramento anual das emis-
ses na chamin.
Benefcios ambientais:
- Reduo nas emisses de poluentes
gasosos;
- Reduo no volume de lodo biolgico e
demais resduos no perigosos gerados na
planta industrial;
- Oportunidades de utilizao de resduos
gerados por terceiros;
- Reduo no consumo de combustvel;
- Facilidade na renovao da Licena de
Operao.
Aspectos econmicos:
- Reduo no consumo de combustvel;
- Reduo nos custos da destinao nal
de lodos biolgicos e demais resduos
no perigosos gerados;
- Oportunidades de negcio com a utiliza-
o de resduos gerados por terceiros;
- Custos adicionais para amostragem e
anlises das emisses;
- Custos adicionais com pessoal (treina-
mento);
- Possvel diminuio no custo da opera-
o do Equipamento de Controle de
Poluio ECP do Ar.
70
5.10.3 Substituio de combustvel na gerao de vapor e aquecedor de
udo trmico
A substituio do uso de combustvel do tipo leo BPF por Gs Natural (GN) ou
Gs Liquefeito do Petrleo (GLP).
Quadro 52 Substituio de combustvel na gerao
de vapor e aquecedor de uido trmico
Implementao:
- estrutura para substituio de combustv-
el do tipo leo (BPF) por gs natural (GN)
ou gs liquefeito do petrleo (GLP);
- manuteno preventiva da(s)
caldeira(s);
- estabelecimento de procedimentos
operacionais;
- treinamento de pessoal;
- realizar monitoramento anual ou bi-anual
das emisses na chamin.
Benefcios ambientais:
- Reduo nos riscos das emisses de
material particulado MP e fumaa preta
e ainda, conito com a comunidade;
- Remoo do risco do armazenamento
e de vazamento de leo, e mesmo no
transporte;
- Facilidade na renovao da Licena de
Operao;
- Na utilizao do combustvel GLP neces-
sita vericar a necessidade de Plano de
Gerenciamento de Risco para armaze-
namento do produto considerando o
volume e a distncia da populao na
vizinhana da empresa.
Aspectos econmicos:
- Possvel aumento dos custos operacio-
nais com o combustvel utilizado (GN ou
GLP);
- Reduo nos custos de manuteno e
operacionais dos equipamentos;
- Remoo possvel do Equipamento de
Controle de Poluio ECP do ar, por
exemplo, lavador de gases;
- Custos adicionais para amostragem e
anlises das emisses;
- Custos adicionais com pessoal (treina-
mento).
71
5.11 Armazenamento de produtos perigosos sob condies adequadas
No quadro a seguir, esto identicadas medidas visando o armazenamento
de produtos perigosos sob condies adequadas e os bencos ambientais e
econmicos.
Quadro 53 Armazenamento de produtos perigosos
sob condies adequadas
Implementao:
- determinao de rea especca para
estocagem
desses produtos, provida de dispositivos
de segurana e sistema de conteno
com coleta;
independente do euente, para conter
eventuais vazamentos/derramamentos;
- impermeabilizao do piso;
- treinamento de pessoal para o gerencia-
mento desses produtos;
- estabelecimento de plano de con-
tingncia para evento de acidente;
- identicao adequada dos produtos
por smbolos e etiquetas descritivas;
- estabelecimento de critrios de compra
e aceitao de materiais na linha de
produo;
- estabelecimento de procedimentos
operacionais.
Benefcios ambientais:
- Preveno de acidentes e seus impactos
associados;
- Possvel reduo na quantidade de
resduos gerados.
Aspectos econmicos:
- Reduo nos custos de tratamento;
- Custos adicionais para preparao da
rea de estocagem;
- Custos adicionais de treinamento de
pessoal;
- Reduo dos riscos de infraes admin-
istrativas com rgo ambiental em caso
de acidente.
5.11.1 Consideraes
1 - Produtos perigosos podem poluir e contaminar o solo e as guas subterrneas/
superciais em caso de acidentes, portanto altamente recomendvel a esto-
cagem dos mesmos em reas especcas para este m, dotadas de sistema de
conteno para recolhimento de resduos de eventuais vazamentos/derrama-
mentos. O acesso dever ser restrito as pessoas autorizadas e a proibio para
veculos;
2 - Garantir que as reas de eventuais estoques de produtos perigosos, outras mat-
rias-prima e de resduos sejam cobertas e isoladas no seu entorno ou permetro
(com canaletas de drenagem, por exemplo), para que guas pluviais no ar-
rastem resduos e matria orgnica;
3 - No caso de armazenamento de Gs Liquefeito do petrleo GLP necessrio
vericar junto ao rgo ambiental o enquadramento Norma Tcnica CETESB
P4.261 - Manual de Orientao para a Elaborao de Estudos de Anlises de
Riscos Maio/2003.
5.11.2 Recomendaes
1 - Estocar cada qumico de acordo com as instrues dadas pelo fabricante do
material, utilizando uma planilha de dados de segurana;
2 - Evitar derramamentos dos produtos qumicos. Se ocorrer derrames, proceder a
conteno e avaliar bem as medidas de limpeza e de disposio do derramado
com segurana;
3 - Realizar levantamento de reas Potencialmente contaminadas (AP) que so
aquelas onde esto sendo ou foram desenvolvidas atividades potencialmente
contaminadoras, isto , onde ocorre ou ocorreu o manejo de substncias cujas
caractersticas fsico-qumicas, biolgicas e toxicolgicas podem causar danos
e/ou riscos aos bens a proteger (Deciso de Diretoria CETESB DD 103/2007/C/E).
Caso seja detectada a possvel rea contaminada, recomenda-se entrar em
contato com o rgo ambiental para vericar os procedimentos administrativos
e tcnicos para a remediao do local.
4 No caso da instalao e operao de armazenamento de produtos lquidos in-
amveis e combustveis deve-se observar os termos da srie das NBR 17505 da
ABNT - Armazenamento de lquidos inamveis e combustveis:
NBR 17505-1 Parte 1 Disposies Gerais.
NBR 17505-2 Parte 2 Armazenamento em tanques e em vasos.
NBR 17505-3 Parte 3 Sistema de tubulaes.
NBR 17505-4 Parte 4 Armazenamento em recipientes em tanques portteis.
NBR 17505-5 Parte 5 Operaes.
NBR 17505-6 Parte 6 Instalaes e equipamentos eltricos.
NBR 17505-7 Parte 7 Proteo contra incndio para parques de armazena-
mento com tanques estacionrios.
5.12 Instalaes e Atividades Administrativas
As instalaes e as atividades administrativas de uma determinada empresa podem
ser objeto de um programa de Produo mais Limpa e de medidas visando con-
tribuir com a sustentabilidade atravs da compra verde, por exemplo, aplicando-se
a aquisio de:
- embalagens que podem ser reaproveitadas aps uso interno ou pelo cliente;
- suporte de produtos (os ou tecidos) que utilizem materiais que podem ser
reaproveitados ou reciclados;
- produtos de origem orestal como madeira ou papel de origem certicada, ou seja,
que tenha manejo orestal.
5.12.1 Recomendaes
Adotar atitudes sustentveis para que a direo da empresa tome medidas de com-
pra que iro inuenciar na economia de energia eltrica, gua e materiais de con-
sumo, entre outros, nas atividades administrativas, por exemplo:
- Computador: o monitor ligado, mesmo com aquele descanso de tela, respon-
svel por at 80% do consumo do computador. Desabilite seu screen saver cheio de
efeitos especiais na tela do seu computador. Congure sua mquina para o modo
de economia de energia, assim, ele vai desligar automaticamente toda vez que
voc se ausentar. Outra alternativa trocar seu monitor comum por um de LCD. Eles
so mais econmicos, ocupam menos espao na mesa e esto cando cada vez
mais baratos. Se tiver chance, comece a troca do computador de mesa por um
72
73
notebook, ele consome menos energia e mais exvel para uso.
- Papel: prera o uso de papel ecoeciente ou o reciclado. A produo do papel
ecoeciente usa os recursos da natureza de maneira racional, como matria-pri-
ma do eucalipto plantado para essa nalidade e colhido aps sete anos. O papel
ecoeciente feito de bra de rvores manejadas de forma sustentvel, evitando
o impacto negativo no meio ambiente. Em relao ao uso de papel, imprima so-
mente o que for mesmo necessrio e procure aproveitar os dois lados da folha.
- Caneca: solicite a empresa ou traga de casa sua prpria caneca ou uma gar-
ranha para gua. A mudana de hbito e de cultura ir reetir na diminuio da
quantidade de copos de plstico jogados no lixo no m do expediente.
- Lenha: considerando a m qualidade da lenha, muitas vezes necessrio grande
consumo deste produto na produo de energia, com maior custo, alm do de-
spreparo dos operadores que podem utilizar lenha molhada que gera emisses
gasosas com fumaa preta. Quando utilizamos lenha com procedncia, princi-
palmente certicada, como lenha de eucalipto e com a construo de cobertura
para o depsito do produto, alm da manuteno do equipamento e treinamento
para os operadores, teremos melhor rendimento na gerao de vapor, diminuio
dos custos operacionais e melhores condies ambientais.
5.13 Outras medidas de P+L
a) Plantar rvores: plantar rvores no terreno da sua empresa ou no bairro onde se
localiza. Cada rvore pode absorver at uma tonelada de CO2 (gs carbono) du-
rante sua vida e bom abrigo para aves. Plantar rvores contribui para diminuio
dos nveis de rudo gerando menos incmodo populao.
b) Seleo da bra de matria-prima adquirida: muitos fornecedores de matrias-
primas no oferecem informaes sobre substncias aplicadas seus produtos,
tais como agentes de preparao, pesticidas, leos de os de malha, entre outros.
O conhecimento destas caractersticas, no entanto, essencial para capacitar o
produtor a prevenir e controlar os impactos ambientais destas substncias.
As melhores tcnicas neste caso sugerem que se procure colaborar com os par-
ceiros na cadeia txtil, a m de criar uma corrente de responsabilidade ambiental
para tais produtos. No quadro a seguir, apresentam-se algumas sugestes neste
aspecto, considerando que as bras so produzidas com a mesma qualidade, com
segurana e que os acabadores podem ter informaes sobre os tipos e quantidade
de contaminantes.
Quadro 54 Seleo de bras da matria-prima
Matria-prima Melhores tcnicas avaliveis
Fibras articiais Selecionar o material tratado com agentes de prepara-
o com baixa emisso e biodegradvel / bio-eliminvel
Fibras Naturais
(Algodo)
Usar as informaes avaliveis para evitar o processa-
mento da bra com material contaminado com qumi-
cos perigosos, tais como pentaclorofenol;
Usar algodo organicamente crescido, quando as
condies de mercado permitir.
c) Gerenciamento Ambiental: a tecnologia por ela mesma no suciente.
necessrio buscar um gerenciamento ambiental e boas prticas, desde a armaze-
nagem at a expedio. Algumas tcnicas aplicveis so:
- implementar um gerenciamento consciente e incluir junto um programa de treina-
mento;
- aplicar as boas prticas para manuteno e limpeza;
- implementar um sistema de monitoramento incluindo as entradas de matrias-pri-
mas, produtos qumicos, calor, energia e gua, bem como as sadas de produtos,
guas residurias, lodo, resduos slidos e sub-produtos. Um bom conhecimento
das entradas e sadas do processo pr-requisito para identicar as reas de priori-
dades e opes para melhoramentos ambientais;
- realizar treinamento para atualizao permanente do quadro funcional para per-
mitir a reciclagem e melhoria contnua do sistema de gerenciamento.
5.14 Quadro resumo das oportunidades de P+L
O quadro abaixo apresenta um resumo das oportunidades de P+L descritas neste
guia, ressaltando os elementos onde podem ocorrer a reduo ou ganhos econmi-
co e ambiental.
Quadro 55 - Resumo das oportunidades de P+L
74
Oportunidades de P+L
Elementos
g
u
a
E
n
e
r
g
i
a
A
r
(
e
m
i
s
s
e
s
)
S
o
l
o
e
R
e
s
d
u
o
s
R
u
d
o
e
V
i
b
r
a
o
P
r
o
d
u
t
o
s
Q
u
m
i
c
o
s
5.1 Reduo, recuperao e reutilizao de gua
5.1.1
Reduo do consumo de gua nas operaes
de lavagem (processo produtivo e na ETA)
X
5.1.2
Reduo do consumo de gua nas opera-
es de resfriamento
X
5.1.3
Reduo do consumo de gua nas opera-
es de tingimento
X
5.1.4
Reduo do consumo de gua nas instala-
es hidrulicas
X
5.1.5
Utilizao de gua de chuva (no processo
produtivo e no conforto interno de ambiente)
X
5.1.6
Reutilizao de euente tratado de sistemas
pblicos nos processos de tingimento e
alvejamento
X
5.1.7
Reutilizao de euentes industriais tratados
(na gerao de vapor das caldeiras e no STAR)
X
5.2 Reduo / conservao de energia
5.2.1 Instalaes para Gerao de vapor X
5.2.2
Reaproveitamento de calor gerado (gua de
banho pr-aquecida e outras medidas)
X
5.2.3
Reduo do consumo de energia (procedi-
mento operacional)
X
5.2.4 Na reviso de equipamentos e motores X
5.2.5 No equipamento de ar comprimido X
75
Oportunidades de P+L
Elementos
g
u
a
E
n
e
r
g
i
a
A
r
(
e
m
i
s
s
e
s
)
S
o
l
o
e
R
e
s
d
u
o
s
R
u
d
o
e
V
i
b
r
a
o
P
r
o
d
u
t
o
s
Q
u
m
i
c
o
s
5.2.6 Na iluminao X
5.2.7 Outras medidas recomendadas X
5.3
Lavagem a seco
Lavagem a seco X
5.4
Reduo das emisses de substncias odorferas
Reduo das emisses de subst. odorferas X
5.5 Reduo das emisses de rudo e vibrao
5.5.1 Reduo das emisses de rudo X
5.5.2 Reduo das emisses de vibrao X
5.6 Recuperao de insumos
5.6.1 Goma X
5.6.2 Soda Custica X
5.7 Reduo, reutilizao e reciclagem de resduos gerados
5.7.1 Reduo da gerao de resduos de embalagens X
5.7.2 Reutilizao de Resduos X
5.8 Produtos Qumicos
5.8.1
Controle de recebimento de matrias-primas e
produtos auxiliares
X
5.8.2 Substituio de Produtos Qumicos e Auxiliares X
5.8.3
Substituio de cozinha de cores manual por
automatizada
X
5.8.4
Reutilizao de gua de banho (nos processos
de acabamento e tingimento)
X
5.9 Modicao de equipamentos
Modicao de equipamentos (nos processos
produtivos)
X X X
5.10 Reduo da gerao de poluentes atmosfricos
5.10.1 Medidas nos equipamentos de gerao de vapor X X
5.10.2 Substituio de combustvel utilizado na(s) caldeira(s) X X X
5.10.3
Substituio de combustvel na gerao de
vapor e aquecedor de udo trmico
X
5.11
Armazenamento de produtos perigosos sob condies adequadas
Armazenamento de produtos perigosos sob
condies adequadas
X X
5.12
Instalaes e Atividades Administrativas
Instalaes e Atividades Administrativas X X X
5.13
Outras medidas
Outras medidas X X
(continuao do Quadro 55 - Resumo das oportunidades P+L)
76
6 REFERNCIAS CONSULTADAS
ABNT. Coletnea de normas tcnicas de no tecidos. Rio de Janeiro, 2002. p. 4, item
3.70.
ALVES, J.S.; PALOMBO, C.R. Preveno poluio: manual para a implementao
do programa. So Paulo: CETESB, 1995. 51 p.
ANVISA (Brasil). Resoluo RDC n 161, de 23 de junho de 2004. [Probe a partir de 1
de dezembro de 2004 a instalao de novas mquinas de lavar roupa que operem
com percloroetileno, como substncia ou produto em qualquer concentrao,
que no possuam sistema de absoro de gases capaz de esgotar o percloroet-
ileno residual do tambor de lavagem, antes da abertura da porta de acesso, aps
o ciclo de lavagem]. Dirio Ocial da Unio: Repblica Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Braslia, 24 jun. 2004. Disponvel em: <http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/
public/showAct.php?id=25820&word=>. Acesso em: fev. 2009.
CETESB (So Paulo). Manual para implementao de um programa de preveno
poluio. 4.ed. So Paulo, 2002. (Relatrios ambientais). Disponvel em: <http://
www.cetesb.sp.gov.br/Tecnologia/producao_limpa/documentos/manual_implem.
pdf>. Acesso em: fev. 2009.
CETESB (So Paulo). P4.261: manual de orientao para a elaborao de estudos
de anlises de riscos. So Paulo, 2003. Norma Tcnica. Errata n. 1 publicada no
Dirio Ocial [do] Estado de So Paulo, Poder Executivo, So Paulo, 19 abr. 2008.
Seo 1, p. 35.
CETESB (So Paulo). Deciso de Diretoria n103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007.
Dispe sobre o procedimento para gerenciamento de reas contaminadas. Refer-
ente ao Relatrio Diretoria n 1/7/C/E, de 11/6/2007. Processo 2/2006/321/P. Rela-
tores: Otvio Okano e Marcelo Minelli. So Paulo, 2007. Dirio Ocial [do] Estado de
So Paulo, Poder Executivo, So Paulo, v. 117, n. 119, 27 jun. 2007. Seo 1, p. 34.
CETESB (So Paulo). Deciso de Diretoria n 215/2007/E, de 07 de novembro de
2007. Dispe sobre a sistemtica para a avaliao de incmodo causado por
vibraes geradas em atividades poluidoras. Referente ao Relatrio Diretoria n
49/2007/E, de 2/11/2007. Relator: Marcelo Minelli. So Paulo, 2007. Dirio Ocial [do]
Estado de So Paulo, Poder Executivo, So Paulo, v. 118, n. 56, 26 mar. 2008. Seo
1, p. 38.
CETESB (So Paulo). Deciso de Diretoria n 027/2008/P, de 04 de maro de 2008.
Dispe sobre a aprovao do procedimento para utilizao de resduos no
perigosos da indstria txtil em caldeiras, no estado de So Paulo. Referente ao
Relatrio Diretoria n 13/2008/P, de 3/3/2008. Relator: Fernando Rei. So Paulo,
2008. Dirio Ocial [do] Estado de So Paulo, Poder Executivo, So Paulo, v. 118, n.
56, 26 mar. 2008. Seo 1, p. 40.
COMPANHIA PERNAMBUCANA DO MEIO AMBIENTE. Roteiro complementar de licen-
ciamento e scalizao para tipologia txtil. Recife: CPRH/GTZ. 2001.125 p.
EUROPEAN COMMISSION. Reference document on best available techniques for the
textiles industry. Brussels, 2003. Integrated Pollution Prevention and Control IPPC.
LOPES, A.G. et al. Manual de gerenciamento de reas contaminadas. So Paulo:
CETESB, 2001. Projeto CETESB GTZ. Disponvel em: < http://www.cetesb.sp.gov.br/
Solo/areas_contaminadas/manual.asp>. Acesso em: fev. 2009.
77
MALUF, E.; KOLBE, W. Dados tcnicos para indstria txtil. 2.ed. So Paulo: IPT: ABIT,
2003.
PADILHA, M.L.M.L. Indicadores de desenvolvimento sustentvel para o setor txtil.
2008. Tese (Doutorado) - Faculdade de Sade Pblica, Universidade de So Paulo,
So Paulo, 2009.
SALOMO JR., A. et al. Projeto piloto de preveno poluio nas indstrias do
setor txtil: Santista Txtil S/A - relatrio tcnico. So Paulo: CETESB, 2000. 101 p.
SANTOS, M.S.; FERRARI, L.R.; FIGUEIREDO, M.G. Compilao de tcnicas de pre-
veno poluio para indstria txtil. 2.ed. So Paulo: CETESB, 2001. (Manuais
Ambientais).
SANTOS, M.S. et al. Projeto piloto de preveno poluio nas indstrias do setor
txtil: Cermatex Indstria de Tecidos Ltda - relatrio tcnico. So Paulo: CETESB,
2001. 65 p.
SO PAULO (Estado). Lei n 12.300, de 16 de maro de 2006. Poltica Estadual de
Resduos Slidos -, em seu artigo 5. Dirio Ocial [do] Estado de So Paulo, Poder
Executivo, So Paulo, v. 116, n. 51, 17 mar. 2006. Seo 1, p. 1. Disponvel em:
http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/leis/2006_Lei_
Est_12300.pdf>. Acesso em: fev. 2009.
SO PAULO (Estado). Lei n 997, de 31 de maio de 1976. Dispe sobre o controle da
poluio do meio ambiente. Com alteraes posteriores. Disponvel em: < http://
www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/leis/1976_Lei_Est_997.
pdf>. Acesso em: fev. 2009.
SO PAULO (Estado). Decreto n 8468, de 08 de setembro de 1976. Aprova o
regulamento da Lei n. 997, de 31 de maio de 1976, que dispe sobre a preven-
o e o controle da poluio do meio ambiente. Com alteraes posteriores.
Disponvel em: < http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/
decretos/1976_Dec_Est_8468.pdf>. Acesso em: fev. 2009.
SILVA, M.A.C. Avaliao experimental e modelagem do processo contnuo de ad-
soro do preto remazol b em coluna de leito xo de carvo ativado. 2006. 127 p.
Dissertao (Mestrado em Engenharia Qumica) - Universidade Federal de Pernam-
buco, Recife, 2006.
SNOWDEN SWAN, L.J. Pollution prevention in the textile industries. In: FREEAMEN, H.M.
(Ed.). Handbook in industrial pollution prevention. New York: McGraw-Hill, 1995.
UNITED STATES. EPA .Ofce of Research and Development. Best available techniques
for pollution prevention in textile industry. Washington,1995.
WAGNER, M.; WEHRMEYER, W. Environmental impacts of the textile nishing industry:
nal report. Brighton: SPRU/University of Sussex, 1999. Centre for Environmental Strat-
egy. Project EU - MEPI.
78
7 APNDICE
7.A Glossrio
Alterao no Layout (fonte): trata-se de alterao no esquema de disposio fsica
das vrias etapas/equipamentos de um processo com vistas sua otimizao (menor
consumo de recursos), minimizao da possibilidade de ocorrncia acidentes e/ou
eliminao de pontos de gerao de poluentes.
Alterao de Matrias-primas: visa promover modicaes na composio ou sub-
stituio das matrias-primas usadas por outras mais adequadas do ponto de vista
ambiental, e utilizao de materiais com maior grau de pureza, com a nalidade de
diminuir a toxicidade dos resduos.
rea contaminada (AC): rea onde h comprovadamente poluio causada por
quaisquer substncias ou resduos que nela tenham sido depositados, acumulados,
armazenados, enterrados ou inltrados, e que determina impactos negativos sobre
os bens a proteger.
Avaliao preliminar de rea Contaminada - AC: etapa do gerenciamento estabe-
lecida no Manual de Gerenciamento de AC da CETSB que objetiva encontrar ind-
cios de uma possvel contaminao do solo e guas subterrneas, atravs das infor-
maes obtidas nos estudos histrico e de fotos areas e em inspees em campo.
A partir dessa etapa, a rea em estudo poder ser classicada como suspeita (AS)
ou contaminada (AC).
Avaliao de risco: estudo quantitativo de riscos numa instalao industrial, base-
ada em tcnicas de identicao de perigos, estimativa de frequncias e conse-
quncias, anlise de vulnerabilidade e na estimativa do risco.
Boas prticas: aes realizadas dentro da empresa visando limpeza, organizao,
otimizao de tempos de produo, sade, segurana e reduo do potencial po-
luidor, entre outras.
Contaminao: introduo no meio ambiente de organismos patognicos, substn-
cias txicas ou outros elementos, em concentraes que possam afetar a sade
humana. um caso particular de poluio.
Controle de Estoques (fonte): est relacionado basicamente com o controle de tudo
aquilo que entra e sai de uma empresa, visando a economia de recursos, principal-
mente pela compra somente daquilo que realmente necessrio, e ainda, com
a reduo de perdas por: prazos de validade vencidos, mal acondicionamento e
armazenamento de estoques, extravio de materiais, etc.
Compostos Orgnicos Volteis (COVs / VOCs): so compostos qumicos orgnicos
que possuem alta presso de vapor, sob condies normais, a tal ponto de vaporizar-
se signicamente e entrar na atmosfera, contribuindo para a poluio do ar.
Desenvolvimento Sustentvel: desenvolvimento onde a explorao dos recursos
naturais e a orientao dos investimentos devem estar de acordo com as necessi-
dades atuais da humanidade sem comprometer as futuras geraes (Agenda 21
Rio de Janeiro, 1992).
Demanda Bioqumica de Oxignio DBO
5,20
: teste padro que mede a quantidade
de poluentes orgnicos no euente (matria orgnica biodegradvel). O resultado
do teste indica a quantidade de oxignio dissolvido em gramas por metro cbico,
consumida pela amostra.
Estao de Tratamento de gua - ETA: local em que a gua bruta (supercial e/ou
subterrnea) tratada que ser utilizada na empresa.
Exigncias legais: solicitaes legais do Poder Pblico, que devem ser cumpridas.
79
Fim de tubo: sistemas de tratamento de resduos slidos, de euentes lquidos e das
emisses atmosfricas que as empresas adotam, ao nal de seus processos industri-
ais, com o objetivo de atender aos parmetros denidos pelos rgos ambientais e
a legislao vigente.
Gerenciamento de riscos: processo de controle de riscos compreendendo a formu-
lao e a implantao de medidas e procedimentos tcnicos e administrativos que
tm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos, bem como manter uma insta-
lao operando dentro de padres de segurana considerados tolerveis ao longo
de sua vida til.
Inerente ao processo: que gerado no processo continuamente, por exemplo, os
resduos cuja gerao no pode ser evitada, a rebarba da extremidade do tecido
nos teares.
Minimizao de resduos: inclui qualquer prtica, ambientalmente segura, de
reduo na fonte, reuso, reciclagem e recuperao do contedo energtico de
resduos, visando reduzir a quantidade ou volume dos resduos a serem tratados e
adequadamente dispostos.
Melhoria contnua: processo sistmico de aperfeioamento.
Melhoria nas Prticas Operacionais: consiste na padronizao dos parmetros
operacionais (temperatura, vazo, volume, tempo, etc.) e dos procedimentos para
execuo de uma tarefa, da melhor maneira possvel, aliadas a uma sistemtica
que garanta a efetividade das mudanas na execuo das atividades.
Mudanas no produto (fonte): diz respeito reformulao das caractersticas fsicas
e/ou qumicas de um produto, durante o processo de fabricao do mesmo, de
modo a se evitar o uso de uma substncia txica ou prejudicial ao meio ambiente.
Relaciona-se ainda, com a avaliao do tipo de embalagem, buscando sempre
utilizar a menos prejudicial ao meio ambiente, em termos de sua destinao aps
o uso.
Mudanas Tecnolgicas: a substituio de um processo/tecnologia por outro me-
nos poluente, ou seja, mudana para uma tecnologia mais limpa. Pode ser apenas
a substituio de um equipamento por outro menos poluente e/ou mais eciente ou,
ainda, em alguma alterao nesse equipamento, que venha a lhe conferir alguma
melhoria.
Poluentes: qualquer forma de matria ou energia lanada ou liberada nas guas,
no ar ou no solo, que as tornem ou possam torn-las imprprias, nocivas ou ofensivas
sade, inconvenientes ao bem estar pblico, danosos aos materiais, fauna e
ora, prejudiciais segurana, ao uso e gozo da propriedade, bem como s ativi-
dades normais da comunidade.
Procedimentos: so cuidados ambientais a serem observados no desenvolvimento
das atividades.
Produo mais Limpa (P+L): a aplicao contnua de uma estratgia ambiental
preventiva integrada aos processos, produtos e servios para aumentar a eco-
ecincia e reduzir os riscos ao homem e ao meio ambiente. Aplica-se a:
- Processos Produtivos: conservao de matrias-primas e energia, eliminao de
matrias-primas txicas e reduo da quantidade e toxicidade dos resduos e
emisses;
- Produtos: reduo dos impactos negativos ao longo do ciclo de vida de um produ-
to desde a extrao de matrias-primas at a sua disposio nal;
- Servios: incorporao das preocupaes ambientais no planejamento e entrega
dos servios.
Reciclagem: prtica ou tcnica na qual os resduos podem ser usados com a ne-
cessidade de tratamento para alterar as suas caractersticas fsico-qumicas.
Reciclagem dentro do processo: permite o reaproveitamento do resduo como in-
sumo no processo que causou a sua gerao. Exemplo: reaproveitamento de gua
tratada no processamento industrial.
Reciclagem fora do processo: permite o reaproveitamento do resduo como insumo
em um processo diferente daquele que causou a sua gerao. Exemplo: reaproveit-
amento de retalhos de tecido e de os, desbrando-os para que as bras recicladas
sejam usadas na ao, para a produo de novos os.
Reduo na fonte: refere-se a qualquer prtica, processo, tcnica ou tecnologia que
vise a reduo ou eliminao em volume, concentrao e/ou toxicidade dos re-
sduos na fonte geradora. Inclui modicaes nos equipamentos, nos processos ou
procedimentos, reformulao ou replanejamento de produtos, substituio de ma-
tria-prima e melhorias nos gerenciamentos administrativos e tcnicos da entidade/
empresa, resultando em aumento de ecincia no uso dos insumos (matrias-primas,
energia, gua etc).
Resduos Slidos: resduos nos estados slidos ou semi-slidos que resultem de ativi-
dades de origem domiciliar, industrial, agrcola, comercial, de servios ou de servio
de sade (farmcias, clnicas, hospitais, etc.) e varrio. Inclui os lodos provenientes
de sistemas de tratamento de gua, aqueles gerados em equipamentos e insta-
laes de controle de poluio, ou determinados lquidos cujas particularidades
tornem invivel o seu lanamento em rede pblica de esgotos ou corpos dgua, ou
exijam para isso solues economicamente inviveis em face melhor tecnologia
disponvel. (Norma ABNT 10004:2004).
Remediao de reas contaminadas (AC): Aplicao de tcnica ou conjunto de
tcnicas em uma rea contaminada, visando remoo ou conteno dos con-
taminantes presentes, de modo a assegurar uma utilizao para a rea, com limites
aceitveis de riscos aos bens a proteger.
Reutilizao: prtica ou tcnica na qual os resduos podem ser usados na forma em
que se encontram sem necessidade de tratamento para alterar as suas caractersti-
cas fsico-qumicas.
Risco: Medida de danos vida humana, resultante da combinao entre a frequn-
cia de ocorrncia e a magnitude das perdas ou danos (consequncias).
Segregao de Fluxos: esta tcnica visa a separao de diferentes uxos de resdu-
os, quer sejam slidos, lquidos ou gasosos, de modo a evitar, por exemplo, que um
uxo mais txico contamine outros no txicos, o que viria a aumentar o volume dos
resduos txicos e consequentemente, os custos e as diculdades tcnicas para seu
tratamento e/ou disposio. Na segregao na fonte geradora dos resduos, reco-
menda-se seguir a classicao estabelecida na Resoluo CONAMA 275/2001.
Sistema de Tratamento de guas Residurias - STAR: local em que so tratadas as
guas residuais geradas na empresa.
Tecnologia Limpa: refere-se a uma medida tecnolgica de preveno poluio
ou reduo na fonte, aplicada para eliminar ou reduzir signicativamente a gerao
de resduos.
Uso e Reuso: qualquer prtica ou tcnica que permite a reutilizao do resduo,
sem que o mesmo seja submetido a um tratamento que altere as suas caractersticas
fsico-qumicas. Exemplo: reso de embalagens para outro m, aps a utilizao de
seu contedo original.
80
81
Artificiais Artificiais
Vegetal Vegetal
Animal Animal
Naturais Naturais Fibras Fibras
Produo da Matria Produo da Matria- -prima prima
Sintticos Sintticos
Preparao/Fiao Preparao/Fiao
Texturizao Texturizao
Abertura Abertura
Carda Carda
Passadeira Passadeira
Penteadeira Penteadeira
Maaroqueira Maaroqueira
Fiao Fiao
convencional convencional
Preparao/Tecelagem Preparao/Tecelagem
Retoro Retoro
Fio trama Fio trama
Bobinadeira Bobinadeira
(Conicaleira) (Conicaleira)
Fio Fio urdume urdume
Urdideira Urdideira
Engomadeira Engomadeira
Processo Agrcola ou Processo Agrcola ou
Pecuria Pecuria
Processo qumico Processo qumico- -fsico fsico
de extruso de extruso
Meadeira Meadeira
Fio Fio
Acabamento Acabamento
Tingimento Tingimento
Merceiriza Merceiriza
oo
Enobrecimento Enobrecimento
Retilnea Retilnea
Circular Circular
Raschel Raschel
Kettensthul Kettensthul
Tecelagem Tecelagem
Plana Plana
Malharia Malharia
Tecido Tecido
Lavagem Lavagem
Alvejamento Alvejamento
Tingimento Tingimento
Mercerizao Mercerizao
Tingimento Tingimento
Mercerizao Mercerizao
Calandragem Calandragem
Estamparia Estamparia
Transfer Transfer
Feltragem Feltragem
Chamuscagem Chamuscagem
Desengomagem Desengomagem
Preparao Preparao
Confeco Confeco
Fibra Cortada Fibra Cortada
Qumicas Qumicas
Fio Contnuo Fio Contnuo
Enfesto Enfesto
Corte Corte Costura Costura
Pea Pea
Confeccionada Confeccionada
Beneficiamento Beneficiamento
stamparia stamparia
Silk Silk--screen screen
Stone Stone--wash wash
Envelhecimento Envelhecimento
Tingimento Tingimento
Bordado Bordado
Outros Outros
Mercado Mercado
VAREJO VAREJO
Jato de gua
Jato de ar
Pina
Projtil
Lanadeira
Abertura/ Abertura/
carda carda
Passadeira Passadeira
Fiaes Fiaes
no convencional no convencional
Open-end
Jet spinner
Compactao
e outros
8 ANEXO 8 ANEXO
8.A Fluxo de Produo da 8.A Fluxo de Produo da Cadeia Txtil Cadeia Txtil
Fonte: Adaptado por Fonte: Adaptado por Napoli Napoli Jr com base Jr com base Textlia Textlia, Editora Brasil Txtil / Sinditxtil. , Editora Brasil Txtil / Sinditxtil.
Fio
Acabamento
Tingimento
Merceirizao
Cmara Ambiental da Indstria Txtil
Realizao:
SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE
Você também pode gostar
- As roupas nas práticas corporais e esportivas: A educação do corpo entre o conforto, a elegância e a eficiência (1920-1940)No EverandAs roupas nas práticas corporais e esportivas: A educação do corpo entre o conforto, a elegância e a eficiência (1920-1940)Ainda não há avaliações
- Tecidos DescricaoDocumento62 páginasTecidos DescricaoMarilia Souza de Almeida88% (8)
- MOLDE - Saia Midi GodêDocumento1 páginaMOLDE - Saia Midi GodêClara English ClassAinda não há avaliações
- Material Apoio TextilDocumento34 páginasMaterial Apoio Textildrmedeiros100% (2)
- Croqui Moda Colorido Profissional 3dicasquentes-64576Documento38 páginasCroqui Moda Colorido Profissional 3dicasquentes-64576Lee Osborne100% (2)
- Manipulação de Superfícies Têxteis: Interferências Na Estrutura Têxtil Do Burel, Modificando Tridimensionalmente A Sua Superfície.Documento114 páginasManipulação de Superfícies Têxteis: Interferências Na Estrutura Têxtil Do Burel, Modificando Tridimensionalmente A Sua Superfície.nalumodaAinda não há avaliações
- Apostila de Desenho de Moda CoreldrawDocumento9 páginasApostila de Desenho de Moda CoreldrawGabriella MeyerAinda não há avaliações
- A Indústria Têxtil e a Moda Brasileira nos Anos 1960No EverandA Indústria Têxtil e a Moda Brasileira nos Anos 1960Ainda não há avaliações
- Implantação e Manutenção Da Ferramenta 5 SDocumento57 páginasImplantação e Manutenção Da Ferramenta 5 SFrancisco Ricardo Andraschko100% (2)
- 848 3717 1 PBDocumento6 páginas848 3717 1 PBCésar MarraAinda não há avaliações
- Dossie Tecnico - CosturaDocumento52 páginasDossie Tecnico - CosturaPaula Lisboa100% (4)
- Aula 9 EngT - EstampariaDocumento30 páginasAula 9 EngT - EstampariaMarcel Jefferson Gonçalves100% (1)
- BS 01 Fibras Artificiais e Sintéticas - PDocumento13 páginasBS 01 Fibras Artificiais e Sintéticas - PMarcus ViniciusAinda não há avaliações
- 09 PDFDocumento86 páginas09 PDFValneide RibeiroAinda não há avaliações
- Revista Costura PerfeitaDocumento8 páginasRevista Costura PerfeitaRenataOliveira100% (1)
- Confecção e Moda Ciclo de Produção PDFDocumento18 páginasConfecção e Moda Ciclo de Produção PDFSandra Pereira100% (1)
- Curso Online de Desenho Técnico em Corel Draw FemininoDocumento42 páginasCurso Online de Desenho Técnico em Corel Draw FemininoAnderson S AragãoAinda não há avaliações
- Guia Confeccoes PDFDocumento68 páginasGuia Confeccoes PDFdebora1705100% (2)
- Resumo Tecnicas Modelagem Feminina Construcao Bases Volumes E72fDocumento2 páginasResumo Tecnicas Modelagem Feminina Construcao Bases Volumes E72fSilvia Castro100% (1)
- Mod@online: Nível Intermédio Módulo1Documento236 páginasMod@online: Nível Intermédio Módulo1Rita MarquesAinda não há avaliações
- A Estamparia Digital Desde A Concepção Até À ProduçãoDocumento14 páginasA Estamparia Digital Desde A Concepção Até À ProduçãoMauricio Gc100% (1)
- Modelagem Plana e Tridimensional - Moulage - Na Industriaa Do VestuarioDocumento13 páginasModelagem Plana e Tridimensional - Moulage - Na Industriaa Do VestuarioErica NevesAinda não há avaliações
- Calcinha Do Biquini - ModelagemDocumento1 páginaCalcinha Do Biquini - ModelagemGlenda MeloAinda não há avaliações
- Guia de Implementação Normas para Confecção de JeansDocumento90 páginasGuia de Implementação Normas para Confecção de JeansPk KellerAinda não há avaliações
- Como Funciona A Modelagem Digital No Sistema AudacesDocumento22 páginasComo Funciona A Modelagem Digital No Sistema AudacesTania CollyerAinda não há avaliações
- Legado A ABLING Bina Moulage Modelagem Desenho Lib Cap 01Documento20 páginasLegado A ABLING Bina Moulage Modelagem Desenho Lib Cap 01Lee Osborne100% (1)
- AEtapa de Modelagem Do Vesturio em Algumas Confeces emDocumento68 páginasAEtapa de Modelagem Do Vesturio em Algumas Confeces emGuto AndriguettiAinda não há avaliações
- Tecnologia de Costura e Modelagem IDocumento97 páginasTecnologia de Costura e Modelagem IAderlange AraujoAinda não há avaliações
- PLANO DE CURSO Modelagem-do-Vestuario - SubsequenteDocumento41 páginasPLANO DE CURSO Modelagem-do-Vestuario - SubsequenteErica SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Tecido PlanoDocumento15 páginasApostila Tecido Planoshiroinu 19100% (1)
- Estampa RapportDocumento13 páginasEstampa RapportAngele RhodenAinda não há avaliações
- Apostila Draping IDocumento15 páginasApostila Draping IVanessa Henrique100% (1)
- Apostila Vestuario Costura IndustrialDocumento47 páginasApostila Vestuario Costura IndustrialCaroline RodriguesAinda não há avaliações
- E-Book de Ilustração de ModaDocumento13 páginasE-Book de Ilustração de ModaKatia100% (1)
- Resumo Croquis de Moda Bases para Estilistas FV FeyerabendDocumento2 páginasResumo Croquis de Moda Bases para Estilistas FV FeyerabendLiana MarquesAinda não há avaliações
- História TecidoDocumento2 páginasHistória Tecidomjoaobelicha9281100% (3)
- EstilismoDocumento24 páginasEstilismoEvertom SoaresAinda não há avaliações
- A Ilustracao de Moda e o Desenho de ModaDocumento9 páginasA Ilustracao de Moda e o Desenho de ModaRoberta MouraAinda não há avaliações
- Definições de Tipos de Fios e LinhasDocumento24 páginasDefinições de Tipos de Fios e LinhasDébora Cseri100% (1)
- Glossário de ModaDocumento5 páginasGlossário de Modagisele_vhswAinda não há avaliações
- Historia Da AlfaiatariaDocumento7 páginasHistoria Da Alfaiatariaricardojohnsons100% (1)
- MODELAGEM PLANA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO: DIRETRIZES PARA A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E O ENSINO-APRENDIZADO Patricia Aparecida de Almeida SpaineDocumento109 páginasMODELAGEM PLANA INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO: DIRETRIZES PARA A INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E O ENSINO-APRENDIZADO Patricia Aparecida de Almeida SpaineSteph G. Trujillo50% (2)
- Entre Palavras, Desenhos e Modas: Um Percurso com João AffonsoNo EverandEntre Palavras, Desenhos e Modas: Um Percurso com João AffonsoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Moda Íntima da Prática à Teoria: Um Guia com Estruturas e Fundamentos para o Desenvolvimento de LingeriesNo EverandModa Íntima da Prática à Teoria: Um Guia com Estruturas e Fundamentos para o Desenvolvimento de LingeriesAinda não há avaliações
- Lá Vem a Noiva: Narrativas da Moda para Casar na Década de 1950No EverandLá Vem a Noiva: Narrativas da Moda para Casar na Década de 1950Ainda não há avaliações
- Fashion Law: buscando estruturas jurídicas protetivas para os artesãos brasileiros, criadores de moda no cenário internacional e sujeitos à contrafaçãoNo EverandFashion Law: buscando estruturas jurídicas protetivas para os artesãos brasileiros, criadores de moda no cenário internacional e sujeitos à contrafaçãoAinda não há avaliações
- Geografia da oficina: confecção, migração, urbanização em São PauloNo EverandGeografia da oficina: confecção, migração, urbanização em São PauloAinda não há avaliações
- Costurando para fora: A emancipação da mulher através da lingerieNo EverandCosturando para fora: A emancipação da mulher através da lingerieNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Por que a Moda é fútil?: uma obra para leigos, apaixonados e curiososNo EverandPor que a Moda é fútil?: uma obra para leigos, apaixonados e curiososAinda não há avaliações
- Moda em diálogos: Entrevistas com pensadoresNo EverandModa em diálogos: Entrevistas com pensadoresNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Estratégias para Empreendedores da Moda:: Um Guia Sobre Competências Empreendedoras para o Enfrentamento de DesafiosNo EverandEstratégias para Empreendedores da Moda:: Um Guia Sobre Competências Empreendedoras para o Enfrentamento de DesafiosAinda não há avaliações
- O agronegócio do algodão: meio ambiente e sustentabilidadeNo EverandO agronegócio do algodão: meio ambiente e sustentabilidadeAinda não há avaliações
- Tcc-A Segurança em Redes de Comunicação para Sistemas de Automação Industrial - Breve EstudoDocumento71 páginasTcc-A Segurança em Redes de Comunicação para Sistemas de Automação Industrial - Breve EstudoFrancisco Ricardo Andraschko100% (3)
- Atividade 01Documento2 páginasAtividade 01Francisco Ricardo AndraschkoAinda não há avaliações
- Pré-Projeto Segurança de Redes P2P PrivadasDocumento10 páginasPré-Projeto Segurança de Redes P2P PrivadasFrancisco Ricardo AndraschkoAinda não há avaliações
- Atalhos de Teclado No Excel 2010Documento5 páginasAtalhos de Teclado No Excel 2010Francisco Ricardo AndraschkoAinda não há avaliações
- Atalhos de Teclado No Excel 2010Documento5 páginasAtalhos de Teclado No Excel 2010Francisco Ricardo AndraschkoAinda não há avaliações
- TCC - Estudo de Aplicações Dstribuidas P2PDocumento50 páginasTCC - Estudo de Aplicações Dstribuidas P2PFrancisco Ricardo Andraschko100% (1)