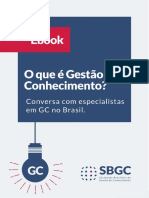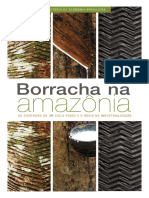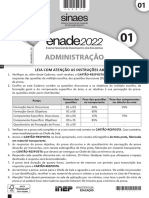Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2009relatório 152
2009relatório 152
Enviado por
geleia2012Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
2009relatório 152
2009relatório 152
Enviado por
geleia2012Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Trabalho e Famlia:
rumo a novas formas
de conciliao com
co-responsabilidade
social
Trabalho e Famlia:
rumo a novas formas de conciliao
com co-responsabilidade social
Copyright Organizao Internacional do Trabalho e
Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento, 2009
Primeira edio 2009
As publicaes da Organizao Internacional do Trabalho e do Programa das Naes Unidas para o
Desenvolvimento gozam da proteo dos direitos autorais sob o Protocolo 2 da Conveno Universal do
Direito do Autor. Breves extratos dessas publicaes podem, entretanto, ser reproduzidos sem autorizao,
desde que mencionada a fonte. Para obter os direitos de reproduo ou de traduo, as solicitaes devem
ser dirigidas OIT, que responde em nome de ambas as organizaes para fns desta publicao, para ao
Departamento de Publicaes (Direitos do Autor e Licenas), International Labour Ofce, CH-1211 Geneva
22, Sua, ou por email: pubdroit@ilo.org. Os pedidos sero bem-vindos.
As bibliotecas, institues e outros usurios registrados em uma organizao de direitos de reproduo
podem fazer cpias de acordo com as licenas que emitidas para este fm. A instituio de direitos de
reproduo do seu pas pode ser encontrada no site www.ifrro.org
Dados de catalogao da OIT
Trabalho e famlia : rumo a novas formas de conciliao com corresponsabilidade social / Organizao
Internacional do Trabalho. - Braslia: OIT, 2009
150 p.
ISBN: 9789228223842;9789228223859 (web pdf )
International Labour Ofce
responsabilidades familiares / equilbrio trabalho-vida / trabalhadora / oferta de mo de obra / igualdade
de gnero / Caribe / Amrica Latina
02.09
Publicado tambm em espanhol : Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliacin con
corresponsabilidad social, 2009. ISBN 9789223223847 (impresso) e ISBN 9789223223854 (web pdf )
As designaes empregadas nas publicaes da OIT, segundo a praxe adotada pelas Naes Unidas, e a
apresentao de material nelas includas no signifcam, da parte da Organizao Internacional do Trabalho
e do Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento, qualquer juzo com referncia situao legal
de qualquer pas ou territrio citado ou de suas autoridades, ou delimitao de suas fronteiras.
A responsabilidade por opinies contidas em artigos assinados, estudos e outras contribuies recai
exclusivamente sobre seus autores, e sua publicao pela OIT e PNUD no signifca endosso destas
organizaes s opinies nelas expressadas.
Referncias a frmas e produtos comerciais e a processos no implicam qualquer aprovao pela Organizao
Internacional do Trabalho e pelo Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento, e o fato de no se
mencionar uma frma em particular, produto comercial ou processo no signifca qualquer desaprovao.
As publicaes da OIT podem ser obtidas nas principais livrarias ou no Escritrio da OIT no Brasil: Setor de
Embaixadas Norte, Lote 35, Braslia - DF, 70800-400, tel.: (61) 2106-4600, email: vendas@oitbrasil.org.br; ou no
Escritrio da OIT Chile, na Avda. Dag Hammarskjld 3177, Vitacura, Santiago de Chile ou Caixa Postal 19.034,
CP 6681962, email: biblioteca@oitchile.cl Visite nossos sites www.oit.org.br e www.oitchile.cl
Impresso no Brasil
Dados de catalogao da OIT
Trabalho e famlia : rumo a novas formas de conciliao com corresponsabilidade social / Organizao
Internacional do Trabalho. - Braslia: OIT, 2009
150 p.
ISBN: 9789228223842;9789228223859 (web pdf )
International Labour Ofce
responsabilidades familiares / equilbrio trabalho-vida / trabalhadora / oferta de mo de obra / igualdade
de gnero / Caribe / Amrica Latina
02.09
Publicado tambm em espanhol : Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliacin con corresponsa-
bilidad social, 2009. ISBN 9789223223847 (impresso) e ISBN 9789223223854 (web pdf )
Prlogo edio em portugus .................................................................................................................................................................. 5
Apresentao edio em portugus ...................................................................................................................................................... 7
Introduo ................................................................................................................................................................................................................ 9
CAPTULO I
Trabalho Decente e Responsabilidades Familiares ............................................................................................................... 15
Trabalho decente e as convenes da OIT ........................................................................................................................ 17
A agenda global para a igualdade de gnero .................................................................................................................. 24
A responsabilidade do estado e da sociedade ................................................................................................................ 28
CAPTULO II
Trabalho e Famlia no Sculo XXI: Mudanas e Tenses ..................................................................................................... 37
Participao feminina, autonomia e bem estar na Amrica Latina e Caribe .................................................. 40
O novo cenrio de trabalho ao qual as mulheres se incorporam ......................................................................... 45
As novas famlias ............................................................................................................................................................................... 52
A tensa relao entre trabalho e famlia .............................................................................................................................. 57
As estratgias de conciliao entre trabalho e famlia ................................................................................................ 68
CAPTULO III
Marco Legal e Polticas Pblicas na Amrica Latina e Caribe ......................................................................................... 75
A resposta do estado frente s demandas por cuidado ............................................................................................. 78
O custo da inexistncia de polticas conciliatrias ........................................................................................................ 96
CAPTULO IV
Propostas para Novas Polticas de Conciliao
com Co-Responsabilidade Social ...................................................................................................................................................... 105
Adequar a normativa nacional s normas internacionais ....................................................................................... 107
Adequar os marcos legais s normas internacionais ................................................................................................. 109
Organizar o trabalho a favor da co-responsabilidade social .................................................................................. 110
Aproveitar o potencial de gerao de trabalho decente na rea de cuidados ........................................... 123
Melhorar a capacidade da previdncia social dar respostas s necessidades de cuidado ................... 126
Polticas para migrantes e suas famlias ............................................................................................................................. 130
O papel dos atores sociais na busca de novas respostas ......................................................................................... 134
Bases necessrias para o desenvolvimento de polticas de conciliao com co-responsabilidade .......... 142
Bibliografa ........................................................................................................................................................................................................... 145
ndice
Com este relatrio, a OIT e o PNUD buscam contribuir para enfrentar um dos maiores desafos
de nosso tempo: a conciliao entre vida familiar e pessoal e a vida no trabalho. Com seu foco na
Amrica Latina e Caribe, a regio mais desigual do planeta, o relatrio argumenta que neces-
srio avanar para a conciliao de ambas as esferas com co-responsabilidade social, isto , entre
homens e mulheres, mas tambm entre as famlias, Estados, mercados e sociedade em geral.
Esta uma dimenso fundamental para promover a igualdade e combater a pobreza a partir
do mundo do trabalho. Alm disso, constitui-se em um requisito indispensvel para avanar na
construo da equidade de gnero e, em particular, para o cumprimento das metas da Agenda
Hemisfrica do Trabalho Decente, lanada pela OIT em 2006, e que prev aumentar em 10% as
taxas de participao e ocupao das mulheres at 2015 e reduzir em 50%, no mesmo perodo,
as atuais desigualdades de gnero em matria de informalidade e remunerao.
Este relatrio que tem entre seus objetivos aprofundar o diagnstico e as propostas das polticas
relativas eqidade de gnero que compem a Agenda Hemisfrica de Trabalho Decente, argu-
menta e documenta que, alm de ser socialmente imprescindvel para a promoo do trabalho
decente e dos direitos humanos, esta agenda de transformaes ter resultados positivos para o
trabalho, a economia e a produo. por isto que, alm de necessria, esta uma agenda vivel.
Mais ainda: a crise econmica e fnanceira mundial e as mudanas demogrfcas que experi-
menta a regio aumentam a necessidade de abordar este desafo. Por sua vez, crescem tambm
as oportunidades de que a rea de cuidados seja parte da resposta que os pases venham a dar
para a criao de empregos e a reativao econmica, que contribuem para a soluo de direitos
fundamentais de todas as pessoas: cuidar e serem cuidadas.
Tendo clara a magnitude da tarefa, este relatrio combina rigor tcnico na anlise da situao
atual com um referencial valorativo que permite avanar em direo situao desejvel. Con-
cretamente, prope um conjunto de medidas de poltica pblica que, juntas, podem ajudar a
transitar do presente para o futuro, a partir de um ativo papel do Estado, mas tambm do setor
empresarial, do setor sindical, das pessoas e da sociedade em geral.
Ainda que na regio quase tudo esteja por ser feito para alcanar a conciliao com co-responsa-
bilidade social, de nenhuma maneira se parte de zero. Existe j uma densa produo acadmica
e tcnica, sem a qual o olhar sobre a conciliao a partir dos trabalhadores e trabalhadoras com
responsabilidades familiares que se apresenta neste relatrio no teria sido possvel. Por isso, este
trabalho se nutre das dezenas de pessoas que, na Amrica Latina e Caribe, refetiram e documen-
taram como se expressam na regio os problemas relativos s relaes de gnero e conciliao
entre trabalho e vida familiar.
Especial meno se requer, neste sentido, aos trabalhos precursores neste tema para a regio
Prlogo edio em portugus
5
latino americana realizados pela CEPAL, UNFPA e UNIFEM. Da mesma maneira, a OIT e o PNUD
agradecem s/os especialistas que forneceram insumos para este relatrio em temas to diversos
como legislao e poltica pblica, seguridade social, custos do investimento em conciliao,
criao de emprego, entre outros.
Da mesma forma agradecemos, sem de modo algum compromet-los com este relatrio, a
destacada contribuio de vises, experincias e recomendaes por parte de representantes
de governos, organizaes empresariais, sindicais e da sociedade civil do Cone Sul, Amrica
Central e Regio Andina.
A realizao do relatrio foi coordenada por Maria Elena Valenzuela, especialista regional em G-
nero e Emprego da OIT e por Juliana Martnez Franzoni, consultora do PNUD. Participaram da
redao deste relatrio Irma Arriagada, Anna Salmivaara, Marcela Ramos, com a contribuio de
Las Abramo e Solange Sanches, Manuela Tomei, Laura Addati, Naomi Cassirer, Daniela Bertino e
Maria Jos Chamorro da OIT, e Marcela Ros, Neus Bernabeu, Rosala Camacho, Rosibel Gmez,
Alejandra Yervolino, Mara Rosa Renz, Olimpia Torres e Virginia Varela do PNUD. Agradecemos as
contribuies recebidas dos Departamentos de Condies de Trabalho, de Migrao e do Escri-
trio de Igualdade de Gnero da OIT em Genebra e dos Escritrios da regio, tanto da OIT como
do PNUD, assim como ao Diretor Regional Adjunto para Polticas e Programas da OIT, Guillermo
Miranda.
A Edio brasileira do relatrio contou com o apoio institucional da Secretaria Especial de Polti-
cas para as Mulheres, no marco da cooperao tcnica com o Escritrio da OIT no Brasil (Projeto
BRA/07/03M/BRA). A traduo para o portugus foi realizada por Solange Sanches, Mrcia Vas-
concelos e Rafaela Egg, do Escritrio da OIT no Brasil.
Finalmente, por ser este relatrio apresentado de forma conjunta pela OIT e PNUD, refete uma
frme convico: como todas as grandes tarefas, esta requer somar e sintetizar olhares e capacida-
des. Este relatrio busca oferecer uma contribuio nesta direo. Temos a esperana de que ele
seja um incentivo refexo e ao em torno a um tema que sem dvida merece estar em um
lugar destacado na agenda regional.
Rebeca Grynspan Jean Maninat
Diretora Regional para Diretor Regional para
Amrica Latina e Caribe Amrica Latina e Caribe
PNUD OIT
6
7
O tema da igualdade de gnero como parte integrante da promoo do trabalho decente foi
includo como discusso geral na agenda da 98 sesso da Conferncia Internacional do Trabalho
reunida em Genebra em junho de 2009. A contribuio da regio da Amrica Latina e o Caribe para
este importante debate uma refexo sobre o equilbrio entre trabalho, famlia e vida pessoal.
Para isso, foi elaborado o Relatrio Regional Trabalho e Famlia: rumo a novas formas de conciliao
com corresponsabilidade social, em um trabalho conjunto entre a Organizao Internacional do
Trabalho (OIT) e o Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que contou com
contribuies substantivas dos diversos pases da regio. Esse Relatrio visa tambm aprofundar
a discusso das polticas e propostas defnidas pela Agenda Hemisfrica de Trabalho Decente,
lanada pelo Diretor Geral da OIT, em maio de 2006, durante a XVI Reunio Regional Americana
da OIT, e que tem entre as suas metas aumentar em 10% as taxas de participao e ocupao
das mulheres e reduzir em 50% as atuais desigualdades de gnero em matria de informalidade
e remuneraes, at 2015.
No Brasil, como forma de contribuir para esse esforo, foram realizadas duas atividades, no marco
do convnio de cooperao tcnica entre o Escritrio da OIT no Brasil e a Secretaria Especial de
Polticas para as Mulheres da Presidncia da Repblica: um seminrio nacional tripartite e um
estudo nacional sobre o tema.
O Seminrio Nacional Tripartite O Desafo do Equilbrio entre o Trabalho, Famlia e Vida Pessoal foi
realizado em Braslia, entre os dias 16 a 18 de maro deste ano, e contou com a participao
de aproximadamente 60 pessoas, representando o governo brasileiro, as organizaes de
empregadores e trabalhadores e outras organizaes da sociedade civil, alm de especialistas
sobre o tema. Como resultado do Seminrio, foi aprovado, em plenria, um documento com os
principais pontos de discusso, que resume as bases em que se coloca atualmente o debate do
equilbrio entre trabalho, famlia e vida pessoal no pas.
A segunda atividade de destaque no Brasil sobre o tema conciliao trabalho e famlia foi a
realizao do estudo nacional Polticas de Equilbrio de Trabalho, Famlia e Vida Pessoal no Brasil:
avanos e desafos no incio do sculo XXI. Este estudo traz um levantamento do marco legal e das
polticas conciliatrias entre trabalho e famlia existentes no pas, a partir das mltiplas estruturas
e arranjos familiares da atualidade, evidenciando quais grupos tm acesso a tais benefcios e
quais deles esto excludos, e fazendo recomendaes de medidas para a sua incluso.
Apresentao edio em portugus
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
8
com grande satisfao que a Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres e o Escritrio
da OIT no Brasil contribuem com o esforo da regio neste importante debate. Nesse esforo,
se inclui tambm a presente publicao - a traduo para o portugus do Relatrio Regional
Trabalho e Famlia: rumo a novas formas de conciliao com corresponsabilidade social, produzido
originalmente em espanhol.
Com isto, pretendemos tanto incentivar o debate sobre o equilbrio entre trabalho, famlia e
vida pessoal no Brasil, como abrir possibilidades para sua difuso nos outros pases de lngua
portuguesa. Mais uma vez, o objetivo divulgar, de maneira mais ampla possvel, o estado
de discusso sobre o tema, bem como dar visibilidade s polticas e medidas em curso e aos
principais desafos a serem enfrentados. Acreditamos que compartilhar essas experincias
enriquece o dilogo e abrevia a busca de solues para a construo da igualdade de gnero no
mundo do trabalho.
Nilca Freire
Ministra da Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres
Las Abramo
Diretora do Escritrio da OIT no Brasil
A i nterao entre
a esfera do trabal ho
e fami l i ar aspecto
central da vi da das
pessoas tem mudado
de manei ra deci si va.
9
Introduo
A superao de todas as formas de discriminao e a promoo de modalidades de crescimento
que fomentem o desenvolvimento humano e gerem trabalho decente constituem requisitos
determinantes para a reduo da pobreza, a autonomia das mulheres, o fortalecimento da de-
mocracia e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milnio (ODM).
A Amrica Latina e Caribe enfrentam, atualmente, uma mudana de paradigma que se expressa
na crescente diversidade de confguraes familiares e na transformao dos papis de gnero
no interior das famlias, esta associada massiva incorporao das mulheres no mercado de
trabalho. Durante a maior parte do sculo XX, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo se
organizaram com base em rgidos papis de gnero que j no correspondem ao que ocorre
atualmente. Como resultado, a interao entre a esfera de trabalho e familiar aspecto central da
vida das pessoas tem mudado de maneira decisiva. Existem hoje grandes tenses, acentuadas
pelas mudanas na organizao do trabalho.
Estas tenses tm gerado altos custos para as mulheres, para as pessoas que
necessitam de cuidados (crianas, idosos, pessoas com defcincia), mas
tambm para o crescimento econmico, o bom funcionamento do merca-
do de trabalho e para a produtividade das empresas. Alm disso, reforam as
desigualdades socioeconmicas e de gnero: aqueles que tm mais recursos
dispem de um maior acesso a servios de apoio e cuidado de qualidade e,
consequentemente, a melhores oportunidades de desenvolvimento. No
possvel enfrentar a excluso social, a desigualdade e a pobreza se no se
aborda, ao mesmo tempo e com a mesma energia, a sobrecarga de trabalho
das mulheres e a falta de oportunidades ocupacionais para elas.
Este relatrio, elaborado conjuntamente pela OIT e pelo PNUD, aborda o desafo da incluso so-
cial e formula recomendaes para as polticas pblicas, visando avanar na direo do trabalho
decente, a partir de um enfoque de direitos humanos. O cenrio de uma crise fnanceira mundial
e as mudanas demogrfcas observadas na regio aumentam as dimenses deste desafo. Po-
rm, o tema dos cuidados e da conciliao pode fazer parte das respostas que os governos, no
marco do dilogo social e da ampla participao cidad, podem oferecer populao.
Entre 1990 e 2008, a participao das mulheres no mercado de trabalho aumentou de 32% para
53% na Amrica Latina e Caribe. Atualmente, existem mais de 100 milhes de mulheres inseri-
das no mercado de trabalho da regio, o que constitui um nvel indito. O ingresso massivo das
mulheres na fora de trabalho tem tido efeitos importantes na gerao de riqueza dos pases,
no bem-estar dos domiclios e na diminuio da pobreza. A feminizao dos mercados de tra-
balho coincide com uma transformao radical na organizao do trabalho e da produo. A
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
10
No poss vel enfrentar
a excl uso soci al,
a desi gual dade e a pobreza
se no se aborda,
ao mesmo tempo e com a
mesma energi a,
a sobrecarga de trabal ho
das mul heres e a fal ta
de opor tuni dades
ocupaci onai s para el as.
crescente integrao dos mercados mundiais em matria de comrcio, fnanas e informao
tem aberto oportunidades para o desenvolvimento, ampliado as fronteiras de intercmbio de
bens e servios e melhorado a competitividade das empresas. Porm, os efeitos deste processo
sobre o desenvolvimento humano tm sido pouco satisfatrios e muito desiguais entre os pases
e no interior destes. Observa-se uma intensifcao da excluso social e um aumento da distn-
cia entre a economia global formal e a economia local informal. A precariedade, a mobilidade
de mo-de-obra e o dfcit de trabalho decente so alguns dos riscos que caracterizam este
processo. Neste contexto, as mulheres efetivamente tm tido maior acesso a empregos, mas
no a empregos de melhor qualidade. Este fenmeno mais evidente entre as trabalhadoras de
domiclios de menor nvel socioeconmico, que enfrentam uma dupla ou tripla discriminao:
por serem mulheres, por serem pobres e por serem indgenas ou negras.
As mudanas observadas na organizao do trabalho e da produo in-
crementam as tenses entre trabalho e vida familiar. Homens e mulheres
se sentem mais inseguros sobre suas possibilidades de prover rendimen-
tos, tanto para si como para suas famlias. Existem muitas razes para ex-
plicar este fato: nos ltimos vinte anos, a rotatividade e a intensidade do
trabalho aumentaram; a cobertura do sistema de previdncia social e o
controle sobre o tempo destinado ao trabalho diminuram. A proporo
da fora de trabalho protegida pelas leis trabalhistas tambm decresceu,
enquanto aumentaram os trabalhos sazonais, por tempo determinado, o
auto-emprego, o sub-emprego, a sub-contratao. Em suma, os chamados
trabalhos atpicos, excludos dos benefcios de um trabalho regular, se tor-
naram crescentemente tpicos.
Alm das mudanas na organizao do trabalho, profundas transforma-
es socio-demogrficas esto ocorrendo na regio, as quais geram va-
riaes na organizao interna das famlias, criando uma nova relao
entre demanda e oferta de cuidados. O tamanho mdio das famlias tem
sofrido uma reduo e as formas tradicionais de famlia deram lugar a
uma grande diversidade de configuraes, na qual se destacam os domi-
clios com dois provedores e aqueles nos quais as mulheres so as nicas
mantenedoras. Paralelamente reduo do nmero de filhos/as, a pre-
sena de idosos nas famlias aumentou consideravelmente.
Contudo, no ocorreram rupturas signifcativas nas concepes culturais predominantes que
consideram a reproduo social uma responsabilidade das mulheres, e no uma necessidade
das sociedades.
Hoje as mulheres compartilham com os homens o tempo de trabalho remunerado, mas no
ocorreu um processo equivalente de mudana com relao redistribuio das responsabilida-
des sobre as tarefas domsticas. Tampouco produziu-se um aumento signifcativo na oferta de
11
Hoj e as mul heres
compar ti l ham com os
homens o tempo de
trabal ho remunerado,
mas no ocorreu um
processo equi val ente de
mudana com rel ao
redi stri bui o das
responsabi l i dades sobre
as tarefas domsti cas.
INTRODUO
servios pblicos de apoio a estas tarefas, nem se alcanou uma reorganizao da vida social.
A legislao trabalhista, a previdncia social e as polticas de conciliao determinam a interao
entre a vida no trabalho e familiar. Porm, os marcos legais que hoje existem na regio apresen-
tam algumas defcincias. Em primeiro lugar, implcita ou explcitamente, tendem a centrar-se em
demandas conciliatrias muito especfcas, relacionadas gravidez e maternidade, desconside-
rando as responsabilidades familiares correspondentes a pais e mes. Em segundo lugar, as formas
de acesso s medidas e benefcios como a licena maternidade esto geralmente associadas ao
vnculo empregatcio e, portanto, restritas s assalariadas formais. Uma excluso signifcativa ge-
rada em razo disso: fcam fora os homens e as mulheres que trabalham na informalidade, o que,
em alguns pases, signifca a maioria das trabalhadoras que so, alm disso, as mais pobres e as
que mais necessitam deste tipo de apoio. Ficam fora tambm as trabalhadoras cujas contribuies
previdencirias no estejam em dia. Uma terceira defcincia se deve ao alto
descumprimento das leis existentes devido evaso e falta de fscalizao.
Esse modelo gera, conseqentemente, uma crise dos mecanismos tradicionais
de conciliao, cujo peso recai sobre as mulheres. A sobrecarga de responsabi-
lidades familiares est na base das discriminaes e desvantagens que experi-
mentam as mulheres no mercado de trabalho e que se manifestam por meio de:
Maiores difculdades para inserir-se no mercado de trabalho: o que
se expressa em menor taxa de participao no mercado de
trabalho e maiores taxas de desemprego.
Menores oportunidades em funo da segmentao ocupacional:
o leque de ocupaes disponveis para elas e/ou suas possibilida-
des de acesso so mais restritas.
Menores rendimentos: resultado da discriminao salarial e da des-
valorizao das ocupaes nas quais as mulheres se concentram.
Maior informalidade: que se manifesta na sobre-representao das
mulheres na economia informal e nos empregos sem proteo social.
A ausncia de uma distribuio equilibrada do trabalho reprodutivo, e a conseqente sobrecar-
ga de trabalho domstico e de cuidado que pesa sobre as mulheres, gera tambm consequn-
cias negativas para as famlias. Estas experimentam maiores difculdades para proporcionar uma
ateno adequada s crianas, idosos e doentes. Os homens so privados de participar ativa-
mente da criao de seus flhos e do cuidado de seus familiares, minando seus laos afetivos; as
crianas so privadas, em sua vida cotidiana, do contato com papis masculinos, o que difculta
seu desenvolvimento integral.
Alm disso, o funcionamento dos mercados de trabalho, a produtividade das empresas e, conse-
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
14
O que se prope aqui
a conci l i ao entre vi da
l aboral, fami l i ar e pessoal
e a co-responsabi l i dade
soci al nas tarefas de
cui dado entre homens e
mul heres e entre Estados,
mercados e soci edade.
12
qentemente, o desenvolvimento econmico dos pases so afetados pelo no aproveitamento
de uma parte importante da fora de trabalho.
No contexto da crise econmica e fnanceira mundial, as mulheres podem ser muito prejudicadas.
Estima-se que, como resultado desta contrao mundial, 22 milhes de trabalhadoras podem
perder seus empregos. A crise pode ameaar as conquistas alcanadas e aprofundar as desigual-
dades de gnero, a menos que as polticas para enfrent-la contemplem explicitamente esta di-
menso. Dito de outra maneira, se antes a conciliao entre trabalho e vida familiar era um tema
central para o trabalho decente, em um cenrio de crise como o atual, cuja magnitude ainda se
desconhece, torna-se ainda mais importante trat-lo. Isso no apenas porque as tenses entre
vida familiar e laboral podem se agudizar, mas tambm porque as estratgias para atender a estas
tenses podem e devem ser, em si mesmas, parte das medidas para lidar com a crise e super-la.
Na atualidade, voltam a ganhar fora as concepes mais favorveis a um
Estado pr-ativo na criao de condies de bem-estar para as pessoas. Este
um bom ponto de partida para o desenvolvimento de polticas de concilia-
o entre a vida familiar e laboral, as quais, juntamente com a legislao, tm
um objetivo comum: tornar mais fuida a interao entre ambos os espaos.
Vincular a criao de empregos com a ampliao da oferta de cuidados pode
ter vrios efeitos positivos. Alm de oferecer empregos e servios que os ci-
dados necessitam, se promove uma transformao cultural com relao
idia de que os cuidados a ateno s crianas, a preocupao com os ado-
lescentes ou com os idosos so uma responsabilidade social e no apenas
familiar, nem muito menos feminina. Desta forma, a crise pode contribuir
para remover uma das principais barreiras enfrentadas pelas mulheres para
terem acesso ao mercado de trabalho. Isso permitiria ampliar opes, capa-
cidades e liberdades.
O que se prope aqui que a conciliao entre vida laboral, familiar e pessoal
e a co-responsabilidade social nas tarefas de cuidado entre homens e mulheres e entre Esta-
dos, mercados e sociedade faam parte da corrente principal de polticas e programas sociais
dos governos. Neste cenrio, o Estado deve fazer-se mais presente, gerando uma institucionali-
dade que permita polticas pblicas sustentveis no tempo. Desta forma, se vincula a gerao de
trabalho decente no curto prazo com efeitos no desenvolvimento humano e na igualdade de
gnero em um futuro no to distante.
As polticas de conciliao podem adotar o modelo tradicional, no qual o bem-estar familiar est
a cargo das mulheres; ou assumir um paradigma sintonizado com a nova realidade das famlias
latino-americanas e caribenhas, que privilegie a articulao fuida entre as atividades familiares,
domsticas e a vida laboral. A forma democrtica e coerente com o trabalho decente exige mo-
difcar a atual diviso sexual do trabalho, que no apenas estabelece uma rgida defnio de pa-
15
Trata-se de garanti r
o di rei to tanto de
homens como de
mul heres a um
trabal ho remunerado
sem que i sso si gni fi que
renunci ar a uma vi da
fami l i ar.
INTRODUO
pis, mas tambm, alm disso, se assenta nas desigualdades entre homens e mulheres. A diviso
sexual do trabalho est presente em todas as sociedades e, ainda que a forma segundo a qual
ela se expressa possa variar, ou seja, o que em uma sociedade constitui trabalho de homens em
outra pode ser trabalho de mulheres, h um princpio comum: o trabalho masculino tem um
valor maior que o trabalho feminino.
O alcance, tanto da igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho como de um de-
senvolvimento humano sustentvel, requer que ambos compartilhem o trabalho domstico (no
apenas o trabalho produtivo) e que se revalorize a importncia de ambas as esferas para o bem-
estar da sociedade. Uma nova forma de compartilhar os papis trar benefcios para homens e
mulheres, bem como para a sociedade como um todo. As iniciativas estatais, a gesto da mo-de-
obra nas empresas, assim como do tempo de trabalho de homens e mulheres, so centrais para
polticas que promovam a conciliao com co-responsabilidade social em matria de cuidados.
No momento de desenhar e implementar medidas de conciliao deve-se,
portanto, apostar em nveis mais elevados de eqidade e de democrati-
zao das tarefas. Trata-se de garantir o direito tanto de homens como de
mulheres a um trabalho remunerado sem que isso signifque renunciar
a uma vida familiar. A aspirao de uma agenda de conciliao com co-
responsabilidade social deve ser a de ampliar os graus de liberdade para
que homens e mulheres possam escolher distintas formas de combinao
entre vida laboral e familiar.
Este relatrio busca contribuir para ajudar a reverter um dos maiores de-
sequilbrios de nosso tempo: o fato de que a contribuio das mulheres
sociedade no tenha uma retribuio equivalente. Com foco na Amrica La-
tina e Caribe, o estudo apresenta um diagnstico do problema, assim como
um conjunto de medidas que, juntas, podem brindar solues e transformar
radicalmente o retrato da regio em uma dimenso fundamental da vida das
pessoas: o delicado equilbrio entre as obrigaes no trabalho e familiares.
Para isso, o relatrio parte da noo de trabalho decente. No captulo I, feita uma aproximao
ao marco internacional de normas e valores refetido nas Convenes da OIT, na Conveno so-
bre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher (CEDAW) e nos Objetivos
de Desenvolvimento do Milnio. Alm disso, desenvolvida uma refexo acerca do papel que
corresponde ao Estado, s organizaes de empregadores e de trabalhadores e s organizaes
da sociedade civil nestes temas.
No captulo II, apresentado um diagnstico sobre as grandes transformaes que geraram um
crescente desequilbrio entre a vida laboral e familiar. analisada a forma pela qual o aumento
da participao das mulheres no mercado de trabalho, as mudanas na organizao do traba-
lho, nas estruturas familiares e nos valores sociais tm gerado novas demandas de cuidado. A
13
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
16
A combi nao de um
ampl o reper tri o de
medi das permi ti r que
Amri ca Lati na e Cari be
al cancem, por mei o da
co-responsabi l i dade com
rel ao aos cui dados,
o pl eno exerc ci o
dos di rei tos soci ai s e
econmi cos i gual mente
para homens e mul heres.
14
anlise do uso do tempo de homens e mulheres e das construes culturais acerca do trabalho
remunerado das mulheres demonstra as contradies e profundas tenses geradas por estas
transformaes, que afetam especialmente as mulheres e as famlias mais pobres. As estratgias
de conciliao entre vida laboral e familiar permanecem privadas: continuam a cargo das fam-
lias e, no interior delas, a cargo das mulheres. Como exemplo da mxima tenso que pode se
estabelecer entre estes mbitos, apresentado o caso das famlias de trabalhadoras migrantes.
A forma como estas tenses so enfrentadas atualmente pelos Estados da Amrica Latina e Cari-
be analisada no captulo III. So apresentados os marcos legais e de polticas que abordam a re-
lao entre trabalho e vida familiar; e so identifcadas importantes ausncias
e debilidades institucionais, cujos custos so altos em termos econmicos e
sociais. Finalmente, apresentada uma refexo sobre o papel dos sistemas
de previdncia social para enfrentar as tenses entre famlia e trabalho.
A ltima parte do relatrio dedicada a propostas de polticas pblicas e
recomendaes de aes a serem desenvolvidas pelos atores sociais de
acordo com a realidade em que se encontram os pases da regio com
o objetivo de promover um maior equilbrio entre a vida laboral e familiar
e fortalecer a cidadania das mulheres. Como se demonstrar, nenhuma in-
terveno ser, por si s, sufciente. Ao contrrio, somente a combinao de
um amplo repertrio de medidas permitir que Amrica Latina e Caribe al-
cancem, por meio da co-responsabilidade com relao aos cuidados, o ple-
no exerccio dos direitos sociais e econmicos igualmente para homens e
mulheres.
17
Trabalho Decente
e Responsabilidades
Familiares
C A P T UL O I
18 16
O trabalho decente tem sido reconhecido como um objetivo global que oferece um enfoque
prtico para alcanar, simultaneamente, o crescimento econmico, o progresso social e a prote-
o do meio ambiente e que pretende, alm disso, contribuir para que todos os homens e mu-
lheres desenvolvam uma atividade produtiva, em condies de liberdade, igualdade, segurana
e dignidade. Busca-se, assim, um equilbrio entre a expresso democrtica da sociedade, a funo
reguladora do Estado, o papel inovador e produtivo do mercado e as necessidades e aspiraes
das pessoas, famlias e suas comunidades.
Neste captulo, lana-se um olhar sobre a normativa internacional e sobre certos marcos em nvel
mundial que tm caracterizado a agenda de trabalho e de desenvolvimento humano no ltimo
sculo e meio. As normas internacionais do trabalho representam o consenso internacional sobre
a forma como os confitos no trabalho podem ser abordados; e nascem da identifcao de uma
problemtica ligada ao mundo do trabalho que requer uma interveno reguladora no plano
internacional. As normas, portanto, so a codifcao de princpios e valores aceitos universal-
mente. Permitem estabelecer patamares mnimos e, ao mesmo tempo, constituem aspiraes
sobre a qualidade do trabalho e a vida.
As normas internacionais do trabalho incluem as convenes (tratados internacionais legalmente
vinculantes, no caso de serem ratifcados pelos pases) e as recomendaes (diretrizes no vincu-
lantes). Algumas delas abordam especifcamente o tema central deste relatrio: a relao entre
vida laboral e familiar. Aqui faz-se referncia s Convenes da OIT n 183, sobre a Proteo da
Maternidade e n 156 sobre Trabalhadores e Trabalhadoras com Responsabilidades Familiares.
Estas normas so complementadas pelas Recomendaes n 191 e n 165, respectivamente.
Porm, os avanos em matria de trabalho decente no provm apenas do mundo do tra-
balho, mas tambm de marcos valorativos e/ou normativos que reconhecem e garantem a
eqidade de gnero. Aqui, um marco chave a Conveno sobre a Eliminao de todas as
Formas de Discriminao contra a Mulher (CEDAW) de 1979, que foi ratifcada por 32 pases da
Amrica Latina e Caribe.
Por meio destas diretrizes, os Estados se comprometem a impulsionar determinadas orientaes
e polticas. Alm disso, essas diretrizes buscam defnir um marco para apoiar o trabalho condu-
zido por outros atores fundamentais, como os sindicatos, os empregadores e pelo conjunto das
organizaes sociais. Finalmente, a melhoria das condies de vida de homens e mulheres na
sociedade depende de todos, e este o grande objetivo do trabalho decente.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
21
Trabalho decente e
as convenes da OIT
A OI T consi dera que
a j usti a soci al
essenci al para garanti r
a paz uni versal e que o
cresci mento econmi co
i mpor tante, mas no
sufi ci ente para assegurar a
eqi dade, o progresso e a
erradi cao da pobreza.
As normas internacionais do trabalho representam o consenso global sobre a forma segundo a
qual confitos no trabalho podem ser abordados. Nascem da identifcao de uma problemtica
ligada ao mundo do trabalho que requer uma interveno reguladora no plano internacional.
Representam, portanto, a codifcao de princpios e valores aceitos universalmente, permitem
estabelecer patamares mnimos e, ao mesmo tempo, constituem referncias sobre o que se pre-
tende atingir em termo de qualidade do trabalho remunerado e qualidade de vida.
Desde 1919, a Organizao Internacional do Trabalho (OIT) adotou 188 convenes e 199 reco-
mendaes, que abarcam um amplo leque de temas, e que, em sua maioria, se aplicam a ho-
mens e mulheres. A abordagem das questes de gnero nas convenes internacionais estava,
inicialmente, inspirada na preocupao de proteger as mulheres em sua capacidade reprodutiva
e com relao a condies consideradas inadequadas (por exemplo, o tra-
balho em minas). Em uma segunda fase, introduziu-se a noo de igualdade
de oportunidades e no discriminao, enfatizando-se no apenas a eqi-
dade perante a lei, mas tambm a igualdade real de oportunidades, trata-
mento e resultados. A introduo da noo trabalhadores de ambos sexos
com responsabilidades familiares, marcou o incio de uma terceira etapa na
abordagem da igualdade de gnero no mundo do trabalho: reconheceu-se
que era necessrio revisar a forma segundo a qual se organiza e se distribui o
trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo nas sociedades.
A OIT considera que a justia social essencial para garantir a paz universal
e que o crescimento econmico importante, mas no sufciente para asse-
gurar a equidade, o progresso e a erradicao da pobreza. Destaca, tambm,
a necessidade de promover polticas sociais slidas, garantindo os quatro
direitos fundamentais apresentados a seguir:
a) liberdade de associao, liberdade sindical e reconhecimento efe-
tivo do direito de negociao coletiva;
b) eliminao de todas as formas de trabalho forado ou obrigatrio;
c) abolio efetiva do trabalho infantil; e
d) eliminao da discriminao em matria de emprego, ocupao e remunerao.
Os Estados Membros da OIT, por pertencerem Organizao, devem respeitar, promover e tor-
nar realidade, de boa f e de conformidade com a Constituio da OIT, os princpios relativos a
esses direitos fundamentais, que so expressos em convenes internacionais correspondentes.
Esse compromisso se mantm, ainda que o Estado no tenha ratifcado as convenes que ex-
pressam esses direitos fundamentais
1
.
1 Declarao da OIT relativa aos princpios e direitos fundamentais no trabalho e seu seguimento
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--es/index.htm 17
20
O CONCEITO DE TRABALHO DECENTE
A Organizao Internacional do Trabalho (OIT) introduziu, em 1999, o conceito de trabalho decente,
que expressa o amplo objetivo de garantir a mulheres e homens oportunidades de emprego produ-
tivo, em condies de liberdade, eqidade, segurana e dignidade. Sua abordagem considera tanto
as dimenses do trabalho como extra trabalho, e estabelece uma ponte entre trabalho e sociedade. A
meta de fundo melhorar as condies de vida de todas as pessoas na sociedade.
Oportunidades de emprego produtivo se refere importncia de garantir que todas as
pessoas que queiram trabalhar possam efetivamente encontrar um emprego, e que isso
permita aos trabalhadores e suas famlias alcanar um nvel de bem-estar aceitvel.
Emprego em condies de liberdade sublinha o fato de que o trabalho deveria ser li-
vremente escolhido e no deveria ser exercido em condies foradas; signifca, alm
disso, que os trabalhadores tm o direito de participar nas atividades das organizaes sindicais.
Emprego em condies de equidade signifca que necessrio que os trabalhadores se-
jam tratados de forma justa e eqitativa, sem discriminaes e permitindo conciliar o traba-
lho com a famlia.
Emprego em condies de segurana se refere necessidade de proteger a sade dos
trabalhadores, assim como assegurar penses e proteo social adequadas.
Emprego em condies de dignidade requer que todos os trabalhadores sejam tratados
com respeito e possam participar das decises relativas s condies de trabalho.
Cada uma destas dimenses do conceito de trabalho decente tem sido objeto de recomendaes e
aes da OIT desde sua origem h nove dcadas atrs. A novidade do conceito reside no fato de esta-
belecer uma viso conjunta das diversas dimenses do trabalho, no mbito de um s marco. Tambm,
importante destacar que se trata de um conceito universal que abarca todos os trabalhadores.
Fonte: OIT (1999)
18
O objetivo de promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres tem sido incor-
porado explicitamente nas aes da OIT e, tal como se expressa na Agenda Hemisfrica de Traba-
lho Decente para as Amricas 2006-2015,
2
um dos principais desafos a serem enfrentados pela
regio para avanar em direo ao trabalho decente.
A agenda de trabalho decente organiza-se em torno de quatro objetivos estratgicos que se
complementam: emprego de qualidade, proteo social, direitos trabalhistas e fortalecimento
da representao de todas as pessoas que trabalham. O objetivo relacionado gerao de em-
pregos de qualidade importante para garantir uma remunerao pelo trabalho que permita
uma vida digna para trabalhadores e trabalhadoras. A proteo social permite queles que tm
um emprego a tranqilidade para exerc-lo e queles que o perderam ou esto impossibilitados
de exerc-lo, a proteo para manter uma vida digna. Por meio dos direitos do trabalho busca-se
melhorar suas condies sociais e diminuir a discriminao, aumentando, assim, a possibilidade
de garantir trabalho para todos/as. O dilogo social importante como tal e , por sua vez, um
instrumento para enfrentar efcientemente os demais desafos.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
2 http://www.oit.org.br/info/downloadfle/php?fleid=187
QUADRO 1
21 23
CAPTULO I
Desde sua fundao, a OIT tem demonstrado uma constante preocupao com a proteo ma-
ternidade e s mes que trabalham. Em sua sesso inaugural, celebrada em 1919, a Conferncia
Internacional do Trabalho adotou a Conveno n 3 sobre proteo maternidade. Esta Con-
veno foi revisada em 1952, a partir da aprovao da Conveno n 103 sobre o mesmo tema,
acompanhada da Recomendao n 95, a qual introduz a maternidade como bem jurdico tute-
lado e amplia a proteo a todas as mulheres ocupadas em atividades industriais, no industriais
e agrcolas, assim como s ocupadas no trabalho domstico e no trabalho assalariado a domiclio.
No fnal da dcada de noventa, iniciou-se a segunda reviso da conveno, com o objetivo de
adapt-la s condies atuais, em um contexto de globalizao econmica, alto desemprego
e acordos trabalhistas nem sempre favorveis aos trabalhadores, dando origem, no ano 2000,
Conveno n 183 e Recomendao n 191. Esta conveno estendeu os direitos a todas as
mulheres empregadas, incluindo as que desempenham formas atpicas de trabalho dependente.
A conveno tem dois objetivos: defender a sade das mulheres e de seus flhos e flhas durante
a gravidez e a amamentao e, ao mesmo tempo, proteg-las da discriminao que pode afet-
las no local de trabalho por sua condio de mes. Desta forma, busca-se garantir a igualdade de
oportunidades e de tratamento para trabalhadoras e trabalhadores (quadro 2).
QUADRO 2
CONVENO N 183 E RECOMENDAO N 191 DA OIT SOBRE A PROTEO MATERNIDADE
A Conveno n 183 faz referncia a um conjunto de convenes internacionais orientadas para a igual-
dade de oportunidades e de tratamento para trabalhadoras e trabalhadores e considera que a proteo
gravidez uma responsabilidade compartilhada dos governos e das sociedades, formada por cinco
componentes: licena maternidade, proteo do emprego, benefcios pecunirios e mdicos, proteo
sade (com relao aos trabalhos prejudiciais para a sade das mulheres e dos bebs) e amamentao.
A conveno determina uma licena de, no mnimo, 14 semanas e um perodo de seis semanas de licena
obrigatria aps o parto. Alm disso, estabelece o direito a uma licena adicional no caso de enfermidade
e de complicaes advindas da gravidez ou do parto. Tambm prev que os benefcios em dinheiro pagos
durante a licena devem ser de, no mnimo, dois teros dos rendimentos anteriores das mulheres e devem
ser fnanciados mediante um seguro social obrigatrio ou devem fcar a cargo de fundos pblicos.
Probe a demisso de mulheres grvidas durante a licena ou depois de sua reintegrao ao trabalho,
exceto por razes que no estejam relacionadas gravidez e garante s mulheres o direito de retor-
nar ao mesmo posto de trabalho ou a um posto equivalente com a mesma remunerao. Alm disso,
probe a discriminao em funo da maternidade e probe a exigncia de teste de gravidez. Deve ser
garantido o direito a descansos ou uma reduo de jornada em funo da amamentao.
A Recomendao n 191 prope estender a licena maternidade, no mnimo, para 18 semanas, sua
ampliao no caso de nascimentos mltiplos e a extenso das mesmas garantias e direitos no caso de
adoo. Alm disso, incorpora atribuies paternas em caso de falecimento da me estende aos pais
o direito de usufruto do perodo de licena restante.
Ainda, estabelece que a me ou o pai deveriam ter direito a uma licena parental durante o perodo
seguinte ao trmino da licena maternidade.
Fonte: Conveno 183 e Recomendao 191 em http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm
19
22 20
A noo de responsabilidades familiares est presente em vrios documentos da OIT, mas
surge como preocupao especfca na dcada de 1960, associada ao avano das mulheres
no mercado de trabalho.
Em 1965, foi aprovada a Recomendao n 123 sobre emprego das mulheres com respon-
sabilidades familiares. Mesmo centrando-se nos problemas que enfrentam em funo da
necessidade de conciliar responsabilidades familiares e trabalho, esta conveno no ques-
tionava a sobrecarga que recai sobre as mulheres na esfera domstica, e, sim, propunha
mecanismos de apoio.
Em 1981, o tema foi retomado e aprovou-se a Conveno n 156 e a Recomendao n 165. Isso
ocorre em um contexto no qual a incorporao das mulheres ao mercado de trabalho havia se
intensifcado de forma signifcativa. O debate centrava-se, ento, nos seguintes temas: i) os mlti-
plos papis assumidos pelas mulheres e ii) a necessidade de incorporar os problemas das mulhe-
res trabalhadoras nos esforos globais para a melhoria das condies de trabalho e tambm para
tornar realidade o direito de trabalhar sem ser objeto de discriminao.
O debate destacava que, para garantir s mulheres igualdade de oportunidades e tratamento no
trabalho, eram necessrias transformaes no papel tradicional masculino. Quer dizer, a maior
presena das mulheres no trabalho deveria ser acompanhada de uma crescente participao dos
homens na famlia e na esfera domstica.
Neste sentido, a conveno foi infuenciada pela Dcada das Naes Unidas para a Mulher (1975-
1985), incentivando polticas que benefciaram homens e mulheres para alcanar uma distri-
buio mais igualitria das responsabilidades familiares. Por estas razes, era necessrio que as
medidas de conciliao estivessem disponveis para homens e mulheres: para garantir a ambos
o direito ao trabalho sem que suas responsabilidades familiares fossem um obstculo ou consti-
tussem uma fonte de discriminao.
A consecuo deste objetivo relaciona-se diretamente com a possibilidade de eliminar as
barreiras enfrentadas pelas mulheres para inserir-se e permanecer no mercado de trabalho.
A sobrecarga de trabalho domstico e as responsabilidades familiares que, por sua vez, as
afetam, condicionam e limitam suas trajetrias ocupacionais (sobretudo para as mulheres de
domiclios mais pobres).
importante notar como muitas polticas bem intencionadas podem, na prtica, reforar uma
distribuio tradicional das responsabilidades familiares e/ou uma discriminao contra as mu-
lheres no mercado de trabalho. Quando no se permite aos homens acessar os benefcios asso-
ciados s responsabilidades familiares, refora-se o papel domstico feminino e a expectativa de
que eles no assumam responsabilidades familiares. em funo disso que a Conveno n 156
promove a noo de benefcios para homens e mulheres.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
23
CAPTULO I
QUADRO 3
CONVENO N 156 e RECOMENDAO N 165 DA OIT SOBRE TRABALHADORES
E TRABALHADORAS COM RESPONSABILIDADES FAMILIARES
A Conveno n 156 se refere igualdade de oportunidades e tratamento entre trabalhadores e tra-
balhadoras. Reconhece os problemas e necessidades especfcos enfrentados pelos trabalhadores e
trabalhadoras com responsabilidades familiares, defnidos como trabalhadores e trabalhadoras com
responsabilidades com relao aos seus/suas flhos/as e outros membros da famlia direta que de forma
evidente necessitem de seu cuidado ou sustento, quando tais responsabilidades limitem suas possibili-
dades de preparar-se para a atividade econmica e de nela ingressar, participar e progredir.
Esta conveno estabelece a obrigao dos Estados de incluir, entre os objetivos de sua poltica nacio-
nal, o de permitir que as pessoas com responsabilidades familiares possam exercer seu direito a estar
em um emprego sem ser objeto de discriminao e, na medida do possvel, sem confito entre suas
responsabilidades familiares e profssionais. Tambm apresenta a obrigao de implementar medidas
que permitam a livre escolha do emprego, que facilitem o acesso formao, que garantam a inte-
grao e permanncia destes trabalhadores na fora de trabalho e sua reintegrao aps um perodo
de ausncia em razo destas responsabilidades. Coloca a necessidade de serem adotadas medidas de
planejamento local e regional de forma que sejam consideradas as necessidades deste grupo de traba-
lhadores, bem como o desenvolvimento de servios comunitrios, pblicos e privados de assistncia
infncia e s famlias.
Por fm, assinala claramente que as responsabilidades familiares no devem constituir-se, por si s, cau-
sa para o trmino da relao de trabalho. Essa noo favorece especialmente as mulheres, j que, comu-
mente, elas tm maiores difculdades e insegurana no mercado de trabalho devido carga de trabalho
domstico e s responsabilidades familiares.
A Recomendao n 165 especifca medidas de apoio para garantir o acesso, permanncia e reintegra-
o ao trabalho para trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Rene medidas
destinadas ao melhoramento das condies de trabalho e da qualidade de vida, bem como de reduo
e fexibilidade da jornada de trabalho. Prope medidas que levem em conta as condies de trabalho
dos trabalhadores a tempo parcial, temporrios e trabalhadores a domiclio.
Outros aspectos importantes se relacionam ampliao dos servios de cuidado infantil e de apoio s
famlias, orientada por estatsticas e pesquisas sobre as necessidades e preferncias dos trabalhadores
e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Devem ser estabelecidos planos para o desenvolvi-
mento sistemtico e para facilitar a organizao dos servios, bem como meios adequados e sufcientes,
gratuitos ou a um custo razovel, que respondam s necessidades destes trabalhadores e trabalhadoras
e das pessoas sob a sua responsabilidade.
Assume-se que tanto os homens como as mulheres so responsveis por seus/suas flhos/as e, em fun-
o disso, prope-se que ambos possam fazer uso de uma licena parental posterior licena materni-
dade. Estabelece-se que homens e mulheres deveriam poder obter uma licena em caso de enfermida-
de do/a flho/a ou de outro membro de sua famlia direta.
Fonte: Conveno 183 e Recomendao 191 em http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm
21
24 22
As normas internacionais so adotadas de forma tripartite, ou seja, a partir de uma discusso
entre governos, empregadores e trabalhadores. Os pases que ratifcam uma conveno so obri-
gados a adot-la em sua legislao e na prtica nacional.
A ratifcao o primeiro passo para a aplicao dos princpios contidos nessa norma na vida co-
tidiana de trabalhadores e trabalhadoras e de suas famlias. Os atores polticos e as organizaes
sociais cumprem um papel central na ratifcao e na estratgia de promoo da norma em seus
diversos nveis:
Incorporao da norma na legislao nacional, por meio da elaborao ou modifca-
o de leis sobre a temtica especfca, ou de harmonizao do princpio da norma in-
ternacional na legislao nacional, caso a primeira seja de carter amplo e aborde v-
rios aspectos do direito trabalhista.
Utilizao da norma para a reviso das polticas nacionais, desenho e implementao
de novas polticas.
Utilizao dessa norma e de seus princpios por parte do sistema judicirio e seus
rgos especializados na resoluo dos confitos trabalhistas.
Incorporao da nova normativa nacional nas aes de inspeo das condies de
trabalho e nas instncias de mediao, a fm de promover e controlar a aplicao da
lei no local de trabalho.
A negociao coletiva tem um papel importante para o aprimoramento da lei, respal-
dando-a pelo acordo e facilitando sua aplicao, assim como alcanando acordos
sobre temticas ainda no cobertas pela norma. Abre-se, assim, um caminho para
futuras legislaes.
A iniciativa voluntria das empresas na adoo dos princpios contidos nas normas
ainda no incorporadas na legislao nacional.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
PARTICIPAO DA SOCIEDADE NA RATIFICAO DA CONVENO N 156 NO PARAGUAI
A ratifcao da Conveno n 156 no Paraguai foi alcanada em um curto perodo (menos de oito
meses desde que o projeto foi enviado ao Parlamento) graas ativa participao de diversos atores
sociais. Em um processo liderado pela Comisso Tripartite de Igualdade de Oportunidades, foram
elaborados insumos tcnicos para a elaborao da mensagem que acompanhou o projeto de lei e
desenvolvida uma exitosa estratgia de lobby. A Comisso conduziu uma campanha de informao e
sensibilizao voltada para os setores empresarial e sindical, assim como para a opinio pblica e para
os meios de comunicao, conquistando seu apoio e compromisso. Os representantes governamen-
tais, empresariais e sindicais que compem a Comisso atuaram coordenadamente, estabelecendo
alianas que cobriram todo o leque poltico e que deram seguimento discusso parlamentar du-
rante o processo de ratifcao. Durante a tramitao da lei de ratifcao, realizou-se uma Audincia
Pblica no Senado, na qual representantes de organizaes de trabalhadores, empregadores e da
sociedade civil debateram com parlamentares e autoridades governamentais acerca da importncia
da ratifcao da conveno para o avano da igualdade de gnero. Como resultado, a conveno foi
ratifcada por unanimidade e o Vice-ministrio do Trabalho deu incio a diversas iniciativas para sua
efetiva implementao.
QUADRO 4
25 23
CAPTULO I
QUADRO 5
AMRI CA LATI NA E CARI BE: ESTADO DA RATI FI CAO DAS CONVENES N 103, N 183 E N 156
Conveno n 103
sobre proteo
maternidade, 1952
Conveno n 183
sobre proteo
maternidade, 2000
Conveno n 156
sobre trabalhadores
e trabalhadoras com
responsabilidades
familiares, 1981
Antigua e Barbuda No No No
Argentina No No Sim (1988)
Bahamas Sim (2001) No No
Barbados No No No
Belize Sim (2000, denunciada) Sim (2005) Sim (1999)
Bolvia Sim (1973) No Sim (1998)
Brasil Sim (1965) No No
Chile Sim (1994) No Sim (1994)
Colmbia No No No
Costa Rica No No No
Cuba Sim (1954, denunciada) Sim (2004) No
Equador Sim (1962) No No
El Salvador No No Sim (2000)
Guatemala Sim (1989) No Sim (1994)
Guiana No No No
Haiti No No No
Honduras No No No
Jamaica No No No
Mxico No No No
Nicargua No No No
Panam No No No
Paraguai No No Sim (2007)
Peru No No Sim (1986)
Trinidad e Tobago No No No
Uruguai Sim (1954) No Sim (1989)
Venezuela Sim (1982, denunciada) No Sim (1984)
24
A agenda global para
a igualdade de gnero
Apenas e na medi da
em que as di sti ntas
necessi dades e real i dades
de homens e mul heres
sej am contempl adas
ser poss vel avanar em
di reo di mi nui o das
al armantes desi gual dades.
.
Os avanos em matria de trabalho decente no so provenientes apenas do mundo do tra-
balho, mas tambm dos marcos valorativos e normativos que reconhecem e garantem a eqi-
dade de gnero.
Os compromissos internacionais relativos igualdade de gnero adquiriram um carter vincu-
lante com a legislao nacional logo aps a adoo da Conveno sobre a Eliminao de Todas
as Formas de Discriminao contra a Mulher (CEDAW), em 1979. A CEDAW, ratifcada por 32
pases da Amrica Latina e Caribe, inclui medidas para eliminar a discriminao no emprego. Em
seu artigo 11 estabelece iniciativas voltadas proteo do direito ao trabalho
como um direito humano inalienvel, garantia das mesmas oportunidades
de emprego, incluindo o direito formao e capacitao, igualdade nos
critrios de seleo e em todos os direitos trabalhistas correspondentes ao
trabalho decente.
A CEDAW inclui a noo de responsabilidades familiares e assinala que se
deve estimular a oferta de servios sociais para permitir que pais e mes
combinem suas obrigaes familiares com as responsabilidades do traba-
lho e a participao na vida pblica. (Esta noo posteriormente enuncia-
da na Conveno n 156 da OIT, sobre trabalhadores e trabalhadoras com
responsabilidades familiares.) Tambm sublinha a importncia de impedir a
discriminao contra as mulheres em razo do matrimnio ou da materni-
dade e assegurar a efetividade de seu direito ao trabalho. Para isso, devero
ser tomadas medidas que impeam a demisso em funo da gravidez, da
licena maternidade e com base no estado civil. Igualmente, a Conveno
estabelece que devem ser implementadas licenas maternidade remune-
radas e oferecida proteo especial s mulheres grvidas em trabalhos que
sejam prejudiciais para elas e para seu/sua flho/a. Para a oferta de servios sociais de apoio, se
prope o fomento de redes de servios destinados ao cuidado infantil.
A CEDAW signifcou um ponto de partida para uma srie de conferncias internacionais sobre os
direitos das mulheres. Em nvel mundial, podem ser mencionados trs marcos particularmente
relevantes para o alcance do objetivo da igualdade de gnero:
1. A Conferncia Mundial que deu incio Dcada das Naes Unidas para a Mulher,
celebrada em Copenhague, em 1980. Esta Conferncia j reconhecia o papel produ-
tivo e reprodutivo das mulheres.
2. A Conferncia Mundial para o Exame e a Avaliao das Conquistas da Dcada das Na-
es Unidas para a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz, celebrada em Nairobi,
em 1985. Neste evento foram entregues recomendaes concretas para avanar em
27
CAPTULO I
direo eqidade entre homens e mulheres, pois foi reconhecido que a igualdade
entre homens e mulheres, longe de ser uma questo isolada, abarcava as distintas
esferas da atividade humana.
3. A Declarao e a Plataforma de Ao de Beijing, adotadas na Quarta Conferncia Mun-
dial sobre a Mulher (1995), ressaltou a necessidade de abordar a desigual distribuio
do trabalho remunerado e no remunerado entre homens e mulheres como um re-
quisito para avanar em direo igualdade de gnero (quadro 6).
CONCILIAO ENTRE AS RESPONSABILIDADES FAMILIARES
E O TRABALHO NA PLATAFORMA DE AO DE BEIJING
O objetivo estratgico F.6 da Plataforma de Ao de Beijing fomentar a harmonizao das responsabili-
dades das mulheres e dos homens no que se refere ao trabalho e famlia. Para isso, os governos devem:
a. Adotar polticas para assegurar que as leis trabalhistas e a proteo social cubram traba-
lhadores em empregos com jornada parcial e empregos temporrios, trabalhadores sazo-
nais e trabalhadores a domiclio, com o objetivo de promover as perspectivas de carreira
em condies de trabalho que conciliem as responsabilidades no trabalho e familiares;
b. Assegurar que as mulheres e os homens possam decidir livremente e em condies de
igualdade se trabalham em jornada completa ou jornada parcial, e examinar a possibili-
dade de proporcionar proteo adequada aos trabalhadores atpicos com relao ao
acesso ao emprego, s condies de trabalho e proteo social;
c. Assegurar, por meio de leis, incentivos, estmulos e oportunidades a mulheres e homens
de obterem licenas e benefcios referentes maternidade ou paternidade; promover a
distribuio das responsabilidades familiares igualmente entre homens e mulheres e pro-
mover medidas que facilitem a amamentao s mes trabalhadoras;
d. Elaborar polticas na rea da educao, para modifcar as atitudes que reforam a diviso
do trabalho com base no gnero, com o objetivo de promover o conceito de responsabi-
lidades familiares compartilhadas no que se refere ao trabalho domstico, em particular,
em relao ateno s crianas e aos idosos;
e. Melhorar o desenvolvimento de tecnologias que facilitem o trabalho profssional e o tra-
balho domstico; promover o acesso a essas tecnologias, estimular a auto-sufcincia e
as atividades geradoras de renda; transformar, no mbito dos processos produtivos, os
papis estabelecidos em funo do gnero; e garantir s mulheres a possibilidade de
obter trabalhos melhor remunerados;
f. Analisar polticas e programas, incluindo as leis sobre proteo social e os regimes fscais,
em conformidade com as prioridades e as polticas nacionais, para determinar como pro-
mover a igualdade de gnero e a fexibilidade na maneira que as pessoas dividem seu
tempo entre a educao, o emprego remunerado, as responsabilidades familiares e ou-
tras atividades, e na forma como se benefciam dessas atividades.
proposta, tambm, a participao do setor privado, das organizaes no governamentais e dos
sindicatos na adoo das medidas relacionadas com temas como as licenas temporrias, a modifca-
o do horrio de trabalho, programas educacionais e campanhas de informao, alm da oferta de
servios de apoio, como creches no local de trabalho, e a instituio de horrios de trabalho fexveis.
Fonte: http://www.un.org/womenwatch/daw/
QUADRO 6
25
28
No Consenso de Qui to,
os governos acordaram
adotar medi das de
co-responsabi l i dade
para a vi da fami l i ar e
l aboral que se apl i quem
i gual mente s mul heres
e aos homens, bem como
de reconheci mento do
trabal ho no remunerado.
26
Em 1995, o PNUD, em seu Relatrio sobre Desenvolvimento Humano A revoluo em direo
igualdade de condies entre os sexos, abordou a contribuio econmica do trabalho reali-
zado pelas mulheres no mbito das famlias e das comunidades. Argumentou-se que o fato das
mulheres terem uma carga de trabalho total maior (remunerado e no remunerado) no impli-
cou que o trabalho feminino obtivesse uma remunerao e um reconhecimento social (PNUD,
1995: 99). O Relatrio de Desenvolvimento Humano, de 1999, tambm abordou o papel dos
cuidados na economia mundial, assinalando que uma das tarefas indispensveis do desenvol-
vimento humano assegurar a oferta de servios de ateno e cuidado na famlia, na comuni-
dade, no Estado e no mercado, nos quais seja reconhecida a distribuio eqitativa e igualitria
entre homens e mulheres com relao ao trabalho e os gastos com ateno e cuidado (PNUD,
1999: 79). O relatrio sublinha a importncia da sociedade construir alterna-
tivas para atender s necessidades de ateno e cuidado que sejam capazes
de equilibrar os direitos individuais e as responsabilidades sociais.
A preocupao com a igualdade de gnero foi tambm reconhecida na
Declarao dos Objetivos do Milnio (ODM), subscrita por 189 pases, em
setembro de 2000. Esta declarao defne oito objetivos de um programa
global de desenvolvimento, que projeta para 2015 uma transformao nas
condies de vida de milhes de pessoas no marco de um compromisso
efetivo. A igualdade de gnero defnida no apenas como um objetivo em
si mesmo, mas tambm como uma dimenso necessria para a consecuo
dos outros sete ODM. O Pargrafo 20 da declarao explicita o compromis-
so dos Estados perante as Naes Unidas de promover a igualdade entre
os sexos e a autonomia das mulheres como meios efcazes de combater a
pobreza, a fome e as enfermidades e de estimular um desenvolvimento ver-
dadeiramente sustentvel.
A formulao deste objetivo implica o reconhecimento de que apenas e
na medida em que as distintas necessidades e realidades de homens e mu-
lheres sejam contempladas, ser possvel avanar em direo diminuio
das alarmantes desigualdades presentes na regio, o que tambm se coloca
como condio sine qua non para que as polticas possam ser efcazes. A
autonomia das mulheres ser apenas declamatria enquanto no sejam estabelecidas polticas
efetivas, infra-estrutura e servios de cuidado que envolvam no apenas os homens em condi-
es de igualdade de responsabilidade mas tambm o Estado e as empresas privadas.
Na Declarao Ministerial sobre a gerao de emprego e trabalho decente aprovada pelo Con-
selho Econmico e Social (ECOSOC), em 2006, este objetivo foi reconhecido como transversal a
todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milnio. Considerando que a normativa da OIT in-
corpora a no discriminao como parte dos princpios e direitos fundamentais, esta declarao
tem efeitos importantes para a igualdade de gnero no trabalho, particularmente com relao
harmonizao de obrigaes produtivas e reprodutivas, tal como assinala a Conveno n 156.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
29
CAPTULO I
No plano regional, cabe destacar a importncia da X Conferncia Regional sobre a Mulher da
Amrica Latina e Caribe, realizada em Quito, em 2007, que abordou um dos temas fundamentais
para a igualdade de gnero: a contribuio das mulheres para a economia e a proteo social,
especialmente com relao ao trabalho no remunerado. No Consenso de Quito, os governos
acordaram adotar medidas de co-responsabilidade para a vida familiar e laboral que se apliquem
igualmente s mulheres e aos homens, bem como de reconhecimento do trabalho no remune-
rado e de sua contribuio para o bem-estar das famlias e para o desenvolvimento econmico
dos pases. Foi reconhecida a necessidade dos Estados assumirem a reproduo social, o cuidado
e o bem-estar da populao como objetivo da economia e como uma responsabilidade pblica
indelegvel (CEPAL, 2007a).
27
30 28
A responsabilidade do estado
e da sociedade
As novas frontei ras
entre o trabal ho produti vo
e reproduti vo envol vem
necessi dades s quai s
o Estado deve dar
uma resposta.
Os avanos em direo ao trabalho decente tm se baseado no dilogo social. Quanto maio-
res so as tenses enfrentadas, mais relevante este dilogo se torna. No mundo do trabalho,
envolve diretamente o Estado, as organizaes empresariais e sindicais. Em certas condies e
com determinados objetivos, pode tambm envolver outras organizaes da sociedade civil,
como o caso dos grupos de mulheres.
POLTICAS PBLICAS DE TRABALHO E FAMLIA
Aos Estados corresponde o papel de proteger e promover os direitos de todos os cidados.
A lista de problemas que merecem uma soluo urgente na regio inclui a necessidade de
resolver as desvantagens enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, melhorar a
qualidade do trabalho daqueles que esto na economia informal e encontrar uma soluo
para a crise dos sistemas de proteo social. Um ponto central oferecer uma infra-estrutura
de cuidado disponvel para o conjunto da populao, independente do tipo de insero no
mercado de trabalho, na perspectiva de avanar em direo a polticas sociais universais. A
interveno do Estado no deve se limitar implementao de polticas especfcas de conci-
liao. Estas devem ser desenhadas a partir de uma viso mais ampla, que inclua o sistema de
proteo social, o sistema tributrio e a forma em que se estrutura a ateno aos/s cidados/
s por parte das instituies pblicas.
Reconhece-se, de maneira crescente, que necessrio proteger o direito dos membros da
famlia a uma convivncia diria, de modo que no tenham que renunciar a ela em funo do
excesso de trabalho. Da mesma forma, deve-se garantir o direito das mes de ter acesso e per-
manecer no mercado de trabalho; dos pais de participarem da convivncia familiar e dos cui-
dados; dos flhos e flhas de receberem cuidados e educao; da populao
idosa e outras pessoas dependentes de permanecerem com a famlia, se
assim o desejarem. Esses temas no podem ser abordados apenas a partir
da esfera privada. As novas fronteiras entre o trabalho produtivo e repro-
dutivo envolvem necessidades s quais o Estado deve dar uma resposta,
seja por meio da oferta direta de servios ou por meio da organizao de
sistemas que garantam a oferta privada.
31
CAPTULO I
O ENFOQUE DE DIREITOS
O denominado enfoque de direitos utiliza o marco conceitual articulado pelos direitos humanos para sua
aplicao s polticas de desenvolvimento, com base nas obrigaes positivas do Estado: ente responsvel
e que deve realizar todos os esforos para alcanar a plena realizao dos direitos civis, polticos e tambm
dos direitos econmicos, sociais e culturais. Os direitos humanos so defnidos e aplicados como um pro-
grama que pode guiar ou orientar as polticas pblicas dos Estados.
O enfoque de direitos considera que o primeiro passo para outorgar poder aos setores excludos reco-
nhecer que eles so titulares de direitos que obrigam o Estado. Ao introduzir este conceito, a inteno
mudar a lgica dos processos de elaborao de polticas, para que o ponto de partida no seja a existncia
de pessoas com necessidades que devem ser assistidas, mas sim sujeitos de direito que demandam deter-
minados benefcios e condutas. As aes empreendidas neste campo no so consideradas apenas como
o cumprimento de mandatos morais ou polticos, mas sim como a via escolhida para tornar efetivas as
obrigaes jurdicas, imperativas e exigveis, impostas pelos tratados de direitos humanos.
Fonte: http://www.un.org/womenwatch/daw/
QUADRO 7
As pol ti cas de
no i nter veno
governamental tm al tos
custos para a soci edade e
tendem a perpetuar
as desi gual dades.
Ao Estado compete a responsabilidade de velar pelo bom funcionamento da sociedade e pelo
efetivo exerccio dos direitos da cidadania. O Estado no neutro na forma como distribui so-
cialmente o trabalho, j que por meio de suas polticas pblicas, instituies e de sua produo
simblica contribui para reproduzir uma certa forma de distribuir o trabalho produtivo e o traba-
lho reprodutivo entre homens e mulheres. As iniciativas para avaliar os efeitos no desejados das
intervenes estatais na distribuio do trabalho reprodutivo e para facilitar a conciliao entre o
mundo do trabalho e o mundo pessoal resultaro em uma maior insero das mulheres no mer-
cado de trabalho, na melhoria das condies para o seu desempenho no trabalho remunerado,
bem como em maior desenvolvimento produtivo.
Muitos debates tm sido realizados sobre qual papel compete ao Estado com relao ao tema
trabalho e famlia. As posies variam desde aquelas que consideram que
corresponde ao Estado um alto grau de responsabilidade na regulao e
oferta de servios de apoio, at aquelas que consideram que este um
assunto privado que deve ser administrado pelas prprias famlias com o
apoio do mercado e com uma interveno estatal mnima.
Na argumentao dos que propem polticas minimalistas, destaca-se o re-
ceio de no haver capacidade no Estado para enfrentar os custos pblicos
associados a estes servios. H, ainda, o temor de que estes servios gerem
menor competitividade por implicarem custos para as empresas. Supe
tambm, que a presena de laos familiares solidrios permitiria cobrir o
cuidado infantil e de outras pessoas que dele necessitem. Porm, esta idia
29
32 30
no sustentvel no tempo e as polticas de no interveno governamental tm altos custos
para a sociedade e tendem a perpetuar as desigualdades (Hein, 2005). A proposta das polticas
minimalistas parte do pressuposto de que o Estado neutro, o que tem se mostrado como
uma noo errnea. necessrio que as polticas pblicas tanto as polticas econmicas como
as sociais e de combate pobreza sejam repensadas a fm de facilitar a conciliao com co-
responsabilidade e promover a autonomia das mulheres.
O desenho de polticas para apoiar a conciliao enfrenta um duplo desafo: indagar a sociedade
sobre a forma como as tarefas de reproduo da fora de trabalho e os cuidados devem ser divi-
didos entre as famlias, o mercado e o Estado e desafar a distribuio tradicional de responsabili-
dades familiares e tarefas domsticas entre homens e mulheres. Desta forma,
fca claro que as polticas de conciliao, para serem sustentveis no tempo,
devem estar estreitamente unidas s de co-responsabilidade.
NOVOS OLHARES A PARTIR DAS EMPRESAS
No nvel internacional, as organizaes de empregadores tm contribudo
de forma decisiva para uma maior igualdade entre homens e mulheres no
trabalho. Em um contexto de crescente compromisso com a igualdade de
gnero, os empregadores podem contribuir de forma decisiva e, tambm,
obter importantes benefcios, especialmente se adotarem um enfoque pr-
ativo (OIT, 2008b). A adoo voluntria de princpios e medidas (por exem-
plo, os Cdigos de Boas Prticas) tem se expandido e bons resultados tm
sido observados. Quando os empregadores atuam por meio de suas organi-
zaes tambm podem infuenciar as reformas em curso de modo benfco
para eles e para a sociedade como um todo.
Neste marco, o Escritrio da OIT de Atividades para os Empregadores
(ACTEMP) tem desenvolvido diversas iniciativas com o objetivo de atender s
necessidades de seus membros, inform-los sobre suas obrigaes legais e
apoi-los em seu cumprimento. Tal como assinala o Relatrio Global A igual-
dade no trabalho: enfrentando os desafos (OIT, 2007a), tem aumentado o nmero de organiza-
es de empregadores que desenvolvem diretrizes e instrumentos para apoiar suas empresas af-
liadas a elaborarem planos que permitam garantir a igualdade de oportunidades. A Organizao
Mundial de Empregadores (OIE) destaca a importncia de apoiar a incorporao das mulheres no
mercado de trabalho por meio de polticas favorveis s famlias (OIE, 2008).
As medidas implementadas nos locais de trabalho podem ser fundamentais para que os traba-
lhadores administrem melhor a relao entre suas obrigaes no trabalho e as responsabilidades
domsticas. Internacionalmente, tem se dado destaque s aes que as prprias empresas po-
dem desenvolver, para alm do que estabelecido por lei, e que contribuiriam para uma melhor
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
necessri o que as
pol ti cas pbl i cas tanto
as pol ti cas econmi cas
como as soci ai s e de
combate pobreza
sej am repensadas a fi m de
faci l i tar a conci l i ao com
co-responsabi l i dade
e promover a autonomi a
das mul heres. .
33
Em um contexto de
crescente compromi sso
com a i gual dade de
gnero, os empregadores
podem contri bui r de forma
deci si va e, tambm, obter
i mpor tantes benef ci os,
especi al mente se adotam
um enfoque pr-ati vo.
CAPTULO I
disposio para o trabalho e, conseqentemente, para um maior desenvolvimento produtivo.
Estas medidas so utilizadas com o objetivo de reter as pessoas com talento e aumentar a pro-
dutividade das empresas por meio da diminuio da rotatividade ou das ausncias e da melhoria
na estabilidade e na motivao. Mesmo o tema sendo recente nas empresas latino-americanas,
algumas tm sido pioneiras em estabelecer medidas mais avanadas que a prpria legislao.
certo que os desafos perpassam todas as unidades produtivas, mas grandes empresas mostram
maiores avanos que as pequenas e mdias, as quais constituem a maioria da estrutura produ-
tiva da regio.
Entre as organizaes empresariais, h uma grande diversidade de posies. Ainda que em al-
guns pases haja um compromisso com o tema, em outros, seu desenvolvimento incipiente.
Difculdades indubitavelmente existem: as medidas so geralmente perce-
bidas como benefcios adicionais que implicam novos custos. Consideran-
do que existe pouca conscincia sobre sua utilidade para a empresa, essas
medidas no so percebidas como investimento. At agora, tampouco
tem havido uma demanda priorizada por parte dos trabalhadores. Ou seja,
a existncia de polticas para abordar os problemas causados pelas difcul-
dades de compatibilizar as responsabilidades laborais com as responsabili-
dades familiares no ainda percebida como algo que possa ser resolvido
no mbito da empresa.
Em que pese esta grande diversidade de posies com respeito a execu-
tar ou no aes de conciliao, alguns elementos comuns podem ser in-
dicados: i) conscincia da importncia dos recursos humanos para o bom
funcionamento da empresa; ii) conscincia da importncia da famlia per
se, sem relacionar este fato diretamente com a produtividade, e sim como
um valor que apia ou sustenta a empresa; iii) percepo do efeito positivo
das medidas, mas no como uma concluso extrada atravs de resultados
de medies realizadas em relao a impactos na produtividade, mas como
deduo lgica de causa e efeito.
Na regio, as medidas que esto em execuo nas empresas no respondem a um modelo
de conciliao de vida laboral e familiar. So prticas de origens e caractersticas diversas,
entre as quais as mais comuns so a flexibilidade de horrios e frias, ou as licenas por
emergncia familiar. Menos comum a organizao de servios de cuidado infantil onde
no obrigatrio por lei.
De qualquer forma, cada vez mais empresas consideram que este tema no deve ser solucio-
nado exclusivamente no mbito privado (entre mulheres e homens), mas sim que elas mesmas
tm uma responsabilidade e um papel a desempenhar que, a longo prazo, as benefciar.
31
34
Apesar dos desafi os
enfrentados pel os
processos de negoci ao
col eti va em vri os
pa ses, a tendnci a
geral tem si do
uma ampl i ao dos
contedos rel ati vos
si tuao das mul heres
trabal hadoras e
promoo da
i gual dade de gnero.
32
SINDICATOS, DIREITOS E CONCILIAO
O objetivo das organizaes de trabalhadores proteger e melhorar, mediante a ao coletiva,
a situao econmica e social dos trabalhadores e trabalhadoras. Devem, portanto, zelar para
que a igualdade de oportunidades e de tratamento seja respeitada e promovida. Assim como as
organizaes de empregadores, os sindicatos tm a responsabilidade de detectar e reconhecer
prticas discriminatrias e combat-las em suas atividades, partindo do interior de suas prprias
organizaes (OIT, 2008a).
Na medida em que a participao das mulheres no mercado de trabalho
aumenta, elas e as agendas de igualdade de gnero passam a estar mais
presentes nas organizaes sindicais. As necessidades relacionadas com a
conciliao entre vida laboral e familiar so relevantes para os sindicatos no
apenas em funo disso, mas tambm em razo do aumento do nmero de
famlias nas quais homens e mulheres so provedores (Hein, 2005).
Desde a dcada de noventa, as organizaes sindicais da regio tm realiza-
do esforos signifcativos para incorporar a preocupao com a igualdade
de gnero em suas estratgias permanentes de ao. E, apesar dos desafos
enfrentados pelos processos de negociao coletiva em vrios pases, a ten-
dncia geral tem sido uma ampliao dos contedos relativos situao
das mulheres trabalhadoras e a promoo da igualdade de gnero. As con-
venes da OIT constituem uma referncia importante para os sindicatos,
pois so instrumentos que reafrmam a legitimidade destes temas nos pro-
cessos de negociao.
Unidades da Mulher Trabalhadora tm sido criadas como parte das estrutu-
ras sindicais. Tambm tm sido estabelecidas instncias para a formao, de-
bate e execuo de programas e projetos com enfoque de gnero. Observa-
se a existncia de reformas nos estatutos sindicais para estabelecer cotas de
participao para mulheres nos rgos de deciso e representao sindical,
assim como para instituir Comisses ou Comits de Mulheres com o objetivo
de que estes designem representantes perante o Comit ou Conselho Exe-
cutivo da organizao sindical (Rodrguez, 2006).
O papel ativo das organizaes sindicais em matria de conciliao entre trabalho e vida familiar
no apenas contribui para fortalecer estas polticas, mas tambm resulta em maior fora perante
a populao trabalhadora.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
35
CAPTULO I
A CONTRIBUIO DA NEGOCIAO COLETIVA
A negociao coletiva um importante instrumento para reforar o cumprimento dos direitos
legais e promover avanos em direo igualdade de gnero e conciliao entre vida laboral
e familiar. Ainda que a incorporao das reivindicaes de gnero nas clusulas de negociao
coletiva seja incipiente, estes temas so de grande relevncia para a vida no trabalho, como foi
comprovado por estudo realizado pela OIT em seis pases da regio (Abramo e Rangel, 2005). O
processo de negociao coletiva uma ferramenta para a ampliao dos direitos e benefcios
previstos por lei e da instituio de outros.
Atualmente, os marcos legais de pases latino-americanos cumprem com os pontos centrais das
convenes da OIT em matria de proteo maternidade e a negociao coletiva tem sido um
poderoso instrumento para alcanar estas conquistas. Ao analisar as clusulas relativas a temas de
gnero, o estudo mencionado aponta que 91% delas se referiam proteo maternidade e s
responsabilidades familiares. Pouco mais da metade (55%), delas representavam um avano em
relao ao estabelecido na legislao trabalhista do respectivo pas. Os 45% restantes reafrma-
vam os dispositivos dessa mesma legislao.
PAPEL DOS SINDICATOS NA CONCILIAO ENTRE VIDA LABORAL E FAMILIAR NO CARIBE
No Caribe, os sindicatos tm conquistado acordos sobre temas no cobertos pela legislao com vis-
tas a ampliar o perodo de licena maternidade. O sindicato de bancos e seguros (Banking, Insurance
and General Workers Union, BIGWU) de Trinidad e Tobago, que representa os trabalhadores de mais
de 60 empresas, em sua maioria mulheres, conseguiu negociar o perodo de 14 semanas de licena
maternidade em 75% das convenes coletivas (uma semana adicional); e no caso de uma compa-
nhia de seguros, se conquistou o perodo de 16 semanas.
Nos pases do Caribe de lngua inglesa, no existem leis sobre licena paternidade e, com relao a
este tema, vrios sindicatos tm conquistado avanos, que variam desde dois dias at duas semanas
de licena, no caso de algumas empresas em Antigua e Barbuda. Em Barbados, a durao da licena
paternidade negociada nas convenes coletivas , normalmente, de cinco dias e est includa em
aproximadamente 15 instrumentos. A j mencionada BIGWU de Trinidad e Tobago conseguiu nego-
ciar a licena paternidade de trs dias em 75% de suas convenes coletivas; e de cinco dias, em 25%
dos casos. Entre outros avanos alcanados por este sindicato est o acordo sobre um dia livre por
ano por flho para visitas escolares, um direito disponvel para trabalhadores e trabalhadoras.
Estes avanos refetem a preocupao das organizaes sindicais com as difculdades enfrentadas dia-
riamente por trabalhadoras e trabalhadores, que tm suas razes no confito entre vida laboral e familiar.
O sindicato utiliza as convenes pertinentes da OIT (n 156 e n 183) como ferramentas de negociao.
Fonte: Estudo de Gaietry Pargass elaborado para este relatrio
QUADRO 8
33
36 34
Um desafo pendente que as propostas sobre esta matria sejam direcionadas para homens e
mulheres, pois continua presente a compreenso de que este um tema de mulheres.
Uma srie de fatores difculta os avanos nesse tema. Entre eles, destacam-se o enfraquecimento
geral dos processos de negociao coletiva na regio durante os anos noventa, os problemas re-
lacionados aplicao da legislao trabalhista, a menor cobertura relativa de mulheres nos pro-
cessos de negociao coletiva devido a sua sobre-representao nos segmentos mais precrios e
desregulados. Soma-se a isso a escassa presena feminina na direo dos sindicatos e instncias ne-
gociadoras
3
, ou seja, nesses espaos as mulheres ainda enfrentam o chamado teto de vidro me-
canismos que difcultam sua presena e participao em igualdade de condies com os homens.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
PRINCIPAIS AVANOS COM RELAO PROTEO MATERNIDADE E S
RESPONSABILIDADES FAMILIARES POR MEIO DA NEGOCIAO COLETIVA (1996-2001)
a. Gravidez
Ampliao do perodo de proteo contra a demisso de mulheres grvidas (Brasil)
Reduo da jornada de trabalho para mulheres grvidas (Brasil)
Licena para exame pr-natal (Brasil)
Licena e proteo contra a demisso em caso de aborto espontneo (Brasil)
b. Licena maternidade
Pagamento de complemento salarial (Paraguai) e garantia de salrio integral durante a
licena maternidade (Uruguai)
Extenso da licena maternidade at 36 dias a mais que o permitido pela legislao
(Paraguai)
Licena maternidade nos casos de flho/a no nascido/a (Argentina)
Ampliao da licena nos casos de nascimento mltiplo e de flhos/as com alguma
defcincia (Argentina)
c. Amamentao
Extenso do tempo dirio dedicado amamentao (Argentina, Paraguai, Uruguai)
Ampliao do prazo de durao da amamentao (Brasil, Uruguai)
d. Cuidado com os/as flhos/as
Licena para acompanhamento de flhos/as por questes de sade e educao (Brasil)
Licena de at quatro horas dirias em caso de enfermidade de flho/a menor de um ano (Chile)
Ampliao do tempo de durao do benefcio de creche (Brasil e Paraguai)
e. Paternidade
Instituio da licena paternidade (Uruguai e Venezuela)
Ampliao do perodo de licena paternidade (Brasil, Chile, Paraguai)
Proteo contra a demisso do pai por nascimento de flho/a (Brasil)
Extenso aos pais do direito creche (Brasil)
f. Adoo
Ampliao dos direitos para pais e mes adotivos/as (Brasil, Paraguai)
g. Responsabilidades familiares
Licena por enfermidade grave de parente direto (Chile, Paraguai)
Fonte: Abramo e Rangel (2005)
QUADRO 9
3 Por exemplo, na ltima rodada de negociao coletiva no Uruguai, as mulheres estiveram presentes em 8 dos
21 grupos, somando 13 do total de 84 delegados (15,6%).
37
Corresponde s
organi zaes
de mul heres assumi r
um papel de l i derana
para que a conci l i ao
com co-responsabi l i dade
soci al no sej a apenas
par te da agenda,
mas tambm obj eto
de pol ti cas pbl i cas.
35
CAPTULO I
O PAPEL NECESSRIO DA SOCIEDADE
A sociedade civil e suas diversas organizaes, especialmente as organizaes de mulheres, tem
desempenhado um papel crucial na eliminao da discriminao e nos avanos em direo ao
fortalecimento da cidadania das mulheres. Tambm tem assumido um papel cada vez mais pro-
tagonista na insero do tema da conciliao com co-responsabilidade social no debate pblico.
Este fato expressou-se claramente no papel que as ONG tiveram na X Conferncia Regional da
Mulher, celebrada em Quito, em 2007 ocasio em que este tema foi assumido de forma eviden-
te como prioridade nas agendas.
A crescente preocupao com estes temas tem se manifestado de diferen-
tes maneiras. Diversas organizaes tm elaborado diagnsticos e recomen-
daes sobre a conciliao entre vida familiar e laboral, com base em estu-
dos pioneiros realizados na regio, como os estudos apoiados pelo Fundo
de Populao das Naes Unidas (UNFPA), pelo Fundo de Desenvolvimento
das Naes Unidas para a Mulher (UNIFEM) e pela Agncia de Cooperao
Espanhola (AECI).
Porm, corresponde s organizaes de mulheres assumir um papel de lide-
rana para que a conciliao com co-responsabilidade social no seja ape-
nas parte da agenda, mas tambm objeto de polticas pblicas. Elas podem
contribuir para o reconhecimento deste tema ao assumi-lo em suas agen-
das, apresentando propostas que afrmem as relaes de eqidade entre
homens e mulheres. Alm disso, elas tm um importante papel a desempe-
nhar para garantir que as solues construdas sejam coletivas e no apenas
privadas. Seu envolvimento neste processo contribuir para a articulao de
aes e interesses e para a construo de alianas com o Estado, com as
empresas e com os sindicatos.
Alm das organizaes de mulheres, a regio latino-americana e caribenha
conta, indubitavelmente, com um denso tecido social dedicado ao apoio
infncia, aos idosos, a pessoas com defcincia e, em geral, dedicadas a promover o desen-
volvimento humano de distintos grupos da sociedade. Um dos desafos articular os esforos
destes atores e organizaes com o duplo objetivo de impulsionar o tema na agenda pblica, e
tambm de demandar e exercer controle com relao ao cumprimento das polticas e medidas
acordadas. Os compromissos assumidos pelos governos com relao ao trabalho decente e
eqidade de gnero constituem ferramentas para o conjunto da sociedade, pois todas as pes-
soas, direta ou indiretamente, dependem do trabalho e sofrem as conseqncias de viver em
contextos de grande desigualdade.
38
39
Trabalho e Famlia
no Sculo XXI:
mudanas e tenses
C A P T UL O I I
40 38
Durante a maior parte do sculo XX, a vida familiar e laboral se organizou em torno do modelo
tradicional de famlia, sob a seguinte lgica: o homem, chefe de domiclio, era o encarregado de
trabalhar remuneradamente e receber um salrio familiar com o qual se assegurava a manuten-
o de todos os membros do grupo. A mulher, de outra parte, tinha a seu cargo as tarefas da casa
e o cuidado das crianas, em troca dos quais no recebia nenhuma remunerao.
Uma srie de pressupostos caracteriza esta estrutura. Por exemplo, se espera que o homem conte
com trabalho remunerado fora do lar, por toda a vida e em tempo completo e que a mulher per-
manea a maior parte do tempo em casa, concentrada no cuidado de sua famlia. Acaso trabalhe
fora do domiclio, este considerado complementar ao salrio recebido por seu cnjuge e, como
tal, secundrio.
O tipo de domiclio a partir do qual se constri esta estrutura tambm possui caractersticas parti-
culares: trata-se de famlias biparentais, com matrimnios estveis e nas quais a mulher renuncia a
garantir-se uma vida economicamente independente. Sua subsistncia e proteo social estaro
garantidas, em boa medida, a partir dos direitos adquiridos por seu cnjuge.
Hoje, este modelo no corresponde realidade das famlias e da vida em sociedade na Amrica
Latina e Caribe. Estas experimentaram, durante as ltimas dcadas, uma srie de mudanas so-
ciais e econmicas que modifcaram as formas de constituir famlia e a organizao do trabalho.
O que aconteceu? Mudou a estrutura familiar. Diminuram as famlias extensas em que convi-
vem pais e avs - e aumentaram as monoparentais, de forma que muitos domiclios j no pos-
suem uma pessoa que possa se dedicar exclusivamente ao cuidado e outras tarefas reprodutivas.
Tambm foram registradas transformaes demogrfcas j que a populao est envelhecendo,
trazendo consigo novas demandas de ateno. O mercado de trabalho no o mesmo de an-
tes, caracterizando-se pela insegurana e a informalidade e os trabalhadores difcilmente podem
controlar a durao e intensidade de suas jornadas. Por ltimo, mudou tambm a sociedade e
os motores que a impulsionam: as mulheres possuem hoje mais anos de educao e valorizam
sua autonomia, os homens jovens tm expectativas diferentes daquelas de seus pais e avs em
relao ao papel que querem cumprir no interior de suas famlias.
A isto se soma a precariedade no trabalho e o dfcit de trabalho decente, associados economia
informal, onde esto ocupadas mais da metade das trabalhadoras da regio.
Como resultado, h um crescente desequilbrio entre a vida familiar e o mundo do trabalho. So
enormes as presses que ambos os mundos exercem sobre trabalhadoras e trabalhadores com
responsabilidades familiares, particularmente as mulheres, pois freqentemente est a seu cargo
a maior parte das tarefas do domiclio e, ao mesmo tempo, por diversas razes, elas tambm se
encontram com maior freqncia nos empregos precrios e mal remunerados.
Em resumo: mudaram as famlias e suas fontes de renda. Mas, ainda h um processo to impor-
tante quanto este: o de transformao cultural. De acordo com os dados recolhidos pelas pesqui-
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
41
A pesar da mai or
par ti ci pao das mul heres
no trabal ho remunerado,
el as conti nuam dedi cando
mui tas horas s tarefas
domsti cas.
39
CAPTULO II
sas de uso do tempo, apesar da maior participao das mulheres no trabalho remunerado, elas
continuam dedicando muitas horas s tarefas domsticas. Quer dizer, os homens no assumiram
de maneira equivalente a co-responsabilidade nas tarefas domsticas.
O problema cultural no apenas masculino. O funcionamento das sociedades em geral - com
suas regras no escritas, instituies e horrios - ainda se apia no pressuposto de que h uma
pessoa dedicada completamente ao cuidado da famlia. Esta situao afeta especialmente as
mulheres - que vem limitadas suas alternativas de trabalho e enfrentam jornadas extenuantes -
e particularmente as mais pobres que, conforme mostram as estatsticas, so as que mais tempo
destinam s tarefas do domiclio Quais as implicaes disto? Que o uso do tempo reproduz as
desigualdades socioeconmicas e de gnero que caracterizam a regio.
A ltima parte deste captulo aborda a situao da migrao feminina. Este tema talvez uma
mostra eloqente dos enormes desafos experimentados pelas autoridades da regio na hora
de apoiar os esforos realizados pelas famlias, trabalhadores e trabalhadoras,
para responder a uma srie de demandas para obter melhores rendimentos,
educar os flhos e flhas, e cuidar dos idosos.
Hoje, na Amrica Latina e Caribe, a migrao basicamente feminina e im-
plica extensas cadeias de cuidado encabeadas, na maioria dos casos, por
mes, irms e avs que permanecem nos pases de origem. Trata-se de mu-
lheres que preenchem enormes vazios tanto nos pases para onde viajam
como nas suas naes de origem e, desta forma, subsidiam as economias
atravs do seu trabalho. Isto, sem dvida, com considerveis custos pessoais
e familiares.
40
Mai s de 100 mi l hes de
mul heres par ti ci pam do
mercado de trabal ho.
O aumento na participao econmica das mulheres uma das mudanas mais signifcativas
do sculo XX. Alm do trabalho como direito, fonte de autonomia e realizao pessoal, uma das
principais razes que explica este processo a crescente importncia da renda econmica das
mulheres no sustento de suas famlias. Seu aporte fundamental para cobrir necessidades bsi-
cas e reduzir ou evitar condies de pobreza.
MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO
Na Amrica Latina e Caribe, mais de 100 milhes de mulheres participam do mercado de traba-
lho (CEPAL, 2008a). Isto equivale, em mdia, a cinco em cada dez mulheres em idade de traba-
lhar. Consideradas apenas as que tm entre 20 e 40 anos, ou seja, em idade reprodutiva, a cifra
aumenta para sete a cada dez (70%) (Grfco 1).
A integrao das mulheres ao mercado de trabalho foi um processo constante nos ltimos 20
anos. Em 1990, em zonas urbanas, sua taxa de participao alcanava 32%
em mdia: 21 pontos percentuais menor do que o registrado em 2008.
Desta forma, como a participao econmica feminina aumentou, a mascu-
lina diminuiu levemente. Em decorrncia, a diferena de participao entre
homens e mulheres caiu. No entanto, e apesar de terem mais anos de edu-
cao do que eles, as mulheres apresentam ainda uma insero no mercado
de trabalho menor do que os homens. Esta diferena, na mdia regional,
ainda de 25 pontos percentuais (Grfco 2).
Uma explicao para este fato que, uma vez terminado o ciclo de educao, os homens se
inserem no mercado de trabalho e permanecem ativos at a aposentadoria. A insero no tra-
balho das mulheres, ao contrrio, est condicionada por outros fatores: a presena de crianas
ou idosos no domiclio, como tambm o casamento, determinam uma menor incorporao
fora de trabalho. De fato, as mulheres casadas tm uma taxa de participao menor que as
solteiras, divorciadas ou vivas. Segundo documentam vrios estudos, enquanto constituir uma
famlia e estabelecer uma unio conjugal faz com que os homens aumentem sua participao
no mercado de trabalho, no caso das mulheres, esta diminui (CONAMU, 2006, Uribe-Echeverra,
2008). Em suma, no caso das mulheres, as responsabilidades familiares atuam como barreiras ou
desincentivos insero no mercado de trabalho.
Participao feminina, autonomia e
bem estar na Amrica Latina e Caribe
CAPTULO II
43
As responsabi l i dades
fami l i ares atuam como
barrei ras ou desi ncenti vos
i nsero no mercado
de trabal ho.
A IMPORTNCIA DO TRABALHO DAS MULHERES PARA ELAS E SUAS FAMLIAS
Na atualidade, para garantir seu bem estar, as famlias necessitam da contri-
buio de ambos os membros do casal (e, no caso dos grupos mais pobres,
de flhos e flhas). Esta insufcincia de renda resultado de diversas causas:
maior desemprego masculino, aumento da informalidade e a precarizao
dos trabalhos, com a conseqente perda de poder aquisitivo das remune-
raes. Noutros casos, a insero laboral de ambos os membros do casal
uma resposta s mudanas nos padres de consumo e estilos de vida, que
geram novas necessidades entre os integrantes das famlias.
Fonte: CEPAL e OIT, a partir de tabulaes especiais das pesquisas
domiciliares dos respectivos pases.
GRFI CO 2
AMRI CA LATI NA: EVOLUO DAS TAXAS DE PARTI CI PAO, POR SEXO,
1990-2006
1990
Mulheres
Homens
1994 1997 1999 2002 2007
Mulheres Homens Mdia Mulheres Amrica Latina
GRFI CO 1
AMRI CA LATI NA E CARI BE: TAXA DE PARTI CI PAO NO MERCADO DE
TRABALHO, POR SEXO, 2007
B
o
l
v
i
a
P
e
r
u
B
r
a
s
i
l
P
a
r
a
g
u
a
i
E
q
u
a
d
o
r
U
r
u
g
u
a
i
C
o
l
m
b
i
a
A
r
g
e
n
t
i
n
a
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
V
e
n
e
z
u
e
l
a
M
x
i
c
o
G
u
a
t
e
m
a
l
a
P
a
n
a
m
C
o
s
t
a
R
i
c
a
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
N
i
c
a
r
g
u
a
C
h
i
l
e
H
o
n
d
u
r
a
s
Fonte: CEPAL (2008a).
80
60
40
20
0
100
80
60
40
20
0
100
41
Na Amrica Latina e Caribe, a renda do trabalho das mulheres alivia a pobreza de maneira evi-
dente, os dados assim o demonstram: em domiclios onde as cnjuges no tm renda prpria, a
incidncia relativa de pobreza maior (Grfco 3). Segundo estimativas realizadas pela CEPAL
1
, a
contribuio das cnjuges renda familiar reduz a pobreza de maneira considervel. Retirada sua
contribuio, a pobreza urbana aumentaria dez pontos percentuais e a pobreza rural, sete.
Um fator que incide no aumento da participao feminina a crescente presena de famlias
com chefa feminina. Em torno de um tero dos domiclios da regio depende da renda de
uma mulher que mantm sua famlia, via de regra, sem o apoio de um cn-
juge. A importncia do trabalho remunerado das mulheres ainda maior
quando, aps a ruptura da relao conjugal, os homens no assumem sua
responsabilidade parental.
O crescimento econmico e a globalizao so tambm elementos que in-
furam na maior integrao das mulheres. Nas ltimas dcadas, por exemplo,
ocorreu um incremento de oportunidades em setores onde tradicionalmen-
te elas se empregam: comrcio e servios.
O trabalho no apenas um recurso econmico, mas tambm um meio de
desenvolvimento de necessidades sociais, auto-estima e espaos prprios. A
maior participao feminina no mercado de trabalho e a gerao de renda
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
42
Fonte: CEPAL, Diviso de Assuntos de Gnero, a partir de tabulaes especiais
das pesquisas domiciliares dos respectivos pases.
GRFI CO 3
AMRI CA LATI NA (14 PA SES): MAGNI TUDE DA POBREZA EM DOMI C LI OS BI PARENTAI S
SEM E COM A CONTRI BUI O DAS CNJUGES RENDA FAMI LI AR. ZONAS URBANAS E
RURAI S, EM TORNO DE 2005 ( EM % DE DOMI C LI OS POBRES)
80
60
40
20
0
U
r
u
g
u
a
i
C
o
s
t
a
R
i
c
a
100
H
o
n
d
u
r
a
s
B
o
l
v
i
a
P
a
r
a
g
u
a
i
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
E
q
u
a
d
o
r
B
r
a
s
i
l
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
M
d
i
a
d
o
s
P
a
s
e
s
C
o
l
m
b
i
a
M
x
i
c
o
P
a
n
a
m
C
h
i
l
e
C
o
s
t
a
R
i
c
a
H
o
n
d
u
r
a
s
B
o
l
v
i
a
P
a
r
a
g
u
a
i
C
o
l
m
b
i
a
E
q
u
a
d
o
r
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
M
d
i
a
d
o
s
P
a
s
e
s
B
r
a
s
i
l
M
x
i
c
o
A
r
g
e
n
t
i
n
a
P
a
n
a
m
C
h
i
l
e
Zonas Urbanas Zonas Rurais
com contribuio da cnjuge
sem contribuio da cnjuge
1 Processamento dos dados das pesquisas domiciliares dos pases realizado pela Diviso de Assuntos de Gnero.
Em torno de um tero
dos domi c l i os da regi o
depende da renda de uma
mul her que mantm sua
fam l i a, vi a de regra, sem
o apoi o de um cnj uge.
CAPTULO II
prpria redundam tambm em um aumento do nvel de autonomia das mulheres, maior satis-
fao com suas vidas e melhoria de seu poder de negociao no interior da famlia. Elementos
culturais, como o reconhecimento de seus direitos e a maior presena de
mulheres na esfera pblica, o aumento de seu nvel de educao e maiores
expectativas de desenvolvimento autnomo, esto, tambm, por trs do au-
mento de mulheres no mercado de trabalho. De fato, as jovens tm taxas de
participao muito mais altas que as mulheres adultas: mais de 60% em toda
a regio, entre as que possuem de 25 a 34 anos (grfco 4). Junto com o maior
nvel de escolaridade, as mulheres foram assumindo padres de identidade
nos quais o projeto ocupacional tem um lugar central.
Devido s razes antes mencionadas, se considera que a incorporao massiva das mulheres
fora de trabalho um fenmeno irreversvel. De fato, continuar crescendo j que estimativas
bastante conservadoras mostram que at o fnal desta dcada a participao feminina no merca-
do de trabalho chegar a 53,5% e, em 20 anos, alcanar 60% (grfco 5).
43
A i ncorporao massi va
das mul heres fora de
trabal ho um fenmeno
i rrevers vel.
Fonte: CEPAL (2008a).
GRFI CO 4
AMRI CA LATI NA E CARI BE: TAXAS DE PARTI CI PAO DE MULHERES JOVENS
DE 25 A 34 ANOS ( EM %)
80
60
40
20
0
A
r
g
e
n
t
i
n
a
U
r
u
g
u
a
i
B
r
a
s
i
l
C
o
s
t
a
R
i
c
a
C
h
i
l
e
M
x
i
c
o
V
e
n
e
z
u
e
l
a
P
a
n
a
m
P
e
r
u
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
B
o
l
v
i
a
H
o
n
d
u
r
a
s
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
P
a
r
a
g
u
a
i
G
u
a
t
e
m
a
l
a
C
o
l
m
b
i
a
N
i
c
a
r
g
u
a
100
E
q
u
a
d
o
r
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
44
Fonte: CELADE (2007).
GRFI CO 5
PROJEES DA PEA MASCULI NA E FEMI NI NA, 2010-2030
( EM %)
80
60
40
20
0
2010
100
PEA Feminina
PEA Masculina
2015 2020 2025 2030
45
A crescente integrao dos mercados mundiais em matria de comrcio, fnanas e informao
tem importantes efeitos na regio, abrindo oportunidades de desenvolvimento, ampliando os
mercados internacionais e melhorando a competitividade das empresas. No entanto, os resulta-
dos sociais deste processo so pouco satisfatrios.
O Relatrio da Comisso Mundial sobre a Dimenso Social da Globalizao, criada pela OIT em
2001, concluiu que o processo atual de globalizao produziu resultados muito desiguais entre
os pases e no interior deles; e que estas desigualdades so inaceitveis do ponto de vista moral
e insustentveis do ponto de vista poltico (OIT, 2004). O Relatrio constata uma srie de conse-
qncias negativas do processo de globalizao, dentre as quais se destacam:
intensifcao da excluso social
aumento da distncia entre a economia global formal e a economia local informal
Na Amrica Latina e Caribe, estas mudanas fortaleceram um tipo de estru-
tura de produo altamente informal, de pequena escala e baixa produtivi-
dade. A precarizao, a mobilidade da mo de obra e o dfcit de trabalho
decente so alguns dos traos que caracterizam este processo. Neste con-
texto, as mulheres conseguiram acesso a mais empregos, mas de qualida-
de questionvel em termos da remunerao, proteo social, estabilidade e
exerccio de direitos do trabalho.
TRABALHOS CRESCENTEMENTE ATPICOS
O problema da precariedade no trabalho est longe de ser um tema exclusivamente feminino.
Atualmente, homens e mulheres se sentem mais inseguros sobre suas possibilidades de prover
renda devido s seguintes mudanas na natureza dos empregos (Standing, 1999):
Aumento da rotatividade e insegurana no trabalho.
Diminuio da regularidade do uso da fora de trabalho e o conseqente controle do
tempo destinado ao trabalho.
Mudanas nos sistemas de remunerao, aumentando a intensidade dos ritmos de
trabalho.
Diminuio da cobertura da previdncia social.
Multiplicao de novos tipos de empregos: temporrios, em tempo determinado, tra-
balho por conta prpria, subemprego, subcontratao e uma srie de trabalhos de-
senvolvidos em zonas cinzentas em termos ocupacionais.
O novo cenrio de trabalho ao qual as
mulheres se incorporam
As mul heres
consegui ram acesso
a mai s empregos,
mas de qual i dade
questi onvel.
Em suma, os chamados trabalhos atpicos que no contam com os benefcios de um emprego
regular, como frias, licena maternidade ou doena e aposentadoria tornam-se crescentemen-
te tpicos. A proporo da fora de trabalho protegida pelas leis do trabalho diminuiu, em prejuzo
tanto dos homens como das mulheres.
O tempo de trabalho tambm variou. A distribuio regular da jornada - com horrio de entrada
e sada relativamente estvel e previsvel reduziu-se, dando lugar a novas modalidades com
turnos, jornada interrompida, jornada livre ou fexvel (Daz, 2004).
Alm disso, h uma ampliao das jornadas que incluem, com maior freqncia, o trabalho nos
fns de semana e feriados. A maior intensidade no ritmo de trabalho se relaciona estreitamente
com as mudanas experimentados na estrutura salarial, que tem hoje um forte componente
varivel, muitas vezes associado ao cumprimento de metas. Isto exige que os trabalhadores de-
sempenhem suas tarefas em horrios mais extensos ou em um ritmo mais
rpido, a fm de receber um salrio que muitas vezes no supera o mnimo.
As mudanas mencionadas ocasionam maiores graus de esgotamento e
menos horas de descanso, vida familiar, social e pessoal, o que finalmente
produz fortes tenses entre o trabalho remunerado e as responsabilida-
des familiares.
Segundo Hirata (2003), o emprego tpico e as trajetrias de trabalho con-
tnuas so prprias dos homens, enquanto a inatividade e o emprego em
condies atpicas so, freqentemente, as alternativas disponveis para as
mulheres. Se o emprego tpico se caracterizava por no levar em conta as
responsabilidades familiares, no caso dos postos atpicos, pelas razes expos-
tas, se agravam ainda mais as tenses entre vida laboral e familiar.
A tendncia a flexibilizar o trabalho feminino deve-se diviso sexual do
trabalho. Isto , em nome da conciliao entre a vida familiar e laboral,
que vista como um problema das mulheres, se flexibiliza seu tempo de trabalho e tambm
seus salrios, que so assumidos como complementares.
A fexibilizao do trabalho feminino se refete nas mudanas experimentadas pelas diversas ocu-
paes que se caracterizam por ter uma alta participao de mulheres. O setor de comrcio e as
grandes lojas, por exemplo, possuem sistemas de turnos nos quais se revezam os dias de descanso
e trabalho e os horrios de entrada e sada so imprevisveis. Na rea de telefonia e comunicaes,
as plantas das operadoras so elaboradas em funo de turnos mveis cujo objetivo acomodar-
se s necessidades da empresa e de seus clientes. No comrcio varejista e nos supermercados foi
imposta a chamada jornada interrompida, que implica estender o horrio de almoo dos traba-
lhadores (que no computado como tempo de trabalho) de forma a assegurar sua presena nas
horas de maior atividade e evitar o pagamento de horas extras. Desta forma, a jornada real muito
maior, porque o tempo de descanso no sufciente para se chegar at em casa.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
46
Os chamados trabal hos
at pi cos que no
contam com os benef ci os
de um emprego regul ar,
como fri as, l i cena
materni dade ou doena e
aposentadori a tornam-
se crescentemente t pi cos.
CAPTULO II
Outra expresso das novas formas de organizao do trabalho so os horrios extremamente
frouxos. Os vendedores de bens intangveis, por exemplo, os vendedores de seguros, na prtica,
trabalham freqentemente jornadas superiores, j que suas remuneraes tm um importante
componente varivel associado ao cumprimento de metas. Uma situao similar enfrentam os
trabalhadores de livre disposio, que permanecem em contato espera de uma demanda.
A multiplicao deste tipo de alternativas tem como conseqncia que cada vez mais mulheres
trabalham em jornadas extremas: ou muito curtas (menos de 20 horas semanais) ou muito exten-
sas (mais de 48). Os dados indicam que, no setor informal, um quinto das mulheres tem jornadas
muito curtas e 25% se encontram no segundo grupo. Em condies como estas difcil, para
qualquer trabalhador, assumir responsabilidades familiares.
Tambm se produziram mudanas importantes nos lugares de trabalho, relacionadas s novas
tecnologias que permitem trabalhar fora da empresa. Modalidades majoritariamente femininas
como o trabalho a domiclio ou o teletrabalho se realizam na prpria casa. So muitas as mu-
lheres que optam por trabalhar em casa, justamente para conciliar as tarefas
remuneradas com as responsabilidades familiares. No entanto, parte impor-
tante do trabalho a domiclio se paga por pea, o que redunda em uma in-
tensifcao e extenso da jornada para aumentar os recursos gerados.
INFORMALIDADE E DESPROTEO
Uma das caractersticas da Amrica Latina e Caribe a histrica importncia
de sua economia informal. Nos anos noventa, a maioria dos novos empregos
criados foi informal. No ano de 2006, 44,9% da populao urbana ocupada
tinha um trabalho deste tipo (CEPAL, 2008b). No perodo recente, se incor-
poraram a este setor novos grupos: trabalhadores mais educados e que, a
partir de seus empregos informais fornecem insumos a empresas formais (Tokman, 2004). Antes
da crise, alguns pases haviam comeado a deter ou reverter a tendncia de crescimento deste
setor, mas as condies que a regio enfrenta atualmente podero signifcar um novo repique da
informalidade. O tema complexo. A precariedade e o dfcit de trabalho decente se concentram
na economia informal.
Outro trao caracterstico da economia informal a alta presena de mulheres. Mais da metade
das trabalhadoras da regio esto ocupadas neste setor. De fato, em 2006, a taxa de informalidade
das mulheres ocupadas era de 50,7%, contra 40,5% para os homens (CEPAL, 2008b). A situao
mais grave ainda para as mulheres negras e indgenas. No Brasil, por exemplo, 71% das mulhe-
res negras so trabalhadoras informais, em comparao com 65% dos homens negros, 61% das
mulheres brancas e 48% dos homens brancos (Abramo, 2007). Na Guatemala, ocorre o mesmo.
Em 2000, neste pas, somente 11% dos ocupados indgenas trabalhavam formalmente, enquanto
para os ocupados no indgenas, a cifra era de 31%
2
(Sauma, 2004).
47
Em nome da conciliao entre
a vida familiar e no trabalho,
que vista como um problema
das mulheres se fexibiliza
seu tempo de trabalho e
tambm seus salrios.
2 Ainda, a populao indgena registrava um ndice de pobreza extrema de 20,1%, quatro vezes superior ao da populao
no indgena.
Na interior da economia informal, a qualidade do emprego das mulheres inferior a dos ho-
mens: seus rendimentos so mais baixos, contam com menor cobertura de seguridade social
e so maioria nos segmentos mais precrios, como o servio domstico e o trabalho familiar
no remunerado. Em 2006, nas zonas urbanas de Amrica Latina e o Caribe, 36% das mulheres
trabalhava por conta prpria ou como familiar no remunerado em comparao com 32% dos
homens. Essa magnitude aumenta mais de 50% na Bolvia, Equador, Guatemala, Honduras e
Peru (CEPAL, 2008b).
A informalidade do trabalho feminino se explica pelas difculdades de acesso a empregos for-
mais, mas tambm pela adaptabilidade dos empregos informais s responsabilidades familiares.
A ausncia de horrios e lugares de trabalho fxos permite s mulheres assumir, em paralelo a
um trabalho remunerado, a totalidade das responsabilidades familiares e as tarefas domsticas.
Mas, o resultado dessa deciso no nada bom. As responsabilidades que levam as mulheres
a se inserir na economia informal as levam tambm a um beco sem sada de empregos de m
qualidade carentes de proteo social. Isto signifca menos pessoas com acesso aposentadoria,
ateno sade, licenas mdicas ou benefcios ligados maternidade.
Na atualidade, na Amrica Latina e Caribe, 44% da populao ocupada urbana
e 37% da populao ocupada total est includa e contribui para os sistemas
de seguridade social, cifra que vem se mantendo praticamente estvel desde
2002. Estas mdias escondem grandes diferenas entre os pases e, quando se
observa a cobertura para toda a populao em idade de trabalhar, o panora-
ma ainda mais desalentador: apenas 15% das mulheres e 25% dos homens
entre 15 e 65 anos esto cobertos pela seguridade social (CEPAL, 2008b).
No apenas a cobertura insufciente, mas a diferena entre os sexos signi-
fcativa. Como se pode observar no grfco 6, a cobertura da PEA feminina muito baixa: supera
50% somente na Costa Rica, Chile e Uruguai e, em pases como Peru e Bolvia, chega a apenas
10%. Isto refete claramente as falhas no acesso aos benefcios e garantias da seguridade social.
A CRISE ECONMICA AGRAVA AS TENSES
A crise econmica mundial est provocando importantes efeitos no emprego. Ainda que no
seja possvel, neste momento, dimensionar sua magnitude, as estimativas foram se tornando
mais pessimistas. Em outubro de 2008, a OIT alertava no Relatrio sobre as Tendncias Mundiais
do Emprego que poderiam ser perdidos 20 milhes de empregos como efeito da crise e, em
janeiro de 2009, ajustou esta cifra para 50 milhes. Destes, cerca de 22 milhes seriam mulheres.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
48
Apenas 15% das mulheres
e 25% dos homens entre
15 e 65 anos esto cober tos
pela seguridade social.
CAPTULO II
J se observam algumas mudanas no mercado de trabalho que se manifestaram em crises an-
teriores. Os dados do ltimo trimestre de 2008 disponveis para a regio mostram que a partici-
pao feminina continua aumentando, mas em ritmo inferior ao verifcado no perodo anterior.
Os mesmo dados mostram que o desemprego masculino aumentou no ltimo trimestre de 2008
em ritmo maior que o feminino, provocando uma diminuio da diferena de desemprego por
sexo. A perda de empregos nos setores que concentram ocupao masculina, como a cons-
truo civil e alguns ramos da indstria, explicam esta situao. Os efeitos da crise no setor de
servios e, particularmente no comrcio, onde se concentra o emprego feminino, se mostraro
provavelmente com maior fora nos prximos meses.
Os efeitos da crise nas mulheres esto fortemente infuenciados por fatores culturais e precon-
ceitos de gnero. Uma contrao econmica mundial pode tambm ameaar os resultados al-
canados em matria de equidade de gnero e aprofundar as desigualdades, a no ser que as
polticas para enfrentar a crise contemplem explicitamente esta dimenso. Sobre este ponto, se
identifcam trs perigos:
i) Que a crise afete as possibilidades de insero laboral e perma-
nncia no emprego das mulheres: preconceitos e mitos sobre
a mulher como fora de trabalho secundria podem conduzir a
que sejam as primeiras a ser despedidas dentro de uma empre-
sa; ou que as autoridades, na hora de desenhar programas de
gerao de emprego, os orientem para setores tradicionalmen-
te masculinos, no suposto de que aqueles que mais necessitam
gerar renda so os homens.
49
Fonte: Rofman, Lucchetti e Ourens (2008).
GRFI CO 6
AMRI CA LATI NA E CARI BE: COBERTURA DA PEA FEMI NI NA PELA SEGURI DADE SOCI AL,
2004-2006
( EM %)
60
40
20
0
A
r
g
e
n
t
i
n
a
U
r
u
g
u
a
i
B
r
a
s
i
l
C
o
s
t
a
R
i
c
a
C
h
i
l
e
M
x
i
c
o
V
e
n
e
z
u
e
l
a
P
a
n
a
m
P
e
r
u
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
B
o
l
v
i
a
H
o
n
d
u
r
a
s
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
P
a
r
a
g
u
a
i
G
u
a
t
e
m
a
l
a
C
o
l
m
b
i
a
N
i
c
a
r
g
u
a
80
E
q
u
a
d
o
r
Uma contrao econmi ca
mundi al pode tambm
ameaar os resul tados
al canados em matri a
de eqi dade de gnero.
ii) Aumento das tarefas no remuneradas no interior do domiclio e, como conseqncia,
um incremento nas tenses entre trabalho e famlia para as mulheres: segundo a ex-
perincia de crises passadas, a diminuio da renda familiar provoca um aumento nos
trabalhos domsticos que as mulheres realizam, pois as famlias tendem a substituir
a compra de bens e servios por sua produo caseira. Neste mesmo sentido, uma
eventual diminuio de servios sociais em mbitos como a sade e a educao pro-
vocar uma sobrecarga nas tarefas das mulheres.
iii) Aumento dos diferenciais de renda entre homens e mulheres, por trs vias: as mu-
lheres na economia informal (mais da metade das ocupadas) correm mais riscos que
suas remuneraes diminuam, j que o funcionamento das instituies laborais que
protegem seus direitos - mais dbil. Devido a fatores culturais que supem que a
mulher cumpre um papel menos importante na manuteno da famlia, acrescidos de
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
50
Programas para enfrentar a crise que incorporam a dimenso de gnero
No Chile, as polticas de emprego implementadas como resposta crise incluram algumas medidas que
promovem emprego feminino. Como parte do Plano de Estmulo Fiscal, foi criado um subsdio ao empre-
go juvenil, correspondente a 30% do salrio mensal. As mulheres trabalhadoras entre 18 e 24 anos tem
direito a uma extenso deste subsdio para cada flho nascido vivo, equivalente durao do perodo pr
e ps-natal.
Em todas as regies do pas foram criados Comits Regionais de Emprego, a fm de mitigar os efeitos da
crise econmica internacional. Na regio dos Lagos, existe uma especial preocupao com o desempre-
go feminino na indstria do salmo, o qual poderia chegar a 60%. Frente a este fato, esto sendo imple-
mentadas diversas linhas de trabalho, tais como projetos de investimento local em mo de obra com 10
bilhes de pesos. Tambm, atravs do Sercotec e o programa Capital Semente, se pretende gerar traba-
lho para cerca de mil mulheres em empresas de menor tamanho. Alm disso, foi programada a criao
de creches na regio, com o que se podero gerar 900 postos adicionais de trabalho e ainda, facilitar a
insero laboral das mes trabalhadoras.
No Brasil, a Secretaria Especial de Polticas para as Mulheres da Presidncia da Repblica - SPM criou o
Grupo Tcnico Crise Internacional e os Impactos sobre as Mulheres, uma equipe de trabalho ad hoc no
mbito do Observatrio Brasil da Igualdade de Gnero, que funciona sob a coordenao da SPM. O grupo
composto pela OIT, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografa e Estadstica), o IPEA (Instituto de Pesquisa
Econmica Aplicada), o Ministrio do Trabalho e Emprego e o DIEESE (Departamento Intersindical de
Estatstica e Estudos Scio-Econmicos), alm de professoras e especialistas convidadas. O objetivo
monitorar os impactos da crise econmica internacional na vida das mulheres. As atividades incluem a
produo de estudos e a difuso sistemtica de informao na perspectiva de gnero, para apoiar a to-
mada de decises e a elaborao de polticas de reverso e compensao dos efeitos da crise mundial.
Fontes: http://www.prensapresidencia.cl/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/
QUADRO 10
CAPTULO II
sua menor presena nas organizaes sindicais e em setores que negociam coletiva-
mente, pode ocorrer que elas sofram uma queda nos seus salrios reais e assumam de
forma desproporcional os custos da crise. Por ltimo, frente necessidade de enfrentar
o aumento do desemprego, possvel que os mecanismos de controle da discrimina-
o salarial percam prioridade.
51
52
Durante as ltimas dcadas, as profundas transformaes sociais e demogrficas geraram
mudanas nas famlias de Amrica Latina e Caribe, incidindo sobre o vnculo que mantm
com a economia e os mercados de trabalho. Isto criou um novo equilbrio de demanda e
oferta de cuidados no interior dos domiclios.
A IMPORTNCIA DA CHEFIA DE DOMICLIO FEMININA NA REGIO
Em primeiro lugar, se observa que as formas tradicionais de famlia deram
lugar a uma grande diversidade (grfico 7). At trs dcadas atrs, domi-
nava na regio o modelo clssico de famlia nuclear, no qual somente o
homem trabalhava remuneradamente. Este modelo perdeu sua impor-
tncia, assim como tambm o das famlias extensas, aquelas em que, alm de mes e pais h
outras pessoas adultas na casa. Em troca, aumentaram as famlias com duas fontes de renda,
os domiclios unipessoais e os monoparentais, nos quais uma s pessoa adulta tem a famlia
a seu cargo.
As novas famlias
Fonte: Arriagada (2007).
GRFI CO 7
AMRICA LATINA (18 PASES): ESTRUTURA DOS DOMICLIOS E FAMLIAS URBANAS, 2005
(% DOMI C LI OS)
30
20
0
F
a
m
l
i
a
s
n
u
c
l
e
a
r
e
s
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
i
s
40
10
F
a
m
l
i
a
s
n
u
c
l
e
a
r
e
s
a
m
b
o
s
o
s
p
a
i
s
t
r
a
b
a
l
h
a
m
F
a
m
l
i
a
s
n
u
c
l
e
a
r
e
s
c
o
m
c
h
e
f
i
a
f
e
m
i
n
i
n
a
F
a
m
l
i
a
s
n
u
c
l
e
a
r
e
s
c
o
m
c
h
e
f
i
a
m
a
s
c
u
l
i
n
a
F
a
m
l
i
a
s
e
x
t
e
n
s
a
s
F
a
m
l
i
a
s
c
o
m
p
o
s
t
a
s
D
o
m
i
c
l
i
o
s
u
n
i
p
e
s
s
o
a
i
s
D
o
m
i
c
l
i
o
s
s
e
m
n
c
l
e
o
c
o
n
j
u
g
a
l
As formas tradi ci onai s de
fam l i a deram l ugar a uma
grande di versi dade.
CAPTULO II
53
2006/2007
1990
Fonte: CEPAL (2008a).
GRFI CO 8
AMRI CA LATI NA (18 PA SES): DOMI C LI OS URBANOS COM CHEFI A FEMI NI NA,
1990-2006/2007
(% DOMI C LI OS)
30
20
10
0
B
o
l
v
i
a
P
e
r
u
B
r
a
s
i
l
P
a
r
a
g
u
a
i
E
q
u
a
d
o
r
U
r
u
g
u
a
i
C
o
l
m
b
i
a
A
r
g
e
n
t
i
n
a
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
V
e
n
e
z
u
e
l
a
M
x
i
c
o
G
u
a
t
e
m
a
l
a
P
a
n
a
m
C
o
s
t
a
R
i
c
a
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
N
i
c
a
r
g
u
a
C
h
i
l
e
H
o
n
d
u
r
a
s
40
GRFI CO 9
AMRI CA LATI NA (11 PA SES): ATI VI DADE DAS MULHERES CHEFES DE
DOMI C LI OS URBANOS, COM PESSOAS MENORES DE 6 ANOS, 2006/2007
60
40
20
0
P
a
r
a
g
u
a
i
E
q
u
a
d
o
r
A
r
g
e
n
t
i
n
a
V
e
n
e
z
u
e
l
a
M
x
i
c
o
P
a
n
a
m
C
o
s
t
a
R
i
c
a
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
N
i
c
a
r
g
u
a
C
h
i
l
e
H
o
n
d
u
r
a
s
80
Fonte: OIT, a partir das pesquisas domiciliares dos pases respectivos.
Donas de casa
Trabalham fora
Outras
GRFI CO 10
AMRI CA LATI NA E CARI BE: PROJEES DO PERCENTUAL DE
POPULAO DE 65 ANOS E MAI S, 2010, 2030 E 2050
20
10
0
2010 2030
25
2050
Fonte: CELADE (2007).
15
5
75 anos e mais
60 anos e mais
Linear
(60 anos e mais)
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
54
Segundo, o tamanho mdio da famlia se reduziu, por trs razes: se postergou a primeira
unio de casal; diminuiu o nmero de filhos/as e aumentou o tempo que transcorre entre
eles, especialmente entre as mulheres de setores mdios e altos de reas urbanas (Arria-
gada, 2004a).
Uma das mudanas mais importantes registradas na regio o incremento dos domiclios com
uma s pessoa adulta responsvel. Esta pessoa quase sempre mulher. De fato, a proporo
de famlias encabeadas por mulheres representa hoje, em mdia, cerca de 30% do total de
domiclios na regio. Em pases como a Nicargua, a cifra se eleva a quase 40%
3
(grfco 8)
Os domiclios monoparentais liderados por mulheres enfrentam enormes dificuldades
para combinar o trabalho domstico e de cuidado com as atividades remuneradas. Deste
fato, do conta dois dados aparentemente contraditrios. O primeiro que a maioria das
mulheres chefes de famlia (entre 52% e 77%) est no mercado de trabalho (grfico 9). No
entanto, estes domiclios tendem a ser pobres: em 11 de 18 pases da regio, a incidn-
cia da extrema pobreza superior aqui do que no resto dos ncleos
familiares (CEPAL, 2008b) Por qu? A principal causa est associada aos
menores rendimentos que auferem estas mulheres, em razo da maior
dificuldade que enfrentam para conciliar o trabalho remunerado com
as responsabilidades familiares sem contar com a ajuda de outros adul-
tos. Frente a uma oferta e cobertura de servios pr-escolares insufi-
cientes, estas mulheres precisam buscar alternativas que geralmente
vo em detrimento do cuidado de seus filhos e filhas ou do trabalho
em que se inserem.
NOVAS DEMANDAS DE CUIDADO EM RAZO DO ENVELHECIMENTO DA
POPULAO
Entre as principais transformaes demogrficas da Amrica Latina e Caribe esto a diminui-
o do ritmo de crescimento e o acelerado processo de envelhecimento populacional.
O aumento da populao de idosos um trao comum em todo o mundo, no entanto, cha-
ma ateno a velocidade deste processo na regio. J em 2002, 20,8% dos domiclios urba-
nos tinha entre seus membros pelo menos um idoso maior e 5,1% mais de dois (Arriagada,
2004b). Estima-se que, atualmente, a populao de pessoas idosas alcana cerca de 9% do
total de habitantes e que, em cinco anos mais, ser de 13%, o que redundar em um incre-
mento importante na demanda de cuidados especializados (grfico 10). No ano de 2050,
as pessoas idosas constituiro 23,4% da populao total, ou seja, praticamente um a cada
quatro latino americanos ser uma pessoa idosa.
3 Um fenmeno recente o leve e incipiente aumento dos domiclios monoparentais de chefia masculina, quer dizer, de
pais que vivem sozinhos com seus filhos/as. Em alguns pases, este fenmeno se relaciona aos processos de migrao
feminina e gera demandas especficas de cuidado.
Famlias encabeadas por
mulheres representam hoje,
em mdia, cerca de 30% do
total de domiclios na regio.
CAPTULO II
55
A segunda grande transformao demogrfica na regio o descenso da fecundidade: sua
taxa global est estimada em 2,4 para o perodo 2005/2010 e em 2,1 para 2015/2020. Assim,
para 2020, a demanda de cuidados para com os menores de idade se reduzir enquanto que,
no caso dos idosos, aumentar. Entretanto, existem importantes diferenas entre os pases
da regio, que se encontram em diversas etapas de transio demogrfica.
Da mesma maneira que o ocorrido em vrios pases de Europa, a reduo da fecundidade e a
postergao do primeiro filho podem estar relacionadas com as dificuldades que enfrentam
as mulheres para conciliar maternidade e trabalho remunerado, dada a ausncia de servio
de cuidado acessveis. Agora, no caso de Amrica Latina e Caribe, as tendncias gerais ocul-
tam importantes diferenas. A zona geogrfica, o setor scio econmico e o nvel educativo
so fatores determinantes em relao ao tamanho e composio das famlias e, conseqen-
temente, na conciliao entre vida laboral e pessoal.
A queda da fecundidade maior nas zonas urbanas que nas rurais. Ainda, as mulheres com
mais anos de estudo tendem a ter filhos/as mais tarde e em menor nmero do que aquelas
de menor educao. As mulheres indgenas apresentam taxa de fecundidade sempre mais
alta do que as no indgenas, tanto em reas urbanas como rurais. Por exemplo, no Panam,
a mdia de filhos de mulheres indgenas de 6,6 e a de mulheres no
indgenas de 2,9 (CEPAL, 2007c).
Nas camadas sociais mais pobres, o problema da conciliao se agrava,
em razo dos menores recursos econmicos com que conta a famlia,
seja para comprar servios de apoio nas tarefas domsticas ou pela
necessidade de atender a um nmero maior de crianas. Por exemplo,
quando se comparam os domiclios urbanos pertencentes aos 20% de
renda inferior com os dos 20% mais ricos, se observa uma importante di-
ferena: nos domiclios mais pobres da Argentina, Bolvia, Mxico, Nicar-
gua, Paraguai e Uruguai, vivem duas pessoas mais do que nos domiclios
mais ricos (CEPAL, 2008a).
A zona geogrfi ca, o setor
sci o econmi co e o n vel
educati vo so fatores
determi nantes em rel ao
ao tamanho e composi o
das fam l i as.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
56
Gravidez adolescente: em 2010, a Amrica Latina ter a segunda taxa mais alta do mundo
Apesar da queda no ndice global de fecundidade na regio, a gravidez precoce aumentou. Quase um
quarto das jovens latino americanas foram mes antes dos 20 anos. No grupo de 15 a 19 anos, para o
perodo 2005/2010, se estima que a taxa alcance 76,2 por mil: a segunda taxa mais alta do mundo depois
da frica.
A maternidade adolescente incide decisivamente nos padres de emprego das jovens e refora as de-
sigualdades de gnero. Suas possibilidades de continuar estudando se vem limitadas, assim como a
formao profssional, todos estes fatores afetando sua preparao para o mundo do trabalho. As jovens
mes em sua grande maioria vivem com seus pais e se dedicam a atividades domsticas: cuidar de seus
flhos/as ou seus irmos menores. As que esto inseridas no mercado de trabalho, em geral, alcanam
ocupaes muito precrias.
A maternidade precoce se concentra entre as adolescentes de domiclios de menor renda e constitui um
fator de reproduo intergeracional da pobreza. Entre os grupos de maiores rendimentos na Amrica
Latina e Caribe, menos de 5% das jovens foram mes antes dos 17 anos, contra 20 a 35% das jovens per-
tencentes a famlias de menor renda (o percentual varia dependendo do pas).
Fonte: OIT (2007a); Valenzuela (2007)
QUADRO 11
57
Enquanto predominava o modelo familiar do homem provedor e da mulher dona de casa, as
famlias da Amrica Latina e Caribe se organizavam em torno a uma clara diviso de tarefas
entre o casal.
Na atualidade, as mulheres compartilham com os homens o papel de prover renda, o que
marca uma mudana drstica no modelo familiar tradicional. No entanto, est pendente o
correlato deste processo: os homens no assumiram de maneira equivalente a co-responsa-
bilidade das tarefas domsticas. Apesar de sua maior participao no trabalho remunerado,
as mulheres continuam a dedicar muitas horas aos trabalhos dentro do domiclio.
O funcionamento das sociedades, no entanto, supe que haja uma pessoa dentro do domic-
lio dedicada completamente ao cuidado da famlia. Os horrios escolares
e dos servios pblicos, de fato, so compatveis com os de uma famlia
cujos integrantes tm jornadas de trabalho definidas. E no foi gerado
um aumento suficiente na proviso de infra-estrutura e servios de apoio
para cobrir as necessidades das crianas e outras pessoas dependentes.
Por isso se agravam as tenses, pois a crescente participao feminina
no mercado de trabalho se d em um contexto de maior insegurana e
menor proteo social, em setores altamente informais e tudo isto com-
binado com uma dbil resposta social e altos graus de inrcia no interior
das famlias. Assim, as mulheres tiveram que assumir uma dupla ocupa-
o, deslocando-se continuamente de um espao a outro, sobrepondo e intensificando seus
tempos de trabalho remunerado e no remunerado.
POR QUE AS JORNADAS DAS MULHERES SO MAIS LONGAS?
Ao somar o tempo de trabalho realizado pelas mulheres para o mercado e o dedicado ao
cuidado da famlia, se constata que trabalham maior quantidade de horas dirias do que
os homens.
O tempo que mulheres e homens destinam ao trabalho cresce cada dia mais. Em paralelo,
dispem de menos espao para a famlia, a vida social e as atividades de cio e recreao.
Esta situao mais grave para as mulheres, especialmente aquelas provenientes de domic-
lios mais pobres: o uso do tempo reproduz as desigualdades socioeconmicas e de gnero
que caracterizam a regio.
A tensa relao
entre trabalho e famlia
Os homens no
assumi ram de manei ra
equi val ente a
co-responsabi l i dade
das tarefas domsti cas.
Ao contrrio do sentido comum, segundo o qual as mulheres realizam o trabalho domstico
porque no esto no mercado de trabalho, as pesquisas mostram claramente que elas sem-
pre so responsveis por estas tarefas, sejam donas de casa ou trabalhem remuneradamente.
Os dados para alguns pases da Amrica Latina
4
mostram que a carga total de trabalho (do-
mstico e extra-domstico) das mulheres supera a dos homens, em mdia, em pouco mais
de uma hora diria (CEPAL, 2007).
Como se observa no grfco 11, as mulheres destinam entre 1,5 (Chile) e 4
(Mxico) vezes mais tempo que os homens aos afazeres do domiclio e ao
cuidado da famlia. A presena de idosos/as e pessoas enfermas aumenta
a participao e o tempo destinado pelas mulheres a este tipo de tarefas.
O mesmo ocorre quando h crianas no domiclio. No caso dos homens,
no se encontram grandes variaes e, em alguns pases, por exemplo, a
Nicargua, se observa inclusive uma leve reduo (grfco 12).
Em matria de cuidados, as tarefas de homens e mulheres so diferentes, como ilustram os
dados relativos ao Uruguai (2007): os homens se dedicam a tarefas menos rotineiras - jogar
com seus filhos e filhas enquanto as mulheres se encarregam dos trabalhos cotidianos
relacionados com a alimentao e higiene.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
58
Pesquisas para medir o trabalho total de homens e mulheres
Tornar visvel a contribuio das mulheres ao bem estar social e economia atravs do cuidado da famlia
fundamental para alcanar a equidade de gnero. As pesquisas de uso do tempo permitem medir a
utilizao do tempo em geral e aquela destinada s atividades no remuneradas, em particular, alm de
avaliar as necessidades de cuidado de distintas populaes em determinados momentos de seu ciclo
vital e familiar. Este instrumento permite tornar visvel a importncia do trabalho no remunerado reali-
zado fora do mercado e sua contribuio ao consumo e ao bem estar de domiclios e da sociedade.
Desde 2000, em 14 pases latino americanos realizaram pesquisas de uso do tempo: Argentina, 2005; Bo-
lvia, 2001; Brasil, 2001 e 2005; Chile, 2007; Colmbia, 2006 e 2008; Costa Rica, 2004; Cuba, 2001; Equador,
2007; El Salvador, 2005; Guatemala, 2000; Mxico, 2002; Panam, 2005; Uruguai, 2003 e 2007 e Venezuela,
2008.
Contar com estas medies um grande avano. O desafo agora alcanar maiores nveis de compara-
o, padronizando os tipos de pesquisa, o perodo de referncia e a formulao de perguntas. Ainda, seria
til replic-las, j que ainda que se trate de comportamentos sociais altamente inerciais, isto permitiria
medir os efeitos das polticas pblicas conciliatrias, trazendo luzes sobre as que deveriam ser postas em
marcha.
O Fundo de Desenvolvimento das Naes Unidas para a Mulher (UNIFEM) teve um ativo papel em pro-
mover e apoiar a realizao das pesquisas de uso do tempo na regio. Um exemplo a destacar o do
Uruguai, onde a implementao ser bianual, junto com a pesquisa peridica de domiclios.
QUADRO 12
A carga total de trabal ho
(domsti co e extra-
domsti co) das mul heres
supera a dos homens.
4 Bolvia, 2001; Guatemala, 2000 e Nicargua 2008.
CAPTULO II
59
Fonte: OIT, elaborao a partir de Milosavljevic e Tacla (2007), INE (2008) e Aguirre (2009).
GRFI CO 11
PA SES SELECI ONADOS: HORAS SEMANAI S MDI AS DESTI NADAS AOS AFAZERES
DOMSTI COS, POR SEXO, AO REDOR DE 2002
60
40
0
E
q
u
a
d
o
r
2
0
0
4
80
20
C
h
i
l
e
2
0
0
7
U
r
u
g
u
a
i
2
0
0
7
B
o
l
v
i
a
2
0
0
1
N
i
c
a
r
g
u
a
1
9
9
8
G
u
a
t
e
m
a
l
a
2
0
0
0
M
x
i
c
o
2
0
0
2
Homens
Mulheres
Com flhos - mulheres
Com flhos - homens
Sem flhos - mulheres
Sem flhos - homens
Fonte: OIT, elaborao a partir de Milosavljevic e Tacla (2007).
GRFI CO 12
PA SES SELECI ONADOS: MDI A DE HORAS SEMANAI S DESTI NADAS AOS AFAZERES
DOMSTI COS, POR SEXO E SEGUNDO A PRESENA DE CRI ANAS, AO REDOR DE 2000
60
40
0
E
q
u
a
d
o
r
2
0
0
4
80
20
B
o
l
v
i
a
2
0
0
1
N
i
c
a
r
g
u
a
1
9
9
8
G
u
a
t
e
m
a
l
a
2
0
0
0
M
x
i
c
o
2
0
0
2
Homens
Mulheres
Fonte: CONAMU (2007).
GRFI CO 13
EQUADOR: CARGA GLOBAL DE TRABALHO, SEGUNDO ETNI A
( HORAS DE TRABALHO SEMANAI S)
40
20
0
Indgena Mestia
100
Afroequatoriana
60
80
Existem fatores sociais e econmicos que acentuam a diferena de gnero. Por exemplo, ao com-
parar o tempo total de trabalho de homens e mulheres segundo sua origem tnica no caso do
Equador, se observa que a maior sobrecarga recai sobre as mulheres indgenas (grfco 13).
A diferena de gnero no uso do tempo se aprofunda nos grupos socioeconmicos mais
pobres: as mulheres pobres so as que mais tempo destinam s tarefas do
domiclio. Sobre este ponto, os dados do Mxico so eloqentes: entre as
famlias com duplo provedor, as mulheres pobres destinam dez horas se-
manais a mais ao trabalho domstico do que as no pobres. No entanto,
os homens pobres destinam a essas mesmas tarefas duas horas menos do
que os no pobres. Estes dados confirmam a maior rigidez dos papis tra-
dicionais de gnero nas famlias de menores recursos, isto , precisamen-
te entre aqueles que mais se beneficiariam de uma segunda renda para
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
60
Uso do tempo de homens e mulheres
Ainda que as pesquisas de uso de tempo no sejam comparveis entre si, se observam as seguintes
tendncias:
Os homens tm menor participao e investem menos tempo nas atividades domsticas e de cuida-
do. Por exemplo, no Mxico (2002), as mulheres aportam 85% do tempo total de trabalho domstico e
os homens, 15%. As mulheres destinam, em mdia, 14 horas por semana exclusivamente ao cuidado de
crianas e outros membros do domiclio, enquanto os homens contribuem com a metade: 7,6 horas.
O maior tempo dedicado a estas atividades por parte das mulheres se incrementa notavelmente nos mo-
mentos do ciclo vital associados reproduo. No caso dos homens, o tempo permanece praticamente
constante durante todo seu ciclo vital.
A jornada de trabalho das mulheres inferior dos homens, devido necessidade de atender s res-
ponsabilidades domsticas e familiares. Na pesquisa realizada no Chile (2007) se verifcou que, do tem-
po total destinado ao cuidado de pessoas no domiclio, as mulheres executam 78,2% e os homens, 22,8%.
Com relao s tarefas domsticas, as mulheres disponibilizam 66,4% e os homens, 33,6%. Para o trabalho
remunerado, a relao oposta: 38% deste tempo dispendido por mulheres e 69%, por homens
Inclusive quando as mulheres trabalham remuneradamente, a distribuio das tarefas domsticas
e de cuidado continua sendo desigual. No Mxico, nas famlias em que ambos os cnjuges trabalham
remuneradamente, os homens destinam mais horas ao mercado de trabalho e elas famlia. Eles desti-
nam ao trabalho remunerado 52 horas semanais e elas 37; limpeza da casa, eles destinam 4 e elas, 15; a
cozinhar, eles gastam 7 e elas, 15 e meia; ao cuidado das crianas, eles dispendem quase 8 e elas, 12; e ao
asseio e cuidado da roupa, eles uma hora e meia e elas, pouco mais de 8 horas (INEGI, 2004).
O tempo total de trabalho delas maior, como ocorre tambm no resto dos pases: na Bolvia (2001)
a relao 10,8 horas semanais (homens) contra 12,8 (mulheres). Na Nicargua (1998): 10,6 e 11,9,
respectivamente.
Fonte: OIT, elaborao a partir de Milosavljesic e Tacla (2007), CEPAL (2007b).
QUADRO 13
A diferena de gnero no
uso do tempo se aprofunda
nos grupos socioeconmicos
mais pobres.
CAPTULO II
lidar com as privaes socioeconmicas. Isto particularmente grave, considerando que a
falta de tempo e as dificuldades em conciliar as atividades remuneradas com as domsticas
esto entre as principais razes pelas quais as mulheres no buscam trabalho.
Devido ao fato de que as mulheres dedicam mais tempo aos trabalhos domsticos, suas
jornadas de trabalho so mais curtas do que as dos homens. Ainda que a diferena venha
diminuindo, menos da metade (45%) das trabalhadoras da Amrica Latina e Caribe trabalha
um regime de jornada completa (41 horas ou mais por semana), em comparao com 63%
dos homens. Isto tem conseqncias negativas sobre sua remunerao mensal e na aposen-
tadoria das mulheres.
MITOS E PRECONCEITOS EM TORNO DO TRABALHO FEMININO
No entanto, muitas pessoas pensam que o confito entre o trabalho e a vida familiar um proble-
ma das mulheres. Isto se explica em razo das percepes tradicionais so-
bre os papis que correspondem a cada um na sociedade. Historicamente,
as tarefas domsticas eram executadas em conjunto com outras atividades
ligadas diretamente produo. Com a industrializao, a unidade doms-
tica foi separada da unidade de produo e se estabeleceu uma diviso
sexual do trabalho mais rgida. Assim, s mulheres coube principalmente
a responsabilidade sobre as tarefas reprodutivas dentro do domiclio, en-
quanto aos homens coube desempenhar as tarefas produtivas fora deste
espao, pelo que passaram a receber uma remunerao.
As construes culturais transformaram essa rgida diviso sexual do tra-
balho em uma especializao natural. Alm disso, o papel de esposa e me foi mistificado:
o fato de que as mulheres se dedicassem somente ao lar se transformou em um smbolo de
status e se gerou um culto domesticidade no qual a famlia e o domiclio passaram a ser
considerados espaos de afeto e criao, a cargo delas. Assim, se racionalizaram duas cren-
as: a primeira sustenta que o trabalho no remunerado no domiclio era trabalho de mulher
e, a segunda, que na realidade no era trabalho (Barker et allii, 2007).
O papel econmico da mulher nunca deixou de ser duplamente importante pelo aporte de
seu trabalho cotidiano na reproduo da fora de trabalho (cozinhar, lavar, cuidar da sade e
nutrio dos membros da famlia) e pela contribuio de suas tarefas produtivas (remunera-
das e no remuneradas) s estratgias de sobrevivncia e bem estar familiar.
Assim, a construo da domesticidade feminina foi mais cultural do que real, mas est
to arraigada que inspirou tanto as polticas pblicas, como a legislao do trabalho,
as prticas sociais e negociaes familiares. De fato, persistem na regio dois mitos
que esto arraigados na forma de percepes muito poderosas e que residem na base
61
As construes cul turai s
transformaram essa
r gi da di vi so sexual
do trabal ho em uma
especi al i zao natural .
das tenses entre trabalho e famlia: o primeiro, encomenda s mulheres o cuidado
da famlia, filhos e filhas como sua principal tarefa, o segundo, as considera uma fora
de trabalho secundria, cujos rendimentos so um complemento aos recursos gerados
pelos homens.
MITO A: O papel fundamental das mulheres cuidar de sua famlia e de seus filhos
e filhas
Embora hoje as mulheres tenham se integrado esfera pblica por meio de sua incorpora-
o massiva ao sistema educacional e de trabalho, ainda opera com fora a imagem segundo
a qual o lugar prprio para elas a casa, e sua funo principal, o cuidado da famlia.
Isto se refete, por exemplo, na resistncia que ainda expressam alguns grupos em relao au-
tonomia das mulheres. A este respeito, Garca e de Oliveira (2003) estudaram as difculdades que
as mulheres enfrentam para sair de suas casas, especialmente nos setores populares. Muitas mu-
lheres precisam pedir permisso a seus pares para visitar parentes, ir aos centros de sade ou sair
para trabalhar e o descumprimento deste mandado pode gerar violncia sobre elas.
Diversas pesquisas de opinio mostram que se continua valorizando seu papel tradicional
dentro da famlia (Inglehart, et allii, 2004, Sunkel, 2004). Ainda forte a imagem da me como
responsvel quase nica pela estabilidade fsica, social e psicolgica de
filhos e filhas; e inclusive h uma tendncia a associar o trabalho remune-
rado das mulheres e sua sada para o mundo pblico com o aumento da
violncia juvenil e outras formas de desagregrao social.
Dado que na atualidade mais da metade das mulheres em idade de traba-
lhar desempenham um trabalho produtiva, vivem a tenso entre ambas
as esferas com culpa e altos nveis de insatisfao.
MITO B: As mulheres constituem uma fora de trabalho secundria e seu salrio apenas
uma ajuda ao oramento familiar
A noo da mo de obra feminina como secundria se estrutura em torno da idia de que
tanto a renda como o desempenho da mulher no mercado de trabalho esto determinados
pelos papis que ocupa na esfera domstica; e que menos importante do que o trabalho
do chefe de domiclio (Abramo, 2007). Esta concepo contribui para desvalorizar o trabalho
das mulheres e tem uma srie de conseqncias em matria de polticas pblicas e compor-
tamentos privados. Uma derivao disto que seus rendimentos so considerados como
um complemento aos do chefe do domiclio e, portanto, muito mais prescindveis que os
do homem. Em conseqncia, e sob este pressuposto, as mulheres so as primeiras a serem
despedidas em momentos de crise, tanto que o alto desemprego feminino no acarreta o
mesmo tipo de respostas que um aumento do desemprego masculino.
Alm do conceito de fora de trabalho secundaria, persistem no imaginrio empresarial e
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
62
As mul heres vi vem a
tenso entre ambas as
esferas com cul pa e al tos
n vei s de i nsati sfao.
CAPTULO II
social noes tradicionais com respeito ao desempenho de homens e mulheres que estabe-
lecem diferenas de habilidade, produtividade e compromisso em matria de trabalho. Estes
pressupostos contaminam as prticas de recrutamento e os sistemas de remunerao, que
so claramente desfavorveis para as mulheres (Abramo, Godoy e Todaro, 1998).
A figura do trabalhador a tempo completo (homem) e com famlia a seu cargo refora a
percepo que os homens tm de si mesmos como provedores mais que como cuidadores.
Suas obrigaes se centram em seu aporte familiar (recursos econmicos e direitos de segu-
ridade social), enquanto os direitos relativos ao cuidado - licenas por nascimento de filhos,
servios de ateno infantil - se associam ao trabalho das mulheres. Esta diviso entre a
esfera produtiva e reprodutiva constitui um dos eixos das identidades masculina e feminina.
Diversos estudos (Olavarra e Parrini, 2000; Faur, 2006; Fuller, 1998) mostram que, na maioria
dos homens, est presente a percepo de que seu papel de provedor os exime de boa parte
das tarefas domsticas, de criao ou de cuidado de idosos.
De acordo com estudos realizados em diversos pases como Argentina,
Brasil, Chile, Colmbia, Mxico e Peru, a posio dos homens no ho-
mognea e possvel identificar diferenas no grau de aceitao da idia
do trabalho remunerado das mulheres
5
. Um primeiro grupo est confor-
mado por homens jovens, de maior nvel educacional. Eles reconhecem
que o trabalho um direito da mulher e que abre possibilidades de maior
eqidade entre os gneros. No entanto, frente a situaes crticas como
a enfermidade de filhos/as ou pais no h dvidas: so as mulheres que
devem enfrentar a situao. Um estudo recente sobre a lgica de recru-
tamento de pessoal para a gerncia de grandes empresas mostra que os
executivos homens exigem das mulheres que subordinem seus projetos
pessoais a suas prprias carreiras corporativas (Olavarra, 2008).
Um segundo grupo aceita pragmaticamente o trabalho feminino, devi-
do necessidade da famlia de contar com uma renda adicional. Porm,
estes homens demonstram certo incmodo frente conciliao e seus eventuais papis
no cuidado da famlia, j que consideram que h uma srie de tarefas que so de exclusiva
responsabilidade das mulheres.
O terceiro grupo composto por homens que se opem explicitamente ao trabalho das
mulheres e consideram que este incompatvel com a criao dos filhos e filhas e o cuidado
da famlia. O trabalho da mulher percebido como um questionamento ao papel do homem
como provedor e incompatvel com o bem estar da famlia. A ausncia da mulher - o que
deixa de oferecer famlia - aparece aqui como mais importante do que aquilo que aporta
como produto de sua renda do trabalho.
Merece destaque o fato de que, em geral, em nenhum dos grupos os homens percebem a
63
5 A este respeito, ver, entre outros, Faur (2006) e Bruschini (2008).
as mul heres so as
pri mei ras a serem
despedi das em momentos
de cri se, tanto que o al to
desemprego femi ni no no
acarreta o mesmo ti po de
respostas que um aumento
do desemprego mascul i no.
necessidade de compatibilizar seu prprio trabalho produtivo com a participao nas tarefas
domsticas, como se espera das mulheres (Faur, 2006).
Em suma, na medida em que estas construes culturais persistam, se dar por estabelecido
que so as mulheres as que devem conciliar seus papis de donas de casa e de mes e cuida-
doras, junto com seu papel de trabalhadora remunerada. Assim, se esquece que a vinda das
novas geraes e o cuidado com as pessoas dependentes uma responsabilidade comparti-
lhada por todos: a sociedade, os governos, as organizaes sociais, os homens e as mulheres.
COMO AS RESPONSABILIDADES FAMILIARES LIMITAM A PARTICIPAO DAS
MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO
Ainda que nem todas as mulheres cuja atividade principal so os afazeres
do domiclio queiram estar no mercado de trabalho, uma boa parte aspi-
ra ter um emprego e renda prprios. Porm, no podem faz-lo devido a
suas obrigaes domsticas e de cuidado da famlia. Segundo uma recente
pesquisa realizada em Santiago do Chile, 70% das mulheres donas de casa
desejaria trabalhar remuneradamente e 60% no podem faz-lo porque
no tm como resolver o cuidado com os flhos. (Comunidad Mujer, 2009)
A diviso das atividades entre produtivas (vinculadas ao mercado) e reprodu-
tivas (relacionadas com o cuidado dos seres humanos), se projeta nos padres
de insero no trabalho das mulheres e a conseqente desvalorizao de seus
esforos no mercado de trabalho. Reconhecer que existe uma estreita cone-
xo entre o trabalho remunerado e o no remunerado permitiu observar as
conseqncias negativas das obrigaes domsticas na vida das mulheres:
carreiras interrompidas, salrios mais baixos e empregos de pior qualidade.
No mundo do trabalho, se atribui famlia significados diferentes conforme se trate de ho-
mens ou de mulheres. As mulheres (especialmente as jovens) so consideradas um risco
por serem ou poderem chegar a ser mes. Assume-se que sua prioridade so os filhos e as
filhas (no assim no caso dos pais), e que as responsabilidades familiares prejudicam sua
produtividade, disponibilidade e dedicao ao trabalho. Isto joga contra as trabalhadoras
nos processos de contratao, promoo, fixao de salrios e demisso (Heymann, 2004).
Ao concorrerem a um posto, por exemplo, habitual se lhes seja perguntado sobre sua situ-
ao familiar. Se constatada a existncia de filhos/as pequenos, correm maiores riscos de no
serem contratadas ou promovidas, pois se presume que tero ausncias no trabalho devido
a doenas dos filhos/as e outros imprevistos vinculados vida familiar.
Quando estas tarefas no so compartilhadas com o cnjuge, efetivamente recaem sobre
as mes trabalhadoras, que perdem dias de trabalho (e, portanto, de salrio) por terem que
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
64
Os homens no percebem
a necessi dade de
compati bi l i zar seu prpri o
trabal ho produti vo com a
par ti ci pao nas tarefas
domsti cas, como se
espera das mul heres.
CAPTULO II
atender s responsabilidades familiares.
O problema de fundo que o mercado de trabalho no est pensado
para pessoas com responsabilidades familiares, mas para pessoas que
disponham do aporte de outro/a que tenha a seu cargo as necessidades
de cuidado de sua famlia. Da o conceito de modelo masculino de em-
prego, segundo o qual o custo de contratar mo de obra feminina alto
quando comparado ao de contratar homens, o que torna prefervel abrir
vagas para eles. Esta crena uma falcia, tal como mostra um estudo da
OIT realizado em cinco pases latino americanos.
A segmentao ocupacional reflete a extenso dos trabalhos de cuidado
Ao analisar os setores, ramos e empregos aos quais as mulheres tm acesso, fca claro que elas
tendem a se concentrar em certas reas como o comrcio e os servios comunitrios, sociais e
pessoais (OIT, 2007); que so maioria nas ocupaes como a docncia, enfermagem e trabalho
65
Estudo da OIT derruba mito sobre maiores custos do trabalho das mulheres
Um estudo sobre os custos salariais e no salariais de contratao de homens e mulheres na Argentina,
Brasil, Chile, Mxico e Uruguai mostrou que os custos monetrios associados contratao de uma mu-
lher so muito reduzidos para o empregador: representam menos de 2% da remunerao bruta mensal,
variando de 0,2% no Mxico a 1,8% no Chile. No que se refere aos custos relacionados com a maternida-
de, o estudo evidencia, em primeiro lugar, uma baixa incidncia anual de gravidez e, portanto, de licenas
maternidade e dos benefcios associados a ela. Ainda, a legislao dos pases estudados estabelece que
os benefcios monetrias da licena assim como a ateno mdica trabalhadora durante a gravidez e
o parto no sejam fnanciadas diretamente pelos empregadores, mas mediante fundos pblicos, seguri-
dade social ou as contribuies realizadas pelas prprias trabalhadoras a sistemas privados. De maneira
que os custos relacionados com a maternidade no recaem em nenhum caso sobre os empregadores
das trabalhadoras mulheres.
Os gastos relacionados com o direito creche so o principal componente dos custos diretos de con-
tratao de uma mulher para os empregadores na Argentina e Chile. Ainda assim, se trata de um item
reduzido: em torno de 1% das remuneraes brutas das trabalhadoras, cifra similar aos custos associados
ao direito amamentao.
Os custos monetrios diretos de substituio das trabalhadoras que usam esta licena so ainda mais
reduzidos e representam menos de 0,1% de suas remuneraes brutas.
Os resultados desta pesquisa demonstram claramente:
que no so os empregadores que sustentam os custos da maternidade e;
que os menores salrios das mulheres no podem ser justifcados pelos supostos maiores
custos do trabalho que geram.
Fonte: Abramo e Todaro (2002).
QUADRO 14
No mundo do trabal ho,
se atri bui fam l i a
si gni fi cados di ferentes
conforme se trate de
homens ou de mul heres.
domstico; e que esto sobrerrepresentadas em categorias relacionadas com o autoemprego,
o trabalho familiar no remunerado e o servio domstico. Isto permite concluir que h uma
extenso das tarefas domsticas e de cuidado que as mulheres realizam at o mercado de
trabalho. No caso dos homens, ao contrrio, h uma distribuio mais homognea entre os
distintos ramos de atividade.
Alm da segmentao horizontal, persiste, no interior dos lugares de trabalho, uma segmentao
vertical. Isto signifca uma progressiva diminuio da presena de mulheres medida que os car-
gos adquirem maior hierarquia. A proporo de mulheres em postos de direo no supera 20%
e se reduz at 3% em cargos altamente estratgicos. Para isto, contribuem uma srie de fatores:
a menor conexo da mulher profissional com as redes (principalmente
masculinas) necessrias para progredir;
a crena persistente de que uma mulher casada um risco para a em-
presa por suas obrigaes familiares;
e as dificuldades para conciliar responsabilidades familiares e de tra-
balho, dado que o perfil dos cargos diretivos exige longas jornadas
e mobilidade.
A discriminao salarial: outro efeito da diviso sexual do trabalho
Na Amrica Latina, as remuneraes das mulheres representam, em m-
dia, 70% da renda dos homens (grfico 14). Esta diferena se explica em
boa medida pela discriminao que sofrem as mulheres no mercado de trabalho, e que per-
manece quando se compara homens e mulheres com o mesmo nvel educacional.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
66
Fonte: CEPAL (2008a).
GRFI CO 14
AMRI CA LATI NA E CARI BE: RENDA MENSAL FEMI NI NA COMO PORCENTAGEM DA RENDA
MASCULI NA, 2005-2007
80
60
40
20
0
A
r
g
e
n
t
i
n
a
U
r
u
g
u
a
i
B
r
a
s
i
l
C
o
s
t
a
R
i
c
a
C
h
i
l
e
M
x
i
c
o
V
e
n
e
z
u
e
l
a
P
a
n
a
m
P
e
r
u
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
B
o
l
v
i
a
H
o
n
d
u
r
a
s
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
P
a
r
a
g
u
a
i
G
u
a
t
e
m
a
l
a
C
o
l
m
b
i
a
N
i
c
a
r
g
u
a
100
E
q
u
a
d
o
r
O probl ema de fundo que
o mercado de trabal ho no
est pensado para pessoas
com responsabi l i dades
fami l i ares.
CAPTULO II
A discriminao salarial no somente se expressa na desigualdade de tratamento no lugar de
trabalho, mas que tambm refete concepes histricas sobre o valor dos diferentes tipos de
atividade e demonstra que, quando se fxam os salrios, o mercado de trabalho no neutro.
Diversos preconceitos associados diviso sexual do trabalho e ao papel tradicional da mu-
lher no interior da famlia contribuem para explicar a desigualdade de remuneraes entre
homens e mulheres. Rubery (2003) destaca o seguinte:
a) As mulheres so economicamente dependentes
Por trs desta suposio est a noo de que as mulheres tm menor necessidade
de gerar renda que os homens, pois so eles os que necessitam manter a famlia. Esta
suposta posio das mulheres infui tanto no preo da oferta de trabalho como na va-
lorao do trabalho que realizam. Assume-se que as mulheres esto dispostas a traba-
lhar em jornada parcial, ainda quando sua renda no lhes permita
subsistir e que, em geral, esto abertas a aceitar salrios menores.
b) As ocupaes no mbito do cuidado tm menor valor
O baixo valor associado rea de cuidados na economia - nas
quais h uma forte concentrao de mulheres - se refere tanto
apreciao do trabalho de cuidado como ao seu valor monet-
rio. As habilidades requeridas para este tipo de trabalho perma-
neceram quase invisveis, j que muitas delas so adquiridas de
maneira no formal no mbito domstico. H autores que inclu-
sive chegam a destacar que as mulheres tm aptides naturais
para estes trabalhos. A isto se soma a desvalorizao do trabalho
realizado por mulheres qualquer que seja - que explica a me-
nor remunerao nestas reas.
c) As mulheres esto subordinadas aos homens
A construo social da mulher como trabalhadora secundria e de baixo status no
pode ser entendida se no se aborda a relao de desigualdade entre homens e mu-
lheres. Esta se expressa na percepo comum de que o trabalho dos homens mais
importante e, portanto, lhes corresponde receber maiores salrios do que as mulheres.
67
Preconcei tos associ ados
di vi so sexual do trabal ho
e o papel tradi ci onal da
mul her no i nteri or da
fam l i a contri buem para
expl i car a desi gual dade
de remuneraes.
68
Frente necessidade de combinar o trabalho remunerado com as responsabilidades do-
msticas, as famlias recorrem a diferentes estratgias. As alternativas disponveis dependem
fundamentalmente dos recursos do grupo familiar e dos servios existentes.
Em seguida, se apresenta uma classificao das distintas formas como pode ser realizado o
trabalho reprodutivo:
No mbito domstico
Trabalho domstico no remunerado: realizado principalmente pelas mulheres
que so cnjuges e chefes de famlia, as que destinam mais tempo s atividades
domsticas e de cuidado. Tambm realizado por outras mulheres do grupo fami-
liar: avs, tias, irms e filhas.
Cuidadoras remuneradas: aqui se incluem as empregadas domsticas, babs e en-
fermeiras em suas diversas modalidades: jornada completa, parcial, com residncia
no domiclio ou fora dele.
Servios mdicos e de enfermaria realizados no domiclio: prestam atendimento
populao idosa que no pode ir ao hospital; e a crianas e pessoas com deficin-
cia. Geralmente so muito caros, somente uma minoria subsidiada ou gratuita.
Fora do mbito domstico:
Mercado: se incluem aqui os servios privados para o cuidado infantil, creches,
berrios, ateno pr-escolar em jardins de infncia e educao primria. Tam-
bm os residenciais para pessoas idosas, hospitais e clnicas. Habitualmente tm
custos muito elevados.
Empresas/Lugares de trabalho: contempla os servios de berrios e/ou jardins da
infncia realizados por empregadores/as e exigidos pelas legislaes trabalhistas
nacionais. No tm custo para o/a trabalhador/a.
Estado: inclui os servios estatais pblicos e no estatais pblicos para o cuidado
infantil e dos idosos: creches, jardins da infncia, centros para o cuidado dirio de
adultos, hospitais e outros servios de sade. Geralmente no conseguem cobrir a
demanda dos que os requerem.
Comunidade: se incluem neste grupo os servios oferecidos por cuidadoras vo-
luntrias de organizaes comunitrias com apoio da cooperao internacional.
Tambm so insuficientes para a demanda existente.
Em todas as modalidades assinaladas, os que realizam o trabalho domstico e de cuidado
- remunerado ou no - so mulheres s quais no se reconhece adequadamente sua contri-
As estratgias de conciliao
entre trabalho e famlia
CAPTULO II
buio para a famlia e a sociedade. Isto implica enormes desafios, pois da mesma maneira
que o trabalho domstico e de cuidado desvalorizado para aquelas que o realizam sem
pagamento, este fato se transpe para as pessoas que o executam de forma remunerada. No
entanto, como se demonstrou antes, incrementar em 10% a participao das mulheres no
mercado de trabalho, assim como alcanar um trabalho decente com igualdade de remune-
raes, tal como prope a Agenda Hemisfrica de Trabalho Decente para as Amricas, exige
levar em conta o fato de que as trabalhadoras tambm so cuidadoras.
O PESO DA CONCILIAO RECAI SOBRE AS MULHERES
Ante a debilidade ou ausncia de polticas pblicas e servios destinados a apoiar a conci-
liao entre vida familiar e laboral, as estratgias so basicamente privadas, familiares e femi-
ninas. Estas consistem em tentativas, geralmente extenuantes e cujas protagonistas so as
mulheres, de articular as demandas de um e de outro mundo e converter-se em ponte entre
ambas as esferas. Estas pontes cruzam enormes distncias geogrficas para unir lugares de
residncia, trabalho, cuidado e consomem muito tempo e recursos.
As estratgias esto altamente estratifcadas: as famlias que contam com maiores recursos
recorrem ao mercado para contratar apoio domstico e ter acesso a servios privados de cui-
dado. Isto outorga s mulheres de maior nvel socioeconmico maior controle sobre o uso
do tempo e lhes permite uma insero no trabalho mais plena. O apoio de uma trabalhadora
domstica amortiza, em algum grau, as tenses entre o trabalho e a famlia (ver quadro 16).
69
TIPOS DE ESTRATGIAS DE CONCILIAO
Existem diversas classifcaes de estratgias de conciliao que as pessoas empregam com ou sem o
respaldo de polticas pblicas. Uma tipologia distingue entre medidas seqenciais ou de alternncia, de-
rivativas e de reorganizao de papis.
As de seqncia alternam os tempos destinados vida familiar e de trabalho para reduzir as tenses
e choques entre ambas as atividades. Incluem as licenas trabalhistas de diferentes tipos, a promoo
da jornada parcial e a fexibilizao temporal e espacial do trabalho. O segundo tipo de conciliao
derivativae se caracteriza por trasladar tarefas reprodutivas que originalmente se realizavam no mbito
familiar para o mercado e os servios pblicos. Incorporam-se aqui os subsdios para compra de servios
privados de cuidado, a prestao subsidiada de servios estatais de cuidado, a prolongao do horrio
escolar e os servios subsidiados de transporte escolar, entre outros. O terceiro tipo de conciliao me-
diante a reorganizao dos papis produtivos e reprodutivos entre mulheres e homens. Implica promo-
ver mudanas culturais durante a educao bsica ou no mbito familiar, assim como transformaes no
mercado de trabalho para que se admitam alternativas ao modelo de provedor masculino, por exemplo,
as licenas de paternidade.
Fonte: Durn (2004); Camacho e Martnez (2006).
QUADRO 15
Estas solues, entretanto, esto ao alcance de uma pequena minoria de domiclios. A gran-
de maioria no tem acesso a servios de apoio de qualidade, o que contribui para reprodu-
zir a estrutura social desigual que caracteriza a regio. Assim, muitos domiclios de menores
rendimentos dependem da ajuda e do trabalho voluntrio de outras mulheres do grupo
familiar. No entanto, esta estratgia no sustentvel. A existncia de avs e tias cuidadoras
e de redes de apoio cada vez menor como conseqncia do aumento da participao
feminina no mercado de trabalho, da diminuio das famlias extensas, das migraes e do
enfraquecimento do tecido social. Tambm as redes familiares no podem efetivamente
substituir a ateno especializada que requerem as crianas e as pessoas idosas (Gonzlez
da Rocha, 2006).
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
70
O trabalho domstico na Amrica Latina
Na regio, cerca de 12 milhes de trabalhadoras (em torno de 14% das mulheres ocupadas) esto
ocupadas como trabalhadoras domsticas remuneradas. Embora a maioria dos pases tenha incorpo-
rado modifcaes legais para melhorar suas condies de trabalho, avanar na equiparao de seus
direitos com o restante dos assalariados e aumentar o cumprimento da proteo legal, ainda resta um
longo caminho a percorrer.
Na maioria dos pases da regio, o salrio mnimo estabelecido para as trabalhadoras domsticas
inferior ao salrio mnimo geral e a jornada de trabalho mais extensa. Mesmo que venha ocorrendo
um crescente reconhecimento da importncia de seu trabalho, em boa parte da regio estas traba-
lhadoras recebem os menores salrios dentre todas as categorias profssionais e tm uma cobertura
de seguridade social muito reduzida. O Uruguai constitui exceo nesta matria ao aprovar, em 2006,
uma lei de trabalho domstico que equiparou os direitos destas trabalhadoras aos do restante dos
assalariados.
Estima-se que cerca de 10% dos domiclios da regio contem com apoio domstico remunerado.
Trata-se, em geral de famlias de renda mdia alta e renda alta. No entanto, ainda que as trabalhado-
ras domsticas sejam parte das estratgias conciliatrias, elas no contam com apoio para resolver
suas prprias necessidades de conciliao. Por isto, da mesma forma que outras trabalhadoras em
condies precrias, elas transferem estas responsabilidades a outras mulheres ou ao auto-cuidado
de crianas, jovens e idosos.
A forma como se realiza o trabalho domstico vem mudando nos ltimos anos. O modelo tradicional,
segundo o qual a trabalhadora pernoitava no domiclio de seus empregadores, tem aberto espao
para as jornadas dirias, que permitem maior separao entre o trabalho e a vida pessoal. Ainda, a
organizao das trabalhadoras se fortaleceu e a Confederao Latino-Americana de Trabalhadoras
Domsticas (CONLACTRAHO), que agrupa as representantes de 11 pases, teve um papel importante
na gerao de uma demanda conjunta com o setor sindical por trabalho decente. Na sua primeira de-
clarao conjunta, em 2005, solicitaram OIT a adoo de uma Conveno Internacional para garantir
seus direitos. Em 2008, o Conselho de Administrao da OIT discutiu esta idia, e neste momento
esto sendo preparados os relatrios para discutir na Conferncia Internacional do Trabalho de 2010
a possibilidade de adotar um instrumento internacional de proteo s trabalhadoras domsticas.
Fonte: COMMCAAGEMSICA/AECID (2009), Valenzuela e Mora (2009).
QUADRO 16
CAPTULO II
Ante a ausncia de uma oferta pblica suficiente ou o apoio de parentes, as famlias, e espe-
cialmente as mulheres, ajustam sua insero no trabalho - o tipo de ocupao, a durao
da jornada - e buscam atividades que lhes permitam combinar o trabalho remunerado com
o tempo destinado aos cuidados. Para milhes de mulheres, isto significa estar em trabalhos
precrios, informais, mal remunerados.
Os custos mencionados so pagos quase de forma exclusiva pelas mulheres. Para adaptar
sua opo de trabalho s responsabilidades familiares, muitas mulheres sacrificam sua car-
reira ou deixam de trabalhar fora do domiclio e gerar renda. A postergao da formao de
uma famlia ou a reduo do nmero de filhos podem ser entendidas tambm como estrat-
gias indiretas ou inconscientes que buscam compatibilizar a atividade laboral com a materni-
dade ( Tobo, 2005). Nos grupos de menor renda, este custo pagam tambm as crianas e os
idosos que devem cuidar de si prprios mesmo quando no esto em condies para tanto.
Em suma, qualquer das estratgias conciliatrias mencionadas requer
uma grande elasticidade no uso do tempo por parte das mulheres, o que
traz consigo uma srie de custos sociais e econmicos: para elas, para
aqueles que necessitam de cuidados, para as empresas e a sociedade em
seu conjunto.
TRABALHADORAS MIGRANTES: MXIMA TENSO ENTRE
FAMLIA E TRABALHO
As condies estruturais do mercado de trabalho mundial constituem
a principal determinante dos movimentos migratrios no contexto da
globalizao. A migrao causada por fatores associados tanto aos pa-
ses de origem (falta de trabalho remunerado, por exemplo) como aos de destino (necessi-
dade de fora de trabalho); e certamente a uma interao entre ambos. Tambm influem as
mudanas demogrficas, as crises socioeconmicas e polticas, e o aumento das diferenas
salariais, tanto entre os pases como no seu interior.
Uma importante proporo da populao de Amrica Latina e Caribe vive fora do pas em
que nasceu. A regio a primeira em nvel mundial na recepo de remessas de migrantes.
Concentra 20% do total: em 2006, recebeu cerca de 57 bilhes de dlares. O Mxico o
primeiro receptor de remessas (US$ 25 bilhes anuais). Em pases com alta emigrao, as
remessas equivalem a uma significativa proporo do PIB: em Honduras, 26%; na Guiana, a
24%; no Haiti, so 22%; e, na Jamaica, 19% (Banco Mundial, 2008).
Nos ltimos anos, os fluxos migratrios a partir da Amrica Latina e Caribe feminizaram-se.
Hoje, as mulheres migram de forma independente e constituem mais da metade dos que
migram por razes de trabalho. Grande parte da migrao feminina gira em torno de deman-
71
Mui tos domi c l i os de
menores rendi mentos
dependem da aj uda e
do trabal ho vol untri o
de outras mul heres do
grupo fami l i ar.
das de cuidado nos pases de maior renda. De fato, na atualidade, elas so responsveis por
uma parte significativa do trabalho de cuidado na Amrica do Norte e Europa. No interior da
regio tambm se produziram fluxos migratrios similares, por exemplo, da Nicargua para a
Costa Rica; do Peru para o Chile e do Paraguai para a Argentina.
As migrantes resolvem os vazios de cuidado nos pases de destino. No entanto, isto se d
s custas do cuidado de seus filhos/as e/ou mes/pais, deixados em seus pases de origem.
Criaram-se assim cadeias internacionais de cuidado, caracterizadas pela falta de proteo,
desigualdades de classe, gnero e raa/etnia. O tema determinante: se, no nvel dos pases,
as economias repousam sobre uma diviso sexual do trabalho na qual as mulheres subsidiam
as economias atravs de seu trabalho reprodutivo, as cadeias globais de cuidado seriam a
expresso deste mesmo processo em escala transnacional.
Geralmente, a migrao das mulheres motivada pelo desejo de assegu-
rar o bem estar econmico de suas famlias. Entretanto, as cadeias de cui-
dado - nacionais e transnacionais - acarretam importantes custos sociais
para o grupo familiar da trabalhadora domstica migrante.
Os dados mostram que a maioria das migrantes deixa seus filhos/as em
seus pases de origem. Por exemplo, somente 12% das nicaragenses na
Costa Rica esto nesse pas com seus filhos. Em 2007, 40% das migrantes
equatorianas na Espanha e Estados Unidos tinham, ao menos, um filho
menor em seu pas
6
de origem. Entre 1991 e 2000, os filhos e filhas de
equatorianos migrantes que ficaram em seu pas sem seus pais aumenta-
ram de 17.000 para 150.000.
As migrantes experimentam as mximas tenses entre o trabalho e as
responsabilidades familiares, devido distncia. As famlias que perma-
necem nos pases de origem devem encontrar novas estratgias para reorganizar as tarefas
e responsabilidades de cuidado na ausncia da me. A emigrao feminina no gera mu-
danas na diviso sexual do trabalho (os homens geralmente no assumem novas tarefas).
Assim, a estratgia mais comum consiste em derivar as responsabilidades a outras mulheres
do grupo: avs, tias, irms mais velhas, com o apoio das remessas que envia a me. As cadeias
de cuidado, desde o primeiro at o ltimo elo, so quase exclusivamente femininas e toda a
estratgia conciliatria privada.
A vulnerabilidade daqueles que dependem de cuidados que ficaram no pas de origem de-
pende da regularidade da comunicao e do envio de remessas. As migrantes so, geralmen-
te, muito dedicadas e com seus recursos so cobertas as necessidades bsicas das famlias:
alimentao, estudos e sade. Assim, ocorre s vezes que as cuidadoras ou tutoras recebem
uma compensao pelas tarefas que desempenham, o que pode significar uma mudana na
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
72
As migrantes resolvem os
vazios de cuidado nos pases
de destino. No entanto, isto
se d s custas do cuidado
de seus filhos/as e/ou mes/
pais, deixados em seus
pases de origem.
6 Isto, apesar de que na Espanha, a regularizao de 130.000 equatorianos, em 2005, possibilitou a reunificao familiar.
CAPTULO II
valorizao de um trabalho tradicionalmente realizado sem remunerao. No Equador, gra-
as s remessas, as filhas e filhos de migrantes apresentam maiores nveis de escolarizao.
Este dado, no entanto, deve ser lido em conjunto com o antecedente: a migrao neste pas
majoritariamente transatlntica, por conseguinte, as pessoas que podem custe-la no
pertencem aos grupos socioeconmicos mais baixos.
Nem todos os idosos com familiares migrantes recebem remessas, mas, para aqueles que as
recebem, estas significam um apoio importante, sobretudo com relao sua sade. Desta
forma, as remessas se convertem em um dos principais mecanismos de proteo social para
esta populao. Porm, no marco da atual crise econmica, as estratgias familiares e, em ge-
ral, o sistema de proteo social informal baseado nas remessas foi afetado, o que demonstra
a precariedade deste tipo de solues privadas.
As famlias que permanecem nos pases de origem precisam estabelecer
novas estratgias para reorganizar as tarefas e responsabilidades de cui-
dado na ausncia da me. As tarefas de cuidado so repartidas entre as
mulheres da famlia. As que assumem estas responsabilidades precisam
destinar mais tempo a estes trabalhos e enfrentar responsabilidades adi-
cionais relacionadas educao, administrao de recursos e proteo
das pessoas sob sua responsabilidade.
Em alguns casos, as avs deixam de trabalhar para ocupar-se do cuidado
de seus netos. s vezes, o cuidado entre avs e netas se torna circular:
formalmente, as avs esto cuidando das netas, mas, no cotidiano, mui-
tas netas assumem tarefas de cuidado e companhia, reproduzindo-se
relaes de gnero e geracionais de subordinao. Em outros casos, as
prprias meninas e jovens (basicamente irms mais velhas, desde os 10 e 11 anos) precisam
assumir tarefas de cuidado de seus irmos ou tomar a seu cargo os afazeres domsticos. Estas
responsabilidades so, muitas vezes, assumidas em detrimento dos estudos e dos espaos
de lazer. No caso dos meninos, ao contrrio, isto acontece raramente, pois a famlia aposta
que eles se superaro atravs da educao.
As mes que migraram complementam a delegao com a comunicao, facilitada agora
pelas novas tecnologias, como os telefones celulares e os servios da internet; experimentam
sentimentos de culpa, angstia e medo pelo bem estar dos filhos. Os esteretipos de gnero
tambm operam atravs de um discurso sobre desintegrao familiar e carncia de cuidados
que termina culpabilizando as mulheres migrantes.
73
A estratgi a mai s comum
consi ste em deri var
as responsabi l i dades
a outras mul heres
do grupo: avs, ti as,
i rms mai s vel has.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
74
QUADRO 17
TESTEMUNHOS: MI GRAO E REDES FEMI NI NAS DE CUI DADO
Auxiliadora Teodora Gris
Carece de rede social/familiar, tanto
em seu pas de origem como no
de destino
Conta com uma rede social familiar,
basicamente nuclear
Conta com uma rede social
familiar extensa; auto-cuidadora
e cuidadora
Emigra por temporadas.
Tanto na Nicargua como na Costa
Rica carece de uma rede de apoio.
Na Nicargua, teme deixar suas
filhas com suas cunhadas pelo risco
de violncia sexual. Na Costa Rica
no conhece ningum. Faz-lhe
falta ter uma filha mais velha para
apoi-la. Suas filhas pequenas esto
ajudando as famlias que cuidam
delas desempenhando trabalhos
domsticos e outros afazeres.
Quando emigrou pela primeira vez,
sua filha mais velha, Patrcia, tinha 17
anos. Patrcia uma me substituta
muito eficiente de suas irms
menores, especialmente com relao
afetividade. Quando Patrcia saiu
da casa, uma irm dois anos menor
assumiu muito as tarefas de cuidado,
em particular na administrao do
domiclio. Quando elas tiverem suas
prprias famlias, Teodora pretende
regressar para cuidar de sua filha
menor que tem uma deficincia.
Quando sua me saiu pela primeira
vez, Gris ficou responsvel por sua
av paterna. Desde os 14-15 anos Gris
vive s, cuidando dela e de seu irmo,
cozinhando, lavando a roupa, levando
o menino escola e administrando o
dinheiro que a me envia.
Na sua famlia, a diviso sexual do
trabalho muito clara: sempre que
uma das mulheres sai, as que ficam
se encarregam de tudo, cozinhando,
cuidando dos/as menores.
Marco Legal e
Polticas Pblicas na
Amrica Latina
e Caribe
C A P T UL O I I I
As normas legais e as polticas de conciliao entre a vida laboral e a vida familiar tm o
objetivo comum de arbitrar a interao que se produz entre estes dois espaos. Os direitos
e obrigaes relativas proteo da maternidade e situao dos/as trabalhadores/as com
responsabilidades familiares se definem a partir da legislao trabalhista e da legislao de
proteo social.
No entanto, esta arbitragem encontra uma srie de deficincias que tm impactos sobre sua
efetividade. A reviso das legislaes nacionais da regio mostra que estas somente prote-
gem os direitos de assalariadas formais. A possibilidade, portanto, de usufruto dos benefcios
decorrentes da proteo social est condicionada existncia de um vnculo de trabalho for-
mal. Como resultado, grandes contingentes de trabalhadoras ficam excludas dos benefcios
em matria de proteo maternidade e do apoio ao desempenho das responsabilidades
familiares. Os trabalhadores, por sua vez, ficam quase completamente excludos dos benef-
cios em matria de conciliao.
A maioria dos pases da regio conta com uma normativa que se adapta bastante bem ao
que estipula a Conveno n 183 sobre Proteo Maternidade. No entan-
to, seu alcance limitado pela alta proporo de trabalhadoras informais
e pela baixa cobertura da proteo social (pr-requisito para o usufruto
dos benefcios) em ocupaes com alta presena de mulheres; como, por
exemplo, o trabalho domstico. Muito menor a regulao para proteger
trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares e permi-
tir a conciliao entre trabalho e famlia, conforme preconiza a Conveno
n 156. Em geral, a noo de trabalhadores e trabalhadoras com responsa-
bilidades familiares no est presente nas legislaes, ainda que, na maio-
ria dos pases, se considere a obrigao de facilitar a amamentao e, em
vrios, a proviso de creches para filhos e filhas de trabalhadoras.
Uma avaliao do marco normativo e das polticas mostra que h lacunas que necessrio
preencher, pois estas leis tendem a centrar-se em medidas conciliatrias muito especficas
com relao apenas gravidez e maternidade, sem considerar as responsabilidades familia-
res que correspondem aos pais e s mes. Tambm porque consideram tipos de insero no
mercado de trabalho que no condizem com a realidade da maioria da populao, deixando
margem da cobertura significativos grupos de trabalhadores/as e tambm por seu alto
nvel de descumprimento.
Para alm das provises estabelecidas pelas leis trabalhistas, existem, na regio, diversas
iniciativas, polticas e programas que apiam a conciliao, mesmo que esta no seja seu
objetivo. Um exemplo o que acontece com os programas de ampliao da cobertura
pr-escolar, cujo objetivo principal a melhoria da qualidade da educao. Os servios que
apiam a conciliao so pouco coordenados, com cobertura insuficiente e so desiguais
quanto qualidade.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
76
A noo de trabal hadores
e trabal hadoras com
responsabi l i dades
fami l i ares no est
presente nas l egi sl aes.
CAPTULO III
O desafio para a promoo de polticas de conciliao com dimenso de gnero grande.
At o momento, as polticas e programas tm se dirigido a mulheres trabalhadoras, sob a
suposio de que so elas as principais responsveis pelo cuidado familiar, sem integrar
os homens.
Conforme demonstra a segunda parte deste captulo, estas insuficincias e debilidades tra-
zem significativos custos para todos: para o desenvolvimento dos pases e das economias,
para a produtividade das empresas, para a autonomia das mulheres e para as pessoas que
cuidam e as que requerem cuidados.
O cenrio atual pode constituir uma oportunidade sem precedentes para mudar as estru-
turas de desigualdade, seja quanto falta de compartilhamento de tarefas do cuidado da
famlia, e quanto ao acesso a servios com qualidade, que depende do nvel socioeconmico
dos lares. O desenvolvimento deste novo enfoque de poltica pressupe consensos amplos e
o fortalecimento da capacidade do Estado e da institucionalidade do trabalho.
77
78
A NORMATIVA SOBRE MATERNIDADE E SOBRE RESPONSABILIDADES
FAMILIARES
No comeo do sculo XX, se estabeleceram formas incipientes de regulao quanto rela-
o de trabalho na maior parte dos pases da regio. O Estado reconhecia direitos especficos
dos trabalhadores, com o propsito de equiparar sua posio frente aos empregadores. O
primeiro direito reconhecido pela legislao trabalhista o direito ao trabalho, ou seja, esco-
lher uma ocupao em qualquer setor de atividade e em lugar determinado pela pessoa.
A legislao trabalhista coloca no Estado a responsabilidade por garantir um nvel bsico de
proteo aos trabalhadores. Uma das medidas iniciais foi a criao de diversas instituies
para esta finalidade, dentre elas, um sistema de previdncia social para
proteg-los em relao a um conjunto de riscos sociais que poderiam
interromper sua capacidade de gerar renda. A rede de proteo social foi
construda em torno do trabalho, de forma que prevaleceu a cobertura
de contingncias decorrentes de uma insero assalariada formal, de ma-
neira combinada com uma rede de proteo secundria para a cnjuge,
filhos e filhas.
Neste contexto se insere a norma sobre proteo da maternidade e apoio
a trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares, cujo
objetivo prevenir a discriminao e garantir o direito a trabalhar remu-
neradamente, sem ter que renunciar ao cuidado dos membros da famlia
que dele necessitam.
A proteo da maternidade nas legislaes nacionais
A proteo maternidade foi criada para resguardar a sade da me e
do filho ou filha no momento do nascimento e durante as primeiras semanas de vida, assim
como para proteg-la frente discriminao devido a esta condio. Ainda que a proteo
maternidade no tenha sido estabelecida com o objetivo explcito de promover a concilia-
o entre o trabalho e a vida familiar, teve efeitos extremamente importantes neste mbito.
De fato, esta proteo basicamente a nica medida com efeitos conciliatrios presentes na
legislao trabalhista de todos os pases da regio. Na maioria dos casos, consiste em uma
licena, estabilidade para a me e perodos para amamentao.
Tal como na OIT, em que uma das primeiras convenes foi sobre a proteo materni-
dade, entre as primeiras normas incorporadas s legislaes nacionais relativas aos direitos
A resposta do estado frente s
demandas por cuidado
Proteo da materni dade
basi camente a ni ca
medi da com efei tos
conci l i atri os presentes
na l egi sl ao trabal hi sta
de todos os pa ses
da regi o.
CAPTULO III
das mulheres trabalhadoras esteve a licena maternidade. Embora na maioria dos pases da
Amrica Latina e Caribe, a licena maternidade seja inferior ao limite mnimo de 14 semanas
estabelecido pela Conveno n 183, quase todas as legislaes observam ao menos 12 se-
manas, em conformidade com a Conveno anterior, n 103, exceto Antigua e Barbuda, com
6 semanas, e Honduras, com 10 semanas. Ao menos a orientao de seis semanas de descan-
so ps-parto cumprida. As licenas mais amplas se encontram no Chile, Cuba, Venezuela
(18 semanas) e Brasil (180 dias). Geralmente, se garante a extenso de licena em casos de
enfermidade da me.
Em alguns pases, funcionrias do setor pblico tm acesso a licenas mais amplas. No Brasil,
desde 2008, possvel prorrogar a licena maternidade para seis meses (180 dias). Para as
empresas privadas, os meses adicionais so facultativos, mas os gastos podem ser deduzidos
dos impostos.
Em outros pases, as condies so mais precrias. Em vrios pases do Caribe e da Amrica
Latina, o direito licena e benefcios exige certo tempo mnimo de servio com o mesmo
empregador. No caso de Granada, por exemplo, so 18 meses. Em outros,
tambm se restringe sua utilizao: nas Bahamas, o direito a licena ma-
ternidade pode ser obtido somente uma vez a cada trs anos. Em Trini-
dad e Tobago, uma vez a cada dois anos.
Vrios pases estendem as licenas s mes adotivas. A durao varia en-
tre 30 dias (Peru) e a extenso da licena maternidade regular do pas,
como na Guatemala, Uruguai, Colmbia. O Brasil
1
e a Costa Rica esten-
dem s mes adotivas uma licena que equivale totalidade do benefcio
da licena maternidade regular.
A Conveno n 183 tambm preconiza que os benefcios relativos ma-
ternidade devem ser custeados pelo Estado e no pelos empregadores, exceto quando a lei
expressamente assim indicar
2
, como forma de impedir a discriminao contra as mulheres
no mercado de trabalho. Apesar de que, na maioria dos pases da regio, a licena efetiva-
mente financiada com fundos da previdncia social, em muitos casos, o empregador deve
custear uma parte do subsdio ou sua totalidade, nos casos em que a trabalhadora no cum-
pra com os requisitos de contribuio.
A proteo contra demisso por razes relacionadas maternidade est prevista na lei de
todos os pases da regio, salvo em Antigua e Barbuda, Guiana e Mxico, sendo que, neste l-
timo pas, se garante o direito de voltar ao mesmo posto depois da licena maternidade, mas
no se probe explicitamente a demisso da trabalhadora. A proteo contra demisso cobre
a durao da licena maternidade e, na maioria dos pases, tambm a gravidez e o tempo de
amamentao. Na Bolvia e Venezuela, a medida dura um ano a partir do nascimento do/a
79
As l i cenas mai s
ampl as se encontram
no Chi l e, Cuba,
Venezuel a (18 semanas)
e Brasi l (180 di as).
1 No caso de adoo de menores de um ano.
2 Isso difere do que est estipulado na Conveno n 103, que indica a total responsabilidade dos benefcios
por parte do Estado.
filho/a; no Chile e no Panam, cobre 12 meses aps o perodo da licena. Entretanto, vrias
legislaes permitem a demisso por causa justificada no relacionada com a gravidez e com
autorizao judicial. Em outros casos, se tem adotado uma viso mais restrita. Por exemplo,
na Argentina, a lei prev, exceto prova em contrrio, que a demisso da mulher trabalhadora
dentro de sete meses e meio (antes ou depois do parto) sempre por causa de gravidez e,
neste sentido, sofre sano mais forte do que uma demisso sem justa causa
3
.
Dentre as medidas contra a discriminao vinculada maternidade, a maioria dos pases ga-
rante o direito da trabalhadora a voltar ao mesmo posto ou a um equivalente. Ainda, vrias
naes tm incorporado o direito a tratamento compatvel com o estado de gestao, por
exemplo, a proibio de realizar trabalhos insalubres ou perigosos, sem afetar a remunerao
recebida. A proibio manifesta de exigncia de exame de gravidez a uma mulher que solici-
ta emprego, exceto para atividades de alto risco, est explicitamente prevista em lei no Brasil,
Chile, El Salvador, Honduras e Venezuela. Na Colmbia, Guatemala, Haiti, Jamaica e Uruguai, a
lei probe a discriminao por razes de gravidez, mas na verdade se restringe indiretamente
a exigncia do exame.
Com exceo de algumas naes do Caribe, as legislaes nacionais
protegem a amamentao: est garantido o direito a um ou vrios des-
cansos dirios ou a uma reduo da jornada, somando, na maioria dos
casos, uma hora por dia, considerados tempo de trabalho e, por isso,
remunerados. O beneficio assegurado durante seis meses, a partir do
nascimento da criana. Em pases como Argentina, Cuba e Equador, o
benefcio pode ser ampliado at que a criana complete um ano. No
Chile, as mes trabalhadoras tm o direito de dispor de duas pausas
dirias de uma hora para alimentar seus filhos e filhas menores de dois
anos, que podem ser ampliadas a depender do tempo necessrio para o deslocamento
desde e para o trabalho. Adicionalmente, a legislao uruguaia reconhece para funcion-
rias pblicas o direito de solicitar uma reduo da jornada em funo do tempo requerido
para amamentao.
Em aproximadamente metade dos pases, se exige que empregador disponibilize espaos
para amamentao no local de trabalho, a depender do nmero de trabalhadoras.
Medidas legais relativas conciliao de responsabilidades no trabalho e familiares
A Conveno n 156 sobre trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades fami-
liares foi ratificada por dez pases da regio. No entanto, so pouco freqentes as dis-
posies legais que incluem o conceito de trabalhador de ambos os sexos com respon-
sabilidades familiares. As medidas existentes so geralmente dirigidas unicamente s
mulheres trabalhadoras.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
80
Benef ci os rel ati vos
materni dade devem ser
custeados pel o Estado e
no pel os empregadores.
3 A indenizao, neste caso, equivale a um ano de remunerao da trabalhadora, alm daquela a que teria direito por tempo
de servio ou demisso.
CAPTULO III
Por esta razo, a incorporao das licenas paternidade teve importncia tanto simblica
como real. H mais de uma dcada, vrios pases da regio comearam a reconhecer o
direito do pai a participar do cuidado e ateno dos filhos e filhas recm-nascidos. Os pais
na Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Equador, Bahamas, Colmbia, Guatemala, Repblica
Dominicana e Venezuela tm direito a uma licena remunerada por nascimento de filho/a,
com durao que varia entre dois e cinco dias. No Equador, a licena de dez dias; na Vene-
zuela, de 14 dias. Nas Bahamas, o trabalhador tem direito a uma licena no remunerada de
sete dias por ano que pode ser usufruda tanto em razo de nascimento
de filho/a, quanto em caso de emergncias familiares.
No entanto, a legislao sobre a licena paternidade no est sendo usa-
da massivamente pelos pais e, ao contrrio, existem receios e presses
para que no se utilizem dela. Isso demonstra como importante que
qualquer nova legislao seja acompanhada de medidas que promovam
mudanas culturais.
Alguns pases estendem tambm a licena paternidade a pais adotivos.
No caso do Uruguai, esta licena de seis semanas, mais ampla que aquela concedida a
pais biolgicos. No entanto, concedida apenas a um dos progenitores. Algumas naes
concedem licenas a partir do momento em que se recebe a guarda de uma criana
4
.
Ainda, em determinados pases, conforme a Recomendao n 165 da OIT, em caso de
falecimento da me durante o parto, se estendem os benefcios da maternidade ao pai
(Cuba e Chile).
81
4 Argentina, 100 dias e Chile, 12 semanas.
A i ncorporao das
l i cenas paterni dade
teve i mpor tnci a tanto
si mbl i ca como real.
NOVA LEI ESTABELECE LICENA PATERNIDADE NO EQUADOR
Em janeiro de 2009, foi aprovada, no Equador, a licena paternidade para servidores pblicos e empre-
gados de empresas privadas. O projeto estabelece o direito a uma licena remunerada por dez dias por
nascimento de flho/flha. No caso de partos mltiplos ou cesrea, o benefcio se amplia por mais cinco
dias; e, em caso de nascimento prematuro ou outras situaes graves, por mais oito dias.
O pai tem direito licena remunerada mediante a entrega de um certifcado mdico do IESS. Se a me
falecer durante o parto ou enquanto goza da licena maternidade, o pai pode usufruir da totalidade desta
licena. Os pais adotivos tm direito a licena remunerada por 15 dias, a contar a partir da data ofcial de
recebimento da criana.
Fonte: Diario Hoy, 31 de janeiro de 2009.
QUADRO 18
A Recomendao n 165 chama a ateno sobre a importncia de que trabalhadores e traba-
lhadoras possam ter uma licena em caso de enfermidade do/a filho/a ou de outro membro
da famlia direta. No entanto, essa licena somente considerada nas legislaes de poucos
pases da regio. No Chile, se concede licena remunerada por enfermidade da criana me-
nor de um ano para um dos pais, por deciso da me. Ademais, existe uma licena de dez
dias anuais para a me ou o pai, em decorrncia de acidente grave ou doena terminal de
um menor de 18 anos. No Uruguai, somente os/as servidores/as pblicos/as podem solicitar
uma licena especial para estes casos, ainda que este direito se refira especificamente ao
desempenho de responsabilidades familiares.
Mais gerais so as licenas em decorrncia de emergncia familiar por morte do/a filho/a,
cnjuge ou pais do/a trabalhador/a. Na regio do Caribe, isso muito pouco freqente, res-
salvando a exceo j mencionada das Bahamas e Granada, onde as/os
trabalhadores/as tm direito a uma licena por situaes familiares no
limitadas a enfermidades ou morte de algum de seus integrantes.
O nico pas da regio que garante uma licena parental durante o pero-
do imediatamente posterior licena maternidade Cuba. Neste pas, os
pais podem decidir qual deles ficar em casa, cuidando do/a filho/a at
que complete um ano de idade e recebem um auxlio equivalente a 60%
do benefcio da licena maternidade. Esta uma medida que vem sendo
crescentemente adotada na Europa.
Ainda em Cuba, concedido mensalmente um dia de licena remunera-
da para levar o/a filho/a consultas/procedimentos mdicos. Este direito
tambm previsto na legislao da Venezuela.
Na Argentina e em Cuba, existe a licena no-remunerada ao trmino
da licena maternidade: a mulher pode optar por cuidar de seu/sua
filho/a durante o primeiro ano de vida
5
, sem remunerao, sem contri-
buio previdncia social e sem considerar como tempo de servio,
mas com a manuteno do posto de trabalho. Vrios pases mencio-
nam explicitamente em suas legislaes o direito a frias no perodo imediatamente
posterior licena maternidade.
A existncia de creches ou servios de cuidado uma medida fundamental para que os/
as trabalhadores/as possam conciliar suas responsabilidades familiares com as obrigaes
relacionadas ao trabalho. Nas leis trabalhistas de vrios pases, se explicita o dever do em-
pregador de ofertar estes servios no local de trabalho ou por meio de contratao de um
provedor externo. A dificuldade que esta obrigao geralmente se define em funo do
nmero de mulheres trabalhadoras, com exceo da Bolvia, Equador e Paraguai.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
82
A exi stnci a de creches ou
ser vi os de cui dado uma
medi da fundamental para
que os/as trabal hadores/
as possam conci l i ar
suas responsabi l i dades
fami l i ares com as
obri gaes rel aci onadas
ao trabal ho.
5 Na Argentina, se contempla um perodo de trs a seis meses. Em Cuba, para menores de um ano, a licena de nove
meses; para menores de 16 anos, de seis meses, tanto para pais como para mes.
CAPTULO III
De acordo com a Conveno n 156, o Estado deve prover ou garantir a organizao de
servios de cuidado. Fora do mbito da legislao trabalhista, nos pases da regio, existem
diversas iniciativas pblicas relativas a servios de cuidado sobretudo infantil mas, em ne-
nhum caso, se garante cobertura universal. Os Estados implementam programas de cuidado
no somente no mbito de medidas de proteo social, mas tambm como parte de suas
polticas educativas. Estas, no entanto, nem sempre consideram as necessidades das mes
e dos pais trabalhadores. Por isso, muitas vezes o horrio, os custos ou a qualidade dos pro-
gramas pr-escolares e escolares no facilitam a conciliao do trabalho e da vida familiar.
83
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
84
AMRI CA LATI NA E CARI BE: LEGI SLAO NACI ONAL SOBRE PROTEO MATERNI DADE
Pas
Licena maternidade
(semanas)
Benefcio durante a
licena (% do salrio)
Fonte do benefcio
Durao da proibio de demisso (estabilidade
da me)
Tempo para amamentao
Antigua e Barbuda 6 40% / 60% / 100%
Empregador: 40% durante 6 semanas; e Previdncia
Social: 60% durante 13 semanas, para trabalhadoras com
contribuies
Antigua e Barbuda
- -
Argentina 13 (90 dias) 100% Previdncia Social Argentina Gravidez e licena maternidade 2 descansos de 30 min. at criana completar 1 ano de nascimento
Bahamas 12 100%
Previdncia Social e empregador (33,3% do salrio; totalidade
se a trabalhadora no tem contribuio em dia)
Bahamas Gravidez e licena maternidade -
Barbados 12 100% Previdncia Social Barbados Gravidez e licena maternidade -
Belize 14 80% Previdncia Social Belize Licena maternidade -
Bolvia 13 (90 dias) 100% Previdncia Social e empregador (10%) Bolvia Gravidez e 1 ano a partir do nascimento Descansos de ao menos 1 hora, durante a amamentao
Brasil
17 (120 dias,
prorrogvel por 60 dias)
100% Previdncia Social Brasil Gravidez e 5 meses a partir nascimento 2 descansos de 30 min. at criana completar 6 meses de nascimento
Chile 18 100% Previdncia Social Chile Gravidez e at um ano da reintegrao ao trabalho Descansos de ao menos 1 hora at criana completar 2 anos de nascimento
Colmbia 12 100% Previdncia Social Colmbia Gravidez e 3 meses a partir do nascimento 2 descansos de 30 min. at criana completar 6 meses de nascimento
Costa Rica 16 (4 meses) 100%
Previdncia Social e empregador (50%; totalidade se a
trabalhadora no tem contribuio em dia)
Costa Rica Gravidez e 3 meses a partir do nascimento Descansos de 1 hora ao total
Cuba 18 100% Previdncia Social Cuba Licena maternidade 1 hora diria at criana completar 1 ano de nascimento
Dominica 12 60% Previdncia Social e empregador Dominica N/I N/I
Equador 12 100%
Previdncia Social; empregador se a trabalhadora no tem
contribuies por dia
Equador 2 semanas anteriores e 10 posteriores ao parto 2 horas dirias at criana completar 1 ano de nascimento
El Salvador 12 75% Empregador El Salvador Gravidez e licena maternidade Descansos de uma 1 hora
Granada 12 (3 meses) 65% Previdncia Social Granada Gravidez -
Guatemala 12 (84 dias) 100%
Previdncia Social e empregador (1/3; totalidade se a
trabalhadora no tem contribuies em dia)
Guatemala Gravidez e amamentao
2 descansos de 30 min. ou reduo de 1 hora at 10 meses a partir do
trmino da licena
Guiana 13 70% Previdncia Social Guiana - N/I
Haiti 12
100% (durante 6
semanas)
Previdncia Social Haiti Gravidez e amamentao N/I
Honduras 10
100% (mdia de
6 meses)
Previdncia Social e empregador (diferena subsdio-salrio;
totalidade se a trabalhadora no tem contribuies em dia)
Honduras Gravidez e amamentao (3 meses) 2 descansos de 30 min. at criana completar 6 meses de nascimento
Jamaica 12
100% (durante 8
semanas)
Empregador; Previdncia Social, em caso de trabalhadoras
domsticas (salrio mnimo)
Jamaica Gravidez e licena maternidade N/I
Mxico 12 100%
Previdncia Social e empregador (1/3; totalidade se a
trabalhadora no tem contribuies em dia)
Mxico (Direito a retornar ao mesmo posto) 2 descansos de 30 min.
Nicargua 12 100% Previdncia Social Nicargua Gravidez e licena maternidade 15 min. a cada 3 hs.
Panam 14 100%
Previdncia Social e empregador (diferena subsdio-salrio;
totalidade se a trabalhadora no tem contribuies em dia)
Panam Gravidez 15 min. a cada 3 hs ou 2 descansos de 30 min.
Paraguai 12
50% (benefcios
suficientes)
Previdncia Social; empregador se a trabalhadora no tem
contribuies por dia
Paraguai Gravidez e licena maternidade 2 descansos de 30 min.
Peru 13 100% Previdncia Social Peru Gravidez e 90 dias 1 hora diria durante 6 meses (remunerada)
Repblica Dominicana 12 100% Previdncia Social e empregador 50% Repblica Dominicana Gravidez e 6 meses -
Santa Lucia 13 65% Previdncia Social e empregador Santa Lucia N/I N/I
Trinidad e Tobago 13 100%
Empregador: 1 ms 100%, 2 meses 50%
Previdncia Social: % a depender do nvel salarial
Trinidad e Tobago Sim -
Uruguai 12 100% Previdncia Social Uruguai
Perodo no especificado por lei ( jurisprudncia:
gravidez e 6 meses a partir da reintegrao)
2 descansos de 30 min.; reduo da jornada metade no setor pblico
Venezuela 18 100% Previdncia Social Venezuela Gravidez e 1 ano a partir do nascimento 2 descansos de 30 min., 9 meses
Fonte: Legislao de pases segundo base de dados NATLEX e LEXADIN. Relatrios dos pases sobre cumprimento da conveno CEDAW.
QUADRO 19
CAPTULO III
85
AMRI CA LATI NA E CARI BE: LEGI SLAO NACI ONAL SOBRE PROTEO MATERNI DADE
Pas
Licena maternidade
(semanas)
Benefcio durante a
licena (% do salrio)
Fonte do benefcio
Durao da proibio de demisso (estabilidade
da me)
Tempo para amamentao
Antigua e Barbuda 6 40% / 60% / 100%
Empregador: 40% durante 6 semanas; e Previdncia
Social: 60% durante 13 semanas, para trabalhadoras com
contribuies
Antigua e Barbuda
- -
Argentina 13 (90 dias) 100% Previdncia Social Argentina Gravidez e licena maternidade 2 descansos de 30 min. at criana completar 1 ano de nascimento
Bahamas 12 100%
Previdncia Social e empregador (33,3% do salrio; totalidade
se a trabalhadora no tem contribuio em dia)
Bahamas Gravidez e licena maternidade -
Barbados 12 100% Previdncia Social Barbados Gravidez e licena maternidade -
Belize 14 80% Previdncia Social Belize Licena maternidade -
Bolvia 13 (90 dias) 100% Previdncia Social e empregador (10%) Bolvia Gravidez e 1 ano a partir do nascimento Descansos de ao menos 1 hora, durante a amamentao
Brasil
17 (120 dias,
prorrogvel por 60 dias)
100% Previdncia Social Brasil Gravidez e 5 meses a partir nascimento 2 descansos de 30 min. at criana completar 6 meses de nascimento
Chile 18 100% Previdncia Social Chile Gravidez e at um ano da reintegrao ao trabalho Descansos de ao menos 1 hora at criana completar 2 anos de nascimento
Colmbia 12 100% Previdncia Social Colmbia Gravidez e 3 meses a partir do nascimento 2 descansos de 30 min. at criana completar 6 meses de nascimento
Costa Rica 16 (4 meses) 100%
Previdncia Social e empregador (50%; totalidade se a
trabalhadora no tem contribuio em dia)
Costa Rica Gravidez e 3 meses a partir do nascimento Descansos de 1 hora ao total
Cuba 18 100% Previdncia Social Cuba Licena maternidade 1 hora diria at criana completar 1 ano de nascimento
Dominica 12 60% Previdncia Social e empregador Dominica N/I N/I
Equador 12 100%
Previdncia Social; empregador se a trabalhadora no tem
contribuies por dia
Equador 2 semanas anteriores e 10 posteriores ao parto 2 horas dirias at criana completar 1 ano de nascimento
El Salvador 12 75% Empregador El Salvador Gravidez e licena maternidade Descansos de uma 1 hora
Granada 12 (3 meses) 65% Previdncia Social Granada Gravidez -
Guatemala 12 (84 dias) 100%
Previdncia Social e empregador (1/3; totalidade se a
trabalhadora no tem contribuies em dia)
Guatemala Gravidez e amamentao
2 descansos de 30 min. ou reduo de 1 hora at 10 meses a partir do
trmino da licena
Guiana 13 70% Previdncia Social Guiana - N/I
Haiti 12
100% (durante 6
semanas)
Previdncia Social Haiti Gravidez e amamentao N/I
Honduras 10
100% (mdia de
6 meses)
Previdncia Social e empregador (diferena subsdio-salrio;
totalidade se a trabalhadora no tem contribuies em dia)
Honduras Gravidez e amamentao (3 meses) 2 descansos de 30 min. at criana completar 6 meses de nascimento
Jamaica 12
100% (durante 8
semanas)
Empregador; Previdncia Social, em caso de trabalhadoras
domsticas (salrio mnimo)
Jamaica Gravidez e licena maternidade N/I
Mxico 12 100%
Previdncia Social e empregador (1/3; totalidade se a
trabalhadora no tem contribuies em dia)
Mxico (Direito a retornar ao mesmo posto) 2 descansos de 30 min.
Nicargua 12 100% Previdncia Social Nicargua Gravidez e licena maternidade 15 min. a cada 3 hs.
Panam 14 100%
Previdncia Social e empregador (diferena subsdio-salrio;
totalidade se a trabalhadora no tem contribuies em dia)
Panam Gravidez 15 min. a cada 3 hs ou 2 descansos de 30 min.
Paraguai 12
50% (benefcios
suficientes)
Previdncia Social; empregador se a trabalhadora no tem
contribuies por dia
Paraguai Gravidez e licena maternidade 2 descansos de 30 min.
Peru 13 100% Previdncia Social Peru Gravidez e 90 dias 1 hora diria durante 6 meses (remunerada)
Repblica Dominicana 12 100% Previdncia Social e empregador 50% Repblica Dominicana Gravidez e 6 meses -
Santa Lucia 13 65% Previdncia Social e empregador Santa Lucia N/I N/I
Trinidad e Tobago 13 100%
Empregador: 1 ms 100%, 2 meses 50%
Previdncia Social: % a depender do nvel salarial
Trinidad e Tobago Sim -
Uruguai 12 100% Previdncia Social Uruguai
Perodo no especificado por lei ( jurisprudncia:
gravidez e 6 meses a partir da reintegrao)
2 descansos de 30 min.; reduo da jornada metade no setor pblico
Venezuela 18 100% Previdncia Social Venezuela Gravidez e 1 ano a partir do nascimento 2 descansos de 30 min., 9 meses
Fonte: Legislao de pases segundo base de dados NATLEX e LEXADIN. Relatrios dos pases sobre cumprimento da conveno CEDAW.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
86
AMRI CA LATI NA E CARI BE: LEGI SLAO NACI ONAL PARA APOI AR A CONCI LI AO DO TRABALHO
E RESPONSABI LI DADES FAMI LI ARES
Pas Licenas paternidade Licenas por necessidades familiares
Obrigao de prover servios de
cuidado no local de trabalho
Antigua e Barbuda - - -
Argentina 5 dias
Licena de 3 dias por morte de flho/cn-
juge/pais. Direito a licena no-remune-
rada em caso de enfermidade de flho/a.
Seis meses de licena no-remunerada
por flho/a com sndrome de Down.
Empresas com 50 ou mais mulheres
Bahamas 7 dias (sem remunerao)
Licena familiar de 7 dias (sem remunera-
o) por nascimento ou enfermidade de
filho/a, morte de filho/a/cnjuge/pais
-
Barbados - - N/I
Belize - - N/I
Bolvia - - Empresas com 50 ou mais mulheres
Brasil 5 dias
Licena de 9 dias por morte de flho/a/cn-
juge/pais. Direitos equivalentes aos dos pais
biolgicos em caso de adoo de menor de
um ano: o perodo de licena ser de 120
dias; de criana a partir de 1 ano at 4 anos de
idade, o perodo de licena ser de 60 dias; de
criana a partir de 4 anos at 8 anos de idade,
o perodo de licena ser de 30 dias. Licena
de 2 dias, em caso de morte de cnjuge, pais,
flhos/as, irmos ou dependentes.
Obrigao dos empregadores em
oferecer servios a todas trabalhadoras
com filhos/as menores de 6 meses,
independentemente do nmero de
mulheres empregadas.
Chile 5 dias
Licena por enfermidade da criana menor de
1 ano que requeira ateno em casa, para me
ou pai (preferncia me). Licena de 10 dias
anuais para a me ou pai por acidente grave
ou doena terminal de um menor de 18 anos.
Licena de at 12 semanas para trabalhador/a
ao receber guarda legal de uma criana me-
nor de 6 meses, como medida de proteo.
Licena de 7 dias por morte de flho/a/cnju-
ge; 3 dias por morte dos pais.
Empresas com mais de 20 mulheres
empregadas
Colmbia
4 dias (8 dias se ambos cnjuges contri-
buem para previdncia social)
Licena de 6 semanas para pai adotante
sem cnjuge. Licena por emergncia
domstica. Licena de 5 dias por morte
de filho/a cnjuge/pais.
-
Costa Rica - N/I -
Cuba -
Licena famlia retribuda para pai/me de
um menor de 1 ano; Licena no retribu-
da para pai/me (9 meses com menores
de 1 ano, 6 meses com menores de 16
anos); Direito a um dia por ms para pai/
me acompanharem flho/a menor de 1
ano a consultas/procedimentos mdicos.
N/I
Equador -
Licena de 8 dias para funcionrios
pblicos por emergncia domsti-
ca (enfermidade grave de cnjuge,
companheiro/a ou parente de 2 grau)
Empresas com 50 ou mais mulheres
empregadas
QUADRO 20
CAPTULO III
87
Pas Licenas paternidade Licenas por necessidades familiares
Obrigao de prover servios de
cuidado no local de trabalho
El Salvador -
Licena por enfermidade ou morte de
filhos/as e cnjuge/pais ou outros fami-
liares dependentes (2 dias remunerados
ao ms, restante sem remunerao)
-
Granada
Licena por enfermidade ou morte de
filhos/as e cnjuge/dependente ou por
outras responsabilidades familiares.
Guatemala 2 dias
Licena de 3 dias por morte de filho/a/
cnjuge/pais
Empresas com mais de 30 mulheres
empregadas (dentro das possibilidades
econmicas do empregador)
Guiana - N/I -
Haiti - N/I N/I
Honduras - -
Empresas com mais de 20 mulheres
empregadas (dentro das possibilidades
econmicas do empregador)
Jamaica - N/I N/I
Mxico - N/I -
Nicargua - N/I -
Panam - N/I (Responsabilidade do Estado)
Paraguai 2 dias
3 dias para matrimnio e 4 dias por
falecimento do cnjuge, filhos/as, pais,
avs e irmos/s
Empresas (industriais e comerciais) com
50 ou mais trabalhadores/as
Peru -
Licena de 30 dias para pai adotante
sem cnjuge.
-
Rep. Dominicana -
Licena de trs dias por morte de
filho/a/parceiro/a/pais/avs
-
Trinidad e Tobago - - -
Uruguai 3 dias
Licena especial de 6 semanas por
adoo (me ou pai); Licena especial
remunerada de at 30 dias para funcio-
nrios pblicos em casos devidamente
justificados.
-
Venezuela 14 dias
Licena de 10 semanas para a traba-
lhadora que adote um menor de 3
anos; Licena de 28 dias em caso de
enfermidade da criana ou da me;
Direito a um dia por ms para pai/me
acompanharem filho/a menor de 1 ano
a consultas/procedimentos mdicos;
Licena paternidade tambm em caso
de adoo
Empresas com mais de 20 trabalhado-
res/as
Fonte: Legislao de pases segundo base de dados NATLEX e LEXADIN. Relatrios dos pases sobre cumprimento da conveno CEDAW.
DIREITOS GARANTIDOS A UMA MINORIA
Como demonstra a reviso das legislaes nacionais, em termos gerais, a legislao trabalhis-
ta parte do princpio que, passado o momento da concepo e nascimento de um filho/a,
os cuidados so basicamente uma questo privada e familiar. As medidas tendem a focar a
proteo da maternidade, sem abordar outras responsabilidades familiares.
No entanto, as demandas de conciliao no se esgotam com o trmino do perodo de
amamentao e tampouco se restringem aos cuidados e ateno dos filho/as: a maioria
dos trabalhadores tm responsabilidades tambm com pessoas idosas. Estas demandas
aumentam de forma considervel devido ao envelhecimento da populao na regio.
Um problema ainda mais premente a ausncia de cobertura universal. Ao contrrio, tendo
em vista mltiplas excluses, se produz uma brecha de execuo, ou seja, uma proporo
importante de trabalhadoras e trabalhadores fica fora do alcance da lei,
sem possibilidade de usufruir destes direitos.
A primeira excluso decorre da limitao da cobertura da legislao a
assalariados formais: os trabalhadores informais, por definio, se inse-
rem entre os excludos. A informalidade no trabalho uma modalidade
endmica de excluso em muitos pases da regio, o que, por sua vez,
acarreta baixa cobertura da previdncia social. Este tema preocupante,
sobretudo para as mulheres, pois, mais de 50% das trabalhadoras esto
no setor informal na Amrica Latina e Caribe. Como resultado, estas mu-
lheres no contam com o direito proteo maternidade, carecem de
reconhecimento de sua condio, licena maternidade e tempo remu-
nerado para amamentao.
desta maneira que a tradicional cobertura de contingncias atravs do
pagamento de benefcios familiares, encarregados de assumir os custos do crescimento e
expanso do grupo familiar, mostrou seus limites, j que tradicionalmente so pagos como
parte do salrio e hoje as mulheres com menos recursos encontram-se majoritariamente na
economia informal.
Alm disso, em alguns pases, as trabalhadoras domsticas esto tambm excludas da
proteo maternidade e de outros benefcios da previdncia social. Outro grupo de mu-
lheres trabalhadoras sem acesso a estas medidas so as empregadoras, majoritariamente
em microempresas informais. Na maioria dos pases, os trabalhadores homens com res-
ponsabilidades familiares tambm ficam margem da proteo, pois medidas como a pro-
viso de creches so exclusivamente dirigidas s mulheres. Em alguns pases da regio do
Caribe ingls, por exemplo, a populao que acessa a previdncia social vem se reduzindo,
mesmo no setor pblico.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
88
Mai s de 50% das
trabal hadoras esto no
setor i nformal na Amri ca
Lati na e Cari be. Como
resul tado, estas mul heres
no contam com o di rei to
proteo materni dade.
CAPTULO III
primeira excluso, se soma a segunda, devida ao baixo cumprimento da lei, pois, mesmo
entre a populao formalmente coberta pelas medidas existentes, apenas uma parte tem
acesso efetivo proteo legal. Isso refora a necessidade de aumentar a eficcia e celerida-
de das aes das instituies que velam pelo efetivo respeito aos direitos de trabalhadores
e trabalhadoras. As inspees do trabalho que integram os Ministrios do Trabalho e/ou da
Previdncia Social geralmente tm escassos recursos tcnicos e financeiros para supervisio-
nar o cumprimento das normas. Ainda, as resolues judiciais necessrias para tornar efetiva
a legislao trabalhista, por exemplo, para proteger a condio de maternidade, podem ser
adotadas quando j se passou demasiado tempo.
Ao mesmo tempo em que constitui uma violao da lei, o no cumprimento da normativa
se assenta em uma equivocada percepo dos direitos sociais e trabalhistas como custos.
Em contraposio a esta idia, h registros de que as unidades produtivas que cumprem a
legislao obtm maiores benefcios econmicos. Deste modo, os pases enfrentam o duplo
desafio de fortalecer as capacidades institucionais para assegurar o cum-
primento da legislao social e trabalhista e tambm de tornar este cum-
primento um benefcio efetivo, de forma a desincentivar a concorrncia
desleal. A Costa Rica adotou uma medida neste sentido: as empresas que
prestam servios ao Estado devem estar em dia com as contribuies
previdncia social de seus trabalhadores.
A grande questo que surge o divrcio entre as medidas que se cum-
prem, as garantias ou direitos daqueles que podem acess-los e os custos
associados a isso, assim como a fonte de financiamento destes, conside-
rando que a finalidade a reproduo da sociedade.
SERVIOS DE CUIDADO SO INSUFICIENTES
De acordo com a Conveno n 156, a responsabilidade pelo desenvolvimento e promoo
de servios comunitrios, pblicos ou privados, de assistncia infncia e famlia cabe ao
Estado. Tendo em vista os altos nveis de desigualdade que caracterizam as sociedades da
Amrica Latina e Caribe, o Estado passa a ter um papel crucial no desenvolvimento de servi-
os que no estejam condicionados ao poder aquisitivo ou ao tipo de insero no mercado
de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras.
Necessitam-se, portanto, de recursos pblicos. No entanto, os nveis de investimento social
so desiguais e oscilam entre menos de US$ 10 por habitante (Equador, Nicargua), at US$
1.500 (Argentina), como demonstra o grfico 15.
89
Ao mesmo tempo em que
consti tui uma vi ol ao da
l ei , o no cumpri mento da
normati va se assenta em
uma equi vocada percepo
dos di rei tos soci ai s e
trabal hi stas como custos.
A principal diferena entre os pases da Amrica Latina e a Europa com relao ao gasto so-
cial no a porcentagem do PIB que dispem, mas sua finalidade
6
. Na regio, so escassos os
recursos especificamente destinados para o cuidado de crianas por meio de servios (cre-
ches) ou de transferncias financeiras, para que as mes e pais recorram a servios privados.
A oferta de cuidado infantil disponvel na regio - servios pblicos, privados e de organi-
zaes comunitrias e no-governamentais - dispersa e com cobertura
limitada. A grande maioria das crianas da Amrica Latina e Caribe no
tem acesso a creches ou jardim de infncia. Por exemplo, na Colmbia,
cerca de 52% das crianas menores de 5 anos permanecem em casa, a
cargo de um adulto; 8,5% so cuidados por algum membro da famlia
mais velho, e 1,7% acompanham a me em seu trabalho. No Mxico, 84%
das crianas menores de seis anos esto sob responsabilidade da me e
9%, de outro familiar, enquanto que somente 2% tm acesso a creches
pblicas ou privadas, apesar deste servio estar entre os benefcios da
previdncia social (Salvador, 2007).
Segundo dados da UNESCO (2008), o ensino pr-escolar experimentou,
na regio, um rpido desenvolvimento ao longo da ltima dcada. Entre
1999 e 2006, o nmero de crianas em programas de educao pr-esco-
lar (perodo entre 3 a 4 anos at idade de ingresso no ensino fundamen-
tal) aumentou em 16 a 20 milhes e a taxa bruta de escolarizao passou de 56% a 65%. No
entanto, geralmente os servios so oferecidos somente para crianas a partir de trs anos. A
cobertura da educao primria aumenta gradualmente com a idade, medida que come-
am a vigorar regras relativas obrigatoriedade da escolaridade. Para as crianas a partir dos
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
90
% do PIB
Per capita (US$ 2000)
GRFI CO 15
AMRI CA LATI NA (16 PA SES): GASTO SOCI AL PER CAPI TA,
COMO PORCENTAGEM DO PI B, ESTI MATI VA DE 2006
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1600
A
r
g
e
n
t
i
n
a
U
r
u
g
u
a
i
B
r
a
s
i
l
C
o
s
t
a
R
i
c
a
C
h
i
l
e
M
x
i
c
o
V
e
n
e
z
u
e
l
a
P
a
n
a
m
P
e
r
u
R
.
D
o
m
i
n
i
c
a
n
a
B
o
l
v
i
a
H
o
n
d
u
r
a
s
E
l
S
a
l
v
a
d
o
r
P
a
r
a
g
u
a
i
G
u
a
t
e
m
a
l
a
E
q
u
a
d
o
r
N
i
c
a
r
g
u
a
20
15
10
5
0
25
Fonte: CEPAL (2008b).
O Estado passa a ter um papel
crucial no desenvolvimento
de servios que no estejam
condicionados ao poder
aquisitivo ou ao tipo
de insero no mercado
de trabalho.
6 Na Europa, o gasto destinado a crianas varia entre 0,5 a 1,2% do PIB (na Itlia, Espanha, Portugal e Pases Baixos) e 4% do PIB (nos
pases nrdicos). Por exemplo, na Argentina, o gasto social total dirigido a infncia tem oscilado, na ltima dcada, entre 1,3% e 2,0%
do PIB. A metade se destina educao bsica, um quarto proteo da sade e quase 15%, ao programa de renda familiar.
CAPTULO III
cinco anos, na maioria dos pases, a cobertura se torna mais ampla, conforme demonstra a
tabela 1 (UNESCO, 2007).
No Caribe, a educao pr-escolar principalmente oferecida pelo setor privado: 80% das
crianas na escola freqentam instituies deste tipo. Ao contrrio, na maioria dos pases da
Amrica Latina, predomina o ensino pr-escolar pblico.
Para alm da educao pr-escolar, vrios pases iniciaram programas de extenso da jornada
escolar, que atendem tanto objetivos educativos como de socializao, e que trazem evidentes
impactos para conciliao. O Chile pioneiro neste campo, pois, em 2006, contava com mais
de sete mil estabelecimentos com jornada escolar integral. Na Costa Rica, o programa piloto
Segunda Casa testou, com muito bons resultados, uma modalidade similar. Em ambos os ca-
91
TABELA 1
PA SES SELECI ONADOS: COBERTURA DE ATENO PRI MEI RA I NFNCI A E EDUCAO PRI MRI A
( EM %)
Pas
Nvel educacional
0-2 anos 3 anos 4 anos 5 anos
Argentina 0 0 28,8 57,3
Brasil 0 4,8 26,1 54.3
Bolvia 0 0,6 18,8 60,9
Colmbia 0 13,8 28,3 58,3
Costa Rica 0 3,1 32,4 77,8
Cuba 11 99,1 99,7 100
Equador 0 0 11,9 n/a
Guatemala 0 6,5 11,3 34,3
Haiti (As cifras se referem
a meninos e meninas,
respectivamente.)
1,5 / 1,5 13,4 / 13,9 20,9 / 21,4 26,1/25,3
Jamaica 0 60,4 95,9 98,5
Nicargua 12,2 21,3 40 58,7
Panam 0 3,8 26,2 78,1
Paraguai 0 2 18 83
Peru 0 39,7 60,3 73,7
Santa Lcia 9,4 70,3 67,2 8,7
Uruguai 0,9 8,5 39,7 87,4
Fonte: Elaborao prpria com base nos perfis nacionais preparados para o relatrio da UNESCO: Relatrio de Monitora-
mento da Educao para Todos no Mundo, 2007. Bases Slidas: ateno e educao na primeira infncia (2006).
sos, o apoio na infra-estrutura j existente constituiu uma enorme vantagem. Na regio do Ca-
ribe ingls, como, por exemplo, em Granada, existem planos similares de extenso da jornada.
Na maioria dos pases, a principal oferta de servios de cuidado em jornada integral e de qualida-
de vem do setor privado e, por estar sujeita a uma lgica de mercado, mais
acessvel a famlias mais abastadas. A taxa de pessoas assistidas pelos progra-
mas de cuidado e educao pr-escolar mais elevada em zonas urbanas
e entre famlias de situao econmica mais favorecida. Este um fator de
reproduo da desigualdade, pois estudos internacionais demonstram que
crianas de ambientes sociais mais desfavorecidos so as que mais necessi-
tam e se benefciam dos programas de educao primria, embora sejam,
justamente, as que menos tm acesso a estas iniciativas.
A ausncia ou insufcincia de servios de cuidado constitui uma das prin-
cipais barreiras de acesso ao mercado de trabalho para as mulheres com
menor renda, o que constitui, por sua vez, fator de reproduo da desigual-
dade de gnero e socioeconmica. Um terceiro fator de excluso a ori-
gem tnica e racial. Em pases com alta proporo de populao indgena
como Bolvia, Equador e Guatemala, as medidas conciliatrias tendem a fo-
calizar-se em zonas urbanas, em detrimento da populao rural e indgena.
No Brasil, os dados so eloqentes: dos lares com renda inferior a do salrio mnimo, somen-
te 8,4% das crianas tm acesso a servios de cuidado; ao contrrio, nas famlias com renda
superior a dois salrios mnimos, a porcentagem se eleva para 30,9%. Como tambm mostram
os dados para Argentina, h uma grande desigualdade socioeconmica no acesso educao
pr-escolar primria, que s diminui quando esta se torna obrigatria (grfco 16).
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
92
Na maioria dos pases, a
principal oferta de servios
de cuidado em jornada
integral e de qualidade
vem do setor privado e, por
estar sujeita a uma lgica de
mercado, mais acessvel a
famlias mais abastadas.
GRFI CO 16
ARGENTI NA: TAXA DE ASSI STNCI A DE CRI ANAS DE 3 A 5 ANOS,
SEGUNDO QUI NTI L DE RENDA, 2006 ( TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS)
80,0
60,0
40,0
20,0
0
20% mais pobre 20% mais rico
100,0
3 anos 4 anos 5 anos Fonte: Elaborao prpria com base na
EPH - INDEC
CAPTULO III
Em um nmero importante de pases, o Estado refora a proviso do cuidado infantil na primeira
idade por meio de acordos com organizaes no-governamentais e comunitrias, com o obje-
tivo principal de retirar as crianas da situao de pobreza. Estes programas se desenvolvem em
um marco de polticas focalizadas de combate pobreza e no tm metas de universalidade.
Esta ao estatal tem contribudo para a institucionalizao de programas comunitrios de
cuidado infantil, em locais especialmente construdos ou em casas de famlia. Alguns progra-
mas provm servios de alcance nacional e constituem um importante eixo da poltica de
cuidado infantil, permitindo s mes trabalhadoras de nvel socioeconmico desfavorecido
contar com um local onde deixar seus filhos e filhas. Alm disso, so uma oportunidade de
emprego para mulheres pobres que assumem as tarefas de cuidadoras, mesmo que geral-
mente se trate de uma atividade de baixa remunerao e sem acesso previdncia social.
Na Colmbia, o Estado institucionalizou os servios oferecidos por mu-
lheres em comunidades, convertendo-os em poltica nacional. Os progra-
mas pblicos de cuidado infantil do Instituto Colombiano de Bem Estar
Familiar (ICBF), que contam com a maior cobertura, surgiram por iniciati-
va de mulheres de bairros populares que cuidavam dos filhos e filhas de
suas vizinhas, enquanto estas saam para trabalhar.
No Peru, o Programa Wawa Wasi, desenvolvido pelo Ministrio de Desen-
volvimento Social, tem como objetivo prover o cuidado das crianas en-
quanto suas mes trabalham, e, ao mesmo tempo, gerar emprego para
mulheres cuidadoras. Atualmente, atende a 53 mil menores de quatro anos
em todo o pas, entre s 8 horas da manh e s 5 horas da tarde. As moda-
lidades de operao do Programa contemplam trs alternativas: a casa da
cuidadora; um local cedido pela comunidade ou uma instituio pblica
que adota ou fnancia a metodologia do programa. Em todos os casos, o
Estado oferece assistncia tcnica (MIMDES, 2008). Outros programas si-
milares so o Programa de Creches e Espaos Infantis, no Mxico; Lares
Comunitrios, na Costa Rica; e Empresas Maternais, em Honduras.
Em matria de ateno primeira infncia, as melhores prticas so aquelas que, simulta-
neamente, buscam atender s crianas e facilitar a insero de suas mes no mercado de
trabalho. O objetivo evitar aquelas iniciativas que no levem em considerao a conciliao
e/ou que reforcem a idia de que as mes so as nicas responsveis pelo cuidado infantil.
A oferta de servios de cuidado para pessoas com defcincia ou para populao idosa bastante
precria na regio. Em nenhum pas, a previdncia social prev transferncias fnanceiras univer-
sais por velhice ou invalidez. Por conseqncia, no momento da aposentadoria, somente uma
minoria da populao pode acessar o mercado para receber os cuidados que necessita. A grande
maioria depender da famlia - usualmente, das mulheres - para atender suas necessidades.
93
As cri anas de
ambi entes soci ai s mai s
desfavoreci dos so as
que mai s necessi tam e se
benefi ci am dos programas
de educao pri mri a,
embora sej am, j ustamente,
as que menos tm acesso
a estas i ni ci ati vas.
Na maioria dos pases, o Estado prov servios bsicos de sade para a populao de terceira
idade. Os servios de ateno integral, por exemplo, residncias ou centros de recreao, so
muito incipientes e restritos a setores de nvel socioeconmico mais alto. No Uruguai, onde a
populao idosa significativa, somente 2,4% residem em casas de sade ou em residncias
pblicas. A cobertura de domiclios diurnos ainda menor. A ateno domiciliar no uma
prioridade e se espera que as famlias assumam a responsabilidade do cuidado dos mais
velhos (Salvador, 2007).
Neste contexto, um interessante debate tem surgido ao se considerar as mu-
danas na pirmide demogrfca, o rpido envelhecimento da populao, a
sobrecarga de trabalho para as mulheres e a escassa cobertura dos sistemas
de proteo social: no deveriam os Estados garantir um acesso universal a
servios bsicos de cuidado? Desta maneira, se poderia impedir a transfern-
cia de responsabilidades do espao domstico e o mercado de trabalho, que
se produziu em um contexto de programas de ajuste estrutural. Este tem sido
um tema de discusso, resultante da crescente tendncia implementao
de transferncias condicionadas, em vez das no condicionadas, sob a justi-
fcativa que a pobreza um fenmeno decorrente de comportamentos in-
dividuais e de carncia de capital humano. Assegurar a possibilidade de uma
vida com autonomia plena - emocional, fsica, cultural e econmica - exige
um desenho de polticas que garantam equidade e universalidade.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
94
UM BOM EXEMPLO: CHILE CRESCE COM VOC
O Sistema de Proteo Integral Primeira Infncia Chile Cresce com Voc, criado pelo Governo do Chile em
2006, parte do princpio que a educao de meninos e meninas uma responsabilidade social e objeto
de poltica pblica. Um de seus eixos centrais a criao de creches, a fm de apoiar o desenvolvimento
cognitivo e emocional de meninos e meninas, e promover a insero de suas mes no mercado de traba-
lho. O programa est dirigido aos 40% mais vulnerveis da populao, que, geralmente, no tm acesso
a este tipo de servio quando oferecido pelo mercado.
Combinado com benefcios como auxlio familiar pr-natal e acesso preferencial a servios relativos
ao desenvolvimento infantil, o sistema garante a disponibilidade de creches gratuitas e de qualidade
para meninos e meninas menores de dois anos, cujas mes trabalham ou estejam buscando empre-
go. Outro grupo alvo so as mes que estudam - principalmente mes adolescentes - a fm de mant-
las no sistema escolar.
Por meio deste programa, em torno de 900 locais novos foram construdos a cada ano e, at o fnal de
2009, sero construdas 3.500 creches pblicas e gratuitas para atender a 70 mil lactantes, o que signifca
um aumento de 500% em comparao com a oferta pblica de 2005. Em janeiro de 2009, a Ministra de
Planejamento do Chile apresentou Cmara dos Deputados um projeto de lei para institucionalizar este
programa e transform-lo em um sistema interssetorial de proteo social.
Fontes: MIDEPLAN (2008), www.junji.cl
QUADRO 21
Em matria de ateno
primeira infncia, as melhores
prticas so aquelas que,
simultaneamente, buscam
atender s crianas e facilitar
a insero de suas mes no
mercado de trabalho.
CAPTULO III
95
CONCILIAO E TRANSFERNCIAS CONDICIONADAS: NOVOS DESAFIOS PARA OS FORMULADORES
DE POLTICAS PBLICAS
Com o objetivo de interromper o ciclo transgeracional da pobreza, durante a ltima dcada, tem-se de-
senvolvido na Amrica Latina os chamados programas de transferncias de renda condicionadas.
Ainda que haja importantes diferenas entre os pases, todos partem do mesmo princpio: a entrega de
subsdios feita em troca de medidas de promoo da assistncia escolar, controles de sade e nutrio
das crianas. Em torno de 20 milhes de famlias na regio recebem este tipo de transferncias fnanceiras
e, em 2008, 15, dos 18 pases, da Amrica Latina contavam com alguma forma deste tipo de programa.
Estas iniciativas atingiram as mulheres de maneira efetiva, por duas razes: porque so a maioria entre
a populao pobre e porque so tidas como mais efcientes na administrao de recursos e no cumpri-
mento das condies impostas pelos programas. O fato de serem as benefcirias das transferncias teve
impactos positivos, pois muitas contam pela primeira vez com renda prpria.
Um ponto positivo deste tipo de programas o reconhecimento explcito do papel central das mulheres
na economia domstica. No entanto, reproduzem a tradicional diviso sexual do trabalho e reforam o
papel da mulher como principal responsvel pela famlia. De fato, uma das principais crticas dirigidas
a este tipo de iniciativa que no contemplam aes a favor da conciliao entre trabalho e famlia,
assumindo que os cuidados, especialmente das crianas, so uma responsabilidade individual (no so-
cial) e circunscrita s mes, no aos pais. Outro ponto de debate a falta de aes de promoo das
capacidades das mulheres para se inserirem no mercado de trabalho, e de um vnculo com a poltica de
emprego, pois se perde a oportunidade de impulsionar sua autonomia e alcanar resultados sustentveis
de superao da pobreza.
Neste sentido, desde o ponto de vista da conciliao entre trabalho e vida familiar, estes programas tm
um enorme potencial: i) tornar a insero das mulheres no mercado de trabalho um objetivo prioritrio;
ii) incorporar os cuidados como parte das responsabilidades familiares, que devem deixar de estar exclu-
sivamente identifcadas com o mbito privado; e iii) vincular a promoo do emprego feminino com a
criao de mais e melhores servios sociais.
QUADRO 22
96
Um dos argumentos contrrios formulao e desenvolvimento de polticas de conciliao
o mito de que tm um custo elevado; o que no se confirma, especialmente quando se
contrastam os benefcios a mdio prazo com os custos decorrentes de sua ausncia.
So claras as contribuies que as polticas conciliatrias podem trazer para a produtividade
das empresas, assim como para a sustentabilidade e ampliao da capacidade produtiva da
populao. Ainda, ao formalizar os mecanismos de conciliao, se gera um importante po-
tencial de criao de trabalho decente, especialmente para as mulheres.
As conseqncias negativas a mdio e longo prazo da falta deste tipo de iniciativa extrapo-
lam a esfera do indivduo, pois geram custos sociais e diminuem o rendimento econmico
dos pases. Isso se expressa em trs dimenses:
No nvel macroeconmico: existe um desperdcio da fora de traba-
lho (especialmente feminina) que afeta a produtividade e competitivi-
dade dos pases e debilita suas trajetrias de crescimento.
No nvel das unidades produtivas: o esforo que realizam as pessoas
para conciliar vida familiar e laboral gera uma enorme tenso que afeta
seu desempenho e leva a uma menor produtividade.
Na qualidade da vida individual e familiar: manifesta em problemas
de sade e perda de renda para as mulheres; falta de oportunidades
de educao para as crianas e adolescentes; e risco de trabalho in-
fantil. Tambm se agudizam os conflitos sociais, expressos em com-
portamentos disruptivos, como delinqncia, consumo de drogas
e abandono.
Um custo potencial adicional o risco para sobrevivncia da prpria so-
ciedade. Uma das causas da baixa fecundidade em vrios pases da Euro-
pa , justamente, a srie de problemas enfrentados pelas mulheres para
conciliar o trabalho remunerado com suas responsabilidades familiares, devido aos custos de
oportunidade indiretos de ser me e os custos associados ao cuidado infantil. Esta tendncia
estaria reforando o envelhecimento da populao e contribuindo para a crise de cuida-
dos naquele continente (Esping-Andersen, 2000). Existe o risco de uma tendncia similar na
Amrica Latina e Caribe, em particular entre as mulheres mais escolarizadas, que se torna
mais aguda na classe mdia devido ausncia de servios acessveis de cuidado infantil.
Finalmente, existe um custo para a democracia e o exerccio de direitos de cidadania, pois a
falta de conciliao restringe a participao das mulheres na vida pblica.
O custo da inexistncia
de polticas conciliatrias
So cl aras as contri bui es
que as pol ti cas
conci l i atri as podem trazer
para a produti vi dade das
empresas, assi m como
para a sustentabi l i dade e
ampl i ao da capaci dade
produti va da popul ao.
CAPTULO III
CUSTOS PARA AS ECONOMIAS NACIONAIS
Os mercados de trabalho da Amrica Latina e Caribe esto desperdiando sua fora de traba-
lho, pela difculdade das mulheres para se inserirem no mercado de trabalho, sua alta quali-
fcao com relao aos trabalhos que de fato realizam e sua maior presena em ocupaes
precrias e mal remuneradas. Na Argentina, por exemplo, 67% das mulheres que tm ensino
superior realizam tarefas operativas ou tcnicas, frente a 54% dos homens na mesma situao.
Desgastar a fora de trabalho provoca um baixo ritmo de crescimento a longo prazo, pois
a fora de trabalho importante como fator produtivo e como demanda de consumo
de produtos. Alm disso, uma fora de trabalho capacitada e disponvel para o emprego,
mas inativa, desempregada ou subempregada, significa uma distribuio ineficiente de
recursos e uma perda de capital humano. Assim, a economia no atin-
ge suas plenas possibilidades de produo, o que afeta o crescimento.
Outra conseqncia negativa o aumento da pobreza e a difculdade para
reduz-la, tendo em vista o baixo nvel de renda decorrente deste padro
produtivo e a excluso do acesso ao emprego de uma parte importante
da populao. Isso tem custos. Em nvel individual, recaem sobre pessoas
que tm cada vez menos possibilidades de acessar um emprego de quali-
dade, uma vez que seus conhecimentos e aprendizagens tornam-se desa-
tualizados. Os custos sociais so para os Estados que devem disponibilizar
uma maior proporo de recursos para combater a pobreza. Para fechar o
crculo, sabe-se que a reproduo transgeracional da pobreza e a excluso
afetam o comportamento macroeconmico dos pases.
CUSTOS PARA A PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS
A tenso entre trabalho e vida familiar pode gerar menor desempenho no trabalho, insatis-
fao e aumento da rotatividade nas unidades produtivas.
Apesar de que algumas empresas reconhecem os efeitos positivos para a produtividade ao
se enfrentar esta tenso, isso no se traduz como prioridade no planejamento estratgico da
maioria. H de se considerar, tambm, a grande heterogeneidade entre as empresas - quanto
ao tamanho, setor, nveis de qualificao de sua fora de trabalho -, que afeta a percepo do
problema e os custos de no se contar com medidas conciliatrias.
As empresas com polticas de conciliao transcendem as exigncias legais, geralmente
como resultado de uma estratgia organizacional ou de negociao coletiva. As medidas
so variadas, desde a definio de jornadas e horrios de trabalho, at a criao de servios
de cuidado propriamente ditos.
97
Desgastar a fora de
trabal ho provoca um bai xo
ri tmo de cresci mento a
l ongo prazo, poi s a fora
de trabal ho i mpor tante
como fator produti vo
e como demanda de
consumo de produtos.
Muitas aprendizagens so decorrentes do prprio desempenho do trabalho e, por conse-
qncia, s so obtidas no exerccio do trabalho, mesmo considerando que parte da quali-
ficao tenha fonte externa, como a escolaridade, entre outras. A tenso entre vida laboral e
familiar, entretanto, gera uma maior rotatividade de pessoas e dificuldades para contratar e
promover a permanncia de trabalhadores, especialmente das trabalhadoras, cujo nvel de
especializao indispensvel para o desenvolvimento da empresa. Portanto, os custos de-
correntes da tenso so maiores para as empresas que justamente investem em polticas de
capacitao, seja por meio de cursos nas prprias unidades produtivas ou por meio da pro-
moo da capacitao externa de seu pessoal. A tenso tambm aumenta os custos quanto
ao recrutamento e motivao.
Quando as empresas competem entre si para contar com pessoas mais
qualificadas em determinados campos, a presena de polticas institu-
cionais favorveis famlia pode dar vantagens comparativas entre as
empresas. Uma pesquisa mundial entre graduados universitrios docu-
mentou que a existncia de medidas que permitem conciliar a vida labo-
ral e familiar era o fator mais importante para a escolha do empregador,
para a grande maioria deles, superando a importncia dada ao salrio
(Earle, 2003).
Neste sentido, os efeitos positivos de se introduzir medidas conciliatrias
so maiores para as indstrias e para os setores com mais alto nvel de
qualificao, onde os benefcios associados s medidas conciliatrias so
ainda maiores do que o alto custo decorrente da perda e substituio de
trabalhadores/as. Nestes casos, mais fcil quantificar os benefcios asso-
ciados a aes deste tipo. O custo da substituio de trabalhadores ser
tanto maior, quanto menor for a oferta de trabalho: fato que se confirma
em mercados de trabalho com baixo nvel de desemprego e subocupa-
o. Por isso, so justamente as empresas de segmentos do mercado de
trabalho com maior inovao tecnolgica que contam com medidas con-
ciliatrias. Ao contrrio, para as empresas dos setores de menor nvel de
produtividade, os custos das medidas conciliatrias parecem ser transferidos das empresas
para as prprias trabalhadoras, majoritariamente em inseres no mercado de trabalho pre-
crias e menos estveis.
Os custos para as empresas associados ausncia de medidas de conciliao so distintos.
Primeiro, a tenso entre as obrigaes do trabalho e as necessidades familiares podem afetar
o exerccio da funo parental, gerar tenso psicolgica, irritabilidade freqente e stress pro-
fissional (SERNAM, 2003). As ausncias, os atrasos, a menor satisfao no trabalho e o menor
comprometimento com a organizao so alguns resultados das dificuldades enfrentadas
pelos/as trabalhadores/as com responsabilidades de cuidado.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
98
Quando as empresas
competem entre si para
contar com pessoas
mai s qual i fi cadas em
determi nados campos,
a presena de pol ti cas
i nsti tuci onai s favorvei s
fam l i a pode dar vantagens
comparati vas entre
as empresas.
CAPTULO III
Uma pesquisa conduzida na Espanha evidenciou os vnculos entre o stress relacionado com
as tenses famlia-trabalho e os acidentes no local de trabalho. Mais da metade das mulheres
que haviam sofrido acidentes no trabalho consideraram o stress e a fadiga a causa do aciden-
te (Martn-Fernndez et al., 2007).
Na Colmbia, os resultados relativos a 80 empresas com mais de 250 trabalhadores/as cor-
roboraram a associao entre o aumento de custos e a ausncia de medidas de conciliao
(Idrovo Carlier, 2006). Em geral, os diretores das empresas pesquisadas consideraram que
polticas que favorecem a conciliao entre vida laboral e familiar dos trabalhadores/as tm
efeitos positivos para as empresas. Ao contrrio, prescindir destas medidas gerava problemas
como a falta de comprometimento (62%); dificuldades para a contratao de empregados
chave (60%); stress (50%) e absentesmo (48%). Em que pese esta percepo, 60% das empre-
sas careciam completamente de medidas.
Em 2002, uma pesquisa em 43 empresas foi conduzida no Chile, cujos resultados mostram
a percepo dos empresrios com relao aos efeitos das medidas conciliatrias, conforme
demonstra a tabela 2 (SERNAM, 2002).
99
TABELA 2
CHI LE: MEDI DAS CONCI LI ATRI AS I MPLEMENTADAS EM 43 EMPRESAS E OS RESULTADOS OBTI DOS
Tipo de medida e nmero de empresas que
implementaram
Resultados positivos ou muito positivos quanto /ao:
Jornada flexvel (11 empresas)
Gesto produtiva, satisfao com o trabalho, clima
organizacional e qualidade de vida
Jornadas de trabalho na empresa e em casa (2 empresas)
Capacitao durante horrio de trabalho (23 empresas) Gesto produtiva e qualidade de vida
Convnios ou auxlios para creches mais amplos do que
disposto na lei (14 empresas)
Gesto produtiva, satisfao com o trabalho, clima
organizacional e qualidade de vida
Auxlios por nascimento, morte, perodo escolar, outras
ajudas familiares (17 empresas)
Satisfao com o trabalho e qualidade de vida
Licenas do trabalho devido necessidades familiares
(25 empresas)
Gesto produtiva, satisfao com o trabalho, clima
organizacional e qualidade de vida
Bolsas de estudo para filhos/as (5 empresas)
Qualidade de vida; em menor medida, em clima
organizacional e gesto produtiva
Emprstimos para necessidades ou emergncias
familiares (16 empresas)
Satisfao com o trabalho; impacto mdio em qualidade
de vida, clima organizacional e gesto produtiva
Programas de entretenimento e esportes para a famlia (6
empresas)
Qualidade de vida, clima e satisfao com o trabalho;
impacto mdio em gesto produtiva
Fonte: SERNAM (2003).
Em um estudo posterior, pesquisas realizadas em trs unidades produtivas chilenas, que haviam
implantado algum tipo de medida de conciliao, mostraram que os/as trabalhadores/as que se
sentem respaldados pela empresa, trabalham mais tranqilos, resolvem necessidades relaciona-
das com qualidade de vida e conseguem lidar melhor com o stress (SERNAM, 2003). Estes fatores
conduziam a um incremento de 11 a 16% da produtividade, o que, claramente, supera os custos
decorrentes de sua implantao.
Outro estudo sobre os efeitos das medidas conciliatrias, implantadas no mbito de um am-
plo programa de promoo da igualdade de gnero em uma clnica, verifcou a existncia de
excelentes resultados, especialmente em matria de rotatividade de pes-
soal. As medidas produziram uma economia na contratao de pessoas de
US$ 500 por trabalhador ao ano. Entre as iniciativas, estavam duas licenas
ao ano para assistir a eventos escolares de flhos/as; jornada fexvel duran-
te os seis meses seguintes ao nascimento; dia adicional por nascimento e
dia mensal remunerado para os pais, durante os primeiros 6 meses de
vida dos flhos/as, entre outras. O resultado observado foi uma reduo
de rotatividade em 18% e um aumento na produtividade entre 5% e 22%,
dependendo do tipo de servio. Ainda, 91% daqueles que haviam utiliza-
do ao menos dois dos benefcios avaliaram positivamente, e a maioria se
percebeu mais produtivo/a (Bocaz, 2003).
Estes exemplos demonstram que a adoo de aes favorveis conciliao pode ser be-
nfica tanto para os trabalhadores como para as empresas, assim como demonstram que
distintas medidas tm efeitos desiguais nas variveis associadas produtividade. A reduo
final dos custos depender da combinao particular de iniciativas conciliatrias em funo
do mercado de trabalho, o setor em que se encontra a empresa e o nvel de qualificaes e
salrios de seus trabalhadores, entre outros fatores.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
100
UM CASO BEM SUCEDIDO DE COMPROMISSO EMPRESARIAL
No Brasil, uma empresa multinacional de informtica comeou a implantar acordos com seus empre-
gados Entre eles, 48% demandaram fexibilidade quanto ao horrio dirio; 45%, fexibilidade quanto
ao horrio semanal; 42%, possibilidade de trabalhar em casa e 34%, possibilidade de ausncia por
motivos pessoais. No ano seguinte, a empresa iniciou a adoo de algumas destas opes de trabalho
fexvel. A empresa se mostrava receptiva s demandas de seus empregados, demonstrou sua lide-
rana como empresa e melhorou sua capacidade para atrair e promover a permanncia dos melhores
talentos da Amrica Latina. No Mxico, a mesma empresa, a partir das mesmas razes, alcanou re-
sultados similares.
Fonte: Lobel (2000).
QUADRO 23
A adoo de aes
favorvei s conci l i ao
pode ser benfi ca tanto
para os trabal hadores
como para as empresas.
CAPTULO III
CUSTOS SOCIAIS
A massiva insero feminina no mercado de trabalho se deu em um cenrio de polticas de
conciliao pouco efetivas ou absolutamente ausentes, com mltiplas conseqncias nega-
tivas. Estas consequncias geraram uma presso adicional no sentido de mudanas sociais,
especialmente em contextos de baixa prioridade fiscal.
Para as trabalhadoras, esse fenmeno tem levado ao esgotamento e deteriorao de sua sa-
de fsica e mental. Para as meninas e as jovens, as tarefas de cuidado, que assumem enquanto
suas mes trabalham remuneradamente, podem afetar seu desempenho escolar e aumentar
a evaso escolar. A falta de educao primria prejudica o posterior desempenho escolar.
A precria situao de cuidado de meninos e meninas, pessoas com deficincias e adul-
tos mais velhos, particularmente em famlias com menores rendimentos,
gera maiores riscos para a sade, integridade fsica, emocional e psquica
das mulheres trabalhadoras.
Cada uma destas situaes tem efeitos que vo alm das pessoas que
delas padecem. Por exemplo, apesar dos programas de transferncias
condicionadas de renda destinarem recursos para promover a freqncia
escolar, a ausncia de servios pblicos de cuidado pressiona as meninas
e as mais jovens para fora da escola, para cuidar de seus irmos/s meno-
res. Embora o fortalecimento do capital humano seja objetivo destes pro-
gramas, possvel que os/as meninos/as que freqentam a escola pela
manh, estejam tarde nas ruas, assistindo TV ou vulnerveis a eventuais
perigos decorrentes do cuidado realizados por crianas. No caso de me-
ninos e meninas maiores e jovens, aumenta a probabilidade de que se
sejam afetados por problemas sociais como gravidez adolescente, drogas
e marginalidade.
Paralelamente, apesar de as reformas dos sistemas de sade promoverem
um investimento para a preveno, o stress associado necessidade de
gerar renda e, para isso, deixar de atender responsabilidades familiares, incrementa a de-
manda de servios curativos de alto custo. Em 1997, no Canad, se calculou que os custos
associados a consultas e licenas mdicas decorrentes do stress, depresso e colapso mental,
relacionados com as tenses trabalho-familia, gerou uma perda de 19,8 milhes de jornadas
de trabalho, o que corresponde a cerca de US$ 2,7 bilhes (calculados os salrios mdios).
Os custos referentes s consultas mdicas foram estimados em torno de US$ 425 milhes
(Duxbury, Higgins e Johnson, 1999).
O resultado uma maior ameaa coeso social e uma crescente demanda por investimen-
to pblico nas reas sociais. Neste sentido, o questionamento que se faz o mesmo que se
fazem as empresas: o que custa mais: investir ex ante ou ex post?
101
A maioria das mes
trabalhadoras que recorrem
aos servios de creche do
Sistema de Proteo Primeira
Infncia Chile Cresce com
Voc, reportam que, caso no
contassem com este apoio, se
veriam foradas a deixar seus
trabalhos ou estudos
A resposta particularmente clara no caso das famlias de menor renda. Para muitas mulhe-
res destes grupos, a falta de servios de cuidado a principal razo pela qual no esto traba-
lhando ou esto em trabalhos informais e mal remunerados. A Cidade da Guatemala traz um
exemplo eloqente: 40% das mes que trabalham no setor informal relatam que a falta de
servios de cuidado infantil a principal razo pela qual no podem trabalhar na economia
formal (Cassirer e Addati, 2007). A presena de medidas conciliatrias , portanto, uma ferra-
menta importante para melhorar a insero das mulheres pobres no mercado de trabalho, e,
assim incrementar a renda de seus lares e a permanncia de meninos/as no sistema educa-
tivo. A maioria das mes trabalhadoras que recorrem aos servios de creche do Sistema de
Proteo Primeira Infncia Chile Cresce com Voc, reportam que, caso no contassem com
este apoio, se veriam foradas a deixar seus trabalhos ou estudos (MIDEPLAN, 2008).
Ocupar-se do cuidado de meninos e meninas particularmente difcil
para as trabalhadoras pobres: freqentemente, suas opes restringem-
se a deixar seus/suas filhos/as sozinhos/as em casa, contar com a ajuda de
uma irmo/ mais velho/a (geralmente, a irm), ou lev-los para o traba-
lho. Diversos problemas surgem, entre eles, a pior qualidade da ateno
aos filhos/as menores, bem como questes relativas sade, e, para o
caso dos irmos/as maiores que assumem as tarefas de cuidado, menores
oportunidades de educao e emprego.
As mes que se vm obrigadas a levar a seus filhos/as ao trabalho geral-
mente dispem somente de ocupao na economia informal ou do em-
prego agrcola. Entretanto, esta soluo traz problemas em longo prazo,
pois o emprego na economia informal implica salrios baixos e jornadas
prolongadas para obter a renda necessria para a subsistncia. A presena
de filhos/as nos locais de trabalho prejudica o trabalho dos pais e mes;
ao mesmo tempo, pode contribuir para a gerao de trabalho infantil.
Ademais, geralmente afeta de maneira severa a segurana e sade fsica
dos pequenos, mesmo porque esta estratgia mais usada por pessoas em ocupaes pre-
crias, cujas condies ambientais e de trabalho usualmente carecem de patamares mnimos
de segurana e higiene. Exemplos disso so o trabalho de vendedoras ambulantes em ruas e
as ocupaes agrcolas que requerem manejo de produtos agroqumicos (Cassirer e Addati,
op. cit.).
A disparidade de renda entre as famlias pode promover uma maior polarizao social: en-
quanto que um grupo reduzido de lares conta com altos nveis de renda, outros vivem com
um nvel muito mais baixo, considerando que a participao feminina no mercado de traba-
lho se concentra nas classes alta e mdia-alta (Esping-Andersen, 2000).
Os achados internacionais mostram que as estratgias conciliatrias exclusivamente familiares
no so benfcas para as oportunidades de vida dos membros da casa que requerem cuida-
dos. Quando as estratgias sociais de conciliao utilizadas pelas famlias interferem com o
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
102
A disparidade de renda
entre as famlias pode
promover uma maior
polarizao social: enquanto
que um grupo reduzido de
lares conta com altos nveis
de renda, outros vivem com
um nvel muito mais baixo,
CAPTULO III
estmulo e a formao escolar, suas implicaes no se do somente no presente, mas tambm
no mdio e longo prazo, o que, em ltima anlise, pode de fato prejudicar a formao das capa-
cidades destes grupos, imprescindveis para melhorar sua situao socioeconmica futura.
Diversos estudos internacionais demonstraram que os programas de ateno e educao
infantil contribuem para melhorar os resultados de aprendizagem na escola primria. Por
exemplo, na Argentina, se observou que a assistncia aos/s meninos/as de trs e cinco anos
em centros de educao pr-escolar melhora os rendimentos escolares em lngua e mate-
mtica no terceiro grau primrio, efeito positivo que se duplica para os alunos procedentes
de meios sociais mais desfavorecidos (UNESCO, 2008).
Os programas de ateno primria infncia que conseguem simultaneamente um melhor
cuidado das crianas e uma insero no mercado de trabalho de suas
mes tm conseqncias positivas que ultrapassam as pessoas e o pr-
prio domiclio. Suas implicaes dizem respeito a possibilidades futuras
de emprego; incrementos na renda e na capacidade produtiva, reduzin-
do as desigualdades entre os estratos sociais, promovendo relaes de
eqidade e incidindo nas prprias polticas fiscais.
Os custos no se esgotam na populao de menor idade, mas tambm
impactam nas pessoas idosas. O rpido envelhecimento da populao,
somado ausncia de polticas especficas de cuidado, implicaro pro-
blemas crescentes a longo prazo. Isso se torna particularmente relevante
quando se considera que o cuidado das pessoas mais velhas e enfermas
uma responsabilidade familiar pouco compartilhada entre homens e
mulheres. Ademais, se trata de uma tarefa complexa e exigente em ter-
mos dos conhecimentos requeridos, significa maior desgaste fsico e
mais difcil de combinar com outras atividades. A ausncia de alternativas
de cuidado para esta populao se traduz tambm em desproteo em
termos de trabalho e previdncia social para as mulheres que os assistem.
A ausncia de estratgias de cuidado para pessoas idosas pode tambm provocar a acelera-
o da piora de sua sade fsica e mental, que significa maiores e crescentes demandas para
os servios pblicos de sade e para os oramentos dos pases. Desta forma, necessrio
tambm considerar os custos relativos ao cuidado de pessoas com deficincia e com enfer-
midades crnicas, j que requerem outro tipo de dedicao.
As implicaes sociais decorrentes da ausncia ou pouca qualidade das polticas de conciliao se
mostram mais evidentes em longo prazo. Dizem respeito a um processo que pode gerar, para a
fora de trabalho futura, grupos da populao com sade fsica precria, menores nveis de esco-
laridade e qualifcao, e piores condies gerais de incluso social. Estas conseqncias, por fm,
tm impactos para os prprios pases: uma populao mais empobrecida e com menor capacida-
de contributiva e maiores demandas para as polticas pblicas e para os oramentos pblicos.
103
Os programas de ateno
primria infncia que
conseguem simultaneamente
um melhor cuidado das
crianas e uma insero no
mercado de trabalho de suas
mes tm conseqncias
positivas que ultrapassam as
pessoas e o prprio domiclio.
Propostas para
Novas Polticas de
Conciliao
com Co-Responsabilidade Social
C A P T UL O I V
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
106
Essas tenses si gni fi cam
enormes custos para as
pessoas e para a soci edade
como um todo e, por tanto,
demandam uma resposta
urgente por par te dos
Estados, em col aborao
com os atores soci ai s.
Este relatrio demonstrou que a crescente participao das mulheres no mercado de traba-
lho e as transformaes familiares, demogrficas e dos modelos de organizao do trabalho
tm influenciado de forma decisiva a relao entre o trabalho e a vida familiar. Os trabalha-
dores e, particularmente, as trabalhadoras enfrentam hoje enormes tenses na tentativa de
conciliar esses dois mundos.
Essas tenses significam enormes custos para as pessoas e para a sociedade como um todo
e, portanto, demandam uma resposta urgente por parte dos Estados, em colaborao com
os atores sociais. Para isso, necessrio adotar um enfoque integrado de polticas pblicas
de conciliao a partir da co-responsabilidade social. Dirigidas tanto a trabalhadores como
a trabalhadoras, estas polticas: i) contribuem para gerar trabalho decente; ii) reduzem as
desigualdades socioeconmicas e iii) promovem a eqidade de gnero.
As polticas pblicas de conciliao e co-responsabilidade so orientadas
para o bem-estar social da populao e a melhora da capacidade pro-
dutiva da fora de trabalho. Como toda poltica de investimento social,
elas tm alta rentabilidade e reduzem custos futuros. Em funo disso,
devem ser parte da poltica social, mas tambm da poltica de emprego e
das estratgias para aumentar a produtividade dos pases. A conciliao
entre vida laboral e vida familiar no um problema das mulheres, mas
sim da sociedade como um todo. Avanos nesta rea beneficiaro toda
a populao. Na abordagem destas questes, devem ser atendidos ne-
cessidades e interesses das pessoas, das famlias, dos trabalhadores, das
trabalhadoras, das empresas e do Estado, e, simultaneamente, devem ser
promovidas mudanas culturais em todas as esferas.
107
Adequar a normativa nacional
s normas internacionais
Como a mudana social requerida de grandes propores, nenhuma medida de poltica
pblica ser, por si s, suficiente. Pelo contrrio, necessrio maximizar os efeitos conciliat-
rios das polticas atuais e daquelas a serem elaboradas e apoiar a mudana cultural requerida
para que elas sejam colocadas em prtica.
Para isso, deve-se reconhecer e visualizar o valor do trabalho domstico no remunerado reali-
zado pelas mulheres, particularmente sua capacidade de cuidadoras de crianas, pessoas com
deficincia e idosos, e tambm avaliar sua contribuio social e econmica.
A concepo de que o cuidado uma responsabilidade privada, da esfera do lar e das mu-
lheres, deve ser transformada. necessrio maior co-responsabilidade
em dois sentidos. No mbito da sociedade, necessrio redistribuir as
responsabilidades entre os domiclios, o mercado e o Estado, ou seja,
necessrio garantir uma maior participao da sociedade no processo de
reproduo da fora de trabalho. Ainda, necessrio a redistribuio das
tarefas reprodutivas entre homens e mulheres, tal como j ocorreu com
o trabalho produtivo.
Para abandonar a idia de que apenas as mulheres devem se preocupar
com a conciliao entre trabalho produtivo e responsabilidades familia-
res tambm central a promoo de modelos alternativos de materni-
dade, paternidade e masculinidade como pr-requisito para o xito das
polticas de conciliao. Isso requer dar um novo significado ao papel dos
pais na famlia, como pessoas afetivas, interessadas e capazes de assumir
responsabilidades familiares como a criao dos filhos, o cuidado de ido-
sos e familiares enfermos e as tarefas domsticas. Igualmente importante
transformar a noo de maternidade: caso permanea a sua associao
ao sacrifcio e onipresena com os filhos, muito dificilmente ser pos-
svel alcanar uma redistribuio de tarefas de cuidado, bem como aliviar a sobrecarga que
recai sobre as mes trabalhadoras.
No mundo do trabalho, este conceito deveria ser amplamente reconstrudo, a partir da
revalorizao das tarefas associadas s funes de cuidado e da criao de novas formas de
organizao do trabalho e do tempo social. Em lugar de buscar a eqidade promovendo
simplesmente a incorporao das mulheres a um mercado de trabalho estruturado por g-
nero, o fundamental desconstruir o modelo do trabalhador ideal: homem, sem respon-
sabilidades domsticas com sua famlia ou com sua vida pessoal. Desta forma, se modifica
necessrio redistribuir as
responsabilidades entre os
domiclios, o mercado e o
Estado, ou seja, necessrio
garantir uma maior
participao da sociedade
no processo de reproduo
da fora de trabalho.
a relao entre mercado e trabalho domstico de forma que todos os adultos, homens e
mulheres, possam alcanar seus ideais familiares e profissionais. Isso passa pela revalori-
zao do trabalho das mulheres e uma desconstruo da percepo de que so fora de
trabalho secundria.
Alm da elaborao e implementao de polticas especficas, devem ser considerados os
impactos indiretos de todas as polticas pblicas sobre as tenses entre os mbitos familiar
e profissional. Para isso, necessrio transformar toda ao de poltica pblica em uma
ferramenta que contribua para a desconstruo dos papis tradicionais
de gnero e para a incorporao da questo do cuidado. A integrao
de distintas polticas com efeitos conciliatrios pode potencializar os
resultados das polticas setoriais e neutralizar efeitos no desejados de
iniciativas isoladas.
Por isso, necessrio combinar estratgias bem definidas e de amplo al-
cance. fundamental promover estratgias dirigidas a grupos com ne-
cessidades especiais, juntamente com outras que fortaleam polticas
universais em matria de cuidado, de ampla cobertura e sustentadas por
amplos pactos sociais e polticos.
Entre as medidas a serem consideradas esto:
- Adaptar os horrios dos servios pblicos s necessidades de trabalhadores/as
com responsabilidades familiares e fomentar sua descentralizao geogrfica, de
forma a reduzir o tempo despendido para a realizao de trmites. Alm disso,
importante melhorar a cobertura, particularmente nas zonas mais pobres.
- Avaliar o impacto da ampliao das jornadas escolares e pr-escolares e do ano
letivo, alm de oferecer transporte escolar e ateno sade nas escolas.
- Com o objetivo de apoiar as tarefas domsticas, garantir a toda populao o abas-
tecimento de gua e energia eltrica nos domiclios e ampliar o acesso a eletrodo-
msticos. Desenvolver programas de construo de habitaes funcionais, visan-
do facilitar a vida familiar.
- Promover polticas que apiem a integrao social de pessoas com deficincia
e enfermidades crnicas e sua incorporao ao mercado de trabalho. Para isso,
devem ser consideradas as reas de infra-estrutura, transporte, educao, sade e
emprego.
As polticas devem ser desenhadas de acordo com o contexto nacional, buscando as mar-
gens de ao que podem ser aproveitadas para avanar na promoo da conciliao e de
uma socializao do trabalho de cuidado. Para isso, o carter conciliatrio das polticas sociais
setoriais existentes pode ser acentuado, por exemplo, nos programas focalizados destinados
populao mais pobre.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
108
tambm central a
promoo de model os
al ternati vos de
materni dade, paterni dade
e mascul i ni dade.
109
Adequar os marcos legais
s normas internacionais
As normas internacionais do trabalho definem padres mnimos em nvel mundial. Sua rati-
ficao e a posterior adaptao da legislao nacional a forma segundo a qual as conven-
es so implementadas nos pases. Alm de ordenar a legislao, as convenes podem:
i) oferecer orientao para a formulao de polticas no mbito da conciliao entre vida
laboral e familiar, como no caso da que se refere a trabalhadores/as com responsabilidades
familiares; ii) servir como fonte de inspirao para boas relaes de trabalho, e iii) como
modelos para os acordos coletivos. Alm disso, constituem um indicador do interesse dos
Estados em buscar melhor qualidade de vida para a populao.
Em funo disso, os Estados que no ratifcaram as convenes internacionais relacionadas
aos temas de conciliao e co-responsabilidade a Conveno n 183 da OIT sobre proteo
maternidade (2000) e a Conveno n 156 da OIT sobre trabalhadores e trabalhadoras com
responsabilidades familiares (1981) deveriam tomar as medidas necessrias para faz-lo.
Os Estados que ratificaram estas convenes devem revisar a adequao da legislao nacio-
nal. Tambm se recomenda aos pases adequar seu marco legal de acordo com as conven-
es e as recomendaes relacionadas, n 191 e n 165, respectivamente.
Tambm devem ser realizados os esforos necessrios para alcanar a efetiva implementao
das convenes que respaldam as anteriores e que foram ratificadas por todos os pases da
regio: a Conveno n 100 da OIT sobre igualdade de remunerao por trabalho de igual
valor (1954) e a Conveno n 111 sobre discriminao no emprego e ocupao (1958).
LEI SOBRE TRABALHO DOMSTICO NO URUGUAI
Um exemplo relevante do esforo articulado dos atores sociais para uma efetiva aplicao da Conveno
n 111 e do princpio da no discriminao a lei sobre trabalho domstico, aprovada em novembro de
2006, no Uruguai. Esta iniciativa, impulsionada pela Comisso Tripartite de Igualdade de Oportunidades
deste pas, marcou um importante avano ao equiparar os direitos trabalhistas das trabalhadoras doms-
ticas com os direitos do restante dos trabalhadores assalariados.
Entre os direitos estabelecidos esto a regulao da jornada de trabalho mxima, o direito indenizao
no caso de demisso, ateno sade, seguro-desemprego, salrio mnimo, frias, licena maternidade,
etc., regidos pelas normas gerais.
A partir desta lei, as trabalhadoras domsticas tm acesso aos benefcios essenciais de proteo social, o
que marca um avano signifcativo na regio.
Fonte: Amarante e Espino (2007).
QUADRO 24
110
O bem-estar das pessoas est estreitamente relacionado com a qualidade de sua integrao
ao mercado de trabalho e depende do emprego ao qual elas tm acesso e da possibilidade
de permanncia no mesmo. Atualmente, as exigncias e os requisitos de desempenho pro-
fissional impostos a homens e mulheres no mundo do trabalho impedem uma vida familiar
adequada e se convertem em fator de desigualdade para as mulheres.
Por isso, facilitar a conciliao da vida no trabalho com as responsabilidades familiares
implica melhorar as condies do mercado de trabalho. E no apenas as condies de em-
prego para as mulheres, mas tambm promover uma nova distribuio
das oportunidades para todos.
necessrio gerar condies que permitam a homens e mulheres es-
colher diferentes formas de equilbrio entre a vida familiar e o trabalho
remunerado, em distintos momentos de seu ciclo de vida. Para isso,
necessrio que as responsabilidades familiares deixem de ser um fator de
discriminao no mercado de trabalho e que o cuidado seja reconhecido
como um direito garantido pelo Estado.
PROTEGER A MATERNIDADE, A PATERNIDADE E A PARENTALIDADE
Em geral, a normativa e as polticas relativas maternidade e s responsabilidades familiares
so inspiradas em um modelo que elege as mulheres como as nicas responsveis pela tare-
fa de conciliar o trabalho produtivo com o reprodutivo. Desta forma, se refora sua imagem
como nica cuidadora e seu papel como fora de trabalho secundria, o que fonte de dis-
criminao e acentua as desvantagens que enfrentam no mercado de trabalho.
necessria uma mudana de perspectiva que incorpore o conceito de parentalidade. Este
conceito se refere ao cuidado que ambos os membros do casal devem assumir com respeito
a seus filhos e filhas e, posteriormente, com relao aos seus pais idosos.
Isso implica estender a ambos os cnjuges as medidas e benefcios que no esto ligados
funo exclusivamente biolgica das mulheres (gravidez, parto, recuperao e amamenta-
o); e incorporar os homens nas funes de cuidado dos filhos/as e idosos.
Maternidade e paternidade
Todos os pases devem garantir uma licena de pelo menos 14 semanas, como es-
tabelecido na Conveno n 183, para todas as mulheres trabalhadoras, incluindo
Organizar o trabalho a favor da
co-responsabilidade social
O bem-estar das pessoas
est estreitamente
relacionado com a qualidade
de sua integrao ao
mercado de trabalho.
CAPTULO IV
as que desempenham formas atpicas de trabalho, visando proteger sua sade,
bem como a sade das crianas. Estender a licena maternidade e a licena pater-
nidade em caso de nascimentos mltiplos e incluir os casos de adoo.
Os pases que no as tm, devem legislar sobre licenas paternidade por nasci-
mento de um filho ou filha, remuneradas e de durao adequada, com o objetivo
de permitir o convvio dos pais com seus filhos e filhas desde os primeiros dias de
seu desenvolvimento.
Nos pases em que j existem as licenas paternidade, avaliar seu uso efetivo para
identificar os fatores que facilitam ou inibem seu usufruto, com o objetivo de ex-
trair lies e criar condies para isso.
Parentalidade
Recomenda-se incluir na legislao a noo de licena parental, remunerada e de
durao adequada, que pode ser tirada aps o trmino da licena maternidade,
por ambos os cnjuges de modo seqencial e de forma com-
partilhada, sem a perda do emprego e conservando os direitos
que dele derivam. Esse tipo de medida permitiria aos homens
assumir maiores responsabilidades na criao dos/as filhos/as.
Deve-se legislar sobre as licenas familiares remuneradas por
motivos de responsabilidades familiares (por exemplo, em
caso de enfermidade de filhos ou filhas ou outras pessoas de-
pendentes), para que possam ser tiradas indistintamente pelo
trabalhador ou trabalhadora. Estas licenas podem consistir
tambm em redues ou flexibilidade de horrio para atender
s diferentes situaes.
Incorporar a possibilidade de licenas no remuneradas, com
garantia do posto de trabalho, para criao ou cuidado de ou-
tros dependentes.
NO DISCRIMINAR EM RAZO DE RESPONSABILIDADES FAMILIARES
As pessoas com responsabilidades familiares tm o direito de escolher livremente seu em-
prego, usufruir das mesmas oportunidades para preparar-se e para ter acesso a ele e s pro-
moes no curso de sua trajetria profissional, bem como segurana no emprego, sem ser
objeto de discriminao devido a suas responsabilidades familiares.
Para isso, o custo das licenas maternidade, paternidade e parental deve ser coberto pela
previdncia social e, dentro desta, pelo oramento geral. Nos pases onde os empregadores
devem participar no financiamento das licenas, sua contribuio deveria definir-se em fun-
o do nmero total de trabalhadores/as, independente do sexo, de forma a desvincular os
custos das licenas da contratao feminina.
111
necessri o gerar
condi es que permi tam
a homens e mul heres
escol her di ferentes formas
de equi l bri o entre a
vi da fami l i ar e o trabal ho
remunerado
No que concerne aos servios de cuidado, a Conveno n 156 e a Recomendao n 165
da OIT estabelecem que sua oferta deve ser de responsabilidade dos Estados, embora estes
possam criar condies para fomentar a oferta destes servios por parte de outras entidades,
inclusive empresas. Por isso, qualquer tipo de excluso deve ser evitada e deve-se debater
a forma de financiamento. necessrio revisar a legislao que vincula a oferta de servios
por exemplo, creches ao nmero de trabalhadoras e exige que sejam financiadas pelas
empresas. Recomenda-se que o direito aos servios de cuidado para filhos e filhas de traba-
lhadores seja outorgado a todas as pessoas, homens e mulheres, que tm responsabilidades
familiares, assim como buscar frmulas de auxlio e financiamento que no prejudiquem
nenhum setor.
Para garantir a igualdade de oportunidades para os/as trabalhadores/as com responsabilida-
des familiares, corresponde ao Estado:
Promover que os marcos legais probam a discriminao associada s responsa-
bilidades familiares: nem as licenas parentais nem outras ausncias temporrias
associadas s responsabilidades familiares devem constituir obstculos para a ma-
nuteno do emprego e para o progresso nas carreiras profissionais.
Proibir explicitamente as prticas discriminatrias nos processos de contratao,
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
112
LICENA PARENTAL PARA FOMENTAR AS RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS ENTRE PAIS E
MES (CUBA)
Em 2003, em Cuba, atualizou-se o Decreto Lei 234 que incorpora uma licena parental que estende aos
pais a possibilidade de licena para cuidar de seus flhos e flhas durante o primeiro ano de vida. Entre
os objetivos desta alterao legal estava o de fomentar a responsabilidade compartilhada dos pais no
cuidado e ateno aos flhos e flhas. A lei se aplica igualmente a mes e pais adotivos em tudo que se
refere proteo de flhos e flhas.
Uma vez concluda a licena maternidade, a me e o pai podem decidir qual deles cuidar do flho ou
flha, a forma que distribuiro esta responsabilidade at o primeiro ano de vida e quem receber o be-
nefcio equivalente a 60% da base de clculo da licena maternidade. O perodo no qual a me ou o pai
estejam recebendo este benefcio para o cuidado das crianas considerado como tempo de servio
para os efeitos da Previdncia Social.
Quando so os pais que permanecem cuidando dos flhos, as mes trabalhadoras tm direito a uma hora
diria livre para a amamentao at que a criana complete um ano.
Um antecedente desta alterao legislativa foi o Cdigo de Famlia de 1975, que estabeleceu a respon-
sabilidade compartilhada entre a me e o pai para atender, cuidar, proteger, educar, assistir, dar afeto e
preparar para a vida seus flhos e flhas como direito e dever de ambos.
Fonte: http://www.mtss.cu e Cimac Noticias.
QUADRO 25
CAPTULO IV
promoo, definio de salrios ou demisso. Isso implica, entre outras coisas,
proibir o exame de gravidez e evitar as perguntas sobre o estado matrimonial ou
sobre o nmero de filhos/as no processo de seleo. Alm disso, importante es-
tabelecer procedimentos que impeam que a existncia de filhos se converta em
uma barreira para que as mulheres alcancem cargos de direo.
Identificar e difundir boas prticas sobre os efeitos positivos das medidas de con-
ciliao no clima dos locais de trabalho e na produtividade das empresas.
Promover a adoo de medidas voltadas para a melhoria das condies e da qua-
lidade de vida no trabalho, incluindo iniciativas acordadas por meio de nego-
ciao coletiva, destinadas a reduzir progressivamente a durao da jornada de
trabalho e as horas extras, bem como adequar a organizao dos horrios de tra-
balho, dos perodos de descanso e das frias s necessidades dos trabalhadores
e trabalhadoras que so pais e mes, de acordo com a Reco-
mendao n 165. Ainda neste mbito, importante tambm
desenvolver propostas para diminuir o trabalho nos finais de
semana e feriados.
A implementao de medidas conciliatrias no deveria depender ape-
nas das decises de cada unidade produtiva, mas ser produto de polticas
pblicas cujo objetivo melhorar a produtividade individual, empresarial
e sistmica. Estas iniciativas deveriam, alm disso, desafiar os efeitos que
a segmentao ocupacional tem sobre as oportunidades de emprego
das mulheres com diferentes nveis educativos e socioeconmicos, be-
neficiando a todas.
FAVORECER A INCORPORAO E A PERMANNCIA DAS
MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO
Devido aos papis de gnero tradicionais, as mulheres enfrentam maiores dificuldades que
os homens para inserir-se e permanecer no mercado de trabalho. Como conseqncia, suas
taxas de participao so menores. Seu acesso a empregos de maior qualidade e o avano
na hierarquia ocupacional tambm so mais difceis.
Para que as mulheres exeram seus direitos e tenham as mesmas oportunidades que os
homens, necessrio que se reconhea sua contribuio para a famlia e para a sociedade.
Alm disso, so necessrias polticas ativas e passivas de mercado de trabalho que incorpo-
rem a dimenso de gnero:
Deve-se apoiar a insero das mulheres no mercado de trabalho por meio de
servios de informao e orientao que considerem as necessidades especficas
das mulheres.
113
Para que as mul heres
exeram seus di rei tos
e tenham as mesmas
opor tuni dades que os
homens, necessri o
que se reconhea sua
contri bui o para a fam l i a
e para a soci edade.
Mediante a capacitao e a formao, deve-se melhorar a empregabilidade das
mulheres e suas possibilidades de encontrar empregos de qualidade e/ou fora de
setores tradicionalmente femininos, visando reduzir a segmentao ocupacional
por gnero e a desigualdade salarial entre homens e mulheres.
Oferecer servios de orientao e formao profissional com o objetivo de facilitar
a reintegrao das mulheres fora de trabalho aps ausncia em funo da ma-
ternidade ou de responsabilidades familiares.
Implementar programas desenhados segundo as necessidades de grupos com
maiores riscos frente pobreza, como, por exemplo, as mulheres chefes de famlia,
e que incluam as necessidades relativas ao cuidado.
Promover a ampliao das opes para as jovens por meio de servios de orien-
tao vocacional oferecidos desde o ensino mdio e superior, nos quais sejam
apresentados projetos ocupacionais no tradicionais.
Para combater os impactos da maternidade adolescente nas opes educativas e
nas carreiras profissionais de mulheres jovens, devem ser desenvolvidos progra-
mas especficos dirigidos a mes e pais adolescentes, que lhes permitam comple-
tar seus estudos, ter acesso capacitao profissional e a oportunidades de traba-
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
114
UM AVANO SIGNIFICATIVO EM DIREO EQUIDADE DE GNERO NA COSTA RICA
A Poltica Nacional para a Igualdade e Equidade de Gnero (PIEG) da Costa Rica, apresentada publica-
mente em 2007 pelo Instituto Nacional das Mulheres (INAMU), constitui um avano signifcativo no reco-
nhecimento da conciliao entre trabalho e vida familiar como um tema pblico.
As aes que orientam a PIEG so articuladas a partir dos seguintes eixos: (1) a responsabilidade social
com relao ao cuidado; (2) o trabalho feminino remunerado de qualidade e a criao de fontes de em-
prego para as mulheres; (3) a educao de qualidade e o direito sade; (4) a proteo efetiva dos direitos
das mulheres e a proteo frente a qualquer forma de violncia; (5) a participao poltica das mulheres
para a construo de uma democracia paritria e (6) o fortalecimento da institucionalidade da igualdade
e equidade de gnero.
No caso da responsabilidade social pelo cuidado, a PIEG tem como objetivo, a ser alcanado at 2017,
que todas as mulheres que demandem servios de cuidado de crianas para desempenhar um trabalho
remunerado contem com pelo menos uma alternativa pblica, privada ou mista, de qualidade. Desta
forma, foram dados passos concretos em direo responsabilidade social com relao ao cuidado e
para a valorizao do trabalho domstico. Este objetivo constitui um avano no reconhecimento de
que a carncia de alternativas constitui uma barreira para o acesso e a permanncia das mulheres no
mercado de trabalho. Alm disso, constitui um avano no reconhecimento de que o cuidado deve ser
uma responsabilidade social. A PIEG conta com um plano de ao a ser implementado para cada um
destes objetivos.
Fonte: INAMU (2007).
QUADRO 26
CAPTULO IV
lho, bem como combinar suas tarefas profissionais e familiares. de fundamental
importncia, tambm, vincular as polticas de promoo de trabalho decente para
jovens com as polticas de sade sexual e reprodutiva.
Ampliar a oferta de servios de cuidado gratuitos, com o objetivo de evitar que as
filhas adolescentes abandonem os estudos para assumir trabalhos reprodutivos,
por exemplo, no cuidado de seus irmos menores.
Permitir uma participao produtiva no mercado de trabalho a forma mais eficiente de
superar a situao de pobreza. Por isso, indispensvel que os programas de enfrentamento
pobreza, incluindo os de transferncia condicionada, se articulem com a promoo do em-
prego feminino, tanto mediante o fortalecimento da oferta (maior qualificao e educao
formal), como da demanda (mediante a criao de trabalho remunerado de qualidade).
Muitas mulheres no trabalham remuneradamente e no esto buscando emprego porque
no tm com quem deixar seus/suas filhos/as ou outras pessoas dependentes. Assim, faz-se
necessrio garantir servios de cuidado infantil no apenas s pessoas que esto no mercado
de trabalho (ocupadas ou desempregadas), mas tambm s que se interessam em preparar-
se para um emprego. Por isso, os programas de apoio ao emprego deveriam oferecer servi-
os de cuidado infantil.
115
CAPACITAO PARA MULHERES EM TRINIDAD E TABAGO
Em Trinidad e Tobago, a Diviso de Assuntos de Gnero do Ministrio de Desenvolvimento Municipal,
Cultura e Assuntos de Gnero oferece cursos de formao com o objetivo de promover a independncia
fnanceira das mulheres e melhorar suas perspectivas de emprego.
Desde 2000, o Programa de Formao em Habilidades No Tradicionais para as Mulheres proporciona
conhecimentos tcnicos especializados a mulheres de baixa renda e no qualifcadas nas seguintes reas:
construo (carpintaria, construo, encanamento, instalao eltrica, etc.), fabricao de mveis, conser-
to de automveis, conserto e manuteno industrial e de eletrodomsticos, bem como em outras reas
no tradicionais. A formao tambm inclui noes de empreendedorismo, alfabetizao, matemtica,
desenvolvimento pessoal e questes de gnero. A formao realizada durante um perodo de seis me-
ses e as alunas recebem uma bolsa.
O programa Mulheres em Harmonia foi criado em 2002 com o objetivo de aumentar as oportunidades
de emprego para as mulheres de baixa renda, principalmente as chefes de famlia, com pouca ou ne-
nhuma qualifcao. O objetivo proporcionar s participantes o fortalecimento de habilidades deman-
dadas pelo mercado, para ampliar suas opes de emprego e suas oportunidades econmicas. Oferece
formao nas reas de agricultura, jardinagem e cuidado de idosos. Tambm oferecida s participantes
do programa uma bolsa e servios de cuidado infantil durante toda a formao.
Fonte: Estudo de Gaietry Pargass elaborado para este relatrio.
QUADRO 27
DAR NOVAS RESPOSTAS PARA TEMPOS DE CRISE
O contexto da crise pode aumentar as tenses enfrentadas pelas trabalhadoras com respon-
sabilidades familiares. A crise afeta as possibilidades de insero das mulheres no mercado
de trabalho, bem como sua permanncia no emprego. Alm disso, pode ocasionar um au-
mento das tarefas no remuneradas no interior dos domiclios.
Existe uma ampla gama de instrumentos disposio dos governos para enfrentar os efeitos
da atual crise financeira mundial por meio das polticas de emprego, em sentido amplo, e
das polticas de mercado trabalho. Em ambos os casos, deve-se incorporar uma anlise dos
efeitos esperados destas polticas sobre homens e mulheres, assim como sobre grupos mais
atingidos pela pobreza, como os domiclios chefiados por mulheres. A seguir, so apresenta-
das algumas recomendaes:
Implementar polticas fiscais e monetrias anticclicas que priorizem
reas de gastos e investimentos com elevado impacto no emprego,
abrindo oportunidades tanto para homens como para mulheres: prio-
rizar as que combinem o objetivo de emprego com o da igualdade de
oportunidades e contemplem medidas de conciliao.
Considerando a maior presena relativa de mulheres nas micro e pe-
quenas empresas, deve-se direcionar apoio especfico a elas por meio
de linhas de crdito e polticas de apoio aos setores mais afetados. Esta
linha de trabalho pode aproveitar as novas oportunidades de emprego
no mbito dos cuidados e fomentar estes mercados para as micro e
pequenas empresas.
Fortalecer a proteo social frente crise. Revisar as condies de aces-
so aos benefcios do seguro desemprego, a fim de alcanar mxima
cobertura e diminuir a desigualdade de gnero vinculada s menores
oportunidades de trabalho para as mulheres relacionadas com suas
responsabilidades familiares.
Da mesma forma, recomenda-se identificar mecanismos tais como esquemas
no contributivos para proteger a populao que perdeu seus empregos na
economia informal, onde h uma maior concentrao de mulheres com filhos
sob sua responsabilidade.
Introduzir programas de emprego de emergncia, com o objetivo de frear o
aumento da taxa de desemprego e transferir renda para os domiclios mais
necessitados, particularmente aqueles com chefia feminina. Para isso, crucial
que as condies de ingresso nestes programas sejam adequadas e no exclu-
am as mulheres.
Manter o poder aquisitivo dos salrios e garantir a manuteno da tendncia de
diminuio da desigualdade de gnero. As polticas devem garantir a manuteno
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
116
A crise afeta as possibilidades
de insero das mulheres no
mercado de trabalho, bem
como sua permanncia no
emprego. Alm disso, pode
ocasionar um aumento das
tarefas no remuneradas no
interior dos domiclios.
CAPTULO IV
do valor real do salrio mnimo e monitoramento de seu comportamento. Este
ltimo fator especialmente importante para as mulheres, que esto em maior
proporo entre os que recebem o salrio mnimo. Tambm recomendvel mo-
nitorar a evoluo das desigualdades salariais por sexo.
ESTENDER MEDIDAS ECONOMIA INFORMAL
Para as trabalhadoras do setor informal, o conflito entre trabalho e vida familiar mais
grave: elas esto excludas de toda a cobertura de contingncias sociais e da proteo
proporcionada pela legislao trabalhista maternidade e aos trabalhadores com respon-
sabilidades familiares.
Por isso, as polticas de conciliao necessariamente devem abordar o problema da infor-
malidade e precariedade do trabalho. Tanto as empresas como os/as trabalhadores/as que
desenvolvem suas atividades na economia informal sofrem com as inse-
guranas derivadas da ausncia de normas justas e aplicveis. necess-
rio avanar em diversos sentidos:
Promover a regulao das atividades informais:
Proporcionar os mecanismos necessrios para formalizar o tra-
balho e fortalecer aqueles que permitam que os trabalhadores
e as trabalhadoras tenham acesso previdncia social e a be-
nefcios sociais.
Revisar as polticas e a legislao a fim de reduzir os custos li-
gados ao cumprimento da normativa pelas micro e pequenas
empresas, incorporando, nos pacotes de subsdios, estmulos
para o desenvolvimento de medidas que apiem a conciliao, visando facilitar o
desenvolvimento da atividade na economia formal e elevar a produtividade.
Ampliar o alcance dos benefcios sociais, no limitando o acesso aos/s trabalhadores/as
cobertos/as pela previdncia social, de modo a universalizar o direito s medidas de conci-
liao:
A universalizao dos benefcios parentais beneficiar o setor mais precrio. Em
funo disso, deve-se estender aos trabalhadores e trabalhadoras no assalariados
e assalariados no registrados a cobertura das licenas maternidade e paternida-
de, bem como dos servios de cuidado de crianas, idosos, enfermos e pessoas
com deficincia.
Equiparar os direitos das trabalhadoras domsticas com o restante dos assalaria-
dos, incluindo os direitos relacionados maternidade.
117
As pol ti cas de conci l i ao
necessari amente devem
abordar o probl ema
da i nformal i dade e
precari edade do trabal ho.
FORTALECER AS INSTITUIES DO MERCADO DE TRABALHO
Um problema central para a conciliao entre trabalho e vida familiar o efetivo cumprimen-
to das normas existentes, de forma que os direitos consagrados em lei sejam efetivamente
exercidos. Neste mbito, as instituies do mercado de trabalho cumprem um papel crucial.
Melhorar o exerccio dos direitos ao cuidado por meio de um maior cumprimento da lei
As inspees do trabalho devem combater o descumprimento da legislao em dois senti-
dos: por meio da preveno e da fiscalizao.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
118
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA TRABALHADORES INFORMAIS DA GUATEMALA
A Prefeitura da cidade da Guatemala apia um programa de cuidado infantil e educao para a primeira
infncia destinado a famlias vulnerveis de zonas urbanas perifricas. Os cinco centros municipais deste
programa atendem mais de mil crianas com at seis anos de idade. Estes centros foram criados aps a
realizao de pesquisas que identifcaram o cuidado dos flhos e flhas como uma das principais necessi-
dades das mes trabalhadoras destas reas.
O Centro Municipal de Cuidado Infantil Santa Clara, inaugurado em 1990, destinado aos flhos e flhas
de trabalhadores informais que se dedicam coleta, separao e venda de material reciclado no depsito
de lixo municipal da zona 3 da cidade da Guatemala. A maioria das famlias vive em situao de pobreza
e de grande vulnerabilidade, algumas em extrema pobreza, morando em alojamentos insalubres no pr-
prio depsito de lixo. Muitas so monoparentais e chefadas por mulheres.
O centro atende a mais de 300 crianas e oferece servios de nutrio, cuidado, estimulao precoce,
educao pr-escolar, controles regulares de sade e vacinao, higiene e assistncia psicolgica. Alm
disso, oferece programas de sensibilizao e capacitao para pais e mes.
Os pais e mes contribuem com 15 quetzales mensais pelo servio (cerca de U$ 2,20). A Prefeitura, por
meio da Secretaria de Assuntos Sociais, se encarrega de fnanciar, administrar, supervisionar e contratar o
pessoal. Existem tambm outras fontes de recurso: os empregadores do setor fazem doaes voluntrias
e o centro desenvolveu mecanismos de cooperao com instituies do Estado, centros sanitrios locais,
ONGs nacionais e internacionais.
Os pais e mes estavam acostumados a levar seus flhos pequenos para o depsito de lixo onde traba-
lham. A existncia do centro permitiu evitar o trabalho infantil, pois as crianas deixaram de participar das
atividades de seus pais, alm de ter contribudo para a melhora de seu desenvolvimento social e fsico. As
mulheres puderam aumentar o horrio de trabalho remunerado e os problemas de logstica para o cui-
dado de seus flhos foram reduzidos, o que permitiu que elas trabalhassem com tranqilidade. As irms
mais velhas foram liberadas de suas obrigaes de ateno aos irmos menores. As mes informaram
que uma vantagem importante era a proximidade do servio com relao ao seu local de trabalho.
Fonte: Cassirer e Addati (2007).
QUADRO 28
CAPTULO IV
Muitas vezes, as infraes ocorrem por desconhecimento, por isso, a inspeo do trabalho
deve dedicar-se promoo e difuso dos direitos e deveres definidos pelas leis trabalhistas.
As aes recomendadas incluem:
Desenvolver programas de capacitao com relao proteo maternidade
e s responsabilidades familiares, voltados para empresrios e trabalhadores, es-
pecialmente nas micro e pequenas empresas, onde se concentra boa parte do
emprego feminino e onde a fiscalizao realizada em menor grau.
Para a melhor observncia das normas e sua fiscalizao, necessrio tornar a
legislao mais operativa, simplificando os mecanismos e acelerando os procedi-
mentos de denncia, investigao e sano.
Mediante a realizao de estudos, deve-se avaliar o cumprimento e a efetividade
real da normativa existente e detectar fatores que dificultam a
realizao de denncias ou o cumprimento das normas.
Alm disso, deve-se melhorar significativamente o monitoramento e a
fiscalizao do cumprimento da lei em matria de proteo materni-
dade e dos direitos de trabalhadores com responsabilidades familiares,
fortalecendo o papel das Fiscalizaes do Trabalho:
Para possibilitar uma fiscalizao efetiva, os Estados devem
assegurar-se de que as Fiscalizaes do Trabalho contem com
recursos humanos capacitados, que estejam presentes em ci-
dades de grande e pequeno porte e que estejam devidamente
equipados para realizar as aes. Alm disso, uma reviso das
infraes por descumprimento da licena maternidade e de
outras leis relativas s responsabilidades familiares permitiria
desenvolver programas que respondam realidade nacional.
Coordenar estreitamente as funes das Fiscalizaes do Tra-
balho e das equipes responsveis pelo cumprimento das normas de proteo
social pode ajudar a garantir, com eficincia e eficcia, sua cobertura durante as
licenas maternidade, paternidade e de outro tipo.
Melhorar a aplicao da lei e dos princpios que a inspiram nos tribunais do trabalho.
O fortalecimento da justia do trabalho um meio fundamental para melhorar o cumpri-
mento efetivo da normativa e garantir o acesso justia a todas as pessoas que trabalham.
Nos pases onde no existem os tribunais trabalhistas nem os defensores traba-
lhistas, deve-se promover sua institucionalizao, assim como a especializao do
pessoal que atua na rea judicial com relao a esta matria, incluindo, entre os
temas prioritrios, aqueles relacionados proteo maternidade e conciliao
119
Um probl ema central
para a conci l i ao entre
trabal ho e vi da fami l i ar
o efeti vo cumpri mento
das normas exi stentes,
de forma que os di rei tos
consagrados em l ei sej am
efeti vamente exerci dos.
entre trabalho e famlia.
Modernizar as instncias da justia trabalhista com o objetivo de fortalecer sua
efetividade e eficincia, por meio da capacitao e oferta de recursos suficientes.
Promover a capacitao tcnica e a sensibilizao do pessoal que atua na rea
judicial e dos demais operadores nos temas relacionados com a proteo ma-
ternidade e aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades
familiares. Sensibiliz-los no apenas sobre o contedo da lei, mas tambm sobre
seus princpios.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
120
ACORDO TRIPARTITE PARA A INCLUSO DE CLUSULAS DE IGUALDADE DE GNERO NA
NEGOCIAO COLETIVA
Em preparao ltima rodada de negociao coletiva realizada no Uruguai, em 2008, a Comisso Tripar-
tite para a Igualdade de Oportunidades e Tratamento integrada por representantes do governo (Minis-
trio do Trabalho e Previdncia Social e Instituto Nacional de Mulheres), organizaes de trabalhadores
(PIT-CNT) e de empregadores (Cmara da Indstria e Cmara do Comrcio) assumiu o compromisso
conjunto de promover clusulas de igualdade de gnero durante a negociao nos Conselhos de Sal-
rios. Nas propostas entregues aos negociadores, recomendou-se integrar nos acordos certas condies
bsicas para a igualdade: i) o princpio de igualdade de remunerao para trabalho de igual valor; ii) a
igualdade de oportunidades no acesso a postos de trabalho melhores e mais qualifcados; iii) a elimina-
o de elementos discriminatrios nos processos de seleo e promoo; iv) a garantia proteo legal
maternidade, bem como outros dispositivos que promovam um maior equilbrio entre o exerccio da
maternidade e da paternidade e v) a preveno do assdio moral e sexual.
Como resultado, vrios grupos negociadores acordaram uma srie de medidas no mbito da conciliao.
Entre elas, destacam-se as maiores facilidades para a amamentao; a reduo da jornada em at 50%
durante a amamentao por um perodo de at seis meses; a possibilidade de licena durante a amamen-
tao, com desconto de salrios, mas sem que isso afete a gratifcao por assiduidade e, fnalmente, me-
didas orientadas a diminuir a discriminao em funo da gravidez e a manuteno do posto de trabalho
para as trabalhadoras substitutas grvidas.
Foram alcanados avanos tambm com relao instalao de creches, medida que no est previs-
ta em lei, embora existam creches sindicais e fnanciadas pelas empresas. Nesta rodada de negociao,
destacou-se o acordo, conquistado no setor da sade privada, para aumentar a contribuio empresarial
ao fundo de creches. No setor de supermercados, estabeleceu-se uma comisso bipartite para estudar
a criao de creches. Alm disso, neste setor acordou-se que as atividades de formao sero realizadas
dentro dos horrios de trabalho, com o objetivo explcito de permitir uma maior participao de traba-
lhadores com responsabilidades familiares.
Alm disso, foram includos na negociao coletiva temas tradicionalmente ausentes, como a licena
paternidade e a questo de flhos com defcincia. Como um refexo e reforo das disposies da nova
Lei 18.345, que equipara vrias licenas especiais dos trabalhadores do setor privado com os do setor
pblico, uma srie de grupos negociadores incluram clusulas sobre a licena paternidade (de 3 dias,
remunerada); e licenas especiais de 96 horas para pais de flhos/as com defcincia.
Fonte: Estudo de Ana Aguilera elaborado para este relatrio.
QUADRO 29
CAPTULO IV
Fortalecer a institucionalidade laboral e equiparar a capacidade de negociao de traba-
lhadores/as com responsabilidades familiares
A conciliao entre vida laboral e familiar no um tema que concerne apenas s mulheres,
mas tambm um objetivo que diz respeito ao conjunto dos atores que participam nos pro-
cessos de trabalho. A incluso de clusulas relacionadas s responsabilidades familiares nas
negociaes coletivas fundamental para avanar na cobertura e ampliao dos direitos e
benefcios previstos em lei e de instituir novos direitos.
Deve-se fortalecer a abordagem deste tema nos mbitos de negociao e dilogo social,
pois, por meio deste intercmbio, a conciliao se aproxima do campo das aes especficas.
A possibilidade de alcanar acordos entre os empregadores e os trabalhadores potencializa
os objetivos e estratgias desenvolvidas por cada setor.
O Estado deve favorecer o dilogo social tripartite e gerar espaos de debate e construo
de consenso que culminem na adoo de uma poltica nacional integrada sobre conciliao
entre vida laboral e familiar, de acordo com as indicaes da Conveno n 156, art. 11. Para
isso, recomenda-se:
- Fortalecer o processo de negociao coletiva e equiparar a capacidade de ne-
gociao de trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares, por
meio da legislao e da capacitao.
- Promover a percepo das responsabilidades familiares como um tema de interes-
se estratgico para o conjunto dos trabalhadores, trabalhadoras e empresas, e no
apenas como benefcios direcionados s mulheres.
- Melhorar a capacidade dos sindicatos para analisar e elaborar propostas, a partir
de um enfoque de gnero, no mbito da conciliao, por meio da sensibilizao e
capacitao.
- Sensibilizar os empresrios frente a este tema com o objetivo de corrigir imagens
negativas e sem fundamento, por meio da difuso de informao sobre os bene-
fcios das medidas conciliatrias, como o aumento da produtividade e da motiva-
o dos trabalhadores.
- A partir do Estado, deve-se fortalecer o papel das instncias tripartites para o al-
cance de critrios comuns que contribuam para compatibilizar o trabalho e a vida
familiar. Com este objetivo, recomenda-se a constituio de comisses tripartites
de igualdade de oportunidades no emprego para que acompanhem a aplicao
das polticas nacionais e dos acordos, bem como monitorem os aspectos pactua-
dos e o tratamento de novos temas.
Alm disso, o Estado, como empregador, deve ser um exemplo e promover prticas positivas
entre seus funcionrios. Uma forma de alcanar isso pode se dar pela outorga de selos de
qualidade s instituies que cumpram com a normativa vigente e avancem com relao s
leis existentes.
121
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
122
UM CDIGO DE BOAS PRTICAS TRABALHISTAS NO SETOR PBLICO
No Chile, por meio de um orientao presidencial, iniciou-se a aplicao do Cdigo de Boas Prticas Tra-
balhistas para a no discriminao na administrao central do Estado. O Cdigo, elaborado com o apoio
tcnico da OIT, contm diretrizes com relao ao acesso ao emprego e a postos de direo, promoo
e desenvolvimento na carreira, formao profssional, condies de trabalho, proteo maternidade,
conciliao entre as responsabilidades no trabalho e as obrigaes familiares e a preveno e sano do
assdio sexual e moral.
A aplicao do Cdigo se realiza atravs de um diagnstico em cada um dos 170 servios do Estado que
se encerra com a elaborao de um plano trienal. O Servio Nacional da Mulher (SERNAM), em sua funo
de garantir o cumprimento de polticas para a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres,
apoiar a difuso, capacitao e elaborao de metodologias de monitoramento e acompanhamento.
Para isso, conta com um plano de assistncia permanente s instituies do setor pblico que implemen-
tam esta ao.
Fonte: www.serviciocivil.cl/
QUADRO 30
123
Os servios fornecidos pelo Estado e pelo mercado de trabalho na rea de cuidados ofe-
recem respostas ainda incipientes frente s novas necessidades das famlias que precisam
conciliar estas tarefas com suas responsabilidades profissionais. A rea de cuidados, por si
prpria, pode constituir uma importante oportunidade para a gerao de novos empregos.
A transferncia para o mercado e para os servios pblicos de algumas tarefas domsticas e
de cuidado tem o potencial de ampliar e formalizar nichos de emprego j existentes, assim
como de criar novos, resultando em um importante potencial de oportunidades de trabalho
decente, que contribui para a reduo da pobreza na regio e para a igualdade de gnero.
Ademais, estas novas oportunidades de emprego podem ser uma res-
posta s tendncias demogrficas da regio de crescimento significativo
da populao idosa, paralelo ao aumento da participao feminina no
mercado de trabalho (Infante, 2006), no sentido de contribuir para a re-
duo dos dficits de cobertura dos servios necessrios para a concilia-
o entre vida profissional e familiar.
Neste sentido, o Estado deve ter um papel ativo quanto /ao:
Identificao da demanda e do potencial de criao de trabalho
decente
Promover a realizao de estudos para identificar a demanda
insatisfeita de cuidados, com ateno qualidade e aos crit-
rios de co-responsabilidade social; e identificar o potencial de
criao de trabalho decente, seja pblico ou privado, associa-
do ampliao de servios para os distintos momentos do ci-
clo de vida.
Promover a realizao de estudos que estimem a taxa de retorno do investimento
social em servios de cuidado, para a sociedade em geral e para os oramentos
pblicos em particular.
Criao e promoo de emprego
Desenvolver sistemas pblicos, privados e mistos de cuidado especializado, que
sejam acessveis e respondam s necessidades e preferncias dos/as trabalhado-
res/as com responsabilidades familiares e das pessoas que requerem ateno, as-
sim como estimular a formao de servios comunitrios e meios de assistncia s
famlias, inclusive servios de higiene e de cuidados domiciliares.
Aproveitar o potencial de
gerao de trabalho decente
na rea de cuidados
A transferncia para o
mercado e para ser vios
pblicos de algumas tarefas
domsticas e de cuidado
tem o potencial de ampliar
e formalizar nichos de
emprego j existentes,
assim como de criar novos.
Promover o investimento social em novos setores de servios cuja produo
responda s necessidades dos grupos em situao de maior pobreza relativa.
Priorizar os servios com demanda insatisfeita: ateno integral infncia, ensi-
no de informtica e apoio escolar; programas de convivncia com segurana e
ateno ao idoso. Garantir uma melhora na qualidade e a diminuio dos custos
dos servios.
Realizar iniciativas em nvel local, de maneira que seja possvel incorporar os apor-
tes dos governos locais, organizaes da sociedade civil e comunidades.
Gerar mais e melhores empregos, especialmente nas empresas de menor tama-
nho (micro, pequenas e mdias), por meio do investimento em cadeias produtivas
associadas aos cuidados. Reforar a capacidade produtiva das micro, pequenas
e mdias empresas para que recuperem sua participao no mercado de bens e
servios e gerem novas ocupaes.
Reforar a qualidade do emprego
Promover a regulao do setor de cuidados, de forma a superar a pre-
carizao e feminizao dos empregos neste setor. Como parte do es-
foro para valorizar as atividades de cuidado, o Estado dever adotar
uma atitude muito mais ativa em relao proteo e promoo
das condies de trabalho das pessoas que atuam na ampla variedade
existente dos servios de cuidado.
Promover a incorporao de homens e mulheres neste tipo de servios
no sentido de superar a idia de que o cuidado tarefa exclusiva das
mulheres.
Para alcanar a igualdade de remunerao por trabalho de igual valor, promover
campanhas pela valorizao das ocupaes na rea de cuidados. A promoo de
melhor remunerao destas ocupaes fundamental para romper com a seg-
mentao ocupacional e a desvalorizao destas tarefas, por serem quase exclusi-
vamente femininas.
Realizar esforos para a profissionalizao e certificao de servios de cuidado, o
que teria efeitos sobre a qualidade do servio prestado e no incremento do valor
social e econmico atribudo a este trabalho. Para tanto, necessrio criar progra-
mas para capacitao de pessoal especializado no cuidado de pessoas idosas e
pessoas com deficincia, assim como para educao para primeira infncia e pr-
escolar.
Um importante desafio para gerar trabalho decente na rea de cuidados a pro-
moo de melhores condies de trabalho e a equiparao de direitos das tra-
balhadoras domsticas. As polticas de promoo de postos de trabalho formais
nesta rea podem constituir um estmulo melhora das condies de trabalho de
milhes de trabalhadoras domsticas informais.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
124
Promover a regul ao
do setor de cui dados,
de forma a superar a
precari zao e femi ni zao
dos empregos neste setor.
CAPTULO IV
Reforar os programas de erradicao do trabalho infantil domstico, realizado
por meninas de lares pobres, geralmente rurais e, em alta proporo, indgenas
ou negras.
Desenvolver estratgias de equiparao de direitos trabalhistas, melhora das con-
dies de trabalho e formalizao do trabalho realizado por mulheres em organi-
zaes comunitrias de cuidado de pessoas em situao de extrema vulnerabilida-
de social (meninos/as, idosos, etc.).
125
EMPREGOS DE CUIDADO INFANTIL NO VALE DO CAUCA, COLMBIA
O potencial de emprego na rea de cuidados infantis foi avaliado no Vale do Cauca na Colmbia, no
mbito do programa Novos Nichos de Emprego (NYE). Diferentemente dos programas de emprego tra-
dicionais, a idia do NYE criar postos de trabalho permanentes para responder s necessidades no
satisfeitas dos cidados, relacionadas com seu bemestar e qualidade de vida.
Considerando o nmero de crianas entre 0 e 4 anos que no participam dos programas de ateno e
educao primria devido, segundo os pais, a razes econmicas e/ou falta de disponibilidade de
servios , se calcula que poderiam ser gerados 25.356 empregos novos em lares ou em instituies de
cuidado infantil e 4.057 vagas para professores em instituies de ateno e educao pr-escolar, bene-
fciando uma populao total de 4.4 milhes de habitantes.
Esta potencialidade est relacionada ao fato de que 32,6% da populao menor de 5 anos (375.881 crian-
as) vivem com a me, sem a presena do pai. Somente 31,6% das crianas so assistidas em um local
comunitrio, creche ou instituio pr-escolar.
Fonte: Aguado (2007).
QUADRO 31
126
Para avanar quanto ao bem estar da populao e enfrentar as necessidades de cuidado,
necessria a construo de um sistema de bem estar social, em que os mecanismos contri-
butivos e no contributivos estejam combinados em um marco de solidariedade integral
entre distintos grupos socioeconmicos e transgeracional. Este sistema deve ter ampla co-
bertura, que incorpore a populao ativa e inativa, e que melhore a qualidade e os servios
destinados populao nas diferentes etapas do ciclo de vida e familiar.
PROMOVER ACESSO UNIVERSAL AOS SERVIOS SOCIAIS
Este avano em direo a polticas com cobertura universal e servios sociais de qualidade
se faz por meio de uma ampla rede de proteo social que no esteja unicamente condicio-
nada ao emprego formal. Para tanto, necessrio:
Incorporar sistemas de penses universais, de forma a garantir renda cidad b-
sica. O objetivo assegurar o direito renda aos idosos de maneira que possam
exercer seu direito de serem cuidados. Isto requer regimes no contributivos com-
plementares aos contributivos, capazes de introduzir graus de autonomia entre o
mercado de trabalho e o sistema previdencirio.
Eliminar os efeitos negativos da maternidade e das responsabilidades familiares
sobre as contribuies e os benefcios que recebem as mulheres.
Introduzir mecanismos para que as interrupes de participao no mercado de
trabalho devido maternidade ou cuidado familiar no prejudiquem seu acesso a
penses por aposentadoria ou outras.
Universalizar a educao para a primeira infncia, de forma a desvincular o acesso
ao cuidado com o tipo de insero no mercado de trabalho da me; contribuir
para o fortalecimento da cidadania das mulheres; e, por fim, criar maiores oportu-
nidades para meninos e meninas, especialmente os provenientes de lares pobres.
Uma medida til a obrigatoriedade da educao pr-escolar, ampliando o limite
mnimo de idade de cinco (atualmente em vigor na maioria dos pases) para qua-
tro anos.
Universalizar o direito a licenas remuneradas de maternidade, paternidade
e parentalidade.
Melhorar a capacidade da
previdncia social para dar respostas
s necessidades de cuidado
CAPTULO IV
PRIORIZAR O INVESTIMENTO SOCIAL EM SERVIOS DE CUIDADO
A proviso pblica de servios de cuidado deve contemplar as necessidades dos lares de
distintos estratos socioeconmicos e garantir o acesso da populao mais necessitada a ser-
vios de qualidade. Trata-se de superar o estigma de servios pobres para populao pobre
e oferecer ateno digna, que no discrimine os lares pobres. O Estado deveria priorizar seu
investimento no sentido de:
Prover oferta de cuidados com cobertura universal para meninos e meninas meno-
res de seis anos, no sentido de reduzir o atual dficit e desigualdade quanto as-
sistncia e acesso ao cuidado. A ampliao da oferta e disponibilidade de creches
e jardins de infncia deve ter financiamento e superviso adequados para garantir
a continuidade e qualidade dos servios prestados; ateno deve ser dispensada
localizao dos servios, nas proximidades dos locais de trabalho e dos domiclios
das pessoas.
Desenvolver campanhas para promover a confiana das famlias nestes servios,
destacando a superviso a que so sujeitos, a segurana e qualidade da educao
que oferecem.
Complementar a oferta pblica de servios de cuidado infantil com a proviso de
auxlios para a utilizao de servios privados.
Supervisionar o cumprimento do acesso educao bsica obrigatria, incluindo
o nvel inicial e a ampliao da oferta de instituies de jornada integral. neces-
sria a extenso das jornadas escolares, com atividades tanto curriculares como
extracurriculares, de maneira que se assimilem s jornadas de trabalho.
Garantir todos os direitos trabalhistas s trabalhadoras em programas comunit-
rios de cuidado infantil, que contem ou no com apoio do Estado.
DESENVOLVER MEDIDAS CONCILIATRIAS CONSIDERANDO O MOMENTO DO
CICLO DE VIDA DAS PESSOAS
Os pases da Amrica Latina e Caribe esto em distintas etapas de transio demogrfica,
que implicam em diferentes demandas para o cuidado da sua populao. So necessrias,
portanto, polticas que dem respostas realidade que se apresenta e se adaptem s mu-
danas demogrficas:
Para os pases nas primeiras etapas de transio demogrfica, nos quais a taxa de
envelhecimento incipiente, se faz necessrio fortalecer as polticas de ateno
infncia e o acesso a servios de sade e educao pr-escolar.
Os pases com taxa de envelhecimento moderado necessitam de sistemas de
sade que respondam aos novos padres epidemiolgicos, de estratgias para o
cuidado e de polticas de proteo social que assegurem um nvel adequado de
127
vida na velhice.
Para os pases em transio avanada, com taxas de envelhecimento mais altas,
necessrio enfrentar o desafio de responder demanda de cuidados de idosos
para a qual no esto preparados. necessrio gerar condies para que o cres-
cente nmero de mulheres idosas, sem aposentadoria, tenha uma velhice digna.
Independentemente da etapa de transio demogrfica, todos os pases da regio enfren-
tam - com maior ou menor premncia - o desafio de gerar polticas de cuidado para a terceira
idade, em diversos tipos de assistncia:
Servios e alojamentos para cuidados de longa durao, sobretudo para necessi-
dades no cobertas pelos sistemas de sade, como doena de Alzheimer, demn-
cia senil e outras.
Servios comunitrios/municipais que prestem assistncia por hora, jornada m-
dia ou integral nos domiclios.
Auxlios para contratao de cuidadores a domiclio ou de cuidadores que sejam
empregados municipais que, por demandas pontuais, atendam em perodos cur-
tos de tempo nas residncias das pessoas idosas.
INTEGRAR AOS PROGRAMAS DE TRANSFERNCIA CONDICIONADA DE RENDA
UM ENFOQUE DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE
Os programas de transferncia condicionada de renda tm reconhecido a importncia da
destinao de recursos pblicos para beneficiar as condies de sade e educao de me-
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
128
POPULAO IDOSA NO URUGUAI
O Uruguai um dos pases com maior proporo de idosos na regio. Em 2004, foi aprovada a Lei 17.796
de Promoo Integral aos Idosos. Esta norma cobre quatro grandes reas: sade, integrao social e con-
dies de vida, assistncia e proteo legal e seguridade social.
Neste marco, foi criado o Programa Nacional dos Idosos (PRONAM), regulamentado em nvel interinsti-
tucional com a participao de diferentes estruturas do Estado e da sociedade civil. O Programa tem o
propsito de melhorar a qualidade de vida das pessoas com mais de 65 anos, por meio da ateno em
diferentes aspectos: adequao de servios, capacitao de pessoal, preveno de doenas e estabeleci-
mento de sistemas de ajuda familiar. Para o acesso aos servios do setor pblico, foi desenvolvido o Carn
Gratuito de Assistncia Vitalcia.
Fonte: www.msp.gub.uy
QUADRO 32
CAPTULO IV
ninos e meninas. Entretanto, para maximizar seu impacto para as mulheres e fomentar sua
autonomia econmica, necessrio:
Aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos servios sociais, com o efeito
de reduzir o tempo imposto pelas condicionalidades s mulheres, pois os progra-
mas no devem aumentar a carga de trabalho domstico feminino e, em conse-
qncia, prejudicar a posio das mulheres no mercado de trabalho e na busca
de emprego.
Promover a vinculao dos programas de transferncia com medidas de gerao
de emprego e prestao de servios pblicos de cuidado infantil. Promover tam-
bm a articulao destes programas com as polticas ativas em matria de empre-
go, no sentido de melhorar as capacidades individuais das mulheres, por meio, por
exemplo, da alfabetizao, capacitao em ofcios e a socializao em matria de
primeiro emprego; ao mesmo tempo em que se promove a criao de emprego.
Fazer uso das condicionalidades como mecanismo para promover mudanas na
distribuio de responsabilidades domsticas entre homens e mulheres, em vez
de serem requisitos os quais as mes devem cumprir.
Nos casos que se exigem contraprestaes, avaliar os custos decorrentes e sua
justificativa visando aliviar as mltiplas presses que existem atualmente sobre o
tempo das famlias, em geral, e das mulheres, em particular.
129
130
As migraes podem beneficiar de muitas maneiras tanto os pases de origem, como os de
destino, e os prprios trabalhadores e trabalhadoras migrantes. No entanto, podem gerar
situaes de desvantagem e discriminao para os migrantes e produzir efeitos indesejados
para suas famlias, que permanecem nos pases de origem (OIT, 2007b).
Uma grande fonte de tenso para as trabalhadoras migrantes a conciliao de suas respon-
sabilidades laborais e familiares, devido tanto situao de vulnerabilidade, em que muitas
vezes se encontram nos pases de destino, como distncia que as separa de sua famlia, que
dificulta o manejo das necessidades de cuidado de seus filhos, filhas e outros dependentes.
PROTEGER OS/AS MIGRANTES NOS PASES DE ORIGEM E
DESTINO
As migraes podem contribuir para o crescimento econmico e para
o desenvolvimento dos pases de origem e destino. Para os pases de
origem, a economia e a balana comercial se beneficiam pelas remessas
feitas. J os pases de destino so beneficiados pela mo de obra que se
insere em ocupaes necessrias para o bemestar. No entanto, migrao
implica perda de capacidades, e, para as mulheres em particular, perda de
alternativas de cuidado. Para enfrentar esta questo, os governos devem:
Criar oportunidades suficientes de trabalho decente para homens e mulheres,
para que possam encontrar em seus prprios pases fontes de renda para garantir
o bemestar econmico de suas famlias, para que no tenham que recorrer a bus-
ca de atividades que sejam mais bem remuneradas em outro pas, ainda que em
condies de pior qualidade e longe de suas famlias.
Facilitar o retorno da populao migrante, apoiando a reunificao familiar, por
meio dos programas de reintegrao e capacitao.
Os pases de destino so beneficiados com a disponibilidade de mo de obra migrante, espe-
cialmente em um contexto de crise de cuidados. Entretanto, especial ateno deve ser dada
s numerosas desvantagens e discriminaes a que esto sujeitos homens e mulheres por
sua condio de migrantes.
Garantir a coerncia entre as polticas de migrao para trabalho e de emprego,
considerando as repercusses sociais e econmicas das migraes. Promover a
Polticas para migrantes
e suas famlias
A mi grao i mpl i ca perda
de capaci dades, e, para as
mul heres em par ti cul ar,
perda de al ternati vas
de cui dados.
CAPTULO IV
ampliao dos canais e prevenir e eliminar as condies migratrias abusivas.
Estabelecer regulaes que facilitem a reunifcao das famlias de trabalhadores/as
migrantes.
Garantir que os/as trabalhadores/as migrantes tenham os mesmos direitos traba-
lhistas que os/as demais trabalhadores/as e acesso aos servios de cuidado infan-
til. Para tanto, desenvolver campanhas de informao sobre os direitos de traba-
lhadores/as migrantes.
Envolver os empregadores na co-responsabilidade pelo cumprimento da lei e da
proviso de espaos para as mes e pais trabalhadores, no mbito da legislao
relativa a proteo social.
Promover a sindicalizao dos trabalhadores migrantes.
As questes relacionadas ao movimento transnacional de trabalhadores no podem ser
abordadas de maneira eficaz se os pases atuam de forma isolada, razo pela qual, a coope-
rao internacional na gesto das migraes para trabalho pode ser um valioso instrumento
para atender aos interesses nacionais.
Devem ser promovidos o dilogo e a cooperao intergovernamentais sobre polticas de
migrao para trabalho, em consulta com os atores sociais, a sociedade civil e as organiza-
es de trabalhadores migrantes, conforme recomenda a OIT. Acordos migratrios binacio-
nais deveriam ser firmados, com a incluso de medidas especificamente dirigidas s famlias
transnacionais, contemplando a reunificao destas famlias tanto no pas de origem como
no de destino.
O dilogo social e a criao de mecanismos tripartites sobre o tema devem ser promovidos,
alm da necessidade de gerar informao e conhecimentos acerca do tema, como subsdio
para a formulao de polticas adequadas.
DESENHAR MEDIDAS DE APOIO S FAMLIAS DE MIGRANTES
Embora as famlias que permanecem no pas de origem se beneficiem economicamente da
migrao, a ausncia do pai e, principalmente, da me, tradicionalmente principal respons-
vel pelos cuidados, produz novas tenses na famlia, que acarretam custos sociais, tanto em
funo das pessoas dependentes do cuidado, como para as mulheres do grupo familiar que
assumem cargas adicionais de trabalho em funo do cuidado. Frente esta situao, cada
vez mais freqente nos pases da Amrica Latina e Caribe, se requer uma bateria de medidas,
a saber:
Contribuir para legitimar socialmente as famlias transnacionais como um novo
tipo de famlia, para prevenir a discriminao, o que requer aes de sensibilizao
nas escolas e nos meios de comunicao de massa.
131
Oferta de servios de cuidado que respondam s necessidades das famlias cujos
pais/mes no se encontram no pas. Formalizao do papel das tutoras, que ficam
com a responsabilidade das filhas e filhos dos/as migrantes, para que seja estendi-
da elas a titularidade dos benefcios ligados ao cuidado.
Gerar servios de apoio que previnam a evaso escolar de jovens que ficam com a
responsabilidade de cuidar de seus/suas irmos/s mais novos/as.
Participao dos governos locais na formulao e gesto dos programas que aten-
dem s demandas especficas das famlias transnacionais. Como dispem de co-
nhecimento privilegiado do territrio, os governos locais podem ser mais eficien-
tes para priorizar reas geogrficas onde certos tipos de medidas se fazem mais
urgentes, como a ampliao de jornadas escolares.
Empreender esforos institucionais para levantamento de informao estatstica
sobre a situao das famlias que permanecem no pas de origem, para comple-
mentar a informao sobre a populao migrante, grupo em que se centram os
levantamentos de informao, at o momento.
Envolver as organizaes de migrantes para que possam, a partir de sua ex-
perincia, contribuir para a definio de prioridades e para formulao de
medidas necessrias.
Nos pases de origem e nos de destino, promover medidas que melhorem e redu-
zam os custos de comunicao entre mes, pais e seus/suas filhos/as, mediante o
uso de tecnologias de informao, por exemplo, acesso internet.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
132
CAPTULO IV
133
PROGRAMA PARA GARANTIR A EDUCAO DE FILHOS E FILHAS DE SAFRISTAS MIGRANTES
NO MXICO
A importncia e magnitude do fenmeno migratrio no Mxico, bem como as aes de direitos
humanos, tm impulsionado a criao de programas e polticas de ateno a migrantes internos
e transnacionais.
Os flhos e flhas de trabalhadores safristas agrcolas migrantes enfrentam um grave problema quando
acompanham seus pais, pois, alm de abandonar suas localidades de origem, fcam merc da tempo-
ralidade dos ciclos agrcolas de demanda de mo de obra a que seus pais esto sujeitos, que distinta
dos perodos escolares.
O Programa de Educao Pr-escolar e Primria para Meninos e Meninas de Famlias Safristas Agrcolas
Migrantes (PRONIM) comeou a ser desenvolvido em 1997. Seu objetivo contribuir para a qualidade de
vida de flhas e flhos de famlias safristas agrcolas migrantes, por meio de assistncia educativa em nvel
pr-escolar e primrio, fomentando o acesso, permanncia e desempenho escolar, de forma conjugada
com a mobilidade geogrfca e as condies de vida de suas famlias.
A coordenao entre as instncias dos distintos estados do pas necessria para a promoo de assis-
tncia escolar intercultural e promoo da eqidade na cobertura e na qualidade do servio a flhas e
flhos, entre 3 e 14 anos de idade, de famlias de trabalhadores agrcolas safristas, migrantes e assentadas,
mestias e indgenas. O objetivo que as escolas pblicas recebam os estudantes em trnsito, de forma
a evitar a interrupo de seus estudos.
O PRONIM oferece assistncia escolar em 21 dos 32 estados do pas. A cobertura alcanada de 17.268
meninos/as, o que signifca 4,4% da demanda potencial. O programa ampliar a populao alvo para
incluir meninos/as entre 3 e 16 anos, aumentando a cobertura para 400.000 meninos e menino/as.
Fontes: http://www.sedesol.gob.mx/; http://www.sep.gob.mx/;
Loyo e Camarena (2008).
QUADRO 33
134
EMPREGADORES
As medidas adicionais s medidas legais, implementadas nas empresas para apoiar a conci-
liao do trabalho com as responsabilidades familiares, no s beneficiam aos trabalhadores
e trabalhadoras, mas tm como resultados tambm importantes benefcios para a prpria
empresa.
Entre estes benefcios, se pode destacar o desenvolvimento de recursos humanos, pois, em
nvel internacional, as medidas de conciliao so utilizadas para atrair e reter talentos e re-
duzir a rotatividade de pessoal, uma vez que as pessoas constituem o principal recurso das
empresas modernas e a remunerao j no mais o nico atrativo para permanecer nas
empresas (Lagos, 2007).
Mesmo as empresas de setores e empregos de baixa qualificao e produtividade, onde o
custo marginal associado rotatividade e o treinamento relativamente baixo, se beneficiam
de aumentos na produtividade, tanto em nvel micro como sistmico.
Quando os trabalhadores/as podem conciliar sua vida profissional com
a familiar, o absentesmo reduzido e se produz uma maior satisfao e
comprometimento com a empresa; menores nveis de stress geram um
melhor clima no trabalho, o que, por sua vez, contribui para o aumento
da produtividade.
Alm disso, ser uma empresa alinhada s mudanas sociais e que apia a
igualdade de oportunidades crucial para uma boa imagem pblica. Essa
tendncia faz parte das empresas socialmente responsveis, selo institucional que permite
atrair nova clientela, potenciais trabalhadores/as e tambm melhorar as relaes com outras
empresas e instituies da administrao pblica.
importante que as organizaes de empregadores assumam um papel pr-ativo no debate
da conciliao em nvel nacional, de forma a ter voz e, com isso, mostrar seu compromisso
com o tema.
As organizaes de empregadores devem informar seus membros acerca da importncia de
criar condies para a conciliao com co-responsabilidade social, assim como impulsionar
medidas concretas e mecanismos para avaliar seus resultados, tais como:
Realizar estudos, divulgar informao e dar assessoramento quanto aos custos e
O papel dos atores sociais
na busca de novas respostas
Mesmo as empresas de
setores e empregos
de bai xa qual i fi cao
e produti vi dade.
CAPTULO IV
benefcios a curto e longo prazo de implementao de medidas de promoo da
conciliao do trabalho com as responsabilidades familiares.
Promover o estabelecimento de comisses dentro das organizaes de emprega-
dores, para que elaborem propostas para uma melhor conciliao no mbito da
organizao, assim como nas empresas.
Promover o aumento da participao de mulheres empresrias nas instncias de di-
reo das organizaes de empregadores e fortalecer a presena das demandas de
gnero entre elas as de conciliao com co-responsabilidade - na agenda do setor.
Promover uma compreenso mais ampla da responsabilidade social nas empresas,
que incorpore de maneira central o tema dos cuidados e a necessidade de novas
sinergias entre vida familiar e no trabalho. Agir para que as aes de responsabi-
lidade social cheguem ao prprio quadro de pessoal e que deixem de ser vistas
como mera filantropia empresarial.
Desenvolver cdigos de boas prticas e outras formas de compromisso voluntrio
em matria de conciliao com co-responsabilidade social.
Promover o efeito contgio entre empresas a partir da difuso de experincias exito-
sas em matria de responsabilidade social, particularmente no mbito da conciliao.
Promover a mensurao dos efeitos das iniciativas de conciliao, considerando
seu impacto na produtividade e na imagem corporativa. Este tipo de pesquisa
requer um debate sobre as metodologias possveis.
135
FILHOS DE TRABALHADORAS DE UM CENTRO COMERCIAL DIVIDEM BERRIOS
Em 1995, modifcou-se a lei de creches no Chile. A partir de ento, se estendeu esta exigncia aos cen-
tros comerciais administrados sob uma mesma razo social ou personalidade jurdica. At aquela data,
somente as mulheres que trabalhavam em lojas de departamento ou em outras empresas com mais de
20 trabalhadoras tinham direito ao benefcio.
Em uma importante cadeia de centros comerciais, o benefcio operacionalizado por meio de acordos
entre o centro comercial e creches privadas, localizadas nas proximidades do trabalho da me e em hor-
rio compatvel com o das mes. Todas as trabalhadoras tm este direito, e as que mais se valem dele so
as que trabalham em empresas menores. O levantamento da demanda interna e a seleo das creches
so responsabilidade da administrao de cada centro comercial. me, cabe a apresentao dos do-
cumentos necessrios e a escolha da creche que mais lhe convenha entre as que integram o convnio.
O fnanciamento se realiza por meio da rubrica de gastos comuns que pagam os operadores dos centros
comerciais, e que incluem tambm o consumo de servios bsicos de reas comuns e outros gastos,
como a creche. O pagamento da creche independente se as trabalhadoras de um local de trabalho a
usam ou no. Tal como estabelece a lei, este benefcio no signifca nenhum gasto para a trabalhadora
que o utiliza.
A empresa entrevistada reconhece a importncia da poltica de cuidado infantil, porque favorece a inser-
o de mulheres no mercado de trabalho e permite que trabalhem com mais tranqilidade. Ainda, pol-
ticas deste tipo, que se inserem nas aes de Responsabilidade Social, permitem reforar a boa imagem
corporativa e competir pelos melhores rankings.
Fonte: Kremerman (2008).
QUADRO 34
As empresas devem promover a incorporao, em seus departamentos de recursos huma-
nos, de estratgias para uma melhor conciliao entre a vida laboral, familiar e pessoal. Estas
medidas devem dirigir-se explicitamente ao pessoal de ambos sexos e ter em conta as ne-
cessidades dos distintos tipos de famlia.
Servios familiares:
Oferecer servios de cuidado infantil nos prprios estabelecimentos, quando justif-
cado pela escala de pessoal; ou optar por mecanismos de reembolso para facilitar o
acesso de mes e pais trabalhadores a servios de cuidado oferecidos pelo mercado.
Promover a inovao e a cooperao entre as empresas na organizao de servi-
os de cuidado.
Ampliar a gama de auxlios e incluir, nas polticas de conciliao de ateno po-
pulao idosa, pessoas com algum tipo de deficincia ou doena.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
136
REEMBOLSO DE GASTOS DE CUIDADO INFANTIL NO BRASIL
O reembolso de gastos de creche tem sido a estratgia mais utilizada pelas empresas brasileiras para
cumprir com a legislao trabalhista. A lei exige que cada empresa, que no tenha creche, estabelea
uma estratgia para o cuidado de flhos e flhas de suas trabalhadoras. A durao e a quantia do auxlio
so estabelecidas na negociao coletiva entre a empresa e os sindicatos e, em alguns casos, transcen-
dem o estabelecido na lei.
Em uma determinada empresa estatal, por exemplo, em que a estratgia adotada transcende os requisi-
tos legais, a empresa reembolsa os gastos do cuidado de meninos/as at os sete anos de idade. A estra-
tgia de reembolso inclui o fnanciamento de creches privadas. Este processo conduzido pelo departa-
mento de recursos humanos, que avalia a qualidade dos servios e seleciona aqueles localizados prximo
ao local de trabalho. Caso no haja creches prximas, as trabalhadoras podem solicitar o reembolso para
contratar uma trabalhadora domstica em sua casa.
A estratgia de fnanciamento ajuda as mes a escolher a creche mais adequada s suas necessidades e
tambm estabelece uma rede entre a empresa, o setor privado, as creches e os/as trabalhadores/as, asse-
gurando o controle de qualidade dos servios prestados. Dado que o reembolso prestado pela empresa
cobre os custos feitos no mercado, as creches privadas tm muito interesse no fnanciamento para os/as
trabalhadores/as, pois constitui uma importante fonte de receitas.
O custo para a empresa representa 0,01% de sua receita e os resultados positivos se fazem evidentes nos
estudos de clima organizacional, que destacam a satisfao das trabalhadoras com este benefcio.
Ademais, a empresa em questo tem um acordo com o SESI (Servio Social da Indstria), que oferece ati-
vidades fora do horrio escolar, assim como colnias de frias para flhos e flhas dos/as trabalhadores/as.
O custo decorrente coberto integralmente pela empresa, por meio de sua contribuio fscal ao SESI.
Fonte: Hein e Cassirer (2008).
QUADRO 35
CAPTULO IV
137
EMPRESA INOVADORA ATENDE DEMANDA DE CUIDADO INFANTIL DE GRANDES EMPRESAS
Desde 2005, funciona na cidade de Santiago do Chile uma empresa especializada em oferecer a outras
empresas alternativas quanto educao e cuidado infantil dos/as flhos e flhas de trabalhadores/as.
Desde sua criao, 20 centros foram abertos, com perspectivas de ampliao para lugares com deman-
da reprimida.
O servio da empresa est orientado, principalmente, a satisfazer a demanda de grandes corporaes,
que representa mais de 60% da receita da empresa em questo.
A empresa especializada oferece servios de alta qualidade de acordo com as necessidades de cada em-
presa e de seus/suas trabalhadores/as. A partir de um diagnstico sobre a demanda e objetivos da em-
presa, se formula uma proposta para instalar um centro patrocinado (com ou sem investimento inicial
por parte da empresa), que se adequa aos horrios e necessidades da empresa. Os centros corporativos
se desenvolvem a partir de acordos com duas ou mais empresas de uma mesma rea que, isoladamente,
no ocupariam toda a capacidade do centro. Ademais, existem os centros abertos, situados em localida-
des com alta demanda potencial, prximos a escritrios e casas, que possuem alta taxa de trabalhadoras
e que tm capacidade de fnanciamento.
Alm de responsabilizar-se pela formulao, construo e operacionalizao do centro, a empresa espe-
cializada oferece aos seus clientes uma avaliao contnua do impacto deste servio sobre o desenvolvi-
mento dos meninos e meninas, sobre a qualidade de vida dos trabalhadores/as, sobre a produtividade e
rentabilidade da empresa.
Fonte: www.vitamina.cl
QUADRO 36
A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E OS CUIDADOS NA CAMPANHA ELEITORAL
DE SAN SALVADOR
Em San Salvador, o tema de conciliao e, especifcamente, do cuidado infantil teve um espao impor-
tante na campanha eleitoral de maro de 2009. As duas principais foras polticas, localizadas direita e
esquerda do espectro ideolgico, reconheceram a necessidade e o desejo de milhares de mulheres de se
inserirem no mercado de trabalho, e as difculdades enfrentadas por elas em funo das poucas opes
de cuidado infantil, pblicas ou privadas.
Entre outros temas, um dos partidos colocou a importncia da responsabilidade social incluir os cuida-
dos e props a criao de centros de ateno infantil fnanciados em conjunto pelos empregadores/as,
Estado e trabalhadoras/es.
A emergncia da conciliao e dos cuidados nesta campanha evidencia a importncia desta agenda em
termos de gerao de apoios eleitorais.
Fonte: Imprensa salvadorenha (2008).
QUADRO 37
Organizao do uso tempo do trabalho:
Promover no marco do dilogo social e da negociao coletiva, uma reorganizao
do uso do tempo de trabalho, para facilitar a conciliao do trabalho com a vida
familiar. Estes acordos devem considerar cinco critrios que se inter-relacionam:
preservao da sade e segurana dos trabalhadores/as; ser favorveis famlia;
promoo da equidade de gnero; aumento da produtividade e maior controle
dos trabalhadores sobre seu horrio de trabalho.
Apoiar a reorganizao dos tempos do trabalho no dilogo social
e da negociao coletiva, proporcionando maior flexibilidade aos traba-
lhadores para o cumprimento da sua jornada. Isso no constitui um custo
adicional e pode ser colocado em prtica em todo tipo de empresas.
Planejar com antecipao a definio de turnos e horrios de tra-
balho, para que no interfiram em eventos importantes da vida familiar.
Organizao do local de trabalho
Acordar, no mbito da negociao coletiva, a adoo de mecanis-
mos que dem flexibilidade na organizao e no local de trabalho.
Desenvolver mecanismos que favoream a designao de traba-
lhadores em locais prximos ao seu domicilio (para o caso de empresa
com filiais). Quando as funes permitirem, facilitar a opo de combinar
dias de trabalho na empresa com outros no domicilio para os trabalhado-
res e trabalhadoras.
Regulamentar e supervisionar as condies em que se exerce o tra-
balho em tempo parcial, temporrio e a domiclio; e igual-las com as dos
trabalhadores em tempo integral e permanente (includa a proteo da pre-
vidncia social).
SETOR SINDICAL
Tambm os sindicatos fortalecem sua atividade com a incluso de temas de conciliao em
sua agenda. A atrao de novos membros depende se os trabalhadores e trabalhadoras sen-
tem que seus interesses so defendidos. Nesta perspectiva, a incorporao da igualdade de
oportunidades na agenda sindical uma forma de incrementar a representatividade e a legi-
timidade das organizaes. Ao promover a conciliao do trabalho com as responsabilidades
familiares, o sindicato demonstra que acompanha a realidade social e econmica de seus/
suas filiados/as. Alm disso, esta uma rea em que os sindicatos podem alcanar melhorias
visveis na qualidade de vida dos/as trabalhadores/as (Hein, 2005).
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
138
Nesta perspecti va, a
i ncorporao da i gual dade
de opor tuni dades na
agenda si ndi cal uma
forma de i ncrementar
a representati vi dade
e a l egi ti mi dade das
organi zaes.
CAPTULO IV
139
BOAS PRTICAS IMPLEMENTADAS NAS EMPRESAS DA AMRICA LATINA E O CARIBE
Algumas empresas da regio tm implementado, com bons resultados, medidas que contribuem para a
conciliao entre trabalho e vida familiar:
Poltica de trabalho com tempo fexvel: horrio fexvel, trabalho parcial, trabalho distncia
para empregados/as.
Poltica de licena especial de maternidade e paternidade, que estabelece a possibilidade de
trabalhar distncia depois do nascimento ou adoo de um/a menino/a.
Permisso especial de ausncia sem e com salrios.
Licenas para a ateno de emergncias relacionadas aos flhos/as dos trabalhadores/as.
Centros para a realizao de tarefas escolares dos flhos/as de trabalhadores/as.
Colnia de frias para os flhos/as de trabalhadores/as, que trabalham em companhia de
seus/suas flhos/as.
Apoio aos/s trabalhadores/as para servios de cuidado dos flhos/as durante perodo de
frias escolares.
Servios para trabalhadores/as e familiares em instalaes da empresa: tinturaria, pticas ou
compras em lojas de roupa.
Auxlios: seguros de gastos mdicos menores e maiores para os trabalhadores/as, seguro de
vida, campanhas de sade, campanhas de preveno de doenas para homens e mulheres.
Sala de amamentao onde as mes podem amamentar seus/suas flhos/as.
Grupos de discusso para identifcar necessidades de conciliao e sugerir medidas para
as empresas.
QUADRO 38
TABELA 3
ALGUMAS MEDI DAS DE ORGANI ZAO DO TEMPO DE TRABALHO
Tipo de medida Formas de operar
1. Durao da jornada de trabalho
Aumentar as opes de jornada de trabalho para os trabalhadores de
ambos sexos.
2. Jornada distinta
Acordar fexibilizao de horrio, por exemplo:
1 dia livre a cada 3 dias de trabalho;
Trabalhar at mais tarde todos os dias para sair mais cedo nas
sextas-feiras ou para ter uma sexta-feira livre ao ms;
Antecipar o horrio de entrada e sada;
Alterar horrio de almoo por incio de jornada mais tarde ou por
sada mais cedo.
3. Sadas acordadas
Estabelecer certa quantidade de horas mensais ou dias anuais para
fns pessoais;
Programar com antecipao os sistemas de turno.
4. Combinao de jornadas na empresa e em casa
Possibilidade de realizar parte da jornada de trabalho em casa ou em
outro local que no seja o de trabalho (tele-trabalho)
5. Pausas sem remunerao Meses ou anos de licena sem vencimentos para fns pessoais
6. Frias distribudas ao longo do ano Flexibilidade no uso de dias de frias
7. Frias adicionais s frias legais Estabelecer dias extras de frias como prmio e incentivo
As propostas para os sindicatos so:
Promover a incorporao dos temas de conciliao do trabalho com as respon-
sabilidades familiares nas agendas sindicais; e a incluso de clusulas relativas
conciliao e igualdade de gnero na negociao coletiva.
Participar da formulao de polticas conciliatrias e promover a adoo de medi-
das voluntrias nas empresas.
Promover e fomentar a representao das mulheres no mbito sindical; e maior
participao nos espaos de direo e tomada de decises. Proporcionar condi-
es para que as dirigentes sindicais possam desempenhar adequadamente suas
responsabilidades profissionais, sindicais e familiares.
Fortalecer as capacidades das organizaes sindicais sobre estes temas, com en-
foque nos/as negociadores/as em nvel nacional, em nvel setorial e das empre-
sas.
Promover maior presena de mulheres em espaos de negociao e papel mais
ativo nas distintas etapas da negociao coletiva, como uma maneira de acolher
demandas que no esto sendo suficientemente consideradas, em mbitos como
a conciliao.
Difundir informao sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras com res-
ponsabilidades familiares e oferecer apoio aos/s afiliados/as que sofrem discrimi-
nao. Cooperar na fiscalizao da aplicao das leis, particularmente em matria
de conciliao e no discriminao.
Os sindicatos podero outorgar selos de qualidade s empresas que no s cum-
pram com a normativa vigente, mas que ultrapassem a lei na oferta de medidas de
conciliao entre famlia e trabalho.
SOCIEDADE CIVIL
Outros atores sociais podem contribuir para o alcance da maior conciliao e co-responsa-
bilidade social. Um papel particular corresponde s organizaes da sociedade civil, espe-
cialmente as associaes de mulheres em aliana com outros setores. Ao identificar outros
atores que poderiam promover polticas em favor da conciliao, importante considerar
que se favorece a confluncia entre discursos de distintas bases: o da competitividade e
da produtividade, o da igualdade de gnero, o dos direitos da infncia e da populao ido-
sa, entre outros. Posicionar as polticas conciliatrias dentro da agenda estatal depende de
conseguir que outros atores, no necessariamente preocupados com estes temas, vejam
benefcios nestas polticas.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
140
CAPTULO IV
141
CRECHE ORGANIZADA POR UM SINDICATO PARA TRABALHADORES AUTNOMOS NA COSTA RICA
A Creche Solidariedade foi fundada em 2002 por iniciativa da Central do Movimento de Trabalhadores
Costarriquenhos (CMTC) em associao com seu ramo de trabalhadores informais, a Federao Costarri-
quenha de Trabalhadores Autnomos (FECOTRA), no marco de uma poltica destinada a suprir as neces-
sidades dos trabalhadores da economia informal.
O centro, que tinha capacidade para 68 meninos/as de at 10 anos, estava situado prximo ao Mercado
Central de San Jos e prximo ao local de trabalho dos pais. Oferecia educao pr-escolar, nutrio,
cuidado e controles regulares de sade e vacinao.
A maioria das mes que deixavam seus/suas flhos/as no centro eram mulheres solteiras jovens, mui-
tas imigrantes da Nicargua. Trabalhavam como vendedoras de rua no centro da cidade, durante 10 a
12 horas dirias, sete dias da semana. No estavam cobertas por nenhum sistema de proteo social, e
costumavam levar os/as meninos/as para o local de trabalho ou deixavam sozinhos/as em casa quando
estavam doentes.
Com o servio de ateno para seus/suas flhos/as, as mes puderam manter ou aumentar sua dedica-
o ao trabalho remunerado. As famlias melhoraram seu nvel de vida e sua capacidade de poupana,
graas reduo dos gastos com comida e sade dos flhos. As mes melhoraram sua sade mental
ao ter o nvel de stress no trabalho reduzido consideravelmente, posto que seus/suas flhos/as estavam
bem atendidos. O desenvolvimento fsico e escolar dos/as meninos/as melhorou, com melhores padres
nutritivos e qualifcaes escolares. Os/as meninos/as foram removidos de locais de trabalho perigosos
- contaminao, trfco, abuso sexual - e protegidos contra o risco de trabalho infantil. O Centro apia as
mes e os pais ao transformar as prticas de desigualdade de gnero em casa.
O Centro foi fechado em 2005 quando deixou de receber apoio de organizaes nacionais e interna-
cionais. A CMTC destacou a importncia de um apoio mais consistente por parte do Estado e de outras
entidades nacionais para garantir a continuidade do servio.
Fonte: Cassirer e Addati (2007).
QUADRO 39
DEMANDA DE POLTICAS PBLICAS POR PARTE DAS ORGANIZAES DE MIGRANTES
A agenda eleitoral para os nicaragenses no exterior, elaborada pela Rede de Migrantes, em 2006, con-
templava, entre suas demandas, o desenvolvimento de programas de ateno social a familiares de mi-
grantes - em particular, para meninos e meninas e adolescentes que haviam permanecido no pas. Este
ponto da agenda props abordar de maneira coletiva - com a participao da prefeitura e outros atores
locais - os graves custos sociais da imigrao para as pessoas que fcavam no pas de origem. Estes pro-
blemas haviam sido at aquele momento abordados como estratgias familiares.
No Equador, vrios governos locais responderam s demandas de associaes de migrantes e incorpora-
ram em seus planos de ao a ateno aos familiares que haviam permanecido no pas. Por exemplo, o
municpio de Quito oferece apoio psicolgico s avs cuidadoras e oferece servios de cuidado e ativida-
des de recreao para os meninos e meninas.
QUADRO 40
142
Abordar a relao entre trabalho e vida familiar implica considerar como um todo o trabalho
domstico e o produtivo, fora de trabalho e famlia. As polticas de conciliao podem tomar
a forma do modelo tradicional, no qual o bem-estar da famlia est a cargo das mulheres; ou
assumir um paradigma moderno de conciliao, que busca que homens e mulheres possam
articular as atividades familiares e domsticas com a vida profissional.
A forma moderna de conciliao exige modificar a atual diviso sexual do trabalho, que no
s estabelece uma rgida atribuio de papis e trabalhos para homens e mulheres, mas
tambm se sustenta em um sistema de hierarquias de gnero. O alcance da igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no campo do trabalho requer que homens e mu-
lheres compartilhem o trabalho domstico e no s o trabalho remunerado e revalorizem a
importncia de ambas as esferas para o bem-estar da sociedade.
GERAO DE NOVOS CONHECIMENTOS E INDICADORES
Os papis tradicionais de homens e mulheres se refletem na legislao
trabalhista e nas instituies de proteo social, resultando em um con-
texto de debilidade de polticas pblicas para atender s atuais demandas
de cuidado.
Para modificar esta situao e desenvolver e implementar polticas inte-
grais que promovam a conciliao e co-responsabilidade, em consonn-
cia com a Conveno n 156 (Art. 6), o Estado deve realizar ou promover a
pesquisa sobre aspectos relacionados com o emprego dos trabalhadores
e trabalhadoras com responsabilidades familiares, para proporcionar in-
formao que possa servir de base para a elaborao de polticas e me-
didas eficazes.
Mediante estudos, se devem contrastar os benefcios das polticas de conciliao com os cus-
tos de sua ausncia, para justific-las como um investimento. Deve-se melhorar a produo
de informao desagregada que permita fazer um diagnstico mais preciso da organizao
atual do cuidado e da distribuio de tarefas por sexo, nvel socioeconmico e raa/etnia.
Em boa medida, os conflitos entre o trabalho domstico e o produtivo ou remunerado so
problemas de uso do tempo. A noo de uso do tempo deve servir como guia para a formu-
lao de polticas e estratgias em favor da conciliao. Entre outras vantagens, a anlise do
uso do tempo contribui para estabelecer o grau de responsabilidade dos vrios atores sociais
Bases necessrias para o
desenvolvimento de polticas de
conciliao com co-responsabilidade
O Estado deve realizar
ou promover a pesquisa
sobre aspectos
relacionados com o
emprego dos trabalhadores
e trabalhadoras com
responsabilidades
familiares.
CAPTULO IV
pelos trabalhos produtivos e reprodutivos. Assim, possvel identificar os ns crticos para a
superao dos padres tradicionais de diviso do trabalho.
Com esta finalidade, se deve contar com fontes de informao de cobertura nacional e
peridica. Para tanto, se recomenda a aplicao de pesquisas de uso do tempo e a incorpo-
rao de perguntas relativas organizao do cuidado nas pesquisas de fora de trabalho
e na aplicao de pesquisas sobre custos e remuneraes em nvel de estabelecimentos
que permitam sua desagregao por sexo. necessrio recolher informao sobre a oferta
existente de servios de cuidado (tanto estatais como de mercado), assim como sobre as
condies de trabalho das pessoas contratadas e suas possibilidades de alcanar bons acor-
dos para conciliao.
necessrio avaliar os impactos das polticas pblicas de apoio conciliao, o que requer o
desenvolvimento de um sistema de indicadores que monitore as mudanas na qualidade de
vida de trabalhadores, de trabalhadoras e das pessoas que requerem cuidados, assim como
seus efeitos sobre a igualdade de gnero.
Em particular, em relao s polticas econmicas, preciso avanar na incorporao da
dimenso do cuidado nos exerccios de modernizao macroeconmica para avaliar, com
uma ferramenta prtica, o impacto de diferentes esquemas de polticas econmicas sobre
distintas dimenses do cuidado.
SENSIBILIZAO E MUDANA CULTURAL
Com a finalidade de promover estas mudanas e em consonncia com a Conveno n 156
da OIT (Art. 6), o Estado deve promover uma poltica de sensibilizao e transformao cultu-
ral; tarefa de longo prazo que requer diversas instncias de implementao:
Campanhas de informao: para promover melhor compreenso sobre o prin-
cpio de igualdade de oportunidades e tratamento entre trabalhadores e traba-
lhadoras, e acerca dos problemas dos trabalhadores com responsabilidades fami-
liares, assim como promover uma corrente de opinio favorvel para a soluo
destes problemas.
Sensibilizao de atores sociais: identificar outros atores que poderiam pro-
mover polticas a favor da conciliao e que incorporem a igualdade de gnero,
os direitos da infncia e das pessoas idosas. Inserir as polticas conciliatrias na
agenda estatal depende de conseguir que atores, que no necessariamente este-
jam preocupados com a conciliao, vejam benefcios nestas polticas. Para isso,
necessrio apoiar o setor sindical e empresarial por meio de um trabalho cont-
nuo de sensibilizao, oferecendo informao, educao e capacitao acerca dos
diversos aspectos que tensionam a vida dos trabalhadores.
143
As escolas: o sistema educacional tem um papel fundamental na socializao de
papis de gnero, e o dever de propiciar uma educao que valorize meninos, me-
ninas e jovens. Por isso, constitui uma instncia privilegiada para a promoo de
modelos democrticos e de eqidade de gnero, por meio de modificaes nos
currculos escolares e nas prticas docentes. A discusso sobre a vida profissional
e familiar deve ser parte dos programas educativos, para o que se faz necessria a
capacitao daqueles que os desempenham nos distintos mbitos da educao e
da formao profissional.
Os meios de comunicao: podem contribuir de forma importante para superar
os esteretipos de gnero, dar visibilidade s desigualdades e promover o debate
pblico sobre a maneira como deve se distribuir o trabalho produtivo e as respon-
sabilidades de cuidado na sociedade e no interior dos domiclios. Neste sentido,
se faz necessrio um esforo permanente de sensibilizao das pessoas da rea de
comunicao social, em especial, as que trabalham em meios televisivos e rdio,
que so as que mais influenciam a populao em geral. Especial ateno deve ser
dada sensibilizao das pessoas vinculadas a instituies de grande influncia na
formao de valores, como as de tipo religioso e educativo. Por ltimo, um mbito
que tambm deve ser priorizado o dos prprios organismos vinculados ao mun-
do do trabalho.
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
144
145
Abramo, L. 2007 A insero da mulher no mercado de
trabalho: Uma fora de trabalho secundria? Tese de
doutorado em Sociologia (So Paulo, Universidade de
So Paulo)
Abramo, L. e Rangel, M. 2005 Negociacin colectiva y
equidad de gnero (Santiago, OIT).
Abramo, L. e Todaro, R., 2002 Cuestionando un mito:
Costos laborales de hombres y mujeres en Amrica La-
tina (Lima, OIT).
Abramo, L.; Godoy, L., Todaro, R. 1998 Desempeo la-
boral de hombres y mujeres: Opinan los empresarios,
em Proposiciones, N 32 (Santiago SUR Corporacin de
Estudios Sociales y Educacin).
Abramovich, V. 2006 Una aproximacin al enfoque de
derechos en las estrategias y polticas de desarrollo, em
Revista de la CEPAL, N 88 (Santiago, CEPAL)
Abramovich, V. e Pautassi, L. 2006 Dilemas actuales en la
resolucin de la pobreza. El aporte del enfoque de dere-
chos. Apresentao no Seminrio Los Derechos Huma-
nos y las polticas pblicas para enfrentar la pobreza y la
desigualdad, Buenos Aires, UNESCO e Universidad Na-
cional Tres de Febrero; 12 e 13 de dezembro de 2006.
Aguado Quintero, L. F. 2007 Capacidad de generaci-
n de empleo en el cuidado de infantes en el Valle del
Cauca, Colombia: Un ejemplo partir de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo, em Estudios Gerenciales, Vol. 23, N
102, pp. 63-80 (Cali, Universidad ICESI).
Aguirre, R. (ed.) 2009 Las bases invisibles del bienestar
social. El trabajo no remunerado en el Uruguay (Monte-
vido, UNIFEM-INE-Universidad de la Repblica-INMU-
JERES- Doble Clic- Editoras).
Argelles, A. R.; Martnez, C.; Menndez, P. 2004 Igualdad
de oportunidades y responsabilidades familiares (Madri,
Editorial Consejo Econmico y Social).
Arriagada, I. 2007 (coord.) Familias y polticas pblicas
en Amrica Latina. Una historia de desencuentros, srie
Libros de la CEPAL N 96 (Santiago, CEPAL).
2004a Estructuras familiares, trabajo y bienestar en
Amrica Latina, en I. Arriagada e V. Aranda (comp.)
Cambios de las familias en el marco de las transfor-
maciones globales: Necesidad de polticas pblicas
efcaces, Srie Seminrios e Conferncias n 42 (San-
tiago, Divisin de Desarrollo Social, CEPAL).
2004b Dimensiones de la pobreza y polticas desde
una perspectiva de gnero, em Revista de la CEPAL
N 85, pgs. 101-113 (Santiago, CEPAL).
Banco Mundial, 2008 Migration and remittances. Fact-
book 2008 (Washington, Banco Mundial).
Barker, D. K. y Feiner, S. 2004 Liberating Economics: Fe-
minist Perspectives on Families, Work, and Globalization
(Ann Arbor, University of Michigan Press).
Bertranou, F. 2006 (coord.) Envejecimiento, empleo y
proteccin social en Amrica Latina (Santiago, OIT).
Bocaz, P. 2003 La promocin de la equidad de gnero
como herramienta de competitividad empresarial. El
caso de la clnica Los Coihues. Documento preparado
para a Unidade da Mulher do Banco Interamericano de
Desenvolvimento e apresentado na Reunio de Espe-
cialistas sobre o Desenvolvimento Produtivo, Emprego
e Equidade de Gnero na Amrica Latina em Montevi-
do, 11 e 12 de dezembro de 2003.
Bruschini, M. C. 2007 Trabalho e gnero no Brasil nos l-
timos dez anos em Cadernos de Pesquisa No. 132 (So
Paulo, Fundao Carlos Chagas).
Camacho, R. e Martnez Franzoni, J. 2006 Gnero, polti-
cas conciliatorias y presupuesto pblico: Una aproxima-
cin al caso de Amrica Latina y el Caribe, em L. Mora,
M. J. Moreno e T. Rohrer (eds.) Cohesin social, polticas
conciliatorias y presupuesto pblico: Una mirada desde
el gnero (Mxico, UNFPA-GTZ).
Cassirer, N. e Addati, L. 2007 Ampliar las oportunidades
de trabajo de la mujer: Los trabajadores de la economa
informal y la necesidad de servicios de cuidado infantil.
Interregional Symposium on the Informal Economy:
Enabling Transition to Formalization, 27-29 de novembro
Bibliografa
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
148
(Genebra, OIT). http://www.ilo.org/public/english/
empl oyment/pol i cy/events/i nformal /downl oad/
cassirer-en.pdf
CELADE, 2007 Estimaciones y proyecciones de poblaci-
n, 2007 (Santiago, Centro Latinoamericano y Caribeo
de Demografa, Divisin de Poblacin, CEPAL).
CEPAL, 2008a Anuario estadstico de Amrica Latina y el
Caribe 2007 (Santiago, CEPAL).
2008b Panorama social de Amrica Latina 2008
(Santiago, CEPAL).
2007a Consenso de Quito. Documento apresenta-
do na Dcima Conferncia Regional sobre a Mulher
da Amrica Latina e Caribe, Quito, Equador, 6 e 9
de agosto de 2007 (Santiago, CEPAL), http://www.
eclac.cl/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf
2007b El aporte de las mujeres a la igualdad en
Amrica Latina y el Caribe. X Conferncia Regional
sobre a Mulher de Amrica Latina y el Caribe (San-
tiago, CEPAL).
2007c Objetivos de desarrollo del milenio 2006: Una
mirada a la igualdad entre los sexos y la autonoma
de la mujer (Santiago, CEPAL).
2007d Panorama social de Amrica Latina (Santiago,
CEPAL).
Carrasco, C. 2006 La economa feminista: Una apuesta
por otra economa, http://www.fcs.edu.uy/enz/
desarrollo/modulodes/archivos/genero/clase%203/
Carrasco%202006.pdf
Comunidad Mujer, Datavoz y OIT, 2009 Informe Barme-
tro Mujer y Trabajo 2009 (Santiago, Comunidad Mujer-
Datavoz-OIT).
CONAMU (Conselho Nacional das Mulheres), 2007 El
tiempo de ellas y de ellos. Indicadores da Pesquisa de
Uso do Tempo no Equador (Equador, CONAMU).
Daeren, L. 2007 Mujeres pobres: Prestadoras de servi-
cios y/o sujetos de derechos? Anlisis y evaluacin de
programas de superacin de la pobreza en Amrica La-
tina desde una mirada de gnero (Santiago, CEPAL).
Daz, X. 2004 La fexibilizacin de la jornada laboral, em
R. Todaro e S. Yez (eds.) El trabajo de transforma. Rela-
ciones de produccin y relaciones de gnero (Santiago,
CEM).
DIEESE, 2008 Estudo preliminar sobre o cenrio recente
acerca dos resultados das negociaes coletivas entre
os anos de 2001 e 2006/2007. (Braslia, OIT/DIEESE) (no
prelo).
Durn, M. A. 2004 Un desafo colosal. Debate Cmo
conciliar el trabajo y vida familiar?, em Diario El Pas (Ma-
dri), http://www.elpais.es/
Duxbury, L.; Higgins, C.; Johnson, K. L. 1999 An examina-
tion of the implications and costs of work-life confict in
Canada (Ottawa, Departamento de Salud), http://www.
phac-aspc.gc.ca/dca-dea/publications/duxbury_e.html
Esping-Andersen, G. 2000 Fundamentos sociales de las
economas postindustriales (Barcelona, Editorial Ariel).
Espino, A. y Amarante, V., 2008 Situacin del servicio do-
mstico en Uruguay. Em INAMU/Banco Mundial: Uru-
guay: Ampliando las oportunidades Laborales para las
mujeres (Montevideo, INAMU/Banco Mundial).
Faur, E. 2006 Gnero y conciliacin familia y trabajo: Le-
gislacin laboral y subjetividades masculinas en Am-
rica Latina, em L. Mora, M. J. Moreno e T. Rohrer (eds.)
Cohesin social, polticas conciliatorias y presupuesto
pblico (Mxico, UNFPA-GTZ).
Fuller, N. 1998 La constitucin social de la identidad de
gnero entre varones urbanos del Per, em T. Valds e J.
Olavarra (eds.) Masculinidades y equidad de gnero en
Amrica Latina, pgs. 56-68 (Santiago, FLACSO/UNFPA).
Garca, B. e de Oliveira, O. 2003 Trabajo extradomstico
y relaciones de gnero: Una nueva mirada. Trabalho
apresentado no Seminrio Internacional Gnero, Fam-
lias e Trabalho: rupturas e continuidades. Desafos para a
pesquisa e a ao poltica, Montevidu, 10 e 11 de abril
de 2003.
Gonzlez de la Rocha, M. 2006 Estructuras domsticas,
ciclos familiares y redes informales de conciliacin entre
los mbitos productivo y reproductivo, en L. Mora, M. J.
Moreno e T. Rohrer (eds.) Poltica social, polticas con-
ciliatorias y presupuesto pblico: Una mirada desde el
gnero, (Mxico D.F., UNFPA-GTZ).
146
BIBLIOGRAFIA
149
Hein, C. 2005 Reconciling work and family responsibilities.
Practical ideas from global experience (Genebra, OIT).
Hein, C. y Cassirer, N. Workplace partnerships for childca-
re solutions (Genebra, OIT) (no prelo).
Hendriks, A. M.; Len, C.; Chinchilla, N. 2006 Estado de
las polticas de conciliacin en Hispanoamrica, Estudio
N 36, Centro Internacional Trabajo y Familia (Barcelona,
IESE Business School, Universidad de Navarra).
Heymann, J. 2004 How are workers with family respon-
sibilities faring in the workplace? (Genebra, OIT), http://
www.oit.org/public/english/protection/condtrav/pdf/
wf-jh-04.pdf
Idrovo Carlier, S. 2006 Las polticas de conciliacin
trabajo-familia en las empresas colombianas, em Es-
tudios Gerenciales, Vol. 22, N 100 (Colombia, Univer-
sidad ICESI).
INAMU (Instituto Nacional das Mulheres), 2007 La Po-
ltica Nacional para la Igualdad y Equidad de Gnero
(2007-2017) (San Jos, INAMU).
INEGI (Instituto Nacional de Estatstica, Geografa e In-
formtica), 2004 Encuesta Nacional sobre Uso de Tiem-
po 2002. Comunicado de Imprensa, Aguascalientes, 8
de maro.
Infante, R. (ed.) 2006 Transformar las necesidades so-
ciales en nuevas oportunidades de empleo (Santiago,
Fundacin Chile 21).
Inglehart, R. et al., 2004 Human beliefs and values. A
cross cultural sourcebook based on the 1999-2002 va-
lue surveys (Cidade do Mxico, Editorial Siglo XXI).
INE (Instituto Nacional de Estadsticas), 2008 Uso del tiem-
po y trabajo no remunerado. Mdulo de la Encuesta Con-
tinua de Hogares en el Uruguay (Montevideo, INE).
Kremerman Strajilevich, M. 2008 Proyecto Workplace
Partnerships for Childcare Solutions. Informe extendido
fnal elaborado para la OIT (no publicado).
Lagos, M. P. 2007 Conciliacin familia y trabajo. Gua de
buenas prcticas (Santiago, Fundacin Chile Unido).
Lobel, S. 2000 Quality of life in Brazil and Mexico: Expan-
ding our understanding of work and family experiences
in Latin America. Work-Family Policy Paper Series (Bos-
ton, Center for Work and Family, Boston College).
Loyo, A. y Camarena, R. M. 2008 Programa de Educacin
Preescolar y Primaria para Nias y Nios de Familias Jor-
naleras Agrcolas Migrantes (PRONIM). Avaliao Exter-
na (Mxico, Secretara de Educacin Pblica, SEP).
Martn-Fernndez, S., et al., 2009 Pilot study on the in-
fuence of stress caused by the need to combine work
and family on occupational accidents in working wo-
men, em Safety Science, Vol. 47, N 2, pgs. 192-198
(Amsterdam, Elsevier).
Martnez Franzoni, J., et al. Trabajo domstico en Costa
Rica: entre ocupacin y pilar de los cuidados (San Jos,
COMMCA/AGEM) (no prelo).
MIDEPLAN, 2008 Efectos en situacin laboral, familiar y
arraigo al barrio de madres trabajadoras y estudiantes
que utilizan las salas cuna. Estudo realizado por ProUr-
bana, Programa de Polticas Pblicas da Universidad
Catlica de Chile e Observatrio Social, Universidad Al-
berto Hurtado (Santiago, MIDEPLAN).
Milosavljevic, V. e Tacla, O. 2007 Incorporando un mdu-
lo de uso del tiempo a las encuestas de hogares: Restric-
ciones y potencialidades, Serie Mujer y Desarrollo N 83
(Santiago, CEPAL).
MIMDES, 2008 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(Lima, Peru. http://www.mimdes.gob.pe/pncvfs/
Montao, S. 2007 El sueo de las mujeres: Democracia
en la familia, em I. Arriagada (coord.) Familias y polticas
pblicas en Amrica Latina: Una historia de desencuen-
tros, srie Libros de la CEPAL N 96 (Santiago, CEPAL).
Mora, L.; Moreno, M. J. e Rohrer T. (eds.) 2006 Cohesin
social, polticas conciliatorias y presupuesto pblico:
una mirada desde el gnero (Mxico, UNFPA-GTZ).
OIE (Organizao Internacional de Empregadores), 2008
Trends in the workplace survey 2008: enterprises in a
globalizing world (Genebra, IOE). http://www.ioe-emp.
org/fileadmin/user_upload/documents_pdf/papers/
surveys/english/survey2008_trendsworkplace.pdf
OIT, 2008a ABC de los derechos de las trabajadoras y la
igualdad de gnero (Genebra, OIT).
147
TRABALHO E FAMLIA: RUMO A NOVAS FORMAS DE CONCILIAO COM CO-RESPONSABILIDADE SOCIAL
150
2008b Las organizaciones de empleadores lideran
la accin sobre la igualdad de gnero. Estudios mo-
nogrfcos en 10 pases (Genebra, OIT).
2007a La igualdad en el trabajo, afrontar los desafos
que se plantean. Informe global sobre la igualdad
en el trabajo (Genebra, OIT).
2007b Marco multilateral de la OIT para las migra-
ciones laborales. Principios y directrices no vincu-
lantes para un enfoque de las migraciones laborales
basado en los derechos (Genebra, OIT).
2006 Panorama Laboral 2006. Amrica Latina y el
Caribe (Lima, OIT).
2004 Por una globalizacin ms justa: Crear opor-
tunidades para todos. Relatrio Final da Comisso
Mundial sobre a Dimenso Social da Globalizao
(OIT, Genebra).
1999 Trabalho Decente. Memria do Diretor Geral,
Confercia Internacional do Trabalho, 87. Reunio
(Genebra, OIT).
Olavarra, J. e Parrini, R. (eds.) 2000 Masculinidad/es. Iden-
tidad sexualidad y familia, Rede de Masculinidade Chile
(Santiago, Academia de Humanismo Cristo, FLACSO).
Olavarra, J. 2008 Globalizacin, gnero y masculini-
dades. Las corporaciones transnacionales y la produc-
cin de productores, em Revista Nueva Sociedad N
218 (Buenos Aires, Fundacin Foro Nueva Sociedad),
novembrodezembro.
PNUD, 1995 Valoracin del trabajo de la mujer, en
La revolucin hacia la igualdad en la condicin de los
sexos, Relatrio do Desenvolvimento Humano (Nova
York, PNUD).
1999 El corazn invisible: La atencin y la economa
mundial, em La mundializacin con rostro humano.
Relatrio do Desenvolvimento Humano (Nova York,
PNUD).
Rodrguez, C. 2007 La organizacin del cuidado de nios
y nias en Argentina y Uruguay, Serie Mujer y Desarrollo
N 90 (Santiago, CEPAL).
Rodrguez, E. 2006 Igualdad de gnero y movimiento
sindical, em L. Abramo (ed.) Trabajo decente y equidad
de gnero en Amrica Latina (Santiago, OIT).
Rofman, R., Lucchetti, L.; Ourens, G. 2008 Pension sys-
tems in Latin America: Concepts and measurements of
coverage, Documento de Discusin N 0616 (Washing-
ton, Banco Mundial).
Rubery, J. 2003 Pay equity, minimum wage and equality
at work. Declaration Working Paper 19 (Genebra, OIT).
Salvador, S. 2007 Estudio comparativo de la economa
del cuidado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxi-
co y Uruguay. Estudo do projeto de pesquisa Comrcio,
Gnero e Equidade na Amrica Latina: gerando conhe-
cimento para a ao poltica do captulo latino america-
no da Rede Internacional de Comrcio e Gnero (Mon-
tevideo, IGTN/CIEDUR).
Sauma, P. 2004 Guatemala: Desigualdades tnicas y de
gnero en el mercado de trabajo, em M. E. Valenzuela y
M. Rangel (eds.) Desigualdades entrecruzadas. Pobreza,
gnero, etnia y raza en Amrica Latina (Santiago, OIT).
SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer), 2003 Anlisis
de los costos y benefcios de implementar medidas de
conciliacin vida laboral y familiar en la empresa, serie
Documentos de Trabajo N 84 (Santiago, SERNAM).
2002 Conciliacin entre vida laboral y vida familiar
de trabajadores y trabajadoras chilenos/as, serie Do-
cumentos de Trabajo N 76 (Santiago, SERNAM).
Standing, G. 1999 Global labour fexibility: Seeking dis-
tributive justice (Londres, Macmillan Press Ltd.).
Sunkel, G. 2004 La familia desde la cultura.Qu ha cam-
biado en Amrica Latina?, en I. Arriagada y V. Aranda
(comp.) Cambios de las familias en el marco de las trans-
formaciones globales: Necesidad de polticas pblicas
efcaces. Serie Seminarios y Conferencias N 42 (Santia-
go, Divisin de Desarrollo Social, CEPAL).
Tobo, C. 2005 Madres que trabajan: Dilemas y estrate-
gias (Madrid, Ediciones Ctedra).
Tokman, V. 2004 Una voz en el camino, empleo y equi-
dad en Amrica Latina: 40 aos de bsqueda (Santiago,
Fondo de Cultura Econmica).
UNESCO, 2008 Education for all. Global Monitoring Re-
port 2009 (Pars, UNESCO).
148
BIBLIOGRAFIA
151
2007 Perfles nacionales preparados para el Informe
de seguimiento de la EPT en el mundo. Bases s-
lidas: Atencin y educacin de la primera infancia,
2006 (Pars, UNESCO).
Uribe-Echeverra, V. 2008 Inequidades de gnero en el
mercado laboral: El rol de la divisin sexual del trabajo,
srie Cuaderno de Investigacin N 35 (Santiago. Divisi-
n de Estudios, Direccin del Trabajo).
Valenzuela, M. E. 2007 Polticas pblicas de juventud
para la inclusin social y para combatir la desigualdad
y discriminacin en el mundo del trabajo em Trabajo
Decente y Juventud. Amrica Latina y el Caribe. Docu-
mentos de Base Volumen II (Lima, OIT).
Valenzuela, M. E. e Mora, C. Trabajadoras domsticas e
igualdad de gnero. (Santiago, OIT). (no prelo)
Yaez, S. 2004 La fexibilidad como pilar de un nuevo
rgimen de acumulacin de capital, en R. Todaro y S.
Yez (eds.) El trabajo de transforma. Relaciones de pro-
duccin y relaciones de gnero (Santiago, CEM).
PGI NAS DA I NTERNET
www.cimacnoticias.com
www.crececontigo.cl
www.genderafairs.gov.tt/
www.junji.cl
www.mtss.cu
www.msp.gub.uy
www.oit.org
www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/memorias_dg/infor-
me_dg_xvi-2006.pdf
www.sedesol.gob.mx/
www.sep.gob.mx/
www.serviciocivil.cl/
www.un.org/womenwatch/daw/
www.vitamina.cl
149
Você também pode gostar
- O Assistente de Direção 4Documento75 páginasO Assistente de Direção 4Tainá Ferrari WagnerAinda não há avaliações
- Oq e Gestao Do ConhecimentoDocumento16 páginasOq e Gestao Do ConhecimentoAlan RodriguesAinda não há avaliações
- Matricianismo Xamanismo UniversalDocumento38 páginasMatricianismo Xamanismo UniversalÁstrid Schein BenderAinda não há avaliações
- Técnico de SecretariadoDocumento77 páginasTécnico de Secretariadojses100% (1)
- História Da Amazônia PDFDocumento128 páginasHistória Da Amazônia PDFValdir de Souza100% (1)
- A Representação Feminina Na TV Ou 'A Namoradinha' Que Virou 'Mulher'Documento19 páginasA Representação Feminina Na TV Ou 'A Namoradinha' Que Virou 'Mulher'Priscila PaixãoAinda não há avaliações
- Anton MakarenkoDocumento138 páginasAnton MakarenkoMara Brum100% (1)
- A Profecia - David SeltzerDocumento154 páginasA Profecia - David Seltzermariosergio05100% (1)
- Ingredientes de Uma Identidade Colonial: Os Alimentos Na Poesia de Gregório de MatosDocumento467 páginasIngredientes de Uma Identidade Colonial: Os Alimentos Na Poesia de Gregório de MatosJh SkeikaAinda não há avaliações
- SCHOLZ, Roswhita - Entrevista Margem EsquerdaDocumento17 páginasSCHOLZ, Roswhita - Entrevista Margem EsquerdatibacanettiAinda não há avaliações
- Turbo 03Documento11 páginasTurbo 03Castiano FlorianoAinda não há avaliações
- ENADE 2022 - Administração - OBJETIVADocumento19 páginasENADE 2022 - Administração - OBJETIVAdaianyAinda não há avaliações
- Jogos Curso CuritibanosDocumento34 páginasJogos Curso CuritibanosiedaAinda não há avaliações
- Para Entender Melhor Sobre Economia, É Preciso Conhecer A Lei deDocumento3 páginasPara Entender Melhor Sobre Economia, É Preciso Conhecer A Lei deTitosAinda não há avaliações
- Direc 1bprojeto Festival de Lingua Inglesa OkDocumento8 páginasDirec 1bprojeto Festival de Lingua Inglesa OkROMERITO10Ainda não há avaliações
- CP 077785Documento114 páginasCP 077785Sebastião Tiao BolsonaroAinda não há avaliações
- Análise Das Demontrações FinanceirasDocumento90 páginasAnálise Das Demontrações Financeirasanderson barbosaAinda não há avaliações
- Trabalho Interdisciplinar Supervisionado - VDocumento17 páginasTrabalho Interdisciplinar Supervisionado - VAmaurivedovotoAinda não há avaliações
- CASTRO, C. Mauss, A Dádiva e A Obrigação de Retribuí-LaDocumento6 páginasCASTRO, C. Mauss, A Dádiva e A Obrigação de Retribuí-LaMonalisa DiasAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Da Zona Costeira e Os Impactos AmbientaisDocumento20 páginasO Desenvolvimento Da Zona Costeira e Os Impactos AmbientaisMarlene Palma100% (1)
- Resumo Do Texto "O NeuromarketingDocumento2 páginasResumo Do Texto "O Neuromarketingsuperantigo0% (1)
- Métodos QuantitativosDocumento2 páginasMétodos QuantitativosDeusangela Gomes FernandesAinda não há avaliações
- Vida Material e Cotidiano Na Idade MediaDocumento14 páginasVida Material e Cotidiano Na Idade MediajheymissonGomesAinda não há avaliações
- PDFDocumento14 páginasPDFMi BarbosaAinda não há avaliações
- Cap 3Documento12 páginasCap 3Daniel Marques CastoldiAinda não há avaliações
- Geração Distribuída e Fontes AlternativasDocumento5 páginasGeração Distribuída e Fontes AlternativasTwAinda não há avaliações
- Análise Operacional Do Desmonte de Calcário - Francisco PedrosaDocumento43 páginasAnálise Operacional Do Desmonte de Calcário - Francisco Pedrosafabio_2212Ainda não há avaliações
- Ect Adm Postal Caderno Impar PDDocumento13 páginasEct Adm Postal Caderno Impar PDRibamarAinda não há avaliações
- TCC VERSÃO PARA APRESENTAÇÃO - Caroline Araujo CostaDocumento32 páginasTCC VERSÃO PARA APRESENTAÇÃO - Caroline Araujo CostaCaroline AraujoAinda não há avaliações
- Ética e Responsabilidade Social e Profissional 60HDocumento63 páginasÉtica e Responsabilidade Social e Profissional 60HRafael Lemos LibardiAinda não há avaliações