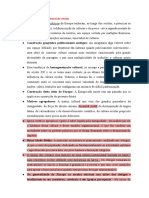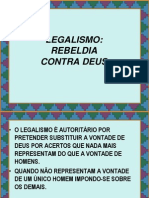Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
RF 107
RF 107
Enviado por
mayshin0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações8 páginasTítulo original
rf-107
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações8 páginasRF 107
RF 107
Enviado por
mayshinDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
57
A MORAL COMO INTERPRETAO: a crtica nietzschiana
moral de rebanho
The moral as interpretation: the critical nietzschiana
to the flock moral
Jelson Oliveira
*
Resumo
Neste artigo analisaremos a crtica de Nietzsche moral de rebanho (identificada como a moral platnico-
socrtico-crist) a partir de sua noo de moral como interpretao. Passando pela crtica aos filsofos da
moral que, de forma superficial, limitaram-se s aes e fatos morais, fazendo um trabalho de fundamentao
e no de problematizao da moral, Nietzsche critica a expanso do instinto gregrio negador da vida, sob
os parmetros da igualdade e da coletividade, e abona a solido como virtude do tipo nobre, capaz de
reconduzir o homem para si mesmo.
Palavras-chave: Interpretao, Hierarquia, Solido, Moral de rebanho, Instinto gregrio.
Abstract
In this article we will analyze the critic of Nietzsche to the flocks moral (identified as the morals platonic-
socratic-Christian) starting from his morals notion as interpretation. Going by the critic to the philosophers
of the moral that, in a superficial way, were limited to the actions and moral facts, making a fundamentation
work and not a problematization work of the moral, Nietzsche criticizes the expansion of the instinct
gregarious denier of the life, under the parameters of the equality and collectivity and it approves the solitude
as virtue of the noble type, capable of lead the man for himself.
Keywords: Interpretation, Hierarchy, Solitude, Flocks moral, Gregarious instinct.
* Mestrando em Filosofia da UFPR, sob orientao do Prof. Antnio Edmilson Paschoal.
Universidade Federal do Paran. Rua Dr. Faivre, 405, 6. andar, Ed. D. Pedro II, Centro, Curitiba, PR, CEP 80060-150.
E-mail: cptpr@softone.com.br
A moral como interpretao: a crtica nietzschiana moral de rebanho
Revista de Filosofia, Curitiba, v.15 n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
58
No existem fenmenos morais, mas in-
terpretao moral dos fenmenos. Se a assertiva
presente no aforismo 108 de Alm do Bem e do
Mal explicita uma idia fundamental da filosofia
de Nietzsche (2002), tambm aponta claramente a
sua compreenso da prpria moral, ligada no-
o de interpretao. Interpretar descobrir, in-
ventar, criar sentido. No mundo que vontade de
poder, interpretar doar sempre um sentido novo,
j que nenhuma interpretao esgota em si todo o
sentido e nenhum sentido possibilita que uma in-
terpretao possa ser reconhecida como a inter-
pretao, completa e absoluta. Interpretar reco-
nhecer que no existe um sentido original: a inter-
pretao no pode se pretender o texto mesmo,
ou seja, ela flexvel e pretende-se no como a
verdade em si, malgrado mantenha o compromis-
so com ela, a interpretao reconhece que uma
verdade, derivada de uma determinada vontade
de poder - e no a verdade. O texto sequer existe,
no sentido em que a interpretao, ela mesma,
no esconde o texto por trs ou anterior a si mes-
ma: caso assim o fosse, seria necessrio chegar ao
sentido original das coisas por detrs das msca-
ras, o que no possvel no Nietzsche abolidor
da metafsica.
Assim, a interpretao apontada por
Nietzsche (2002) como o antdoto principal contra
a verdade como noo metafsica. A interpretao
nega qualquer perspectiva supra-histrica, para
estabelecer-se na efetividade do conflito, onde no
h constncia, nem unidade, nem totalidade. Deri-
va da que a busca do sentido no o objetivo
mesmo da interpretao, mas esta apenas se ca-
racteriza como uma possibilidade de algum senti-
do, manifestao da criatividade do intrprete frente
a outros sentidos j preexistentes: toda interpreta-
o est em relao (em resistncia) com outras
interpretaes j consolidadas, cabendo ao intr-
prete a tarefa de rearranjar e reordenar os espaos
de sentido de acordo com a nova vontade de po-
der atuante, numa constante transitoriedade, fo-
mentadora de novos resultados.
Desta forma, a tenso das foras rege a
reorganizao de sentidos, a partir de uma multi-
plicidade disforme at uma certa coeso, possibili-
tando uma nova definio hierrquica, onde a vi-
tria de uma fora sobre outra no sua anulao
ou aniquilao, mas um sobrepujar, um predo-
mnio. A fora s fora exteriorizando-se, ou
seja, atuando, sem suprimir a alteridade, que neste
caso, no s necessria como indispensvel. A
vitria de um determinado sentido no uma le-
targia ou um aniquilamento, porque a fora no
se torna esttica, mas continua sempre em cons-
tante tenso com a fora jugulada no primeiro
embate. Isso faz com que toda interpretao seja
provisria, j que no h uma formao definitiva
e pronta das foras em confronto (e nem uma in-
terpretao que seja definitiva, conquanto isso a
transformaria em texto), tratando-se, antes, de um
processo infinito de processos de dominao.
Sendo assim, no h lugar mais para a anttese
verdadeiro-falso, j que cada interpretao re-
sultado da fora vitoriosa, de uma determinada
vivncia, de um determinado grau de vontade de
poder do intrprete, alm do que, ao no existir
um texto por trs da mscara, no h pergunta
possvel a respeito da veracidade ou falsidade da
mesma, dado que no existe um critrio de avali-
ao.
A pergunta fundamental, entretanto, em
toda a filosofia nietzschiana, continua sendo a per-
gunta pelo valor, no caso, pelo valor da interpre-
tao, que est, como resposta, na prpria inter-
pretao, ou seja, na vontade de poder que inten-
sifica a vida, que o nico critrio de valor. E vida
vontade de poder. A pergunta que baliza esta
reflexo diz respeito relao interpretao-vida:
a nova interpretao ajudou a intensificar e ex-
pandir a vida? Esse o critrio fundamental. Esse
o critrio moral por excelncia.
A noo de interpretao nos leva con-
cluso de que no existem aes que possam ser
consideradas morais em si, porque este critrio no
passa de uma interpretao derivada de determi-
nada vontade de poder. Por isso a filosofia, segun-
do Nietzsche (2002), no pode se ater aos fen-
menos e s aes - morais: se esses no passam
de interpretao de uma vontade de poder atuan-
te, preciso estudar os tipos (o homem, em ltima
instncia) que so as balizas responsveis pelas
foras em confronto, donde deriva a interpreta-
o.
Toda interpretao equivale a uma classi-
ficao hierrquica dos instintos e dos atos huma-
nos e, tal como foi na histria da cultura ocidental,
uma expresso das necessidades de uma comuni-
dade, de um rebanho (2001, p. 116). Ou seja, o
valor moral foi tradicionalmente definido segundo
sua utilidade ou finalidade, em funo da conserva-
o da vida de uma determinada forma de comuni-
Jelson Oliveira
Revista de Filosofia, Curitiba, v. 15, n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
59
dade, fazendo com que a moralidade tenha sido
at aqui o instinto gregrio no indivduo (2001,
p.116), j que a coletividade se imps como critrio
de valor para medir as aes morais. Comea assim
o conflito entre o esprito gregrio e o indivduo,
entre a coletividade e a solido.
O instinto gregrio a perspectiva detur-
padora da vida, dependente e medocre, j que
exige do indivduo sempre um alto poder de ab-
negao, de sacrifcio em favor do prximo, de
renncia de si Nietzsche (2002, p. 33). A coletivi-
dade como medida moral tem levado ao auto-ani-
quilamento do homem, ao servilismo, automuti-
lao e ao auto-escrnio, sendo o fermento da
dcadence. Toda moral que se deixa guiar por este
esprito gregrio acaba sendo, fundamentalmente,
uma moral vulgar, negadora da vida, uma moral
da conformidade, da conciliao, da harmonia, da
esttica e no da dinmica, da baixeza e da igual-
dade, como ocorre no cristianismo e no socialis-
mo, exemplos da moral que se elevou no Ociden-
te como padro:
o que aqui se julga saber, o que aqui se glo-
rifica com seu louvor e seu reproche, e se
qualifica de bom, o instinto do animal de
rebanho homem: o qual irrompeu e adquiriu
prevalncia e predominncia sobre os demais
instintos, fazendo-o cada vez mais, conforme
a crescente aproximao e assimilao fisio-
lgica de que sintoma. Moral hoje, na Eu-
ropa, moral de animal de rebanho (NIETZS-
CHE, 2002, p.202).
Esta moral de rebanho causadora da do-
ena e da degenerescncia do animal homem tor-
na a coletividade o instinto fundamental e o iden-
tifica como objetivo ltimo e sagrado da vida e,
portanto, mais importante elemento na constru-
o da felicidade, associada com a vida no reba-
nho, instinto da fraqueza e do rebaixamento, como
pode ser verificado nas palavras de Nietzsche,
se a felicidade do forte uma derivao de
sua prpria constituio e se consolida no
numa base artificial (reativa), mas justamente
na unio da alegria com a ao, no sentido
de plena realizao de todas as suas potenci-
alidades, atravs de seu sim inicial vida; no
fraco, pelo contrrio, chega pela negao da
ao, pela apatia frente vida, pelo repouso
e pela paz: a felicidade, ao nvel dos impo-
tentes, os obstrudos, os de sentimentos hostis
e venenosos, (...) aparece sob a forma de estu-
pefao, de sonho, de repouso, de paz, numa
palavra, sob a forma passiva. No forte, a
felicidade deriva da atividade e da auto-afir-
mao de si. No fraco, da passividade e da
coletividade, da negao do outro. (2002, p.
10).
Colocar a coletividade como critrio ni-
co do juzo moral negar a individualidade e a
diversidade de homens, pocas e culturas em nome
de uma felicidade que, ao invs de afirmar a vida,
concorre para o seu esgotamento.
O problema identificado por Nietzsche
que, at ento, os filsofos e estudiosos da moral
no se preocuparam em realizar uma crtica moral,
uma pergunta sobre o valor da moral, tendo-se
envolvido numa busca desenfreada pela funda-
mentao da moral sem se preocupar com os pro-
blemas da moral. Ora, ao estudar a moral, os fil-
sofos o fizeram sempre de um terreno preestabe-
lecido, considerando a moral como dada. Isso
ocorre, segundo Nietzsche (2002), porque lhes fal-
tou um senso histrico, ou seja, um mtodo que
lhes possibilitasse a comparao das vrias morais
existentes, nas vrias pocas e culturas. este
mtodo, justamente, o usado por Nietzsche. Ao
invs de se empenharem no estudo das vrias
morais, suas diferenas pelas pocas e culturas, os
filsofos da moral detiveram-se no conhecimento
grosseiro e superficial dos facta morais, num ex-
certo arbitrrio ou compndio fortuito, como mo-
ralidade do ser ambiente, de sua classe, de sua
Igreja, do esprito de sua poca, de seu clima e
seu lugar (2002, p.186).
Limitados aos fenmenos e estreita
medida das aes, os filsofos esqueceram que
toda moral interpretao e no alcanaram se-
no a superfcie, j que a histria da moral, tal
como foi contada at aqui, reduziu-se histria
dos fenmenos morais. No Pargrafo 32 de Alm
do Bem e do Mal, Nietzsche (2002) apresenta esta
histria da moral dividida em trs partes: a pr-
histria, a moral propriamente dita e o perodo
extramoral. Na pr-histria, ou pr-moral, o valor
ou no-valor de uma ao medido por suas con-
seqncias. No perodo moral propriamente dito,
o valor de uma ao definido por sua origem,
identificada como a inteno que mobilizou o in-
divduo para determinada ao: este critrio teria
A moral como interpretao: a crtica nietzschiana moral de rebanho
Revista de Filosofia, Curitiba, v.15 n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
60
marcado profundamente toda a histria mais re-
cente da moral. Segundo Nietzsche uma nova in-
verso parece necessria, j que a civilizao en-
contra-se no limiar de um terceiro e novo momen-
to, designado como perodo extramoral, que co-
loca o valor de uma ao na sua no-intenciona-
lidade, que, como critrio de avaliao moral, co-
loca-nos frente ao conceito de interpretao. este
- e no a intencionalidade - o primeiro movimento
moral, como um movimento mais basilar que ocor-
re no prprio homem, reflexo do mundo como
vontade de poder, o qual Nietzsche pretende levar
a cabo at a auto-superao da moral. As duas
primeiras etapas da moral, qual se limitaram os
filsofos at ento, esto demarcadas pela avalia-
o das aes humanas, refns da noo de utili-
dade (usado como critrio para valorar estas aes)
a fim de garantir a sobrevivncia de determinado
grupo ou comunidade (como um critrio gregrio,
portanto).
Ora, o desinteresse desses filsofos pelos
outros povos, tempos e lugares, os impediu de che-
garem ao verdadeiro problema da moral e na sua
tarefa de fundamentao, no fizeram outra coisa
que manifestar uma forma erudita da ingnua f
na moral dominante, um novo modo de express-
la (NIETZSCHE, 2002, p., 186). Esses moralistas
detiveram-se parte em detrimento do todo, a um
fato no interior de uma determinada moralidade.
Fizeram, pois, um trabalho de legitimao, como se
fosse ilcito problematizar a moral mesmo, compa-
rar, analisar, questionar, examinar. Esses filsofos
apenas disseram sim moral vigente e lindaram
seu trabalho filosfico s aes morais, esquecen-
do-se de que elas so meros sintomas superficiais
da vontade de poder. E mais: a partir desta espec-
fica moralidade, buscaram referenciais para sua
universalizao e absolutizao.
A tarefa niezschiana, ao contrrio, est
baseada na problematizao do valor dos valores,
ou seja, no valor da moral como tal, baseada na
concepo da moral como a teoria das relaes
de dominao sob as quais se origina o fenmeno
vida (NIETZSCHE, 2002, p.19). Sua primeira cons-
tatao parte do reconhecimento de que toda moral
nasce requisitada por uma vontade de poder (e,
portanto, como interpretao e dominao) que
age a partir de um determinado tipo fisiolgico
que pretende se expandir e dominar. Toda moral
nasce, assim, como interpretao moral, que traz
em sua origem, destarte, o homem mesmo (um
determinado tipo), e como inserido num mundo
que vontade de poder, este homem encontra-se
em resistncia contra outros homens, fazendo a
moral resultado desta resistncia, do conflito, do
motim, do jogo da vontade de poder. Sendo as-
sim, na origem da moral no est um contrato ou
um consenso, nem uma aceitao da coletividade,
mas um ato de rapinagem, um abuso de fora,
uma violncia, um egosmo solitrio, um egocen-
trismo.
A moral nasce para legitimar um determi-
nado tipo de homem, dado como bom e como
melhor. A axiologia da proveniente torna a mo-
ral sempre uma forma til e propcia para a ex-
panso de determinado tipo, grupo ou povo que
a requisitou e fez prevalecer, frente aos outros ti-
pos, grupos ou povos. Sendo assim, ela sempre
uma vitria de determinada forma de vontade de
poder sobre outra. Entretanto, de acordo com Ni-
etzsche (2000, p. 2) este jogo imediatamente
ocultado, sob nomes como melhoramento
1
, vir-
tude, eqidade, probidade, etc., de forma a fazer
esquecer que na origem das regras morais encon-
tra-se a violenta disputa pela supremacia do indi-
vduo ou de uma parte, e no o respeito pela cole-
tividade do rebanho ou pelo todo. Significa dizer
que, sob a moral da igualdade, da paz, da compai-
xo e outros sentimentos caractersticos da coleti-
va moral do rebanho, encontra-se sempre um ato
de violncia. A moral moderna, que nega a menti-
ra e a violncia, esquece que se origina, ela mes-
ma, a partir dos parmetros que julga imorais (vi-
olncia, mentira, calnia e injustia). Assim, a mo-
ral vigente est baseada em postulados que ela
mesma no cumpre e que, acaso tivesse pretendi-
do faz-lo, sequer teria surgido como moral.
A moral nasce e se consolida pela imora-
lidade: esse o grande paradoxo apontado por
Nietzsche, para quem todo juzo de valor, toda
determinao de virtude, toda qualidade do que
bom e melhor, no passa de uma expresso da
imoralidade que est na base destes valores. isso,
no limite, o que at aqui ocultaram os filsofos da
moral e que Nietzsche (2002) comea a desven-
dar, mostrando que toda moral carrega em suas
origens impulsos hostis, que no precisam ser sub-
trados ou dissimulados, ou ainda embelezados
romanticamente, mas devem ser aceitos como parte
da vida e como tal contribuintes na sua expanso.
Segundo Nietsche (2002), no existe uma
moral universal, que valha para todos os homens
Jelson Oliveira
Revista de Filosofia, Curitiba, v. 15, n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
61
em todos os tempos, como quiseram muitos dos
moralistas at hoje: se a moral resultado da de-
manda da vontade de poder - portanto, de um
tipo fisiolgico - e ela nasce da interpretao e da
abolio da idia de texto, ento ela arrolada
pontualmente num determinado estado momen-
tneo do conflito constante das foras. Assim, os
moralistas at ento generalizam onde no se deve
generalizar, j que o bem-estar geral uma fa-
lcia e no passa de um vomitrio, e o que
justo para um no pode absolutamente ser justo
para outro, que a exigncia de uma moral para
todos nociva precisamente para os homens ele-
vados (2002, p. 228). A crtica nietzschiana ao ni-
velamento moral tal como se d no Cristianismo e
tambm no movimento democrtico, tido por ele
como herdeiro do movimento cristo desta for-
ma Nietzsche (2002, p. 202) lembra que, apesar
de tentar negligenci-lo - est baseada na concep-
o hierrquica das foras atuante entre os homens,
a partir da idia mesma do mundo como vontade
de poder. Se h diferenas de foras atuando em
diferentes tipos fisiolgicos, ento preciso acei-
tar que h diferentes morais, ou, que h uma hie-
rarquia entre moral e moral (NIETZSCHE, 2002,
p. 228).
Esta afirmao, obviamente, abalroa-se
com a inteno da moral vigente, que se reconhe-
ce como nica moral, portanto universalizvel. Isso
faz desta moral o principal instrumento para o ni-
velamento pretendido pelo Cristianismo e pela
democracia, que pretendem justamente negar a
existncia de qualquer hierarquia entre os homens,
onde os privilgios so negados em funo dos
direitos iguais, a dor e o sofrimento substitudo
pela piedade, a diferena individual pela igualda-
de coletiva perante a lei e perante Deus, a venera-
o pela compaixo (NIETZSCHE, 2000, p. 37)
2
.
Ni Dieu, ni maitre nos escritos de Nietzsche inti-
tulado Alm do bem e do mal (2002, p. 202), reza a
frmula socialista: o socialismo, mesmo declaran-
do-se avulso em relao religio crist e at a
negando, acaba reproduzindo politicamente a
mesma frmula moral do Cristianismo, mudando
levemente apenas o tom de uma sociedade de re-
banho, agora, autnomo. Isso faz da democracia,
para Nietzsche, mais um fator de diminuio, me-
diocrizao e desvalorizao do homem o con-
trrio daquilo que ela mesma se pretende.
A constatao de Nietzsche, exposta no
Pargrafo 199 de Para Alm do Bem e do Mal ex-
plicita claramente esta crtica ao rebaixamento
ou nivelamento do homem mediante o conceito
de igualdade: sempre, desde que existem homens,
houve tambm rebanhos de homens (cls, comu-
nidades, tribos, povos, Estados, Igrejas), e sempre
muitos que obedeceram, em relao ao pequeno
nmero dos que mandaram. Na sua tarefa de es-
tudar e comparar as morais, Nietzsche (2002) de-
para-se com a histria humana como uma histria
de hierarquia, na qual a obedincia aparece como
um fator-chave, exercitado e cultivado de tal for-
ma que tenha gerado uma necessidade de obede-
cer: entre os traos fundamentais das vrias mo-
rais estudadas pelo filsofo genealogista est a
coero e a obedincia. Reconhecer a moral vi-
gente socrtico-platnico-crist como resultado do
desenvolvimento histrico, reconhecer o pers-
pectivismo desta moral e seu estatuto de traduo
simblica de determinados instintos e afetos, onde
a obedincia aparece como regra bsica da vida
coletiva.
Conforme Nietzsche o fator gregrio da
obedincia transmitido mais facilmente como
herana, em detrimento da arte de mandar. O fato
que os que mandam, cada vez em menor nme-
ro, ou desaparecero ou sofrero com a iluso de
que tambm, ao mandar, esto submetidos a or-
dens mais antigas e elevadas, passando a reprodu-
zir assim o modo-de-pensar-do-rebanho, apare-
cendo como primeiros servidos do povo
3
ou ins-
trumentos do bem comum. Para Nietzsche a de-
mocracia, por temor ao esprito de comando, ape-
nas substitui os comandantes pela soma acumu-
lada de homens de rebanho sagazes. As consti-
tuies representativas no fazem mais que subs-
tituir o indivduo comandante por uma coletivi-
dade comandante e, neste sentido, continuam re-
fns da necessidade de obedecer.
Se, de um lado, temos a constatao de
que a obedincia parte da hierarquia e preciso
que esta seja reconhecida como uma condio
humana e no negada em nome da igualdade
do rebanho o problema apontado por Nietzsche
est no fato de proliferarem-se os que obedecem
e desaparecerem os que mandam, ou seja, a moral
do rebanho, ao expandir-se como moral vigente,
expande tambm o instinto da obedincia e nega,
conseqentemente, de forma a suprimir, o instinto
de comando. Aceitar a hierarquia entre os homens
e entre as morais denunciar esta expanso do
instinto gregrio da obedincia e resgatar o instin-
A moral como interpretao: a crtica nietzschiana moral de rebanho
Revista de Filosofia, Curitiba, v.15 n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
62
to de comando como elevao do tipo homem.
A partir do trabalho anunciado no captulo
quinto, Pargrafo 186, de Alm do Bem e do Mal, onde
esto consolidados os embries da futura obra Gene-
alogia da Moral, Nietzsche se prope a descrever os
vrios tipos de moral vigentes, numa perspectiva his-
trica, visando a construo de uma tipologia, como
modelos ou formulaes abstratas, tipos idealizados
para a condensao dos traos fundamentais daquilo
que seria denominada uma moral dos fracos (escra-
vos) e uma moral dos fortes (senhores).
Longe, portanto, da tentativa de funda-
mentao, que aprisionou os moralistas a um de-
terminado tipo de moral, Nietzsche encontra-se li-
vre para erigir a moral como um problema a partir
de seu valor mesmo, sendo ele um a-moral, ou
seja, olhando para a moral desde um lugar fora
dela, como parte do jogo interpretativo. Transfor-
mando a moral num problema Nietzsche passa a
identificar a articulao e cumplicidade das idias
modernas com a moral crist, como o caso do
reconhecimento do socialismo e tambm do anar-
quismo como derivaes da democracia, traduzin-
do apenas a herana do rebanho autnomo. A
partir disso, Nietzsche (2002, p. 203) apresenta
como tarefa para os novos filsofos a transvalo-
rao dos valores eternos, devolvendo s mos
do homem a construo de seu futuro na histria.
Autodeterminado, cabe ao homem moderno a ta-
refa de livrar-se dos consolos metafsicos, ticos e
cientficos vigentes e embrenhar-se em si mesmo,
em sua solido, como comandante de sua prpria
histria. Ou comanda-se a si mesmo, ou continua-
r servil aos deuses ou a outros homens, rebaixa-
do, medocre e banal.
Ao identificar este processo, Nietzsche
citado por Maurer (1995), em sentido compensa-
trio, elogiando a grandeza e o afeto de coman-
do, como frmula para combater este aniquilamen-
to do homem e sua uniformizao massiva. Se-
gundo Maurer trata-se de reconhecer a existncia
de um outro Nietzsche, que se encontra atrs da
fachada cheia de efeitos, at ambiciosa de efeitos
e que primeiro salta aos olhos em sua filosofia (p.
171-172, 1995). A radicalidade crtica de Nietzsche
apontada por Maurer como um pensar compen-
satrio no sentido em que a linguagem e o pensa-
mento mostram-se fortes em suas doses, com o
objetivo de liberar o mximo de energia possvel
com o fim de vencer o bloco absoluto da moral
vigente at ento. (1995).
O elogio da aristocracia e dos fortes inse-
re-se a no como uma nostalgia reacionria, se-
no como o reconhecimento de um momento de
grandeza e excelncia, que reconhecida como
liderana legtima e, como tal, se pe frente e se
imortaliza por suas virtudes. (GIACIA JNIOR,
2002, p. 59). Com a aristocracia Nietzsche resgata
a individualidade e as virtudes individuais, a ex-
cepcionalidade, a exceo, a grandeza do homem
frente moral de rebanho e massificao da vir-
tude. O elogio aristocracia instrumento para
Nietzsche explicitar a importncia da aceitao da
hierarquia e das diferenas de valores dos tipos
fisiolgicos e no a igualdade como pressu-
postos para a elevao do homem. Trata-se de elo-
giar os fortes para denunciar o nivelamento e o
rebaixamento exercitados pela modernidade.
Poderamos dizer que sob este mesmo
prisma que tratado, no lado oposto, o tema da
escravido, retomado por Nietzsche de forma his-
trica e social (para denunciar a hipocrisia de uma
sociedade que prega a emancipao e o otimismo
no progresso e ao mesmo tempo, por meio da
ditadura do trabalho e do lucro maximizado, da
construo de uma sociedade administrada, pela
produo e pelo consumo, privando o trabalha-
dor do sentido de seu trabalho, e tornando o ho-
mem um espcime de uma coletividade que tem
as caractersticas do rebanho uniforme) e de for-
ma simblica (como exemplo da escravido intro-
jetada psquica ou espiritualmente e, desta forma,
como prova da necessidade de domnio de si mes-
mo como requisito para a elevao do tipo ho-
mem). (GIACIA JUNIOR, 2002, p. 61).
neste contexto que se d o reco-
nhecimento de Nietzsche individualidade, ao ego-
smo, busca da superioridade, disciplina, ve-
nerao, ao isolamento e solido, como antdotos
s virtudes preconizadas pela moral dos escravos,
que valorizam o nivelamento, a igualdade, a com-
paixo, o altrusmo, o desprezo de si, a alienao
no prximo. Trata-se de uma busca pela singulari-
dade, por um si mesmo ao qual venerar e no por
um alienante amor ao prximo, que substitui a
venerao pela compaixo: permanecer senhor de
nossa quatro virtudes, da coragem, do discernimento,
da simpatia, da solido. Pois a solido uma virtu-
de, como uma sublime inclinao e mpeto de as-
seio, que adivinha que no contato com os homens
em sociedade- as coisas tm que ocorrer de ma-
neira inevitavelmente suja. Toda comunidade de
Jelson Oliveira
Revista de Filosofia, Curitiba, v. 15, n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
63
alguma maneira, em algum lugar, alguma vez tor-
na comum. (NIETZSCHE, 2002, p. 284).
A solido adquire, ento, status de virtu-
de e se torna uma caracterstica do tipo forte, ele
mesmo um destacado, que acredita em si mesmo
e vive sob o Pathos de Distncia. A solido est
contraposta, destarte, pretensa virtude do reba-
nho: A igualdade, uma certa assemelhao fac-
tual que s ganha expresso no interior da teoria
dos direitos iguais, pertence essencialmente de-
cadncia: o fosso entre homem e homem, estado
e estado, a multiplicidade de tipos, a vontade de
ser si prprio, de destacar-se, isto que denomino
como Pathos de Distncia: tudo isto prprio a
todo tempo forte, conforme Nietzsche em creps-
culo dos dolos: ou como filosofar com o marte-
lo(2000, p.37). Trata-se de preservar o si mesmo
do homem, de dar lugar e reconhecimento para a
vontade prpria, ao invs de abrir-se para a vulga-
ridade do aprisco. Conforme Giacia (2002, p. 67)
tornada a virtude prpria dos verdadeiros filso-
fos, que esto condenados a encarnar a m-cons-
cincia de seu tempo e, portanto, condenados
solido
4
, que se torna requisito e estmulo para a
tarefa de vivisseo da moral vigente. O homem
moderno teme a solido porque se enojou de si
mesmo e porque se desaprendeu de si e sente-se
impotente quando est s, sem a explicao mo-
ral do todo, refm do instinto da obedincia, sem
a paz do rebanho, sem a resposta da massa, sem o
pressuposto do bem-estar e da felicidade eterna.
Padronizado sob o estalo da coletivida-
de, nivelado sob a pseudo-virtude da igualdade, o
homem moderno teme a si mesmo e foge. Longe
da moral do ovil e de sua laicizada verso moder-
na da administrao da produo e do consumo
(o fenmeno da massa capitalista), ele no sabe
quem . Sujeitado, rende-se ao todo e passa a for-
mular e obedecer s regras morais que apregoam
a igualdade no lugar da singularidade, o rebaixa-
mento no lugar da grandeza, a banalidade no lu-
gar da criatividade, a democracia e a escravido
no lugar da aristocracia.
Esta inverso dos valores, conseqncia
do predomnio da moral de rebanho, o territrio
para o qual enviado o novo filsofo, como um
esprito livre ao qual exige-se probidade intelectu-
al, que significa desconfiana em relao s suas
prprias idias e pensamentos, reconhecendo-os
to s como mais uma mscara e interpretao,
gerada na solido, plasmada no isolamento. O fi-
lsofo, aquele que aprende a viver sozinho. Para
viver sozinho, preciso ser um animal ou um deus
diz Aristteles. Falta ainda a terceira alternativa:
preciso ser os dois ao mesmo tempo Filsofo.
( NIETZSCHE, 2002, p. 3). O filsofo, aquele que
reconhece seu pensamento como apenas impre-
vistas centelhas e prodgios da solido, como per-
filha Nietzsche na ltima linha de Alm do Bem e
do Mal. Enfim, ao novo filsofo cabe a atitude de
Zaratustra, no o que veio para pastorear, mas para
desgarrar ovelhas.
Notas
1 O cristianismo imps a domesticao do homem e chamou a isso
melhoramento do homem: Chamar a domesticao de um
animal seu melhoramento soa, para ns, quase como uma pia-
da. Quem sabe o que acontece nos amestramentos em geral du-
vida de que a besta seja a mesmo melhorada. Ela enfraqueci-
da, tornam-na menos nociva, ela se transforma em uma besta
doentia atravs do afeto depressivo do medo, atravs do sofri-
mento, atravs das chagas, atravs da fome.
2 As pocas fortes, as culturas nobres vem na compaixo, no
amor ao prximo, na falta de si prprio e de amor prprio, algo
desprezvel. As pocas tm de ser medidas segundo as suas for-
as positivas.
3 Aluso conhecida frase de Frederico o Grande nas suas Me-
mrias de Brandebourg: um prncipe o primeiro servidor e o
primeiro magistrado do Estado. Em Assim Falou Zaratustra, Da
Virtude Amesquinhadora, 2: Eu sirvo, tu serves, ns servimos
assim reza aqui tambm a hipocrisia dos que dominam e ai
quando o primeiro senhor somente o primeiro servidor!.
4 O prprio Nietzsche se insere neste contexto solitrio, j que seu
trabalho de problematizao da moral vai de encontro moral
vigente, que a moral da coletividade, da sociedade, do ovil. S
a solido (o estar com suas prprias idias) lhe garante autono-
mia e probidade para realizar a sua tarefa.
Referncias
GIACIA JNIOR., Oswaldo. Nietzsche & Para
Alm de Bem e Mal. So Paulo, SP: Jorge Zahar,
2002.
MARTON, Scarlett. Lobo, cordeiros e aves de Ra-
pina: um diagnstico de nossos valores morais.
Revista Filosofia, Curitiba, v. 13, n. 12, p. 13-22,
jan./jul. 2001.
MAUER. Trans/inform/ao, So Paulo, SP, v.
18, p. 171-172, 1995.
NIETZSCHE, F. W. Obras incompletas. 3. ed.
A moral como interpretao: a crtica nietzschiana moral de rebanho
Revista de Filosofia, Curitiba, v.15 n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
64
Traduo de Rubens Rodrigues Torres Filho. So
Paulo, SP: Abril Cultural, 1983. (Col. Os pensado-
res).
_________ . Genealogia da Moral: uma polmi-
ca. Traduo de Paulo Csar de Souza. So Pau-
lo, SP: Companhia das Letras, 2002.
_____ . Alm do Bem e do Mal: preldio a uma
Filosofia do Futuro. Traduo de Paulo Csar de
Souza. 2. ed. So Paulo, SP: Companhia das Le-
tras, 2002.
_____ . Assim falou Zaratrustra. So Paulo, SP:
Crculo do Livro, [19?]. (Nota ao aforismo 1999).
_________ . Crepsculo dos dolos: ou como
filosofar com o martelo. Traduo de Marco Ant-
nio Casa Nova. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Relume
Dumar, 2000. (Conexes, n. 8).
Recebido em / Recieved in: 15/02/2003
Aprovado em / Approved in: 07/04/2003
Jelson Oliveira
Revista de Filosofia, Curitiba, v. 15, n.16, p. 57-64, jan./jun. 2003.
Você também pode gostar
- 12 GlóriasDocumento2 páginas12 GlóriasFabio Cazuo100% (2)
- Os Significados Da AmizadeDocumento166 páginasOs Significados Da AmizadeTúlio Rossi100% (1)
- ADELMAN CorporalidadeEsporteDocumento19 páginasADELMAN CorporalidadeEsporteTúlio RossiAinda não há avaliações
- A Cultura de Massa Enquanto MulherDocumento16 páginasA Cultura de Massa Enquanto MulherTúlio RossiAinda não há avaliações
- SCHOPENHAUER, Arthur. Metafísica Do Amor, Metafísica Da MorteDocumento98 páginasSCHOPENHAUER, Arthur. Metafísica Do Amor, Metafísica Da MorteCintia Sobral100% (2)
- Cuidado Com A Contaminação EspiritualDocumento5 páginasCuidado Com A Contaminação EspiritualClávio JacintoAinda não há avaliações
- Como Destruir A Tese Das TJDocumento2 páginasComo Destruir A Tese Das TJStênio SimõesAinda não há avaliações
- A Contribuição de Richard Baxter para o Ministério Pastoral No Século XXIDocumento64 páginasA Contribuição de Richard Baxter para o Ministério Pastoral No Século XXILucielmaAinda não há avaliações
- Evangelhos Apócrifos - Maria MadalenaDocumento4 páginasEvangelhos Apócrifos - Maria MadalenafranciscarlosAinda não há avaliações
- Enciclopédia ASDDocumento1.550 páginasEnciclopédia ASDJorgeFonsecaAinda não há avaliações
- Carta Aos Romanos e o Apostolado de Paulo - Parte 1, A - John Piper PDFDocumento5 páginasCarta Aos Romanos e o Apostolado de Paulo - Parte 1, A - John Piper PDFRodrigoRotirotiAinda não há avaliações
- Atos de Reparações PDFDocumento11 páginasAtos de Reparações PDFLieser MendonçaAinda não há avaliações
- Ministração - Oração Como Estilo de VidaDocumento5 páginasMinistração - Oração Como Estilo de Vidasaraivacosta12Ainda não há avaliações
- Aconselhamento e Poimênica11fev2011Documento26 páginasAconselhamento e Poimênica11fev2011Diego LuqueAinda não há avaliações
- Apontamentos - OEGSA - Prof.ºDocumento17 páginasApontamentos - OEGSA - Prof.ºNobody PTAinda não há avaliações
- Músico Cristão Com A Música SecularDocumento4 páginasMúsico Cristão Com A Música SecularCarlosrzzAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho 1 - Cristianismo - 7º AnoDocumento4 páginasFicha de Trabalho 1 - Cristianismo - 7º AnoCarla TeixeiraAinda não há avaliações
- A Verdadeira e Unica IgrejaDocumento4 páginasA Verdadeira e Unica IgrejaJaime-Rosangela SilvaAinda não há avaliações
- Identidade Cristãos Novos AlgarveDocumento16 páginasIdentidade Cristãos Novos AlgarveClayton de MedeirosAinda não há avaliações
- Legalismo - Rebeldia Contra DeusDocumento15 páginasLegalismo - Rebeldia Contra Deusengsilvestrin2382Ainda não há avaliações
- A Minha Alma Louva o Senhor - Ferreira Dos SantosDocumento1 páginaA Minha Alma Louva o Senhor - Ferreira Dos Santosspscosta1Ainda não há avaliações
- Formacao Documento CNBB 106 NN 13 27Documento19 páginasFormacao Documento CNBB 106 NN 13 27lepestana45Ainda não há avaliações
- O Coracao Do Homem PDFDocumento41 páginasO Coracao Do Homem PDFFatima BarretoAinda não há avaliações
- Geraldo Gomes de OliveiraDocumento1 páginaGeraldo Gomes de OliveiraJoice R. A. HosokawaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Histórico Do Modo Trinitária Do BaptismoDocumento10 páginasDesenvolvimento Histórico Do Modo Trinitária Do BaptismoSteve-OAinda não há avaliações
- Cifras Trompete e Sax Soprano (2015) PDFDocumento143 páginasCifras Trompete e Sax Soprano (2015) PDFjuniores11Ainda não há avaliações
- O Poder Sobrenatural de DeusDocumento262 páginasO Poder Sobrenatural de DeusPriscila Rodrigues100% (3)
- Ano L Crisma Celebração Entrega Da CruzDocumento3 páginasAno L Crisma Celebração Entrega Da CruzCarmem Aparecida KrukAinda não há avaliações
- O BATISMO DE JOÃO E O DE CRISTO Jo 1.31-34Documento2 páginasO BATISMO DE JOÃO E O DE CRISTO Jo 1.31-34Reginaldo Moreira de AguilarAinda não há avaliações
- Cartão de Saúde Do Grupo de OraçãoDocumento2 páginasCartão de Saúde Do Grupo de OraçãoTarcisio AugustoAinda não há avaliações
- Rubem Alves e o Sermão No Dia Da Reforma ProtestanteDocumento10 páginasRubem Alves e o Sermão No Dia Da Reforma ProtestanteDiogo Nogueira CorreiaAinda não há avaliações
- Pregação - Como Vencer As TentaçõesDocumento2 páginasPregação - Como Vencer As TentaçõesFranciscoAinda não há avaliações
- Arte Bizantina e Cristã PrimitivaDocumento3 páginasArte Bizantina e Cristã PrimitivaGustavo HenriQue100% (1)
- Leituras: 3º Domingo Da Quaresma - Ano BDocumento1 páginaLeituras: 3º Domingo Da Quaresma - Ano BJosé Ribeiro de LimaAinda não há avaliações