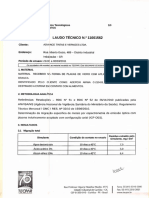Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Politica Externa Brasileira-WEB
A Politica Externa Brasileira-WEB
Enviado por
JFDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Politica Externa Brasileira-WEB
A Politica Externa Brasileira-WEB
Enviado por
JFDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A POLTICA EXTERNA
BRASILEIRA PARA OS
EMIGRANTES E SEUS
DESCENDENTES
FERNANDA RAIS USHIJIMA
A POLTICA EXTERNA
BRASILEIRA PARA OS
EMIGRANTES E SEUS
DESCENDENTES
Conselho Editorial Acadmico
Responsvel pela publicao desta obra
Prof. Dr. Marcos Tadeu Del Roio
Prof
a
Dr
a
Claude Lepine
Dr
a
Clia Aparecida Ferreira Tolentino
Dr. Francisco Luiz Corsi
FERNANDA RAIS USHIJIMA
A POLTICA EXTERNA
BRASILEIRA PARA OS
EMIGRANTES E SEUS
DESCENDENTES
2012 Editora UNESP
Cultura Acadmica
Praa da S, 108
01001-900 So Paulo SP
Tel.: (0xx11) 3242-7171
Fax: (0xx11) 3242-7172
www.editoraunesp.com.br
feu@editora.unesp.br
CIP Brasil. Catalogao na fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ
U84p
Ushijima, Fernanda Rais
A poltica externa brasileira para os emigrantes e seus descendentes /
Fernanda Rais Ushijima. So Paulo : Cultura Acadmica, 2012.
251p. : il.
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7983-294-9
1. Relaes internacionais. 2. Poltica internacional. 3. Brasil Relaes
exteriores. I. Ttulo.
12-7619 CDD: 327.81
CDU: 327(81)
Este livro publicado pelo Programa de Publicaes Digitais da Pr-Reitoria de
Ps-Graduao da Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho (UNESP)
Ao tio Omar Gabriel
SUMRIO
Lista de figuras 9
Lista de tabelas 11
Lista de abreviaturas e siglas 13
Apresentao 15
Introduo 17
1. A emigrao e o Estado brasileiro 33
2. O desenvolvimento das polticas brasileiras
para os emigrantes e seus descendentes 77
3. Limites da poltica nacional para os emigrantes
e seus descendentes 165
Consideraes finais 191
Referncias bibliogrficas 199
Apndices 219
Anexos 243
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Brasileiros que entraram ou saram do Japo
no perodo de 1950-2010 59
Figura 2 Imigrantes brasileiros no Japo por status de
residncia (1994-2009) 64
Figura 3 Estimativas de remessas por pas de
recebimento em 2010 (em US$ bilhes) 150
Figura 4 Fluxo de remessas para o Brasil
(1975-2011) 152
Figura 5 Populao de imigrantes brasileiros e
eleitorado brasileiro no Japo
(2000-2010) 188
Figura A1 Estrutura organizacional do Ministrio das
Relaes Exteriores em 1990 222
Figura A2 Estrutura organizacional do Ministrio das
Relaes Exteriores em 1995 224
Figura A3 Estrutura organizacional do Ministrio das
Relaes Exteriores em 2000 226
Figura A4 Estrutura organizacional do Ministrio das
Relaes Exteriores em 2004 228
10 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Figura A5 Estrutura organizacional do Ministrio das
Relaes Exteriores em 2006 230
Figura A6 Estrutura organizacional do Ministrio das
Relaes Exteriores em 2010 232
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 A expanso da rede consular brasileira
(1990 -2010) 105
Tabela 2 Rede consular brasileira no Paraguai
(2009) 109
Tabela 3 Rede consular brasileira na Guiana, Guiana
Francesa e Suriname (2009) 112
Tabela 4 Rede consular brasileira no Japo
(2009) 113
Tabela 5 Rede consular brasileira nos Estados Unidos
(2009) 115
Tabela 6 Rede consular brasileira em Portugal e no
Reino Unido (2009) 117
Tabela 7 Detentos brasileiros assistidos no exterior
(2010) 130
Tabela 8 Estimativas de envio de remessas para o Brasil
em 2010 (em US$ milhes) 154
Tabela 9 Registro de nascimentos de brasileiros no
exterior (2010) 158
Tabela 10 Populao de imigrantes brasileiros no Japo
(1980-2010) 187
12 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela B1 Estimativa de brasileiros na
Amrica do Norte 235
Tabela B2 Estimativa de brasileiros na
Amrica do Sul 236
Tabela B3 Estimativa de brasileiros na
Amrica Central 237
Tabela B4 Estimativa de brasileiros na Europa 238
Tabela B5 Estimativa de brasileiros na frica 239
Tabela B6 Estimativa de brasileiros no
Oriente Mdio 240
Tabela B7 Estimativa de brasileiros na sia 241
Tabela B8 Estimativa de brasileiros na Oceania 242
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
Caopa Comisso de Aperfeioamento da
Organizao e das Prticas Administrativas
Cepal Comisso Econmica para a Amrica Latina e
o Caribe
CG Consulado-Geral
CGPC Coordenao-Geral de Planejamento e
Integrao Consular
CH Consulado Honorrio
Ciate Centro de Informao e Apoio ao Trabalhador
no Exterior
CNIg Conselho Nacional de Imigrao
CPMI Comisso Parlamentar Mista de Inqurito
CRBE Conselhos de Representantes dos Brasileiros
no Exterior
DAC Diviso de Assistncia Consular
DBR Diviso das Comunidades Brasileiras no
Exterior
DCB Departamento Consular e de Brasileiros no
Exterior
DSN Decreto Sem Nmero
14 FERNANDA RAIS USHIJIMA
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
MDA Ministrio do Desenvolvimento Agrcola
MEC Ministrio da Educao
Mercosul Mercado Comum do Sul
MPS Ministrio da Previdncia Social
MRE Ministrio das Relaes Exteriores
MSCJ Manual do Servio Consular e Jurdico
NAB Ncleo de Assistncia a Brasileiros
Oaci Organizao de Aviao Civil Internacional
OCDE Organizao para a Cooperao e o
Desenvolvimento Econmico
OIM Organizao Internacional para as Migraes
OIT Organizao Internacional do Trabalho
ONU Organizao das Naes Unidas
PLS Projeto de Lei do Senado
Promasp Programa de Modernizao, Agilizao e
Aprimoramento e Segurana da Fiscalizao
do Trfego Internacional e do Passaporte
Brasileiro
SCEDV Sistema de Controle de Emisso de
Documentos de Viagem
SCI Sistema Consular Integrado
Seabe Secretaria de Apoio aos Brasileiros no Exterior
SEF Servio de Estrangeiros e Fronteiras
Sere Secretaria de Estado das Relaes Exteriores
Serpro Servio Federal de Processamento de Dados
SGEB Subsecretaria-Geral das Comunidades
Brasileiras no Exterior
Siac Sistema Integrado de Acompanhamento
Consular
ST Sem Titular
UE Unio Europeia
APRESENTAO
O meu interesse pelas migraes internacionais vem desde a
graduao, no curso de Relaes Internacionais de Marlia FFC/
UNESP, quando desenvolvi um trabalho de concluso de curso
sobre os imigrantes nos Estados Unidos e os direitos humanos, es-
timulada por minha experincia de intercmbio nesse pas. Ao in-
vestigar o tratamento dado aos imigrantes nos Estados Unidos,
comecei a me indagar sobre as responsabilidades e a atuao dos
pases de origem tambm, e, mais especificamente, do Estado bra-
sileiro. Naquele perodo, o tema da emigrao vinha tendo grande
evidncia em nosso pas: o destaque da mdia para a apreenso de
um grande nmero de brasileiros na fronteira do Mxico com os
Estados Unidos em 2005, o incio da Comisso Parlamentar Mista
de Inqurito (CPMI) da Emigrao no mesmo ano, a realizao da
I Conferncia Brasileiros no Mundo, em 2008.
Essa indagao gerou um projeto de mestrado, que foi finan-
ciado pela Fapesp e orientado pelo professor doutor Tullo Vigevani,
alm de ter contado com a colaborao e o incentivo de outros pes-
quisadores, com destaque para Elson Menegazzo. No posso deixar
de agradecer tambm ao Ministrio das Relaes Exteriores, pela
disponibilizao de informaes.
16 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Na pesquisa de mestrado, realizada no Programa de Ps-Gra-
duao em Cincias Sociais de Marlia FFC/UNESP (2009 -2012),
procurei, ento, compreender como vm sendo desenvolvidas, por
nosso pas, as polticas para os brasileiros no exterior. O perodo
abrangido foi de 1990, ano em que essas polticas se iniciam efeti-
vamente, a 2010. Pudemos verificar que, no caso do Brasil, essas
polticas so consideradas como poltica externa. De fato, elas en-
volvem relaes com outros Estados o que exige a participao do
Ministrio das Relaes Exteriores.
Diferentemente da literatura que se foca na perda da soberania
dos Estados, procuramos demonstrar que a poltica para os brasi-
leiros no exterior representa uma tentativa de extenso da soberania
para alm do territrio contguo, por meio da extenso de direitos,
que implica tambm deveres, e da formalizao das remessas, que
as colocam sob controle fiscal. A poltica em questo tenta ainda
promover interesses estatais. No entanto, os Estados de origem
veem sua ao limitada pela soberania territorial dos Estados de re-
sidncia. O espao em que atuam, denominado extraterritorial, co-
loca importantes limites, mas abre, outrossim, possibilidades.
A pesquisa representa uma abordagem no mbito da poltica
sobre a adaptao do Estado brasileiro (1990-2010) diante do fen-
meno emigratrio. O seu foco foram as mudanas estruturais ocor-
ridas no Ministrio das Relaes Exteriores, rgo responsvel pela
poltica para os brasileiros no exterior. Trataremos dessa poltica de
forma geral, tendo como principal cenrio de anlise as mudanas
ocorridas no pas.
O estudo apresentado resultou neste livro sobre A poltica ex-
terna brasileira para os emigrantes e seus descendentes, tema ainda
pouco pesquisado no Brasil. Esperamos que o trabalho possa ser
uma contribuio para o desenvolvimento das polticas e para es-
tudos a respeito do assunto.
INTRODUO
Em meados da dcada de 1980, os fluxos de brasileiros rumo ao
exterior ganham corpo e constncia. Apesar de, sob uma perspec-
tiva mais macro, podermos afirmar que as emigraes fazem parte
do complexo fenmeno da globalizao processo multiface-
tado que engloba tanto a prpria expanso do capitalismo, a rees-
truturao produtiva, quanto os seus efeitos sociais , e se dirigem,
majoritariamente, aos pases mais desenvolvidos e vo, l, ocupar
os postos denominados secundrios, as emigraes de brasileiros
representam um fenmeno bastante diversificado.
Alm de podermos encontrar brasileiros de diversas partes do
pas, em praticamente todas as partes do mundo em pases mais
fechados ou abertos imigrao, mais ou menos influentes, vi-
zinhos ou longnquos, histrica, poltica e economicamente mais
prximos ou distantes , eles apresentam diferenas quanto sua
histria, faixa etria, ao sexo, ao status, ao nvel de escolaridade,
etnia, s tendncias de concentrao e a outros fatores. Esses fluxos
de nacionais brasileiros, compostos tambm por seus descendentes,
fazem parte de uma migrao prioritariamente recente e de traba-
lhadores; em parte circular, mas na qual se observa tambm ten-
dncias de permanncia em alguns pases.
18 FERNANDA RAIS USHIJIMA
No novo contexto de emigrao, que passa a constituir para o
Estado brasileiro uma nova equao demogrfica em mbito inter-
nacional, com cerca de trs milhes de brasileiros residindo no exte-
rior
1
(Ministrio das Relaes Exteriores, 2009; 2011), foi possvel
verificar, a partir da dcada de 1990, reformas burocrticas; inicia-
tivas relacionadas ao melhor conhecimento dos grupos de brasileiros
no exterior; medidas de facilitao relacionadas circulao e do-
cumentao, para estimular o retorno e a cooperao de cientistas
brasileiros que se encontram no exterior, em prol da regularizao
migratria; de investimento, que buscam atrair remessas; que visam
a promover e reforar a lngua e a cultura nacionais; aes nas reas
de educao, sade, apoio jurdico, previdncia, direitos trabalhistas
e outros tipos de assistncia social, aumentando o nmero e a divul-
gao de informaes, estendendo direitos polticos e expandindo a
rede consular.
Abordaremos as principais medidas, com base sobretudo em
pesquisa documental e consulta (a relatrios, balanos, organo-
gramas, resolues, atas, pareceres, mensagens, projetos, planos,
leis, decretos, portarias, instrues normativas, dentre outros) a s-
tios do Congresso Nacional, do Ministrio das Relaes Exteriores
e de outros ministrios e rgos pblicos, da Presidncia, da Im-
prensa Nacional, dos prprios emigrantes e de organizaes no
governamentais e internacionais. Realizamos pesquisa bibliogr-
fica, pesquisa de campo e entrevistas com atores envolvidos nas
polticas. Tambm participamos de duas edies da Conferncia
Brasileiros no Mundo, organizada pelo Ministrio das Relaes Ex-
teriores, em 2009 e 2010, quando foi possvel ter contato direto com
as reivindicaes dos brasileiros no exterior.
Apesar de a poltica externa brasileira ser um tema recorrente e
tradicional das relaes internacionais, observa-se uma quase com-
1. O MRE estimou que a populao de brasileiros no exterior, em 2008, era de
3.040.993; e no ano de 2010, de 3.122.813 (Ministrio das Relaes Exte-
riores, 2009a; 2011).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 19
pleta omisso ou insuficiente abordagem por parte dos autores no
que se refere atuao governamental voltada para as comunidades
emigradas. Atualmente, embora haja uma crescente produo aca-
dmica nos estudos sobre migrao, ainda bastante limitada a
literatura especializada, no Brasil, sobre o tema de polticas p-
blicas para comunidades emigradas (Firmeza, 2007).
Se, numa base mundial, a produo acadmica sobre imi-
grao abundante, enquanto pouca ateno vem sendo dada
emigrao [...] (Barry, 2006, traduo nossa), deve-se considerar,
ainda, o fato de que as comunidades acadmicas dominantes en-
contram-se nos Estados de imigrao (Spiro, 2006). No Brasil, o
motivo da desateno no que diz respeito ao estudo de sua poltica
externa direcionada s comunidades fora de casa, muito prova-
velmente, foi a continuidade, at um passado no muito remoto, do
exclusivo emprego, por parte de nosso pas, de uma poltica tradi-
cional de prestao de servio consular (Firmeza, 2007; Gradilone,
2008).
Os estudos sobre a emigrao brasileira se encontram focados
nos impactos econmicos das remessas, nos fatores de incentivo
emigrao, ou em estudos realizados nos locais de origem dos emi-
grantes, como estudos sobre redes sociais e etnografias. As recentes
mudanas tm sido pouco estudadas, apesar da importncia e rele-
vncia de tais polticas em questes como a dupla cidadania, a naci-
onalidade, a soberania nacional e a territorialidade. Assim, a pesquisa
insere-se, de forma exploratria e com uma abordagem crtica,
nessa lacuna, buscando analisar a formulao e a implementao de
polticas pblicas voltadas para os emigrantes.
Diante da considervel quantidade de brasileiros residindo no
exterior e da mudana de postura por parte do Estado brasileiro em
relao a eles, a pesquisa teve como objetivo realizar um mapea-
mento das polticas pblicas voltadas para os emigrantes, do ano de
1990 at 2010, que em seu conjunto constituem uma poltica ex-
terna brasileira. Analisaremos a formulao e a implementao
dessas polticas, verificando seus impactos e limites, os atores en-
20 FERNANDA RAIS USHIJIMA
volvidos e seus interesses, bem como as motivaes e as demandas.
O nosso foco o Ministrio das Relaes Exteriores. A abordagem
das polticas dar-se- em quatro etapas: I) reformas burocrticas;
II) conhecimento e participao dos brasileiros no exterior; III) ser-
vios consulares e outras medidas de apoio e cidadania; e IV) pol-
ticas de vinculao e transferncia de recursos.
Como Jones-Correa (2001) observa, os diferentes custos das
polticas voltadas para os nacionais no exterior e seus descendentes
explicam, em grande parte, o quo longe os Estados pretendem ir
para mant-los sob sua soberania e as diferenas existentes entre
eles. O autor, ao estudar a dupla cidadania na Amrica Latina, pde
identificar duas rotas possveis para se chegar at ela: a) a de bai-
xo, quando a iniciativa surge da prpria comunidade de migran tes;
b) a de cima, quando o impulso principal parte do prprio Es-
tado de emisso. Dentre as duas rotas possveis, a de baixo e a
de cima, podem-se ainda identificar algumas variaes que
levam at os direitos polticos: a) dispora politicamente ativa,
quando o fator determinante o envolvimento poltico ativo da co-
munidade em seu pas de origem; b) instrumentalizao dos emi-
grantes por parte do Estado de origem; c) incluso antecipada em
regimes militares autoritrios; e d) incorporao dirigida pelo par-
tido (Jones-Correa, 2001).
No caso do Brasil, diversamente de outros pases da Amrica
Latina, concedeu-se a dupla cidadania e se estendeu o direito de
voto no exterior sem muita presso por parte dos emigrantes, uma
vez que os custos que essas polticas representam para o pas so
comparativamente mais baixos, devido ao seu maior oramento e
ao menor nmero de pessoas envolvidas (Levitt & Dehesa, 2003).
Com isso, uma das primeiras questes levantadas se o fato de al-
gumas polticas nacionais terem sido formuladas e aplicadas de
cima para baixo afeta os resultados, ou seja, o alcance entre os
emigrantes brasileiros e seus descendentes.
Se, por um lado, pode-se encontrar na poltica exterior a pro-
moo do direito aos emigrantes brasileiros, por outro, observa-se
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 21
que o conjunto de polticas pblicas que constituem uma poltica
externa, de certa forma, levam a soberania do Estado-Nao sobre
os indivduos, mesmo que no tenham o mesmo impacto que te-
riam dentro dos limites do territrio nacional. Por exemplo, as faci-
litaes ao exerccio do direito de voto, apesar de ser um direito,
tambm um dever; a regulamentao de remessas por vias legais as
colocam sob o controle fiscal; e a vinculao nacionalidade brasi-
leira, como no caso da dupla cidadania, em que se prende o in-
divduo ao senso de pertencimento nao. Por isso, uma das
necessidades de se avaliar a poltica externa verificar se ela est
promovendo, alm dos interesses nacionais, os direitos humanos
aos emigrantes, uma vez que h uma contradio inerente entre
essas duas esferas (Vincent, 1995).
Essa maior preocupao com os emigrantes e suas comuni-
dades por parte dos Estados de origem, entretanto, no um fen-
meno exatamente novo, pois pases europeus de emigrao nos
sculos XIX e XX reconheciam a nacionalidade legal de um grande
nmero de cidados que residiam fora de seu territrio (Fitzgerald,
2008). Chander (2006), apesar de acreditar, da mesma forma, que,
de fato, os pases em desenvolvimento percorrem um caminho j
bastante trilhado, aponta para a novidade dos avanos tecnol-
gicos, os quais possibilitam um vnculo continuamente revigorado
entre a terra natal e o emigrante.
2
No que se refere especificamente
Amrica Latina, deve-se levar em considerao que, histori-
camente, definies de nacionalidade legal e cultural baseadas no
nascimento no territrio de um determinado Estado foram particu-
larmente importantes, devido extrema heterogeneidade tnica
das populaes desses pases, cujas fronteiras basearam-se nas di-
vises administrativas arbitrrias do colonialismo, o que faz com
2. Essa mesma relao entre a vinculao com o pas de origem e o desenvolvi-
mento tecnolgico est presente na perspectiva transnacional dos estudos mi-
gratrios, cunhada no incio dos anos 1990 por Glick-Schiller, Basch &
Szanton-Blanc (1992).
22 FERNANDA RAIS USHIJIMA
que as recentes investidas de alguns pases no sentido de incluir
um grande nmero de emigrantes numa nao imaginada repre-
sentam uma significativa mudana com relao definio terri-
torial inicial de nao (Fitzgerald, 2008).
Por muito tempo, nas cincias sociais, pressups-se a sobrepo-
sio absoluta entre soberania
3
e territorialidade
4
na formao do
Estado nacional. Ainda que existam argumentos consistentes com
relao manuteno dessa configurao, sobretudo nas perspec-
tivas mais cticas, recentemente, em especial com o advento da
nova etapa da globalizao, perspectivas globalistas questionam
essa vinculao entre poder e local.
Na era global, cada vez menos o senso de pertencimento ou a
identidade se definem exclusivamente pelo pertencimento formal
a um determinado territrio ou permanncia nele. A desregulao
econmica realizada pelo Estado como um conjunto extrema-
mente complexo de intersees e negociaes, enquanto preserva
a integridade do territrio nacional como uma condio geogrfica,
transforma a exclusiva territorialidade (Sassen, 2001).
3. A soberania a assinatura caracterstica da poltica moderna (Stanford
Encyclopaedia of Philosophy, 2010). Como um elemento central dos Estados
modernos, ela pode ser definida como o legtimo exerccio do poder poltico
sobre determinado territrio (Held & McGrew, 2007). De uma perspectiva
interna, a soberania popular do Estado moderno, una, indivisvel e legtima,
seria absoluta em relao a sua extenso e ao seu carter e representaria uma
relao funcional de hierarquia, entre governante e governado (Stanford,
2010). J no plano externo, a soberania implica uma relao de igualdade
formal. Waltz ponderou que, entre Estados, ningum designado para co-
mandar; ningum obrigado a obedecer. Jackson se refere a isso como sobe-
rania jurdica, e Krasner, como soberania internacional legal. Essa segunda
face da soberania constitui a anarquia caracterstica das relaes entre os Es-
tados (Lake, 2003, traduo nossa).
4. J a territorialidade noo derivada, mas diferente, do territrio ou espao
geogrfico que compe o Estado , deve ser entendida como as molduras na-
cionais e internacionais a partir das quais o territrio nacional vem assumindo
uma forma institucional (Sassen, 2001, traduo nossa). Destarte, territoria-
lidade pode ser, por exemplo, o princpio pelo qual membros de uma comu-
nidade so definidos (Stanford, 2010).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 23
Considerando o tradicional conceito poltico-jurdico de so-
berania em sua relao com os Estados modernos, bem como a
di ferenciao entre territrio e territorialidade, podemos, ento,
apresentar as duas principais correntes divergentes sobre os im-
pactos da globalizao. Se, para alguns, esta representou uma signi-
ficativa mudana que tornou necessrio um redirecionamento
dos estudos das relaes internacionais, para outros, a base do pen-
samento tradicional persiste.
A literatura sobre o assunto tende a denominar os dois grupos
de, respectivamente, globalistas e cticos. Essa diviso, no entanto,
refere-se construes de tipos ideais. Tipos ideais so instru-
mentos heursticos que ajudam a ordenar um campo de pesquisa e
a identificar as principais reas de consenso, bem como de disputa.
Nem a proposio ctica nem a globalista esgotam a complexidade
ou as sutilezas das interpretaes do fenmeno da globalizao
(Held & McGrew, 2007).
Assim, a maior preocupao com os emigrantes e suas comuni-
dades por parte dos Estados de origem, ocasionando certa dester-
ritorializao (Glick-Schiller, Basch & Szanton-Blanc, 1994) nos
pases de destino, constituiria um acontecimento novo, fruto da
nova fase da globalizao, em que aumentaram o volume e veloci-
dade com que as pessoas, mercadorias e ideias atravessam as divisas
internacionais, pois defende-se que essas mudanas quantitativas
esto operando grandes transformaes, de ordem qualitativa, na
territorialidade do poder poltico representadas pelo enfraqueci-
mento da soberania do Estado-nao, pelo declnio na sua capa-
cidade de controle dos fluxos que ocorrem em suas fronteiras e
pela desterritorializao implicando uma maior desvinculao
entre poder e lugar ou uma alterao na forma como o planeta orga-
niza-se politicamente (Fitzgerald, 2008).
Dentro do contexto mais amplo da perda da soberania do Es-
tado-nao, a tal desterritorializao desencaixe entre resi-
dncia em um territrio e o pertencimento a uma comunidade, ou o
desenlace entre cultura e geografia d-se medida que, com a
sada de nacionais de seu Estado para se estabelecerem no territrio
24 FERNANDA RAIS USHIJIMA
de outro, fortalecem-se os laos com o pas de origem por meio da
expanso de direitos e da massificao dos avanos tecnolgicos na
comunicao e no transporte.
A globalizao pode referir-se tanto a processos transnacio-
nais de larga escala, ocorrendo hoje a passos acelerados (Peterson,
2003), quanto ao movimento mais geral do mundo em direo
unicidade significando a unio do mundo como um nico espao
sociocultural (White & Robertson, 2003). Em ambos os enfo-
ques, ressalta-se o significado diminudo das fronteiras territo-
riais com a territorialidade constituindo, em grande parte da
histria humana, uma estratgia geogrfica de controle (White &
Robertson, 2003).
As discusses globalistas emergiram, mais propriamente, entre
as dcadas de 1960 e 1970, momento no qual se inicia uma acele-
rao do processo de globalizao econmica, em relao ao ps-
-Segunda Guerra Mundial, e se intensificaram a partir da dcada de
1990, com o colapso da Unio Sovitica. O surgimento dessa nova
etapa da globalizao levou vrios estudiosos a refletir sobre as
inadequaes das abordagens ortodoxas, para se pensar a poltica,
a economia e a cultura, as quais, por meio de modos excludentes de
distino
5
(Beck, 2000), presumiam uma separao entre questes
internas e externas, as arenas nacional e internacional, o local e o
global (Held & McGrew, 2007).
Para os globalistas, que se utilizam de distines inclusivas
6
(Beck, 2000), a autoexcluso dessas diferentes esferas torna-se im-
5. Os modos excludentes de distino seguem a lgica do ou-ou. Eles deli-
neiam o mundo como uma coordenao e subordinao de mundos separados,
nos quais identidades e pertencimentos so mutuamente exclusivos. Qual-
quer situao intermediria se torna um incidente passageiro (Beck, 2000,
traduo nossa).
6. Distines inclusivas, por outro lado, desenham uma figura bastante dife-
rente de ordem. Ficar entre as categorias, aqui, no se trata de uma exceo,
mas da regra. Uma vantagem das distines inclusivas que elas permitem
um conceito de fronteira mais mvel e cooperativo. Aqui, fronteiras no
nascem da excluso, mas de formas particularmente slidas de dupla in-
cluso. Algum, por exemplo, parte de um grande nmero de crculos e ,
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 25
possvel, uma vez que os processos globais, simultaneamente,
transcendem a territorialidade exclusiva do Estado nacional, e en-
contram-se implantados em territrio e instituies nacionais.
7
No se trataria de um deslocamento, para o global, das ordens local,
nacional ou regional, mas de uma imerso, cada vez maior, com a
diminuio do tempo e do espao, do local dentro de conjuntos
mais expansivos, densos, dinmicos e interdependentes
8
de rela-
es inter-regionais e redes de poder (Held & McGrew, 2007).
Mais do que um alargamento das relaes sociais atravs das
fronteiras, haveria uma verdadeira mudana do alcance espacial
9
destas, com a gerao de espaos sociais transnacionais (Pries,
2001). O fato de um processo acontecer dentro do territrio de um
Estado soberano no o caracterizaria, necessariamente, como na-
cional. Essa localizao do global e do no-nacional em territrios
nacionais no procederia mais, na medida em que
as naes, como compartimentos socioespaciais, tornaram-se,
cada vez mais, perfuradas. Por um lado, o Estado-nao e o ele-
mento social nacional so enfraquecidos de baixo, como resul-
tado do fortalecimento da autoridade local e microrregional. Por
outro, naes so enfraquecidas de cima, por meio do desenvol-
vimento de redes e federaes macrorregionais e globais. A sobre-
posio entre o espao geogrfico e o espao social no conceito de
sociedades como compartimentos nacionais desafiado no so-
por eles, circunscrito. Na abordagem das distines inclusivas, portanto,
fronteiras so concebidas e destacadas como padres mveis que facilitam
uma sobreposio de lealdades (Beck, 2000, traduo nossa).
7. Para Sassen (2001), em grande medida, processos globais materializam-se em
territrios nacionais, o que leva a uma necessidade de desregulao e de for-
mao de regimes que facilitem a livre circulao de capital, mercadorias, in-
formaes e servios.
8. A interdependncia, diferentemente de mera interconexo, existe onde h
reciprocidade, no necessariamente simtrica, nos custos dos efeitos das tran-
saes (Mariano & Mariano, 2008).
9. Alguns autores acreditam, inclusive, numa aniquilao do espao geogrfico
no que diz respeito s relaes sociais (Pries, 2001).
26 FERNANDA RAIS USHIJIMA
mente no mbito poltico, mas tambm pela globalizao cultural
e econmica. (Pries, 2001, traduo nossa)
A crescente imerso dos Estados em sistemas e redes de poder
globais e regionais, de carter social, poltico, econmico e cul-
tural, permeados por foras quase supranacionais, intergover-
namentais e transnacionais estaria fazendo com que, cada vez
menos, pudessem determinar seus prprios destinos.
O aprofundamento desse processo desafiaria os trs elementos
fundamentais do Estado moderno, a saber: a exclusiva territoria-
lidade, com a desnacionalizao parcial do territrio ou da criao
de espaos plurilocais e transnacionais, de modo a constituir uma
espcie de extraterritorialidade que afeta a soberania do Estado
10
(Robinson, 2009); a legitimidade, uma vez que o surgimento desses
espaos e o aumento da interdependncia trazem dificuldades ca-
pacidade estatal regulatria, e de efetivao das agendas doms-
ticas, forando os Estados a recorrerem cooperao internacional;
e a soberania estatal, com a transferncia de alguns de seus compo-
nentes (Held & McGrew, 2007).
No campo poltico, a necessidade da cooperao e da coor-
denao internacionais para administrar as consequncias de um
mundo mais globalizado, onde o controle das fronteiras e das ativi-
dades pelo Estado tornou-se mais difcil, teria sido acompanhada
de um crescimento de coletividades e organizaes internacionais
e transnacionais, que abrangem desde as Naes Unidas e suas
agncias especializadas at grupos internacionais de presso e mo-
vimentos sociais, e de uma explosiva proliferao de tratados inter-
nacionais em vigor e de regimes internacionais, bem como de redes
de atividades em importantes fruns internacionais. Essas trans-
formaes contribuiriam para a quebra da exclusiva territoriali-
dade ou da vinculao entre territrio e poder poltico, com o
10. Espaos como as cidades globais, as reparties diplomticas e consulares de
outros Estados e as zonas francas.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 27
surgimento de sistemas constitudos por vrias camadas de cida-
dania, sociedade civil, direitos e governana (Held & McGrew,
2007).
J para os cticos da globalizao, o prprio conceito de glo-
balizao problemtico. Ademais de ser, para eles, uma cons-
truo ideolgica, que ajuda a justificar e legitimar o projeto
neoliberal, o termo usado pelos globalistas sem qualquer especi-
ficao de referenciais especiais, o que impossibilita a distino do
nacional, regional, internacional, transnacional ou global. Se o
global no pode ser interpretado literalmente, ento o conceito
de globalizao, na viso dos cticos, torna-se to amplo que a sua
operacionalizao impossvel, e se configura como um veculo en-
ganoso para o entendimento do mundo contemporneo (Held &
McGrew, 2007).
Pregando a continuidade do primado do territrio, das fron-
teiras e dos governos nacionais para a distribuio e localizao do
poder, da produo e da riqueza na ordem mundial contempo-
rnea, os cticos acreditam que a conceituao das tendncias
atuais pode ser, mais validamente, capturada pelos termos inter-
nacionalizao e regionalizao (Held & McGrew, 2007).
A esfera internacional seria composta por Estados autnomos
e soberanos. A conformao da ordem de Estados independentes
teria acontecido de forma gradual no tempo. Em primeiro lugar, a
partir do marco normativo dos tratados de Vestflia de 1648 e de
sua plena articulao no fim do sculo XVIII e comeo do XIX,
quando os seguintes princpios se tornaram fundamentos da ordem
internacional moderna; a soberania territorial, a igualdade formal
dos Estados, a no interveno nos assuntos internos de outros Es-
tados e o consentimento estatal. Em segundo, no fim do sculo XX,
quando essa ordem consolidou-se verdadeiramente, com o trmino
de todos os grandes imprios o europeu, o americano e, final-
mente, o sovitico.
Ainda, a propagao de novas formas multilaterais de coorde-
nao e cooperao internacionais, e novos mecanismos regula-
28 FERNANDA RAIS USHIJIMA
trios internacionais, como o regime de direitos humanos, no
representariam um grande desafio para o poder do Estado. Eles
teriam sido, alis, apropriados, muitas vezes, como elementos de
reforo e suporte ao sistema moderno de Estados-nao (Held &
McGrew, 2007).
A moldura do Estado, assim, continuaria fundamental para
entender importantes processos. Segundo Waldinger & Fitzgerald
(2004), incluir-se-iam-se, nesses processos, as migraes interna-
cionais. Eles propem, portanto, uma abordagem alternativa ao
transnacionalismo, a qual enfatiza a interao entre migrantes, Es-
tados e sociedade civil, tanto nos pases de origem quanto nos de
residncia. Essa interao, em vez de desafiar a hegemonia dos
Estados e do capitalismo global, condicionaria as aes dos mi-
grantes.
Os Estados, tanto os de origem quanto os de residncia, suas
relaes com outros Estados, as polticas por eles conduzidas
dentro de suas fronteiras, bem como a cultura poltica dos atores da
sociedade civil, moldariam as opes de atuao dos migrantes. Ao
levar em considerao elementos de variabilidade temporal e local,
essa nova abordagem tende a realizar anlises mais contingentes e
historicamente matizadas (Waldinger & Fitzgerald, 2004).
Se, por um lado, as relaes dos pases de origem com seus emi-
grados mostram-se, em geral, positivas, por outro, nos pases de
imigrao, esse conjunto de polticas desenvolvidas pelos pases
de origem, vinculadas a uma poltica externa, so, muitas vezes,
malvistas. Um dos autores que apresenta esse descontentamento
Huntington (2005). Ele v o novo fenmeno, materializado
muitas vezes na dupla cidadania, como algo prejudicial e uma
ameaa identidade norte-americana, ao Estado soberano e de-
mocracia, uma vez que, em primeiro lugar, proporciona a formao
de comunidades transnacionais que mantm suas culturas pratica-
mente intactas e laos com o pas de origem, o que faz com que en-
viem a este dinheiro que poderia ser empregado nos Estados Unidos
e lhe possibilitem a interveno nos processos polticos de deciso;
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 29
em segundo, a dupla cidadania, contrariamente ao texto de lei,
concedida pela Suprema Corte, rgo formado por juzes no
eleitos; e, por ltimo, compromete, de certa forma, a vitalidade da
democracia, por passar, a cidadania, a ser vista no mais como uma
questo de identidade, mas de utilidade, e devido diminuio
da qualidade da participao (Huntington, 2005).
Como muitos pases de residncia adotam esse tipo de postura
(assimilacionista), os pases de origem, muitas vezes, encontram
dificuldades na implementao de polticas para os seus emigrantes
nos pases em que estes residem, pois tornam-se difceis a formu-
lao dos acordos de cooperao e de convnios, que poderiam pos-
sibilitar um maior acesso dos pases de origem e suas polticas aos
seus emigrantes.
Segundo os cticos, a incorporao de seus emigrantes por
parte do Estado de origem estaria dentro da normalidade, no con-
tribuindo, dessa forma, para a eliminao da territorialidade do
poder, uma vez que constituem as embaixadas e os consulados
como ilhas de soberania alheia, smbolos da fonte e do limite do
poder do Estado de origem sobre seus nacionais, segundo Ruggie
(1993) uma concesso por parte dos Estados com o intuito de lidar
com aquelas dimenses da existncia coletiva reconhecidas como
irredutivelmente transterritoriais por natureza e contornar, com
isso, o paradoxo da absoluta individuao. Em outras palavras,
as embaixadas e os consulados no tornam os pases de destino
desterritorializados, mas, ao contrrio, permitem a ampliao
da territorialidade do sistema de Estado-nao, ao esculpir cui-
dadosamente excees definidas para a regra geral da soberania
existente dentro de uma ampla (ou contnua) rea geogrfica
(Fitzgerald, 2008).
As reflexes anteriores, que apresentaram questionamentos
sobre a dupla cidadania, a nacionalidade, a soberania nacional e a
territorialidade, mostram que tais conceitos esto relacionados ao
desenvolvimento de uma poltica para os emigrantes. Porm, esse
tipo de poltica encontra seus limites no prprio Estado, que, apesar
30 FERNANDA RAIS USHIJIMA
de possuir autonomia dentro de seu territrio, encontra-se limitado
na projeo de seu poder para alm de suas fronteiras (sistema de
Vestflia). Como analisaremos a atuao do Estado brasileiro com
relao emigrao, torna-se mais condizente a escolha da perspec-
tiva ctica.
11
No primeiro captulo, A emigrao e o Estado brasileiro,
realizamos uma breve reconstruo histrica e contextual dos prin-
cipais fluxos de brasileiros para o exterior, seguida de uma reflexo
sobre o incio da poltica brasileira para os emigrantes, e o seu sur-
gimento como uma forma de poltica externa em direitos humanos.
O segundo captulo, O desenvolvimento das polticas brasi-
leiras para os emigrantes e seus descendentes, apresenta uma an-
lise das principais medidas que o Estado brasileiro adotou, no
perodo de 1990 a 2010, para tentar ampliar e aprimorar as ativi-
dades consulares tradicionais, bem como estender aos emigrantes
direitos civis, polticos, econmicos e sociais. Sero apresentadas:
I) as reformas burocrticas ocorridas no Ministrio das Relaes
Exteriores; II) aes para o conhecimento e participao dos brasi-
leiros no exterior; III) mudanas nos servios consulares e outras
medidas de apoio e cidadania; e IV) polticas de vinculao e trans-
ferncia de recursos. Na quarta parte do captulo, discutiremos
como as polticas para os emigrantes e seus descendentes podem
funcionar como uma poltica de Estado, a partir da qual se procura
criar e manter laos com o Brasil, bem como canalizar contribui-
es do exterior.
A promoo de direitos e de polticas de vinculao, como ve-
remos no terceiro captulo, Limites da poltica nacional para os
11. Enquanto o conceito de desterritorializao geralmente chama a ateno
para as mudanas histricas relacionadas influncia do territrio na organi-
zao da vida poltica, o fato de sugerir a dispensa da territorialidade elimina,
a priori, a compreenso de como a territorialidade do Estado vem sendo re-
configurada e estendida pelas tentativas dos Estados emissores de abarcar
e incluir seus emigrantes como importantes atores nas arenas poltica, legal e
econmica (Fitzgerald, 2008).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 31
emigrantes e seus descendentes, encontra-se limitada pela preva-
lncia do sistema de Vestflia e pelos parmetros estabelecidos na
Conveno de Viena de 1963. Particularmente no caso do Brasil,
esses limites so estreitados pelas prprias caractersticas das mi-
graes de brasileiros no exterior, que no formam uma dispora.
1
A EMIGRAO E O
ESTADO BRASILEIRO
As migraes internacionais, com o seu constante crescimento,
vm se constituindo em uma questo social no recente contexto in-
ternacional. De acordo com os dados disponibilizados pela Organi-
zao das Naes Unidas (ONU), em 1990, o nmero de migrantes
internacionais era de 155 milhes. Em dez anos, esse contingente
passou para 177 milhes (ONU, 2009). No ano de 2010, estima-se
que o nmero de migrantes internacionais tenha atingido a marca
de 215 milhes (World Bank, 2011). O impacto desses nmeros,
que representam 3% da populao mundial, sentido pela distri-
buio desigual das migraes entre os pases (Rogalski, 2011).
O aumento na escala vem acompanhado de uma alterao
tambm no destino desses fluxos. Se, at praticamente meados do
sculo passado, o fluxo que se destacava era aquele que partia dos
pases mais avanados com destino s novas economias capitalistas,
a partir dos anos 1970, percebemos a predominncia dos fluxos dos
pases mais pobres para os mais ricos, que, em 2005, chegou a con-
centrar cerca de 60% dos migrantes (ONU, 2009).
No obstante um dos principais objetivos das migraes inter-
nacionais continuar sendo a busca por novos trabalhos (OIT,
2010), a tendncia de estabelecimento, que antes era clara, mais re-
centemente perde-se num contexto de mobilidade e complexidade
34 FERNANDA RAIS USHIJIMA
muito maior dos fluxos (Graeme, 1998). As tentativas de expli-
cao dessas modalidades emergentes dos movimentos migratrios
so as mais diversas. A verdade que elas fazem parte do complexo
fenmeno da globalizao:
[] a migrao internacional j seguiu rotas mais estreitas e pre-
visveis de uma colnia para a metrpole, dentro de um circuito
lingustico, ou onde contratos bilaterais migratrios eram assi-
nados. Agora, mudanas na tecnologia, a ubiquidade e a cons-
cincia do transporte de massa revelaram novas destinaes para
os migrantes []. Na era da globalizao, pessoas inesperadas
aparecem nos lugares mais inesperados. (Cohen, 1997, traduo
nossa)
A exemplo disso, como poderemos observar, quando apresen-
tados com maiores detalhes o contexto recente das migraes e os
principais fluxos da emigrao brasileira, fica difcil adotar uma
nica explicao para as migraes cuja abrangncia e diversi-
ficao, com relao procedncia, etnia, faixa etria, ao gnero,
aumentaram sobremaneira , de modo que ela melhor aproxi-
mada por meio de consideraes de uma combinao de teorias,
dado que nenhuma em particular oferece uma explicao com-
preensvel e aceitvel por si s (Graeme, 1998).
Contraposto, muitas vezes, mundializao e empregado
abundantemente, de modo a compreender os mais diversos signifi-
cados, o termo globalizao denomina um processo destacada-
mente econmico, mas que desenvolve, simultaneamente, outros
processos autnomos, de natureza diferente, o que lhe confere o
carter de multifacetado (Cepal, 2002). Assim, a globalizao aglu-
tinaria tanto a prpria expanso do capitalismo, em sua busca por
uma crescente valorizao do capital, a reestruturao produtiva,
quanto seus consequentes efeitos sociais, muitos dos quais incalcu-
lados e at indesejados.
nesse sentido que se verifica uma liberalizao econmica
sem precedentes, ao mesmo tempo que se impem barreiras en-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 35
trada de migrantes menos qualificados nos pases mais prsperos
(Sassen, 1998). Os problemas mais significativos da globalizao,
relacionados com o seu dficit em matria de governabilidade e
com o seu carter desigual quanto aos atores participantes (Cepal,
2002), seriam a crise financeira, o estancamento do processo de
desenvolvimento, o excedente de mo de obra crescente, a pobreza,
a ausncia de perspectiva de mobilidade social, os quais, como
elementos propulsores crnicos, estimulam de forma constante a
migrao (Patarra, 2008).
O Brasil se insere nesse novo contexto migratrio, suposta-
mente, entre o final da dcada de 1970 e o incio dos anos 1980,
um ciclo cuja principal causa pode estar associada instabilidade
econmica da dcada de 1980 e consequente perda do poder aqui-
sitivo das pessoas (Oliveira, 2008). Alm dos motivos mais pro-
priamente relativos globalizao, o prprio processo imigratrio
em nosso pas tambm constitui uma dimenso importante na de-
ciso de emigrar (Patarra, 2008), pois alguns pases que, no pas-
sado, presenciaram a sada de nacionais, demonstram interesse na
criao de vnculos, a partir do exterior, com os descendentes de
seus emigrantes, facilitando a aquisio da cidadania, ou desenvol-
vendo polticas especficas para eles.
1
1.1 O Brasil das emigraes
O passado imigratrio do Brasil deve ser levado em conta para
entender importantes fluxos de brasileiros para o exterior. No en-
tanto, as emigraes de brasileiros ultrapassam a simples ideia de
reverso de fluxos e, como veremos, s podem ser compreendidas,
de fato, quando inseridas no contexto da globalizao.
1. Na verdade, o objetivo de tais pases no seria atrair imigrantes para o seu
territrio, mas estimular a permanncia dos laos com nacionais e seus des-
cendentes a partir do exterior. Da verificarmos uma poltica imigratria bas-
tante restritiva por parte desses pases.
36 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Os fluxos de sada registrados at o incio da dcada de 1980
no configuravam uma questo social. Compunham-se de imi-
grantes estrangeiros que retornavam s suas reas de origem ou iam
para outros pases latino-americanos, alm de estudantes brasi-
leiros, profissionais e outros casos isolados. Sua expressividade nu-
mrica era pequena, de modo que, at tal data, os demgrafos
trabalhavam os dados populacionais considerando a populao
brasileira como uma populao fechada, movia-se apenas pelos n-
veis de mortalidade ou fecundidade (Patarra & Baeninger, 1995).
Nas ltimas dcadas do sculo XX, os fluxos migratrios do
Brasil ganham corpo e se tornam constantes. Eles passam a se in-
serir numa dinmica crescente e diversificada, predominante de
pases pobres para pases ricos, relacionada a transformaes na
dinmica recente do capitalismo, caracterizada pela globalizao
da produo, que se apoia na flexibilidade dos processos de tra-
balho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padres de
consumo (Patarra & Baeninger, 1995).
Patarra & Baeninger (1995), ao citarem Sassen, atribuem a esse
processo de reestruturao produtiva os resultados a seguir, os
quais, segundo as autoras, tm implicaes e contribuem para
os novos fluxos de imigrao: a) aumento da competitividade entre
localidades, configurando as cidades globais; b) desconcentrao
industrial mundial, a partir de um processo que se d tanto dentro
dos pases como fora deles (acumulao flexvel); c) desenvolvi-
mento de setores e servios avanados (consultorias, marketing,
funes de controle, planejamento, setor financeiro), os quais ab-
sorvem uma fora de trabalhos no qualificados que Piore
(1979) classifica como mercado secundrio de trabalho, onde geral-
mente os imigrantes so absorvidos;
2
e d) reorganizao no fun-
cionamento das empresas, com a terceirizao de grande parte da
produo (empresas enxutas).
2. As autoras se referem obra de Piore, 1979.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 37
Os setores e os servios avanados tendem a se localizar nas
cidades globais. possvel perceber importantes fluxos migrat-
rios internacionais em sua direo. Elas se caracterizam por se con-
centrarem nos pases do hemisfrio norte e por serem, de uma s
vez ou no, sedes das grandes empresas transnacionais, centros fi-
nanceiros ou centros nacionais, chave de atividade econmica
(Cohen, 1997). No entanto, em virtude da desconcentrao in-
terna e em razo de haver outros fatores envolvidos, tambm se
encontram migrantes em outras localidades. De uma forma ou de
outra, esse grupo ocupa postos denominados secundrios.
Referen tes ao setor de servios, o surgimento da demanda por mo
de obra migrante relaciona-se necessidade de sua prestao local,
ao desmonte progressivo de servios pblicos, concentrao de
renda e demanda, das camadas de poder aquisitivo crescente,
por mais servios pessoais, diretamente ou por intermdio de pe-
quenas empresas como clnicas, restaurantes, lavanderias, txis,
engraxates e outras (Klagsbrunn, 1996). J o emprego de mi-
grantes em indstrias de menor porte, como se verifica no caso do
Japo, explica-se mediante o processo de terceirizao, por parte
das grandes empresas, de atividades que exigem um maior nmero
de mo de obra.
O setor secundrio, dentro da nova configurao econmica,
constitui um segmento do mercado de trabalho cuja desvalorizao
diante do setor primrio, em propores nunca antes vistas, faz
com que opere, de algum modo, na informalidade (Sassen, 1998).
A escassez de mo de obra no setor secundrio no se d exclusi-
vamente por falta de pessoas para exercer determinadas atividades,
mas de uma resistncia dos nativos, pois se tratam de cargos so-
cial e culturalmente estigmatizados, ou porque, historicamente,
eram ocupados pelas migraes passadas, ou por no possurem
perspectiva de ascenso, serem pesados, de baixa remunerao e
qualificao (Portes, 1997).
Existente j na produo de massa que caracterizou o sistema
fordista no perodo do ps-Segunda Guerra Mundial, o emprego
38 FERNANDA RAIS USHIJIMA
no mercado de trabalho secundrio tende a apurar suas caracte-
rsticas de instabilidade e insegurana, no perodo recente de flexi-
bilizao do mercado de trabalho. A presena de trabalhadores
migrantes no segmento secundrio do mercado de trabalho, sobre-
tudo dos imigrantes clandestinos, decorre de uma caracterstica
estrutural do capitalismo em suas atuais carncias de mo de obra,
na qual os trabalhadores part time numa palavra, o setor informal
moderno seriam a expresso mais contundente dessa flexibi-
lizao (Sales, 1995).
Assim, o contexto da migrao internacional recente, no qual o
Brasil inseriu-se somente na ltima etapa, possui razes na inter-
nacionalizao da economia observada no perodo ps-Segunda
Guerra Mundial, bem como com a diviso mais marcada do mundo
entre pases ricos e pobres. J no referido perodo, os seguintes
fatores contriburam para dar um carter distinto s marcas his-
tricas do desenvolvimento do capitalismo mundial: a transfor-
mao das antigas colnias em pases independentes; a criao de
rgos de frum internacional, com destaque para a Organizao
das Naes Unidas (ONU); e o desenvolvimento acelerado dos
meios de comunicao (Sales, 1992).
De uma perspectiva mais ampla, no somente o novo contexto
da globalizao apresentado explica a complexidade dos fluxos mi-
gratrios, mas os vrios tipos e graus de intervenes ou relaes
econmicas, polticas e culturais, passadas e presentes (Sassen,
1998). Assim, por exemplo, a desconcentrao industrial externa
ou os investimentos estrangeiros diretos, bem como a internaciona-
lizao dos produtos culturais dos pases avanados, alm de ocu-
paes e imposies ajudaram e ainda ajudam, diretamente ou
no, em maior ou menor grau, a construir os fluxos. Quanto s di-
ferenas de contexto, cabe observar que as influncias, no ce-
nrio mais recente, do-se a partir de uma nova configurao
assimtrica no ps-Guerra Fria, tanto do ponto de vista do capital
quanto do ponto de vista dos Estados; e dentro de um espao-
-tempo diminudo, de um lado, pela reduo dos custos e pelo de-
senvolvimento de novos meios de transporte, e, de outro, pela
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 39
possibilidade de transmisso de informao em tempo real
(Cepal, 2002).
A revoluo nas comunicaes e nos transportes facilitou a
crescente conexo global e reduziu as distncias entre as diferentes
partes do mundo. Por um lado, a revoluo nas comunicaes re-
forou as razes para se migrar, ao fazer que as pessoas tomassem
conscincia das disparidades existentes, de como seria a vida em
outras partes do mundo, e ao permitir que elas ficassem sabendo de
oportunidades para se mudar e trabalhar fora de seu pas. Por
outro, a revoluo nos meios de transporte tornou a migrao uma
experincia mais vivel (Koser, 2007).
Na presente fase da globalizao, verificamos, por um lado, um
espao mais institucionalizado, integrado no mbito regional,
aberto e propcio s intervenes ou relaes; e, por outro, uma
tentativa de controle de algumas de suas consequncias, dentre elas,
as migraes. liberalizao dos fluxos financeiros, bens e infor-
maes, os quais cruzam as fronteiras nacionais em volumes nunca
antes verificados, contrapem-se as barreiras impostas pelas eco-
nomias mais desenvolvidas aos fluxos migratrios provenientes,
especialmente, dos pases menos desenvolvidos.
As intervenes ocorrem num contexto e podem se dar por
uma conjuno de foras e ter, ao mesmo tempo, diversos impactos.
Portes (1997) apresenta uma elucidativa e importante relao de
interveno econmica e cultural. Ao abordar os efeitos do pro-
cesso de globalizao no suplemento de potenciais imigrantes, o
autor atenta para o fato de que o direcionamento de capital multi-
nacional para expandir mercados na periferia (no somente na
forma de investimento estrangeiro direto) e, simultaneamente, tirar
vantagem de seu reservatrio de mo de obra, tem acarretado uma
srie de consequncias sociais. Dentre essas consequncias, ele
destaca a remodelagem da cultura popular, com base em formas
externas e formas de arte e a introduo de padres de consumo que
no condizem com os nveis de salrio locais. Tal processo, segundo
Portes (1997), simultaneamente, pr-socializa futuros migrantes
no que esperar de suas vidas l fora e os impele a se movimentar na
40 FERNANDA RAIS USHIJIMA
direo contra o crescente distanciamento entre as realidades locais
e as aspiraes de consumo importadas.
O desemprego, crises econmicas cclicas, a estagnao, a desi-
gualdade e a pobreza, alm da histria colonial, do compartilha-
mento da mesma lngua (Haiti e Qubec) (Salama, 2010) e de
aspectos demogrficos e geogrficos, contribuem para a mobili-
dade humana (ONU, 2004), todavia, so insuficientes para com-
preender a dinamicidade, a persistncia e a diversidade dos fluxos
migratrios contemporneos. Afinal de contas, a estagnao do
crescimento generalizada e as crises causam impacto em mbito
mundial; no necessariamente os mais pobres ou desempregados
migram (Koser, 2007), ou, se migram, isso no se d exclusivamen te
durante uma conjuntura econmica desfavorvel. Os fluxos podem
provir ainda dos lugares mais longnquos e aparecer mesmo em
momentos em que se constata crescimento demogrfico (Sales,
1996). nesse sentido e na medida em que os movimentos migra-
trios no se do de maneira natural, mas so construdos social-
mente (Sassen, 1998), que afirmaes como aquela mencionada
anteriormente nos auxiliam na compreenso das dinmicas.
Fatores conjunturais agem com os estruturais e podem ter
maior ou menor peso, dependendo da situao. Verificamos o peso
da questo geogrfica pela existncia de migrao fronteiria ou
entre vizinhos.
3
Vale ressaltar que a proximidade fsica, no entanto,
vem se tornando menos importante, mas no em todos os casos.
Enquanto a Espanha tem-se transformado, cada vez mais, num
destino para os fluxos da Amrica Latina e o destino dos migrantes
do Leste Asitico e do Pacfico so os pases distantes da Organi-
zao para a Cooperao e o Desenvolvimento Econmico (OCDE),
os migrantes do Sul Asitico deslocam-se sobretudo dentro de sua
prpria regio (Salama, 2010).
3. Em outras palavras: muitos fatores explicam a distribuio por regio de
origem. A proximidade geogrfica especialmente importante quando
existem diferenas significativas de renda entre pases vizinhos, de origem e
de residncia (OECD, 2010).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 41
Anlises sobre a migrao e as polticas migratrias vm ten-
dendo a ignorar a existncia dos Estados, sem prestar a adequada
ateno para a necessidade de Estados territoriais de distinguir
entre diferentes populaes, ou para o modo como as atividades dos
Estados, especialmente a guerra e ou a construo do Estado (state-
building), resultam em movimentao populacional (Torpey, 2003,
traduo nossa). Assim, por mais que possam estar representando
interesses econmicos particulares, no possuam total controle de
suas fronteiras e sejam, de certa forma, subordinados a instituies
e organizaes internacionais, muitos fluxos no podem ser com-
preendidos sem a atuao dos Estados. Afinal de contas, como
Sassen (1998) colocou, ainda lhes atribudo papel importante na
regulao migratria.
Exemplos da influncia dos Estados no fluxo seriam os im-
pactos dos programas semelhantes aos Guest Work Programs ou ao
Bracero Program. Vale observar ainda que outras polticas, tambm
conduzidas pelos Estados, mesmo no sendo polticas migratrias
stricto sensu, podem repercutir na dinmica da migrao interna-
cional: a poltica cambial, ao intervir na convertibilidade da moeda
nacional; a trabalhista, ao exercer influncia sobre as con dies de
contratao da fora de trabalho; a de direitos humanos, ao influir
no tratamento de minorias e grupos desfavorecidos, para citar as
principais (Sprandel & Neto, 2009).
Estritas restries por parte dos Estados com relao entrada
de imigrantes no tm evitado por completo os fluxos, mas tm
feito com que surjam agentes intermedirios. Esses agentes
operam na ilegalidade e so, em regra, familiares, amigos ou conhe-
cidos que se estabeleceram antes no pas para o qual se deseja mi-
grar. Entretanto, eles podem tambm operar na legalidade, como
se verifica na migrao de nikkeis (ou nikkeijin)
4
brasileiros para o
Japo. Os agentes intermedirios, no ltimo caso, constituem em-
presas e empreiteiras que providenciam os recursos e as infor-
4. O termo nikkei refere-se queles que possuem ascendncia japonesa.
42 FERNANDA RAIS USHIJIMA
maes necessrias para a travessia da fronteira e a adaptao na
destinao (Higuchi & Tanno, 2003, traduo nossa). Como bem
observa Graeme (1998), os agentes intermedirios, enquanto im-
portantes na explicao da imigrao legal, tornam-se fundamen-
tais para a anlise de muitas das migraes irregulares, dado o
maior risco envolvido nas ltimas.
Se, dentre os fatores previamente citados, os investimentos
estrangeiros nas relaes de produo preexistentes e os programas
especialmente criados para atrair imigrantes de outros pases so
muito relevantes para explicar vrios dos mais importantes fluxos
de migraes internacionais (Sales, 1996), eles, todavia, concen-
traram-se num espao determinado e em perodo prvio entrada
do Brasil no circuito das migraes internacionais. No que esses
fatores no operem mais ou no sirvam para o caso brasileiro, pois
possvel situar algo, que no chega a se constituir em nada se-
melhante em propores e institucionalidade aos Guest Work
Programs ou ao Bracero Program, mas que reflete uma busca in-
tencionada de imigrantes estrangeiros para a expanso do mercado
de trabalho japons, para citar um exemplo recente e importante
da emigrao de brasileiros para o estrangeiro. possvel tambm
observar que a emigrao do Brasil para os Estados Unidos ou
para vrios pases europeus foi antecedida por relaes de investi-
mentos industriais e de comrcio com aqueles pases. Mas nada
que se assemelhe ao quadro apresentado por alguns estudiosos em
relao a pases que tm vnculos de diferente natureza com os
pases receptores de seus migrantes. (Sales, 1996)
Assim, apesar de no podermos desconsider-los, devemos re-
lativizar o seu impacto com relao aos fluxos originrios de outros
locais e que ocorreram posteriormente ao perodo compreendido
entre as dcadas de 1940 e 1970. No Brasil, alm de a experincia
das zonas de processamento para exportao no ter sido uma expe-
rincia bem-sucedida, no tendo, portanto, qualquer efeito em
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 43
termos de migraes para o exterior; os movimentos migratrios
induzidos pelas consequncias disruptivas nas relaes de pro-
duo pela expanso das modernas atividades econmicas, deram-
-se mais propriamente dentro das fronteiras de nosso territrio ou,
no mximo, estenderam-se aos pases vizinhos, em virtude de suas
polticas governamentais favorveis. As dimenses continentais do
pas, junto com as grandes defasagens de desenvolvimento re-
gional, foram, possivelmente, fatores muito importantes para de-
sencadear os grandes movimentos de migraes internas que se
verificaram no pas, principalmente a partir dos anos 1950 (Sales,
1996).
As reflexes anteriores nos auxiliam no estudo das migraes
internacionais, mas, como nem todos os fluxos se destinam s ci-
dades globais, podem ser explicados a partir de intensas relaes
estabelecidas entre os Estados; a histria de cada pas, bem como os
diferentes fluxos que deles partem, devem ser avaliados mais espe-
cificamente. Aqui, trataremos somente dos principais fluxos origi-
nados do Brasil, e de forma introdutria. Quando formos abordar,
em particular, as polticas desenvolvidas para os emigrantes e seus
descendentes, traremos mais detalhes desses fluxos e tambm con-
sideraremos outros, menos vultosos, que se destacam, entretanto,
pelos problemas enfrentados no pas de residncia.
Na metade da dcada de 1980, em meio a uma crise econmica,
os brasileiros comearam a emigrar em grande nmero (Sales, 1999).
Segundo o relatrio final da Comisso Parlamentar Mista de Inqu-
rito da Emigrao (CPMI da Emigrao), aprovado em 2006, j havia
no exterior, no ano de 1987, cerca de 1,25 milho de emigrantes.
Precedida pelo milagre econmico dos anos 1970 e caracteri-
zada por um perodo de desiluses ante as expectativas surgidas
com o processo de redemocratizao e s promessas de soluo da
crise vigente, a conjuntura econmica da dcada perdida teve um
papel fundamental na transformao supramencionada (Sales,
2005):
44 FERNANDA RAIS USHIJIMA
A chamada dcada perdida foi na verdade muito mais do que uma
poca de recesso econmica. Nela a sociedade brasileira se mo-
bilizou e criou esperanas. O pas se redemocratizou, segmentos
da sociedade se organizaram politicamente, partidos e movi-
mentos sociais foram criados, o povo foi s ruas para exigir elei-
es diretas para presidente, voltamos a exercer o direito do voto
para eleger o presidente do Brasil. A inflao, o desemprego e a
recesso no vieram sozinhos, mas junto com muitas perspectivas
promissoras e at o vislumbre de sadas com o Plano Cruzado ou
com as promessas polticas que se renovavam a cada eleio e a
cada fator de mobilizao popular. O fator poltico teve, portanto,
um peso na balana dessas migraes internacionais brasileiras, se
se considera as esperanas e frustraes dos primeiros anos de
nossa redemocratizao. (Sales, 2005)
Os ingredientes econmicos da crise, em particular a inflao,
arrastou-se pela dcada de 1990 (Sales, 1996), at que, a partir de
julho de 1994, com a adoo do Plano Real como nova estratgia
de desenvolvimento, calcada no combate ao dficit pblico e a
uma maior interveno estatal, consegue-se controlar a inflao.
Acontece que, mesmo dentro de um quadro econmico interno
mais estvel, os movimentos de partida persistiram, inseridos na
reestruturao produtiva em nvel mundial (Patarra, 2008).
Em 2010, a estimativa da populao brasileira residente no ex-
terior era de 3,1 milhes de pessoas, sendo que a distribuio dessa
populao em todo o mundo era de: 1,4 milho (45,89%) na Am-
rica do Norte; 400 mil (13,03%) na Amrica do Sul; 6,8 mil (0,22%)
na Amrica Central; 912 mil (29,2%) na Europa; 29 mil (0,92%) na
frica; 40,5 mil (1,3%) no Oriente Mdio; 241,6 mil (7,74%)
na sia; e 53 mil (1,7%) na Oceania (Ministrio das Relaes Exte-
riores, 2011). No Apndice B, apresentamos estimativas completas
dessa populao para os anos de 2008 e 2010, elaboradas pelo Mi-
nistrio das Relaes Exteriores (2008, 2011). Os fluxos para essas
principais reas de assentamento possuem caractersticas diferen-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 45
ciadas, como demonstraremos a seguir, o que torna o fenmeno da
emigrao brasileira ainda mais complexo. Apresentaremos um
histrico dos fluxos e algumas caractersticas da populao brasi-
leira residente no Paraguai, que concentra 6,4% dos nacionais re-
sidentes no exterior, nos Estados Unidos (44,45%), na Europa
(29,2%) e no Japo (7,38%).
5
1.1.1 Os fluxos Brasil-Paraguai
Os brasileiros que vivem no Paraguai foram incorporados s
categorias brasileiros no exterior e emigrao brasileira,
criadas na dcada de 1990, quando milhares de brasileiros deixam
o pas em busca de trabalho no Hemisfrio Norte. Se os fluxos
Brasil-Paraguai guardam relao com a expanso capitalista, num
sentido mais amplo, e podem ser explicados tambm a partir de
aes interventivas, torna-se complicado consider-los como
parte das novas dinmicas. As diferenas bsicas entre seus des-
locamentos populacionais e aqueles realizados para os Estados
Unidos, Europa e Japo e outros pases do alm-mar so as se-
guintes: a) os fluxos Brasil-Paraguai antecederam os demais fluxos;
b) caracterizam-se como tpicos movimentos migratrios de fron-
teira; e c) so compostos majoritariamente por agricultores ou pes-
soas que realizam atividades acessrias ao mundo campons
(Sprandel, 2006). O Ministrio das Relaes Exteriores (2011) es-
timou uma populao de 200 mil brasileiros residentes no Paraguai
no ano de 2010.
A aproximao entre Brasil e Paraguai, aps a Guerra da Tr-
plice Aliana (1870) deu-se gradativamente, a partir da dcada de
1930, perodo em que o Brasil passou a buscar, mais ativamente,
um papel de destaque na Amrica do Sul. O aprofundamento da
poltica de cooperao entre os dois pases tanto faz parte, mais in-
5. Mais de 80% dos brasileiros no exterior se encontram em pases mais desen-
volvidos.
46 FERNANDA RAIS USHIJIMA
diretamente, de um maior esforo de coordenao entre os pases
da Amrica Latina e de integrao na Amrica do Sul, quanto, so-
bretudo, da estratgia brasileira para aumentar sua influncia na
regio por meio de um reequilbrio dos pesos econmicos e pol-
ticos com a Argentina, que exercia, na poca, maior hegemonia
sobre os pases vizinhos, particularmente sobre o Paraguai e o Uru-
guai (Cervo, 2001).
Com a ascenso do general Stroessner, em 1954, presidncia
do Paraguai, deu-se incio a uma maior cooperao com o Brasil,
em detrimento da Argentina. No perodo, o Paraguai buscava
maior autonomia ante a tradicional dependncia poltica e econ-
mica com relao ao governo da Casa Rosada. Nesse contexto, a
intensificao das relaes com o Brasil poderia significar tanto
uma ampliao expressiva do mercado externo do Paraguai quanto
garantir uma via alternativa de escoamento dos produtos para-
guaios para alm do continente por intermdio dos portos brasi-
leiros (Cervo, 2001).
Essa nova postura por parte do Brasil e do Paraguai, depois de
um perodo turbulento na histria entre os dois pases, foi impor-
tante para o incio das migraes, no somente sob um aspecto mais
econmico, mas tambm cultural e poltico. Historicamente, os
fluxos para o Paraguai do-se, basicamente, em duas fases: dcadas
de 1950 e 1970 (Sales, 1996), e esto relacionados a uma poltica
migratria mais favorvel do regime do general Stroessner (1954-
-1989), como parte de uma aproximao de ndole geopoltica com
o Brasil, e de um plano colonizatrio e modernizador da economia
do Paraguai (Congresso Nacional, 2006).
O Paraguai, no incio dos anos 1950, possua poucas opes
produtivas: a agricultura nacional era marcada pela subsistncia, a
indstria e o comrcio eram precrios, alm de possuir pouca inte-
grao com seus pases vizinhos. No que diz respeito, mais pro-
priamente, ao desenvolvimento de sua economia, o foco se deu na
agricultura. Com a existncia de extensas reas improdutivas, era
necessrio, em primeiro lugar, viabilizar o seu cultivo (Congresso
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 47
Nacional, 2006). Os migrantes que prepararam as terras para a efe-
tiva penetrao do capital foram, posteriormente, alijados do pro-
cesso produtivo paraguaio, e passaram a engrossar o movimento de
retorno nos anos 1980 e as filas do Movimento Sem Terra (MST)
(Sales, 1996).
Paralelamente ao incentivo imigrao, foram adotadas me-
didas estruturantes derivadas de uma noo mais integradora de
fronteira, e da opo do Paraguai por uma aproximao com o
Brasil , dentre as quais destacamos: a) a fundao, em 1957, da
Ciudad del Este, originalmente chamada Puerto Flor de Lis e de-
pois Puerto Presidente Alfred Stroessner; b) a construo da ro-
dovia ligando Assuno ao Brasil; e c) a edificao, em 1965, da
Ponte da Amizade, entre Foz do Iguau e Ciudad del Este. Veri-
ficamos, ainda, por parte do Brasil: a) a concesso da rea para a
exportao e importao de produtos paraguaios no Porto de Para-
nagu, localizado no Estado do Paran (1956); e b) o estmulo ao
projeto da Hidreltrica de Itaipu Binacional, a partir de 1973 (Con-
gresso Nacional, 2006).
A mudana de postura do Brasil e do Paraguai, alm da efetiva
aproximao dos pases, contribuiu, de forma geral, para a emi-
grao de brasileiros. Assim, no somente a poltica de incentivo
explica os fluxos, mas tambm os deslocamentos populacionais
para a construo de Itaipu e a intensificao do comrcio frontei-
rio nas ltimas dcadas, quando o Paraguai baixa seus impostos
de importao para vrias nomenclaturas (Congresso Nacional,
2006).
Na segunda fase da busca do Paraguai por desenvolver seu
mercado agrrio exportador, a qual se deu a partir da dcada de
1970, o alvo do governo paraguaio deixam de ser trabalhadores
emigrantes braais sem tradio como proprietrios no Brasil e
acostumados com agricultura no mecanizada. As novas medidas
para tanto incluam as ofertas: de terras de excelente qualidade a
preos baixos, de incentivos agrcolas e crditos em longo prazo do
Banco Nacional de Fomento do Paraguai, e a no proibio de
48 FERNANDA RAIS USHIJIMA
venda a estrangeiro de terras em zona fronteiria (Congresso Na-
cional, 2006). O objetivo do general Stroessner era desenvolver a
fronteira oriental, regio de baixa densidade populacional (Sou-
chaud, 2011).
Ao mesmo tempo, no Brasil, entre as dcadas de 1970 e 1980, o
fato de suas polticas agrrias terem facilitado o desenvolvimento
de um mercado de terras agrcolas e, com ele, a entrada de grandes
grupos e empresas na agricultura brasileira, em detrimento, justa-
mente, da pequena produo familiar, desencadeou um processo
de valorizao de terras, o qual fez que proprietrios rurais ou em-
presrios agrcolas, procura de terras mais acessveis para pro-
duo ou especulao, e trabalhadores rurais ou pequenos
proprietrios que foram desapropriados pelo processo de moderni-
zao e tecnificao da agricultura, atravessassem as fronteiras
nacionais rumo ao pas vizinho (Sales, 1996).
Podemos afirmar que, recentemente, mesmo na ausncia de
uma poltica migratria do Paraguai para atrair brasileiros e at
diante de dificuldades relacionadas sua permanncia, o fluxo de
brasileiros persiste, em virtude da fundao,
nos pases de recepo, de verdadeiras subpopulaes com lgicas
prprias de reproduo, que, por sua vez, podem transformar-se
em focos de emigrao com destino principal ao pas de origem. A
bipolarizao do fluxo , neste caso, estrutural e permite inter-
cmbios entre pases fronteirios que podem ultrapassar os even-
tuais obstculos institucionais (polticas migratrias restritivas) e
as conjunturas econmicas (perodos de recesso). (Picouet, 1995,
traduo nossa)
de se observar, tambm, que a emigrao brasileira se en-
contra diversificada. Numa franja considervel do territrio para-
guaio, compreendida entre os rios Paran e Caaguaz, chegou a se
instituir uma brasilianizao econmica e cultural da comu-
nidade paraguaia, consolidando-se uma integrao subordinada
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 49
entre os dois pases, mediante a sujeio paraguaia s pautas cul-
turais brasileiras; j na regio oriental do Paraguai, onde vive 96%
da populao, convivem diferentes grupos sociais, tratando-se de
uma interface poltica, econmica e cultural com uma cultura pr-
pria, a cultura de fronteira, gerada a partir de uma exposio conti-
nuada a valores do estrangeiro (no caso, Argentina e Brasil
principalmente); e, na sociedade fronteiria, por sua vez, exis-
tiriam migrantes de curta distncia e durao, os itinerantes pro-
priamente, alm dos residentes permanentes em vilas e cidades
fronteirias, aos quais se integram o trabalhador binacional, o con-
sumidor binacional e o estudante binacional
6
(Sales, 1996).
O crescimento da importncia e do volume da populao bra-
sileira no Paraguai, com a presena de um nmero considervel de
pessoas em situao de irregularidade, alm da crtica legiti-
midade da expanso agrcola relacionada aos problemas com a
sua documentao e expulso e marginalizao de pequenos agri-
cultores paraguaios e populaes indgenas , bem como aos danos
ambientais causados por essa atividade, resultaram numa relao
conflituosa entre brasileiros e paraguaios, nos termos relatados
pela CPMI da Emigrao:
H vrios incidentes no campo, incluindo queima de plantaes e
furto de casas de brasileiros. O conflito agrrio no restrito aos
brasileiros, pois se estende tambm a latifundirios paraguaios,
6. Antes, praticamente concentrados nos departamentos do leste (Alto Paran,
Canindey, Amambay e Concepcin), os brasileiros, com a expanso do
desen volvimento urbano no Paraguai, foram se fixando em Caaguaz, Caa-
zap, Central e at setores do Chaco perifrico e central. A composio ori-
ginal de trabalhadores rurais, grandes e pequenos proprietrios de terra ,
tambm veio se diversificando, de modo que possvel encontrar empre-
srios, empregadas domsticas, operrios da construo civil, jovens fun-
cionrios do setor comercial, tcnicos, etc. (Souchaud, 2011). Devemos
mencionar que, passados mais de trinta anos do incio da migrao, parcela
dos brasileiros e de seus descendentes reivindica seu pertencimento ao Estado
paraguaio.
50 FERNANDA RAIS USHIJIMA
principalmente os militares favorecidos por Stroessner, e a outros
estrangeiros. Com brasileiros, entretanto, existem conflitos espe-
cficos, como os relacionados aos danos ambientais provocados
pelo uso do solo, ao confronto poltico com prefeitos brasileiros e a
tenses com a polcia local. (Congresso Nacional, 2006)
1.1.2 Os fluxos para os Estados Unidos
Diferentemente do caso do Paraguai, o fluxo de brasileiros para
os Estados Unidos prioritariamente urbano; possui um grau de
escolaridade mais elevado;
7
inicia-se na conjuntura da crise econ-
mica da dcada de 1980;
8
e se insere no entendimento das migra-
es internacionais recentes, contextualizadas a partir de processos
macroestruturais de reestruturao produtiva e no contexto inter-
nacional da atual etapa da globalizao (Patarra, 2006). Em 2010,
a populao brasileira residente nos Estados Unidos era estimada
em 1,4 milho, e representava 44,45% dos brasileiros no exterior
(Ministrio das Relaes Exteriores, 2011).
Alm dos fatores que consideramos, previamente, de maneira
genrica, devemos ainda levar em conta que, em primeiro lugar, os
Estados Unidos so a nao mais rica do mundo; em segundo, pos-
suem uma tradio em imigrao (da ser chamado muitas vezes de
nao de imigrantes), sendo o pas que mais recebe imigrantes;
9
e, terceiro, ocupam uma posio hegemnica no cenrio interna-
7. O grau de escolaridade entre os brasileiros relativamente alto, em compa-
rao com a populao nativa e, especialmente, com os demais imigrantes
(Lima, 2009).
8. At 1980, a maioria dos brasileiros que chegava aos Estados Unidos era tu-
rista. Apesar de o primeiro migrante brasileiro ter entrado no pas em 1954,
a contribuio do Brasil ao total de imigrantes somente comeou a crescer a
partir da crise econmica brasileira da dcada de 1980 (Goza, 1992).
9. Seriam 42,8 milhes ou 13,5% da populao, segundo dados de 2010 do Banco
Mundial (World Bank, 2011).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 51
cional. O ltimo fator est relacionado tambm ao fato de os Es-
tados Unidos serem o grande centro do poder simblico mundial,
a partir de sua megaindstria de entretenimento; e por meio da
produo e do controle das informaes pelas grandes agncias
de notcias, as quais jogam um papel decisivo na construo dos
valores e das vises de mundo (Congresso Nacional, 2006). Tudo
isso fez com que os Estados Unidos, desde o incio do movimento
de brasileiros rumo aos pases desenvolvidos, sempre se configu-
rassem como pas de maior atrao (Patarra, 2008).
Apesar das caractersticas mencionadas, os Estados Unidos
vm adotando polticas migratrias bastante restritivas no que diz
respeito entrada de trabalhadores pouco ou nada qualificados em
seu territrio. Tais polticas, que tomaram corpo a partir da se-
gunda metade da dcada de 1980, se intensificaram aps os eventos
terroristas de 11 de setembro de 2001 (Mitchell, 2002; Monteiro,
1997; Reis, 2006; Oliveira, 2007). Entretanto, elas no vm se de-
monstrando totalmente eficazes.
10
Recentemente, cerca de 64% da
migrao de brasileiros no pas administrativamente irregular
(Marinucci, 2007).
A restrio interna na sociedade americana aumentou a partir,
sobretudo, do afluxo em massa do imigrante mexicano, estimu-
lado pelo estabelecimento do Bracero Program durante a Segunda
10. Reflexo da poltica migratria mais fechada, a contingncia na concesso de
vistos no impede que as tentativas de entrada clandestina nos Estados
Unidos deem-se de outras formas: por meio de vistos falsos e pela fronteira
com o Mxico, sob o auxlio de atravessadores, conhecidos como coiotes
(Sales, 1996; Goza, 1992). Vale observar que, at 2002, a entrada de brasileiros
nos Estados Unidos era facilitada pelo acordo entre Brasil e Mxico sobre a
dispensa de visto. No entanto, o acordo, vigente no Mxico no fim de 2000,
encontra-se suspenso desde 2005. Embora em 2010 os vistos para turismo e
negcios, entre o Brasil e os Estados Unidos, tenham passado a ter validade
mxima de dez anos, para os emigrantes tal mudana tem pouco impacto, uma
vez que o problema, como j vimos, encontra-se mais em sua concesso; e o
visto de turismo no permite que se trabalhe, fazendo que a situao de irre-
gularidade persista.
52 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Guerra Mundial. Esse programa continuou, em diferentes formas,
at 1984, trazendo cerca de 400 mil trabalhadores por ano para os
Estados Unidos. J no incio de sua institucionalizao, nos anos
1950, houve um enorme crescimento das imigraes ilegais.
Mais tardiamente, juntaram-se persistente migrao me xicana
irregular, correntes migratrias provenientes de pases asiticos,
cujas caractersticas, todavia, so mais relacionadas s migraes de
refugiados; e fluxos de outros pases da Amrica Latina, nos quais
se inserem os brasileiros (Sales, 1992).
Os fluxos do Brasil para os Estados Unidos partem de vrios
estados brasileiros e se destinam a diferentes estados norte-ameri-
canos. Os estados de origem so 16, com destaque para Minas Ge-
rais, Gois, So Paulo, Paran e Santa Catarina. J com relao aos
estados de destino, 11 concentram 86% do total de migrantes,
sendo eles: Flrida, Massachusetts, Califrnia, Nova York, Nova
Jersey, Connecticut, Texas, Gergia, Maryland, Illinois e Pensil-
vnia (Lima, 2009).
A origem, a distribuio, a intensidade e a continuidade dos
fluxos no podem ser compreendidas, do ponto de vista das causas
estruturais das migraes, exclusivamente pelos fatores econ-
micos e polticos apresentados. preciso tambm considerar fatos
fortuitos,
11
alm do estabelecimento e a expanso dos contatos
11. Principalmente no desencadear dos fluxos, como seria o caso da cidade de Go-
vernador Valadares (Minas Gerais) para Boston. O contato dos valadarenses
com os americanos o qual, segundo Sales (2005a), explica a sada de brasi-
leiros, em maior quantidade, daquela regio, em comparao com os grandes
centros urbanos , perdurou da Segunda Guerra Mundial at a dcada de
1960 e segundo consta em relatrio da CPMI da Emigrao (2006), houve trs
momentos histricos, relacionados existncia de minerais na regio. Pri-
meiro, com o acordo de Washington, durante a Segunda Guerra Mundial,
quando o Brasil exportou mica e berilo, materiais estratgicos para a indstria
blica. Depois, visando explorao econmica de minerais, com a implan-
tao do programa de saneamento bsico; e, num terceiro momento, com a
modernizao da estrada de ferro Vitria-Minas, quando se formou na regio
um acampamento de tcnicos que trabalhavam para a Morrison-Knudsen,
consrcio de empresas dos Estados Unidos e do Canad.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 53
entre aqueles que conseguem se estabelecer no pas de residncia,
com amigos, parentes ou conhecidos que permanecem no Brasil.
12
No obstante a adaptao social no pas de residncia consistir
num problema recorrente e real das migraes, relacionado s di-
ferenas tnicas ou culturais e discriminao, medida que se
acostuma com as novas vantagens proporcionadas pelo pas de re-
sidncia, experiencia-se um fracasso no retorno, cria-se uma cul-
tura da descrena no futuro do pas e se constri um pedao do
Brasil no exterior, o tempo de permanncia vai se redefinindo.
Se, no incio, o referencial de vida era quase inteiramente reme-
tido ao Brasil, para onde tinha seguro seu retorno, com as idas e
vindas, realizam-se novos projetos, em que o imigrante comea a
encarar a perspectiva de l permanecer por um tempo mais longo
(Sales, 1999). Para a primeira gerao, em particular, isso no tem
significado, necessariamente, uma quebra brusca do contato no
Brasil.
13
1.1.3 Os fluxos para a Europa
Diferentemente dos fluxos rumo ao Paraguai e, assim como as
correntes migratrias em direo aos Estados Unidos, a emigrao
para a Europa parte do processo global que se acentuou nos anos
12. Tais contatos exercem influncia na deciso de imigrar e contribuem para a
acomodao inicial do imigrante e sua insero no mercado de trabalho
(Sales, 2005a). Segundo Sales (1995), as remessas dos imigrantes aos seus pa-
rentes contribuiriam para solidificar mais ainda os contatos, na medida em
que essas remessas so fatores decisivos para a ida de novos migrantes (Sales,
1995).
13. Segundo Waterbury (2010), a assimilao, que se torna uma ameaa com o
prprio processo de amadurecimento dos fluxos, mas tambm em casos e
conjunturas especficos, provoca, por parte dos Estados, uma reao para
tentar impedir que os emigrantes percam seu vnculo. A preservao da
identidade cultural por parte dos emigrantes vem oferecendo, outrossim,
aos pases uma defesa contra o medo da diluio cultural e uma fonte de
orgulho nacional.
54 FERNANDA RAIS USHIJIMA
1980, em que os pases industrializados passaram a ser a rea de
destino de milhares de trabalhadores, sobretudo jovens, oriundos
dos pases mais pobres, pouco industrializados ou em recente pro-
cesso de industrializao. Nesse contexto, a ida de brasileiros
Europa ocorre a partir dos veculos recentes estabelecidos com os
capitais industriais e financeiros de pases de capitalismo central,
os quais descortinam a possibilidade de novos mercados de tra-
balho que as facilidades de comunicao tornaram ainda mais pr-
ximos (Bgus, 1995).
Tais possibilidades, como vimos, esto relacionadas reestru-
turao produtiva, s reformas neoliberais e precarizao do
Estado de bem-estar social, bem como concentrao de renda.
Voltada para o setor de servios do mercado dual, a demanda por
migrantes decorre tanto de problemas demogrficos de cresci-
mento vegetativo negativo e envelhecimento da populao, quanto
de uma resistncia histrica, cultural e social, por parte dos nativos,
em exercer determinadas profisses.
De acordo com Gradilone (2008), no entanto, enquanto se ve-
rifica nos fluxos de brasileiros para os Estados Unidos uma estag-
nao ou at mesmo diminuio, na Europa, nos ltimos anos,
presenciou-se um aumento significativo do nmero de ingres-
santes, podendo-se falar, at mesmo, numa possvel mudana de
tendncia. Os principais motivos, para isso, de um lado, segundo
Marinucci (2007), so as mudanas mais rgidas levadas a efeito
pelos Estados Unidos aps os atentados de 11 de Setembro e, de
modo mais especfico, a maior fiscalizao da fronteira no norte do
Mxico e a exigncia de visto para ingresso nesse pas; e, de outro, a
valorizao do euro, alm da possibilidade aberta aos brasileiros de
ingressar sem visto e permanecer por alguns meses em determi-
nados pases da Europa.
No caso especfico da migrao para esse continente, a criao
de laos culturais e tnicos advindos de uma emigrao coloni-
zadora, principalmente por parte de italianos e portugueses (e, em
menor grau, de espanhis e alemes) (Bgus, 1995), tambm
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 55
constitui uma dimenso importante na deciso de emigrar (Patarra,
2008). Em alguns casos, emigrantes brasileiros, em razo da sua
ascendncia europeia, j partem com a cidadania de pases como a
Itlia ou Portugal, ou a adquirem em momento posterior sua che-
gada.
14
Uma outra diferena entre os fluxos europeus e norte-ame-
ricanos seria a maior presena de mulheres nos primeiros (Patarra,
2008).
No demais aspectos, a presena de brasileiros na Europa se as-
semelha quela nos Estados Unidos, por ser composta majorita-
riamente por trabalhadores em situao irregular que se empregam
no mercado secundrio, e se caracterizar pela urbanidade, tempo-
rariedade e maior grau de instruo relativo.
A porcentagem de imigrantes na Europa dos quinze
15
tambm prxima dos Estados Unidos: 9,4% da populao ou
36,082 milhes, de um total de 384,866 milhes de habitantes.
Afora o crescimento em termos absolutos, houve uma diversifi-
cao da origem dos fluxos. No incio da segunda metade do sculo
XX, os imigrantes vinham de um nmero reduzido de pases, al-
guns da prpria Europa, como portugueses e espanhis para os
pases do norte, alm de magrebianos do norte da frica para as
antigas metrpoles e, em casos especficos como programas para
trabalhadores convidados, turcos para a Alemanha (Fernandes &
Rigotti, 2008).
A partir do final do sculo XX, entretanto, passaram a existir
duas correntes principais rumo Europa: os migrantes do Leste
Europeu, num primeiro momento como estrangeiros e, depois, com
a ampliao da Comunidade Europeia, como cidados comunit-
14. Pases como a Itlia (Lei n
o
91/1992), Espanha (Lei n
o
36/2002 e Lei n
o
52/2007) e Portugal (introduo, pela Lei Orgnica n
o
2/2006, de alteraes
na Lei n
o
37/1981) vem estendendo a sua nacionalidade para os descendentes
de seus nacionais no exterior.
15. Engloba os 15 pases que aderiram UE at 1995: Alemanha, Blgica, Frana,
Itlia, Luxemburgo, Pases Baixos, Dinamarca, Reino Unido, Grcia, Por-
tugal, Espanha, Irlanda, ustria, Finlndia e Sucia.
56 FERNANDA RAIS USHIJIMA
rios; e os migrantes de vrias partes do mundo e da Amrica Latina,
na qual se inserem os brasileiros. Os fluxos de brasileiros, compa-
rativamente, so pequenos, mas, em alguns pases, ele possui maior
visibilidade.
16
Em 2010, os principais pases de residncia dos brasileiros
eram: 1) Reino Unido, com cerca de 180 mil; 2) Espanha, com 159
mil; 3) Portugal, com 136 mil; 4) Alemanha, com 91 mil; e 5) Itlia,
com 85 mil brasileiros (Ministrio das Relaes Exteriores, 2011).
17
Portugal, at grande parte do sculo XX, era um pas de ndole
predominantemente emigratria. Essa situao altera-se com a im-
plantao do regime democrtico, a subsequente independncia
dos atuais pases africanos de lngua portuguesa e a entrada do pas
na Unio Europeia. Desde 1990, quando o crescimento da pre-
sena de estrangeiros no pas se consolida efetivamente, os fluxos
de brasileiros
18
vm se destacando, juntamente com outros perten-
centes a comunidades oriundas de pases africanos de expresso
portuguesa (Servio de Estrangeiros e Fronteiras, 2008).
A Espanha abriga um percentual de imigrantes de 15,2%
(cerca de 7 milhes), o mais elevado dentro do universo dos pases
eu ropeus considerados (World Bank, 2011). O nmero de brasi-
16. Deve-se observar que o fenmeno da migrao latino-americana para a Eu-
ropa mais um fenmeno da Amrica do Sul e de alguns pases das Carabas
(de Cuba e da Repblica Dominicana). Os cidados da Amrica Central e do
Mxico dirigem-se sobretudo para os Estados Unidos, no somente por ques-
tes de proximidade geogrfica, mas tambm como consequncia da Guerra
Fria e da interveno americana na regio. Dentre as nacionalidades latino-
-americanas, a brasileira aparece em terceiro lugar, precedida, respectiva-
mente, pela equatoriana e pela boliviana (Padilla, 2009).
17. No Apndice B, apresentamos as estimativas do Ministrio das Relaes Ex-
teriores para a populao brasileira residente em todos os pases da Europa.
Vale mencionar que, at 2002, Portugal era o primeiro destino de brasileiros
para aquele continente, seguido da Itlia (Marinucci, 2007).
18. Segundo o Relatrio de Imigrao, Fronteiras e Asilo (Rifa) do Servio de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal do ano de 2009, a populao bra-
sileira no pas seria a primeira em nmero de residentes em situao de
regularidade (com um contingente de 116.220 ou 25% da populao estran-
geira).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 57
leiros, apesar de significativo, no figura entre os mais expressivos
dentro da populao estrangeira no pas, ficando atrs de mar-
roquinos, romenos e demais latino-americanos, principalmente
argenti nos, colombianos e bolivianos (World Bank, 2011). O n-
mero de brasileiros irregulares no pas, em 2006, era de, aproxima-
damente, 75 mil pessoas (Marinucci, 2007).
A porcentagem de imigrantes na Itlia de 7,4% (4,5 milhes),
dentro da qual as maiores parcelas no seriam de brasileiros. A
quantidade destes em situao de irregularidade atingia a pro-
poro de 55 mil no ano de 2006 (Marinucci, 2007).
O nmero de imigrantes no Reino Unido de 11,2% (World
Bank, 2011), sendo que aqueles provenientes das ex-colnias do
antigo Imprio e dos pases que compem a Commonwealth of
Nations ocupam posies bem definidas diante do governo e da
populao britnica (Torresan, 1995). Apesar de no se caracte-
rizar como uma das mais representativas no Reino Unido, para l
que a imigrao de brasileiros para a Europa vem se destinando em
primeiro lugar nos ltimos anos. O Reino Unido se caracteriza
tambm por possuir a maior quantidade de imigrantes brasileiros
em situao de irregularidade. No ano de 2006, esse nmero era
prximo de 120 mil (Marinucci, 2007). Uma diferena entre os
fluxos de brasileiros para o Reino Unido e os demais pases euro-
peus mencionados que eles so compostos por uma ligeira maioria
de homens (51,5%) (Fernandes & Rigotti, 2008).
1.1.4 Os fluxos para o Japo
Num primeiro momento, foi o Brasil que recebeu um elevado
nmero de migrantes provenientes do Japo. Essa imigrao, ini-
ciada em 1908, foi significativamente reduzida na segunda metade
do sculo XX. Em decorrncia desses fluxos, o Brasil abriga hoje a
maior populao de descendentes de japoneses (nikkeis) fora do
Japo, com mais de um milho e meio de pessoas, quase 1% do total
da populao do Brasil (Uehara, 2007). Essa populao nikkei con-
58 FERNANDA RAIS USHIJIMA
centra-se em So Paulo e no Paran, estados de onde provm quase
a totalidade dos emigrantes brasileiros que se dirigem ao Japo
19
(IBGE, 2011).
Apesar de os imigrantes no Japo comporem apenas 1,7% de
sua populao, representam um nmero expressivo, qual seja,
2.176.200 (World Bank, 2011). Os brasileiros no Japo constituem
14,1% dos estrangeiros no pas (Ministrio da Justia do Japo,
2009), situando-se atrs apenas da populao de imigrantes da Co-
reia e da China, dada a proximidade geogrfica e as relaes his-
tricas de longa data desses pases com o Japo. J em comparao
com os outros pases da Amrica Latina, o Brasil ocupa a primeira
posio, seguido do Peru (Banco Mundial, 2011).
Alm da predominncia do carter tnico, constituem outras
caractersticas do fluxo proveniente do Brasil, a presena de in-
fluncias culturais nipnicas
20
(Kawamura, 2003), a presena ma-
joritria de homens em idade ativa (Kawamura, 2003), a regularidade
e a circularidade (Beltro & Sugahara, 2006). Alis, em virtude
dessa condio cclica (Figura 1) em que se verificam retornos e
reentradas , que alguns estudiosos preferem classificar tais fluxos
como movimento populacional, em vez de migrao. Essas particu-
laridades dos fluxos de brasileiros para o Japo, no decorrer do pro-
cesso migratrio, foram se flexibilizando.
19. Por meio de clculos com base nas informaes divulgadas pelo IBGE, quase
80% dos brasileiros que se dirigem ao Japo provm dos estados de So Paulo
(cerca de 60%) e do Paran (cerca de 20%). Isto pode ser explicado, em boa
medida, pela presena de populao originria do Japo nesses dois estados,
fruto do processo de imigrao japonesa no Brasil verificado no incio do s-
culo XX. A corrente inversa acontece com a terceira e a quarta gerao da-
queles imigrantes (IBGE, 2011).
20. Os descendentes de japoneses no Brasil so um grupo tnico minoritrio,
ainda bastante fechado. Parcela considervel desse grupo pertence a congre-
gaes que buscam preservar a cultura oriental. Alm do contato com a cul-
tura, esses espaos permitem que aspectos das migraes tornem-se parte do
cotidiano.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 59
Figura 1 Brasileiros que entraram ou saram do Japo no perodo 1950-
-2010
Fonte: Compilao de dados do Ministrio da Justia do Japo.
Como podemos observar na Figura 1, apesar de o fluxo de bra-
sileiros para o Japo ter mostrado um crescimento desde o fim da
dcada de 1960, somente na segunda metade da dcada de 1980
que comea a se formar um saldo entre as entradas e sadas de na-
cionais brasileiros naquele pas. Isso deu origem ao movimento co-
nhecido como dekassegui. Essa palavra japonesa,
Originalmente, [...] significa trabalhar fora de casa. No Japo,
referia-se aos trabalhadores que saam temporariamente de suas
regies de origem e iam a outras mais desenvolvidas, sobretudo
aqueles provenientes do norte e nordeste do Japo, durante o rigo-
roso inverno que interrompia suas produes agrcolas no campo.
Este mesmo termo passou a ser empregado para definir os descen-
dentes de japoneses que vo trabalhar no Japo, em busca de me-
lhores salrios, empregando-se em ocupaes de baixa qualificao
caracterizadas pelos japoneses como 3K Kitanai (sujo), Kiren
(perigoso) e Kitsui (penoso). Posteriormente, os brasileiros se en-
carregaram de acrescer mais dois Ks Kirai (detestvel) e Kibishii
(exigente). Nesse sentido, o termo dekassegui remete ideia de
60 FERNANDA RAIS USHIJIMA
um trabalho temporrio para em seguida retornar sua regio de
origem. (Sasaki, 2006)
Em 1980, o Brasil vivenciava uma das suas maiores crises so-
ciais, polticas e econmica. Enquanto isso, do outro lado do pla-
neta, o Japo experimentava o boom econmico (1986-1991). Esse
rpido e elevado crescimento do pas,
acompanhado de um novo padro de organizao da produo, da
diminuio da populao jovem, da no insero de mulheres em
idade produtiva no mercado de trabalho, colocou o desafio da ex-
panso e manuteno do crescimento, em face da diminuio da
oferta de mo de obra, particularmente para empresas de pequeno
e mdio porte, em funes desqualificadas por trabalhadores ja-
poneses. (Kawamura, 2003)
O Japo, em seu processo de insero como uma das principais
economias no contexto internacional, adotou um padro de organi-
zao da produo que, apesar de algumas peculiaridades, seguiu o
curso comum da flexibilizao da produo, de uso dos recursos
materiais e humanos e da adoo do sistema de subcontratao
ou terceirizao, em que as maiores empresas foram descentra-
lizando gradativamente as atividades onerosas e problemticas
(Kawamura, 2003). Com isso, no final da cadeia produtiva, pas-
saram a existir pequenas e mdias empresas, que recebiam enco-
mendas das grandes empresas montadoras por intermdio do
sistema de subcontratao (Sasaki, 1998).
As pequenas e mdias empresas dependem de mais mo de
obra por no contarem ainda com alta tecnologia, ou devido pr-
pria natureza da atividade, que no pode prescindir do trabalho
humano [...]. A utilizao, por parte dessas empresas, sobretudo
de recursos humanos estrangeiros, em regime de contratao tem-
porria dentro de um cenrio em que se verifica o surgimento de
novos padres de racionalidade trazidos vida econmica, com uso
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 61
intensivo de novas tecnologias , pode ser vista como um meio de
aumentar a competitividade internacional, na medida em que per-
mite um acompanhamento mais descomplicado do mercado,
tornando mais fceis a dispensa e a contratao de mo de obra ba-
rata e mvel (Kawamura, 2003).
As vantagens da mo de obra estrangeira e a resistncia dos ja-
poneses em trabalhar nessas empresas pela ausncia de perspec-
tiva de carreira ou ascenso profissional, somada desqualificao,
exigncia fsica, aos salrios mais reduzidos, maior instabilidade
e aos perodos de contratao mais curtos (Higuchi & Tanno,
2003) , fizeram que elas comeassem a clamar por modificaes
na poltica imigratria e a procurar trabalhadores fora do Japo
(Sasaki, 1998).
Diante do impasse que se colocou e do carter mais fechado da
sociedade japonesa, comeou-se a articular a vinda de nikkeis,
dada a sua suposta proximidade tnico-cultural. A etnia como
uma das condies para se selecionar um dekassegui est relacio-
nada pressuposio de que o background cultural dos migrantes
estaria prximo cultura japonesa, sugerindo a possibilidade de
maiores facilidades de integrao sociedade nipnica (Sasaki,
1998). Com isso, foi-se criando um nicho para o trabalhador es-
trangeiro, em que se levou em considerao no somente a lgica
econmica, mas tambm a etnia e a cultura.
Os primeiros dekasseguis, em geral, no tiveram grandes pro-
blemas burocrticos para entrar no territrio japons, pois seu
perfil era ser das primeiras geraes (issei, nissei), logo, tinham
nacionalidade japonesa ou dupla nacionalidade, idade mdia avan-
ada, eram chefes de famlia e casados, sabiam o idioma japons e
tinham pretenses temporrias no pas (Sasaki, 1998).
Concomitantemente a esse processo, comearam a germinar as
primeiras redes sociais migratrias, entrando em cena os atores
sociais, como os candidatos a dekassegui, as pequenas empresas ja-
ponesas demandando mo de obra estrangeira e os agentes inter-
medirios.
62 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Seriam agentes intermedirios as empreiteiras no Japo e as
agncias de recrutamento no Brasil, ambas responsveis por alocar
mo de obra. Elas fazem parte de um sistema migratrio consti-
tudo por instituies facilitadoras da migrao que providenciam os
recursos e as informaes necessrias para se ultrapassar a fronteira e
se adaptar no novo local de residncia. Com relao s empreiteiras,
vale notar que existiam, antes da ida de brasileiros, com a funo ini-
cial de direcionar migrantes internos da zona rural para as fbricas. J
as agncias de recrutamento foram criadas pelos primeiros dekasse-
guis, em seu retorno ao Brasil (Higuchi & Tanno, 2003).
No fim da dcada de 1980 e especialmente no incio dos anos
1990 com a aprovao da reforma da Lei de Controle de Imi-
grao, que oficializou a preferncia pelos descendentes de japo-
neses , o movimento dekassegui de brasileiros se massifica (Sasaki,
1998) (Figura 1).
Segundo a lei de imigrao japonesa, os nisseis, segunda ge-
rao, so agraciados com o visto de permanncia o qual, de trs
anos, aumentou para cinco em 2009 (OCDE, 2010) ,
ao passo que os sanseis, terceira gerao, recebem visto de um ano.
A quarta gerao (yonsei) no tem assegurado visto de trabalho.
Os cnjuges no-nikkeis so contemplados com o visto de um
ano, independentemente se o companheiro nissei ou sansei. No
h limitaes quanto natureza do trabalho a ser exercido. [...]
Trata-se, em todo o caso, de vistos temporrios, que devem ser
renovados a cada perodo de expirao. At aqui, a renovao tem
sido relativamente fcil, no havendo limite quanto ao nmero de
permisses. Se o brasileiro quiser retornar momentaneamente ao
Brasil, para rever a famlia, por exemplo, deve obter o chamado
visto de reentrada. (Congresso Nacional, 2006)
Em 1990, no Brasil, iniciou o governo do presidente Fernando
Collor de Mello, e medidas radicais para combater a inflao foram
adotadas, com destaque para o bloqueio da poupana de brasilei-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 63
ros.
21
Foi um governo marcado pela instabilidade econmica e pol-
tica, o que foi mais um fator para reforar a emigrao de brasileiros
(Sasaki, 1998).
O aumento dos fluxos de brasileiros foi acompanhado da
criao e/ou da expanso das agncias intermedirias, de turismo,
alm das de informao, orientao e apoio aos trabalhadores mi-
grantes estrangeiros no Japo,
22
de consulados brasileiros, bem
como de escolas, restaurantes e lojas de produtos brasileiros, esta-
belecidos por brasileiros e para brasileiros, sob o aval de proprie-
trios japoneses (Kawamura, 2003).
A migrao e a vivncia cotidiana dos brasileiros no Japo so
facilitadas pela constituio dessa estrutura, o que gera uma alte-
rao no perfil desse grupo, fazendo com que passe a se caracterizar
por:
geraes mais avanadas (segunda e terceira); proporo sexual
relativamente equiparada; faixa etria mais jovem; pouco do-
mnio ou quase nenhum da lngua japonesa (dada a grande
presena de brasileiros no Japo, diminui-se a necessidade dos
novos migrantes de falar a lngua local); mais solteiros e recm-
-casados (com filhos pequenos) entre os brasileiros residentes no
Japo; carter mais familiar do que individual; estadia mais pro-
longada dos brasileiros no Japo. Destaca-se ainda a presena dos
no-nikkeis entre os cnjuges que tm direitos estendidos, isto
, aqueles que mesmo no tendo a ancestralidade japonesa passam
21. O bloqueio se deu por meio da Medida Provisria n
o
168, de 15/3/1990, que
determinou a converso dos saldos de cadernetas de poupana em cruzeiros,
at o limite de NCZ$ 50.000,00 (cruzados novos). Os valores excedentes
foram recolhidos ao Banco Central, tendo sido, posteriormente, convertidos e
liberados em parcelas, com juros de correo muito inferiores aos (reais) do
perodo.
22. Com destaque para o Centro de Informao e Apoio ao Trabalhador no Exte-
rior (Ciate), rgo situado em So Paulo, que conta com o apoio do governo
japons, e tem por objetivo prestar servios de informao e orientao sobre a
sociedade e a cultura japonesas aos nikkeis, seus cnjuges e filhos que pre-
tendam ir para o Japo trabalhar, ou de l, retornam.
64 FERNANDA RAIS USHIJIMA
a ter os mesmos direitos que seus cnjuges de origem nipnica.
No Japo, eles so igualmente classificados como nikkeijin
sempre na rubrica de estrangeiros. (Sasaki, 2006)
Podemos afirmar que as tendncias apontadas, relacionadas
com o maior tempo de permanncia e incerteza, com o aumento do
nmero de crianas e jovens, e a diminuio da familiaridade com a
cultura e com a lngua, acentuam antigos problemas e trouxeram
novos desafios quanto questo da nacionalidade, integrao e re-
integrao, discriminao, escolaridade, explorao, seguridade e
previdncia.
Pela Figura 1, observamos que a recente crise econmica teve
um grande impacto no volume de entrada de migrantes brasileiros,
no ano de 2009. Enquanto o nmero de entrada de brasileiros teve
uma reduo de 46,36% em relao a 2008, o nmero de sadas
cresceu 23,21%. Essa crise, que atingiu no Japo propores signi-
ficativas, afetou em paricular o setor de manufatura (Awad, 2009),
o que causou uma dispensa de 40% na mo de obra latina (Higuchi,
2009).
Figura 2 Imigrantes brasileiros no Japo por status de residncia (1994-
-2009)
Fonte: Compilao de dados do Ministrio da Justia do Japo.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 65
Por outro lado, a Figura 2 demonstra que, em 2009, o impacto
da crise foi maior sobre a circularidade do fluxo, diminuindo a
presena de residentes no permanentes no pas para 151.206, en-
quanto a presena dos residentes permanentes continuou quase
estabilizada, com 116.250 brasileiros.
1.2 A mudana de postura do Estado
com relao emigrao
O crescimento da emigrao de brasileiros para o exterior um
fenmeno recente e as mudanas no pas foram se ampliando com o
decorrer do tempo. J na dcada de 1990, era possvel identificar
reformas burocrticas; medidas para ampliar o conhecimento e a
participao dos brasileiros no exterior; aprimoramento dos ser-
vios consulares de apoio e cidadania; bem como algumas polticas
de vinculao e de transferncia de recursos.
Aes assim foram se intensificando, com o avanar da adap-
tao estatal, e medida que os fluxos e a permanncia foram se
consolidando; os emigrantes foram se organizando; sua impor-
tncia econmica e poltica, aumentando; a frequncia de casos de
violao dos seus direitos, crescendo e aparecendo na mdia; e o
pas, inserindo-se no novo contexto internacional.
1.2.1 Poltica emigratria ou poltica para os emigrantes?
Se, anteriormente, o Brasil havia experienciado as imigraes,
as emigraes somente se colocaram como um fenmeno social
para o pas no fim do sculo XX. A emigrao envolve sada, au-
sncia e retorno. As polticas de emigrao desenvolvidas pelos Es-
tados podem ser de duas espcies: 1) poltica emigratria, a qual
busca controlar a sada e o retorno; e 2) poltica para os emigrantes,
orientada para os nacionais que j se encontram no exterior (Fitzge-
66 FERNANDA RAIS USHIJIMA
rald, 2009). No caso do Brasil, se, por um lado, desde o incio dos
fluxos, no to simples afirmar que exista a primeira, por outro, j
na dcada de 1990, observava-se uma clara indicao da tentativa
de se desenvolver a segunda.
Sobretudo depois da queda da Cortina de Ferro (1989-1990),
proibir a sada de cidados do territrio tornou-se inaceitvel.
23
A
explicao para esse fato, reside no fim dos governos mercantilistas
europeus que entendiam como recursos finitos a terra, o capital e
o trabalhador, e, portanto, tentavam controlar a emigrao e sua
passagem para economias capitalistas, que veio acompanhada da
defesa do liberalismo poltico e do direito dos cidados de deixarem
o seu pas, proclamado na Declarao Universal dos Direitos Hu-
manos de 1948
24
(Fitzgerald, 2009).
Essa constitui a explicao tradicional para o fim do controle
da emigrao e ela baseada na experincia europeia. No caso do
Brasil, os fluxos de nacionais para o exterior comearam a ganhar
fora concomitantemente com a crescente internacionalizao do
pas depois da Guerra Fria, e com processos de construo demo-
crtica, desregulamentao, abertura comercial e privatizaes.
25
Assim, tal contexto, incluindo uma condenao internacional mais
forte com relao proibio de sair do pas, fez com que o Brasil
no adotasse uma poltica baseada no controle dos fluxos.
26
23. Deve-se mencionar que, no caso de Cuba, persiste a proibio da sada dos
cidados de seu territrio.
24. Declarao Universal dos Direitos Humanos. Artigo XIII. 1. Toda pessoa
tem direito liberdade de locomoo e residncia dentro das fronteiras de
cada Estado. 2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer pas, inclusive o
prprio, e a este regressar.
25. Esses processos mais econmicos, na medida em que foram desenvolvendo a
infraestrutura area brasileira, tambm ajudam a explicar o aumento do n-
mero de viajantes, que, como veremos, teve impacto na poltica consular.
26. Waterbury (2010) aponta que pode servir de estmulo tambm realizao de
polticas para nacionais no exterior o fato de estes servirem de vlvula de es-
cape (em situao de altas taxas de desemprego e natalidade) e proporcio-
narem uma reduo dos custos sociais para o Estado.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 67
Simbolicamente, o direito de sada j se encontrava na Consti-
tuio de 1891, a primeira republicana, e se repetiria nas subse-
quentes, com exceo da de 1937 (instaurao do regime do Estado
Novo, por Getlio Vargas), sendo restaurado pela Constituio de
1946, e mantido mesmo durante os perodos de autoritarismo e
ditadura. Se, pelos preceitos do liberalismo, a sada do territrio
deveria ser voluntria, nos tempos de represso, previa-se o bani-
mento nos casos de guerra externa psicolgica adversa, ou revo-
lucionria ou subversiva nos termos que a lei determinar, com a
finalidade de eliminar possveis opositores (presente na Consti-
tuio de 1967, reforado pelo Ato Institucional n
o
13/1969; elimi-
nado pela Emenda Constitucional n
o
11/1978).
A atual Constituio, promulgada em 1988, tanto permite, ao
nacional, maior liberdade de sada e entrada, em seu artigo 5
o
, in-
ciso XV, quanto probe a pena de banimento, no mesmo artigo,
inciso XLVII, alnea d. Em consonncia com a Carta Constitu-
cional, o discurso do governo brasileiro para justificar a ausncia
de uma poltica de controle da emigrao vem se dando no sentido de
reconhecer a liberdade de ir e vir como uma das mais importantes
conquistas da humanidade, de modo que o prprio juzo quanto a
implicaes deve nortear as decises das pessoas quanto a viajar ou
emigrar (Gradilone, 2008).
A partir do Programa de Ao do Cairo (sem carter vincu-
lante), desenvolvido na Conferncia do Cairo sobre Populao, de
1994, passou-se a defender que a liberdade de ir e vir no existiria
se os governos dos pases de origem no tornassem viveis aos seus
nacionais (item 10.3 do Programa)
a opo de se manterem em seu prprio pas. Para essa finalidade,
devem ser fortalecidos os esforos para se atingir um desenvol-
vimento econmico e social sustentveis, garantindo um maior
equilbrio entre pases desenvolvidos, em desenvolvimento ou
com suas economias em transio. preciso tambm aumentar os
esforos para acabar com conflitos internos e internacionais antes
68 FERNANDA RAIS USHIJIMA
que eles ganhem maiores propores; assegurar que sejam respei-
tados os direitos dos indgenas e das pessoas pertencentes a mino-
rias tnicas, religiosas ou lingusticas; e respeitar o governo da lei,
promover boa governana, fortalecer a democracia e promover os
direitos humanos. Alm do mais, um maior apoio deve ser provi-
denciado para que haja segurana alimentar, educao, nutrio,
sade []. Tais esforos devem requerer assistncia financeira
nacional e internacional, uma reviso das relaes tarifrias e co-
merciais, um aumento do acesso aos mercados mundiais [].
(Traduo nossa)
Apesar da participao do Brasil nessa Conferncia e de sua
declarao de comprometimento em acatar o programa, o prin-
cpio da emigrao como escolha somente foi de fato apropriado
pelo discurso poltico e governamental a partir de 2002.
27
Num
primeiro momento, na Carta aos brasileiros que vivem longe de
casa, quando o ento candidato a presidente Lula da Silva com-
prometeu-se a eliminar as principais causas econmicas e sociais
que levaram os brasileiros a deixar o pas, criando as condies
para que, os que assim o desejassem, pudessem voltar e viver dig-
namente.
28
27. Como veremos, um dos motivos de os governos se dirigirem a seus nacionais
no exterior encontra-se na tentativa de criar ou manter legitimidade poltica
interna e internacional, principalmente depois da abertura para a compe-
tio poltica aps dcadas de autoritarismo, o que desencadeia a busca por
novos meios de apoio e legitimidade poltica mediante novos atores polticos
em cena (Waterbury, 2010, traduo nossa).
28. Trecho da carta: [...] Ao mesmo tempo, estaremos implementando no Brasil
um conjunto de polticas que vo garantir a retomada do desenvolvimento,
com a possibilidade de criar 10 milhes de empregos at 2006. Os micros e
pequenos empreendimentos industriais, comerciais e de servios tero um
apoio especial para que floresam amplamente.
Estou seguro de que antes do final do governo estaremos eliminando as prin-
cipais causas econmicas e sociais que levaram vocs a terem que deixar o
nosso pas. Dessa forma, os que desejarem, devero ter condies de voltar e
viver dignamente.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 69
Um aspecto interessante do item 10.3 do Programa de Cairo
a ideia de corresponsabilidade entre os pases de origem e os de
destino, para tornar o seu contedo uma realidade. Ele prega que a
concretizao de sua finalidade envolveria um maior equilbrio
entre pases desenvolvidos e pases em desenvolvimento [...], por
meio de assistncia financeira nacional e internacional, uma re-
viso das relaes tarifrias e comerciais, um aumento do acesso aos
mercados mundiais [] (traduo nossa).
A perspectiva apresentada, no entanto, vem sendo obscurecida
pela posio de organizaes financeiras internacionais, as quais
defendem que remessas podem se tornar uma importante fora
motriz para o desenvolvimento em pases de origem (traduo
nossa), e de pases desenvolvidos, que as promovem como parte de
sua ajuda financeira. Obviamente, o item do programa em questo
prope um maior comprometimento desses pases, alm de que,
como se tem tornado cada vez mais evidente, a relao entre mi-
grao e desenvolvimento ainda muito incipiente (Newland, 2007
apud Castles & Wise, 2007, traduo nossa).
A predominncia dessa viso reflexo do domnio da viso
do Norte nas discusses sobre migrao e desenvolvimento, o que
tem ocasionado uma distoro da ideia de desenvolvimento, ao
deixar de lado dimenses cruciais e potenciais das migraes para
as sociedades mais profundamente envolvidas (traduo nossa), e
desconsiderado
a reciprocidade dos histricos processos de desenvolvimento do
Norte e subdesenvolvimento do Sul, em que a mobilizao coerci-
tiva da mo de obra sulina e de outros recursos foi uma pr-con-
dio crucial para a acumulao de capital e para a industrializao
do Norte. (Castles & Wise, 2007, traduo nossa)
Se, como demonstramos, no to simples afirmar que o Brasil
tem uma poltica emigratria, certamente ele no a possui nos
moldes de pases como as Filipinas, onde existe uma agncia que
70 FERNANDA RAIS USHIJIMA
administra a sada e o contrato de milhes de nacionais (Yrizar Bar-
bosa & Alarcn, 2010). Da mesma maneira que, no caso do Brasil,
no se interfere na sada, tambm no se instituem polticas vol-
tadas para o retorno do nacional no exterior, ou para sua insero,
caso isso acontea.
Tanto o Brasil no desempenha aes mais interventivas
no campo da poltica emigratria, que, no obstante a previso na
Constituio Federal da competncia para legislar sobre emigrao
(artigo 11, inciso XV), no h, at o presente momento, nenhuma
lei em vigor que disponha sobre isso; somente um projeto.
29
A falta
de previso legal e a inexistncia de aes mais voltadas para a sada
e o retorno representam o foco do interesse na presena dos brasi-
leiros no exterior, a ausncia da emigrao na agenda migratria do
pas, alm do desinteresse parlamentar (Coentro, 2011) e o pouco
apoio domstico (Padilla, 2011). Tambm como reflexo dessa reali-
dade, um censo que possibilitar identificar o local de origem dos
emigrantes foi realizado pela primeira vez somente em 2010.
No possvel afirmar, no entanto, que no haja nenhum tipo
de ao associada sada e ao retorno. Elas existem, mas so de
cunho mais informativo e assistencial. Desde o exterior, as repar-
ties brasileiras vm ajudando os nacionais que desejam regressar
ao Brasil, por meio de informaes, de ajuda com a documentao e
do custeamento do retorno em caso de desvalidamento. Em 2009,
ficou a cargo do MTE, no III Programa Nacional de Direitos Hu-
manos (PNDH), combater os ndices de desemprego nos locais da
origem dos emigrantes. Em 2007, publicou-se a cartilha Brasileiras
e brasileiros no exterior: informaes teis, elaborada por uma co-
29. A principal lei que rege a poltica de migraes a de n
o
6.815, de 19 de agosto
de 1980 (conhecida como Lei de Estrangeiro ou Estatuto do Imigrante). Nela,
no h nenhum artigo que disponha sobre a emigrao. J no Projeto de Lei
n
o
5655/2009, em tramitao, a nica meno com referncia mudana do
Conselho Nacional de Imigrao (CNIg) para Conselho Nacional de Migra-
es (CNM), o qual passa a ter entre suas competncias tambm os emi-
grantes brasileiros.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 71
misso interministerial (Ministrio do Trabalho e Emprego, 2007).
Em 2009, ficou a cargo do MTE, no III Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH), combater os ndices de desemprego
nos locais de origem dos emigrantes. Em decorrncia da crise eco-
nmica de 2008 e da acentuao do retorno de brasileiros do exte-
rior, no ano de 2010 o MTE criou, em So Paulo, o Ncleo de
Informao e Apoio aos Trabalhadores Regressados do Exterior
(Niatre), e o MRE editou um guia de regresso ao Brasil. Alm do
mais, nas atas do CNIg, verificou-se a inteno de se criarem meios
para fiscalizar as agncias de recrutamento.
30
1.2.2 A poltica para os emigrantes como poltica externa e
poltica em direitos humanos
Os fluxos de brasileiros para o exterior e a poltica para os
emigrantes iniciam-se no fim do sculo XX, momento em que o
mundo e o Brasil passavam por grandes transformaes. Como
parte importante dessas mudanas, verificvamos, num contexto
mais amplo, o renascimento dos direitos humanos, o fim da
distor o que lhes imprimia a ordem bipolar; e, no Brasil, uma
revalorizao de tais direitos, com o processo de reconstruo de-
mocrtica e a insero internacional. Nesse cenrio, verifica-se
uma maior cobrana, visibilidade e peso dos direitos humanos em
suas expresses civis, polticas, econmicas, sociais e culturais, as
quais so promovidas como imprescindveis, interdependentes e
universais.
30. H um ou outro acordo que acaba se aplicando situao de retorno, bem
como outras aes mais pontuais, tal como o reconhecimento de escolas no
Japo, de modo a facilitar a aceitao em escolas brasileiras. A ausncia de
uma poltica nacional de retorno ficar clara ao longo do livro. No mbito es-
tadual, h o Projeto Kaeru, criado em 2008 pelo Estado de So Paulo. O pro-
jeto se destina, especialmente, a atender os filhos de brasileiros que voltam do
Japo.
72 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Como expresso do momento vivido pelo pas, promulgada,
em 1988, a Constituio Federal Brasileira, com a finalidade de
instituio de um Estado Democrtico (de Direito) que assegure
o exerccio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rana, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justia
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional [...].
Na nova Constituio, a maior importncia poltica do direito
internacional dos direitos humanos evidencia-se pelo destaque que
a ele dado no prembulo e na nomeao dos princpios funda-
mentais que devem orientar a Repblica Federativa do Brasil; ou
seja, logo nos primeiros artigos, praticamente abrindo nossa Carta
Magna.
meno no prembulo de se tratarem os direitos humanos de
um comprometimento internacional do Brasil consistindo a sua
prevalncia, de acordo com o artigo 4
o
, inciso II, um princpio
orientador das relaes internacionais do pas , seguiu-se a adeso,
em 1992, aos principais pactos de direitos humanos: o Pacto Inter-
nacional de Direitos Civis e Polticos
31
(PIDCP, 1966) e o Pacto
Internacional de Direitos Econmicos, Sociais e Culturais
32
(Pi-
desc, 1966).
Desse modo, e a partir da ascenso tambm do tema das mi-
graes internacionais a um dos principais temas da agenda inter-
nacional
33
(Domenech, 2008), a emigrao de brasileiros para o
exterior passa a ser vista como questo de direitos humanos e de
poltica externa. Isso tornou-se claro quando a proteo e a assis-
31. Decreto n
o
592, de 6 de julho de 1992.
32. Decreto n
o
591, de 6 de julho de 1992.
33. Desde ento, as migraes continuaram a fazer parte no somente da agenda
internacional, mas regional tambm e, cada vez mais, sob o enfoque do desen-
volvimento e das contribuies que elas poderiam trazer aos Estados (Dome-
nech, 2008).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 73
tncia aos brasileiros no exterior foi citada como uma das prio-
ridades da ao externa na Mensagem ao Congresso Nacional do
ano de 1995; e, o tema passou a fazer parte do Programa Nacional
de Direitos Humanos (PNDH),
34,35
iniciado em 1995, por reco-
34. Esse programa se props a permitir uma maior participao da sociedade civil
na elaborao e execuo de polticas em direitos humanos. Participaram do
programa, estados e municpios, organizaes da sociedade brasileira e at
mesmo organizaes internacionais. O principal foco do primeiro programa
foi o combate ao aumento da criminalidade e da violncia em solo nacional.
No entanto, como um programa nacional de direitos humanos entendidos
estes como interdependentes e indivisveis , constituiu tambm, como uma
de suas metas, o estabelecimento de polticas relacionadas aos brasileiros no
exterior, a qual se repetiu nas duas verses sequentes do programa, em 2002 e
2009. Vale observar que o teor da meta, entretanto, muda no III Programa. Ao
passo que, no I e II Programas, as aes previstas para esses grupos de brasi-
leiros eram direcionadas sua proteo exterior e ao MRE, no terceiro, o foco
se volta ao combate, pelo MTE, aos ndices de desemprego nos locais de
origem dos emigrantes. Interessante observar que o sistema de conferncias
constitui-se, no governo Fernando Henrique Cardoso, em parte, em torno do
PNDH. Ao longo dos dois governos Lula da Silva, essas conferncias foram
multiplicadas. Em 2008, como veremos, surge uma nova conferncia para os
brasileiros no exterior.
35. O PNDH possui grande visibilidade internacional, assim como a poltica de
combate ao trfico de pessoas, ambos criados a partir de propostas internacio-
nais. Trata-se de exemplos de polticas internas que so verdadeira poltica
externa em direitos humanos (o que no significa que elas no decorram, por
outro lado, de presses da sociedade civil no novo contexto de construo de-
mocrtica). No campo dos direitos humanos e no cenrio atual, fica cada vez
mais difcil classificar uma poltica como meramente interna. Mudanas es-
truturais internas mais amplas, alis, vm ocorrendo, com a adeso do pas a
tratados internacionais e o aumento do comprometimento com os direitos hu-
manos, relacionadas ao desejo de maior influncia no cenrio internacional e
conquista de seus interesses (tais como a obteno de cargos importantes em
organizaes internacionais, com destaque para uma vaga no Conselho Per-
manente da Organizao das Naes Unidas). Especificamente no governo
Lula da Silva, a Cooperao Sul-Sul, o exerccio mais incisivo da liderana re-
gional (Vigevani & Cepaluni, 2007) e incentivos na rea social tm intensi-
ficado aes no mbito da poltica externa em direitos humanos. Notamos
tambm, no cenrio mais recente, a ampliao de exportao de polticas
pblicas por parte do Brasil.
74 FERNANDA RAIS USHIJIMA
mendao contida na Declarao e Programa de Ao de Viena,
adotadas na Conferncia Mundial dos Direitos Humanos, em 25
de junho de 1993.
No mesmo contexto, em 1992, numa tentativa de adaptao s
transformaes internas e externas apontadas, h a realizao da
Comisso de Aperfeioamento da Organizao e das Prticas Ad-
ministrativas (Caopa) do Itamaraty, por meio de portaria de 20 de
novembro do ento ministro das Relaes Exteriores, Fernando
Henrique Cardoso.
a partir da Caopa que a necessidade de adaptao do Minis-
trio das Relaes Exteriores diante do novo fenmeno emigratrio
foi de fato considerada pela primeira vez. O relatrio dessa co-
misso informa que a problemtica foi levantada nos contatos do
MRE com representantes da sociedade nos seminrios do Insti-
tuto de Pesquisa de Relaes Internacionais (Ipri), quando esses
representantes manifestaram sua sensao de que o Itamaraty no
d a devida importncia s atividades consulares, que os brasileiros
so maltratados nos balces dos consulados, que a proteo a brasi-
leiros presos ou detidos injustamente deficiente.
Evidenciaram-se, com a Caopa, as deficincias de recursos
materiais e de pessoal nos consulados de fronteira, a necessidade de
estabelecer um sistema de contratao de advogados estrangeiros
pelos consulados para atuar em defesa de brasileiros, de usar os
consulados honorrios como recurso adicional na proteo dos bra-
sileiros, de incentivar a organizao de grupos de brasileiros em
associaes, de maior presena da assistncia consular em pontos
de concentrao de turistas brasileiros, de definio dos limites da
assistncia a brasileiros, e de treinamento dos funcionrios encarre-
gados de atender diretamente os brasileiros que procuram as repar-
ties consulares.
Essa busca do Estado brasileiro por uma maior proteo dos
brasileiros no exterior e pela extenso de direitos civis, polticos,
econmicos, sociais e culturais dos emigrantes procura atender s
novas exigncias quanto reputao dos Estados e prestao de
contas, alm de reforar diretrizes mais amplas da poltica externa
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 75
brasileira, relacionadas ao desenvolvimento
36
(Reis, 2011) e a ou-
tros interesses econmicos e polticos no cenrio internacional
37
(tais como a obteno de cargos importantes dentro de organi-
zaes internacionais) e representa um esforo para zelar pela
imagem do pas.
38
Introduzidos os principais fluxos, o contexto no qual se in-
serem, as diferenas entre poltica emigratria e poltica para os
emigrantes, bem como a mudana de postura do Estado brasileiro
com relao emigrao, apresentaremos um mapeamento das
principais polticas desenvolvidas no perodo de 1990 a 2010. As
medidas foram divididas em quatro grupos: I) reformas buro-
crticas; II) conhecimento e participao dos brasileiros no exte-
rior; III) servios consulares e outras medidas de apoio e cidadania;
e IV) polticas de vinculao e transferncia de recursos.
36. Posio bem retratada na Declarao da Conferncia de Cairo de 1994. No
entanto, nos ltimos anos, de fato, verificamos um movimento de mudana de
postura na regio da Amrica do Sul, por parte dos pases de origem, no sen-
tido de se pronunciarem mais firmemente contra o desrespeito aos direitos dos
seus nacionais no exterior. Como exemplo, podemos citar o estmulo adoo
do princpio da reciprocidade (Padilla, 2011).
37. Por meio tambm, como veremos, de uma poltica de vinculao.
38. A poltica consular, por lidar com pblicos (incluindo estrangeiros), est
muito ligada questo da imagem do pas.
2
O DESENVOLVIMENTO DAS POLTICAS
BRASILEIRAS PARA OS EMIGRANTES E
SEUS DESCENDENTES
2.1 Reformas burocrticas no
Ministrio das Relaes Exteriores
As migraes internacionais, como questo populacional e in-
ternacional, envolvem no somente relaes exteriores, mas as
reas trabalhista, da sade, da educao, entre outras. Assim, alm
das reformas no Ministrio das Relaes Exteriores, a viso cada
vez mais integrada dos compromissos, intensificada no governo
Lula da Silva, com base sobretudo no Decreto n
o
10.683/2003,
contribuiu tambm para o desenvolvimento de medidas para os
brasileiros no exterior, uma vez que resultou numa maior articu-
lao e mobilizao entre diferentes ministrios e rgos do Estado,
por meio da criao e multiplicao de parcerias, de conselhos mais
interinstitucionais, da formao de grupos de trabalho interminis-
teriais, de comisses, da realizao de oficinas, de seminrios e de
conferncias.
No entanto, cabe observar que o Ministrio das Relaes Exte-
riores tem um papel de destaque, o que natural, por possuir uni-
dades no exterior, contato privilegiado com os emigrantes e pelo
fato de a poltica em questo demandar negociao com outro Es-
78 FERNANDA RAIS USHIJIMA
tado; alm disso, no caso brasileiro, esse papel lhe atribudo, pois,
desde o incio, como vimos, essa poltica foi considerada parte da
poltica externa. Posto isso, vamos nos focar no histrico das prin-
cipais mudanas institucionais, relacionadas ao crescimento do
nmero de brasileiros no exterior, ocorridas nas instalaes do Mi-
nistrio das Relaes Exteriores no Brasil.
Antes do estabelecimento, em 2007, de uma Subsecretaria-
-Geral voltada para os emigrantes brasileiros no exterior e seus des-
cendentes, o Ministrio das Relaes Exteriores j vinha sofrendo
alteraes na sua estrutura que refletiam o aumento da importncia
do fenmeno da emigrao na poltica externa brasileira.
O ministrio sempre teve atribuies relacionadas aos fluxos
de estrangeiros para o seu territrio e de brasileiros para o exterior.
No passado, quando prevalecia o nmero de estrangeiros que aden-
travam o pas, esse setor do ministrio era voltado especialmente,
dentro de sua competncia, para questes imigratrias. Ao longo
da dcada de 1990, no entanto, ocorrem vrias modificaes estru-
turais, como resultado de alteraes no cenrio interno e externo.
Dentre elas, incluem-se aquelas referentes aos brasileiros e seus
descendentes que se encontram no exterior.
Antes das reformas, o atendimento aos brasileiros no exterior,
voltado para um nmero limitado de viajantes, era atribudo a uma
nica diviso, atrelada a um departamento que era responsvel
pelas reas consulares e jurdicas. Esse era o caso, ainda, da estru-
tura existente no final da dcada de 1980, baseada no Decreto n
o
94.327, em que o Departamento Consular e Jurdico encontrava-se
subordinado Subsecretaria-Geral de Assuntos Polticos Bilate-
rais, em decorrncia dos acordos do governo brasileiro relacionados
imigrao.
A Subsecretaria-Geral a que esse departamento se vinculava,
uma dentre quatro (de Assuntos Polticos Multilaterais, de As-
suntos Econmicos e Comerciais e de Administrao e de Comuni-
caes), comportava a Diviso Especial de Avaliao Poltica e de
Programas Bilaterais e mais cinco departamentos: das Amricas,
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 79
da Europa, da frica, do Oriente Prximo e da sia e Oceania.
Subordinadas Secretaria-Geral de Relaes Exteriores, s subse-
cretarias-gerais compete assessorar o Secretrio-geral das Rela-
es Exteriores e, por intermdio deste, o Ministro de Estado, na
direo e execuo da poltica exterior do Brasil (artigo 13).
Nos ltimos anos da dcada de 1980, vinha se consolidando a
reforma do ministro Saraiva Guerreiro (1979-1985), na qual o eixo
do ministrio compreendia os rgos de assistncia imediata ao
ministro de Estado, e a Secretaria-geral das Relaes Exteriores,
auxiliada pelas Subsecretarias-gerais. Segundo esse modelo, a Se-
cretaria-Geral das Relaes Exteriores, rgo central de direo,
alm de representar uma importante via de acesso ao ministro de
Estado, possui a funo de orientar, coordenar e supervisionar a
atuao das unidades administrativas do Ministrio no exterior,
bem como a de dirigir, orientar, coordenar e supervisionar a
atuao das unidades que compem a Secretaria de Estado das Re-
laes Exteriores, exceto a dos rgos de assistncia direta e ime-
diata ao ministro de Estado.
Entretanto, no comeo do ano de 1990, ocorre uma grande al-
terao na estrutura do Ministrio das Relaes Exteriores, fun-
dada no Decreto n
o
99.578, a qual durou at 1992. Na nova
configurao, a Secretaria de Controle Interno, de rgo de assis-
tncia direta e imediata ao ministro de Estado, passa a secretaria-
-geral. Em vez de uma secretaria-geral, hierarquicamente superior,
trs novas foram criadas: a Secretaria-Geral de Controle, a Se-
cretaria-Geral Executiva e a Secretaria-Geral de Poltica Exterior.
As funes de orientao e coordenao da antiga Secretaria-Geral
das Relaes Exteriores passam a se concentrar na nova Secretaria-
-Geral Executiva, composta pelo Gabinete, Secretaria de Or-
amento e Finanas, Secretaria de Modernizao e Informtica,
Secretaria de Recepo e Apoio, Departamento do Servio Exte-
rior, Departamento de Administrao, Departamento de Comu-
nicaes e Documentao, e Departamento Consular e Jurdico
(Apndice A Figura A1).
80 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Por mais que ainda existisse um acmulo de tarefas e no se
pudesse falar em especializao na prestao da assistncia a brasi-
leiros no exterior, j era possvel verificar, na estrutura de 1990,
uma maior compartimentao da atividade, pois o Departamento
Consular e Jurdico passou a fazer parte da secretaria responsvel
pela administrao, orientao e coordenao, com um grupo
menor de departamentos. Em 1992, com a Lei n
o
8.442, extin-
guiram-se as trs secretarias-gerais, e se retornou base estrutural
que vinha sendo implementada na dcada de 1980. Nas novas
orga nizaes, o Departamento Consular e Jurdico e a Diviso
Consular tornam-se, numa tendncia que no se enraizou, depen-
dncias da Subsecretaria-Geral do Servio no Exterior (Castro &
Castro, 2009).
Em que pese o desvio estrutural em 1990, verificam-se, a
partir dessa data, elementos importantes de continuidade e apro-
fundamento. No perodo do trmino da Guerra Fria, o comprome-
timento do Brasil em democratizao com o processo de abertura
do mercado, oficializado pela assinatura do Consenso de Wash-
ington no governo Jos Sarney, a intensificao do processo de inte-
grao na Amrica do Sul, marcada pela criao do Mercosul em
1991, o incio da diplomacia presidencial e o fortalecimento de
novos temas na agenda internacional e nacional, tais como os am-
bientais, sociais e de direitos humanos, fazem que novos assuntos
ganhem mais espao na poltica externa brasileira e na estrutura do
Ministrio das Relaes Exteriores. O crescimento e a complexi-
ficao da organizao representam um aumento da importncia
da poltica externa, bem como uma maior projeo do pas no ce-
nrio internacional.
Ademais, j se preparava a adequao da legislao sobre es-
trutura e quadros de funcionrios do Itamaraty s novas diretrizes
do Ministrio da Administrao e Reforma do Estado e s Emendas
Constituio referentes s reformas administrativas. Com isso,
aps a volta, em 1992, da estrutura que se consolidaria como o
desenho institucional bsico do MRE, observaram-se poucas al-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 81
teraes em questes ligadas aos rgos de planejamento, coor-
denao, avaliao da poltica exterior e aos servidores do servio
exterior (Castro & Castro, 2009).
Uma dessas poucas mudanas, ocorridas para acompanhar a
poltica externa, seria a criao, no servio exterior brasileiro, das
carreiras de oficial de chancelaria e de assistente de chancelaria,
pela Lei n
o
8.829/1993. Ambas as carreiras tm como funo auxi-
liar na execuo da poltica externa mediante o desempenho de ta-
refas de natureza tcnica e administrativa, seja na Secretaria de
Estado das Relaes Exteriores em Braslia, seja nos postos do mi-
nistrio situados no exterior.
Processos como a intensificao da desconcentrao de poderes,
competncias e recursos da administrao federal para os nveis es-
tadual e municipal, bem como da abertura de canais de interao
entre Estado e sociedade, tambm tiveram impacto na estrutura do
Ministrio das Relaes Exteriores. Uma abertura da diplomacia
interao com organizaes da sociedade civil na preparao das
conferncias sobre temas sociais, como direitos humanos, popu-
lao, desenvolvimento social e mulher, consolida-se nas gestes
dos chanceleres Fernando Henrique Cardoso e Celso Amorim (Oli-
veira, 1999).
Se j existia, antes da nova Constituio, canal de comunicao
entre o ministrio e o Congresso Nacional, o de relao mais direta
com os entes federados somente surge em 1997, como Assessoria
de Relaes Federativas, vinculada ao Gabinete do Ministro (De-
creto n
o
2.246). A partir da, a importncia dessa questo somente
aumenta na estrutura do ministrio, com a multiplicao de escri-
trios regionais de representao do Ministrio das Relaes Exte-
riores e da transformao da Assessoria deRelaes Federativas, no
ano de 2001 (Decreto n
o
3.959), em rgo de assistncia direta e
imediata ao ministro de Estado, sob a nova denominao de Asses-
soria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares.
nesse contexto em mutao que a assistncia aos brasileiros
no exterior ganha fora e influencia a organizao ministerial. Como
82 FERNANDA RAIS USHIJIMA
vimos, a primeira vez que se considera a necessidade de adap tao
do MRE ao novo fenmeno foi com a instalao da Caopa em 1992.
No entanto, um setor mais especializado dentro do ministrio so-
mente foi criado em 1995, quando Fernando Henrique Cardoso
assume a presidncia. Na ocasio, o Departamento Consular e Ju-
rdico transforma-se, com base no Decreto n
o
1.756, na Diretoria-
-Geral de Assuntos Consulares, Jurdicos e de Assistncia a
Brasileiros no Exterior (Apndice A Figura A2).
Se o Departamento Consular e Jurdico incumbia-se, generica-
mente, da assistncia consular, a Diretoria-Geral passa a desem-
penhar a funo de orientar e supervisionar as atividades de
assistncia aos brasileiros no exterior. Assim, cria-se uma ins-
tncia superior de orientao e supervisionamento que no chega a
ter, no entanto, o porte e o status de uma Subsecretaria-Geral, cujos
subsecretrios participam no Conselho de Poltica Externa, rgo
de deliberao coletiva do ministrio. No segundo mandato do
gover no Fernando Henrique Cardoso, mediante o Decreto n
o
3.414/2000, modifica-se, simplesmente, a denominao de Dire-
toria-Geral de Assuntos Consulares, Jurdicos e de Assistncia a
Brasileiros no Exterior, para Direo-Geral (DCJ) (Apndice A
Figura A3).
Antes mesmo de alteraes institucionais mais significativas,
desde o comeo dos fluxos, o MRE vinha providenciando, em
maior medida, a prestao consular. J podiam ser verificadas aes
como a criao de alguns consulados em novas regies de grande
concentrao de brasileiros, a criao de um programa de moderni-
zao relacionado emisso de passaporte (1994), a implementao
de um sistema de digitalizao de dados para o controle das ati-
vidades consulares (1994) e a criao de novas carreiras tcnicas e
administrativas para ajudar na execuo da poltica externa (1993).
No entanto, a partir da criao da Diretoria-Geral de Assuntos
Consulares, Jurdicos e Assistncia a Brasileiros no Exterior em
1995, passaram a existir aes mais especficas, como: a criao do
Ncleo de Assistncia para os Brasileiros no exterior (NAB), com-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 83
posto por tcnicos treinados para lidar com situaes de emergncia
(1995); a criao de conselhos de cidados, um canal local de comu-
nicao entre os nacionais e os postos consulares (1996); o incio
das misses consulares mveis, que envolvem o deslocamento de
servios para locais longe da sede, onde se concentra nmero signi-
ficativo de brasileiros (1996); a reforma do manual consular (1998);
o incio da edio de apostilas consulares; e o incio do levamento
sobre os brasileiros no exterior.
Entre 2001 e 2002, ainda no governo Fernando Henrique
Cardoso, mas sob a gesto Celso Lafer, novas mudanas ocorrem
na estrutura do Ministrio das Relaes Exteriores (Decreto n
o
3.959/2001). Dentre elas, a criao da Direo-Geral de Integrao
Latino-Americana, que antes vinha sendo representada por um
departamento, existente desde o governo Fernando Collor de
Melo; e o desmembramento da Subsecretaria-Geral de Assuntos
Polticos em Subsecretaria-Geral de Assuntos Polticos Bilaterais
e Subsecretaria-Geral de Assuntos Polticos Multilaterais, com a
incorporao da Coordenao-Geral de Combate aos Ilcitos
Transnacionais sob a primeira subsecretaria, e a incluso de um
departamento de direitos humanos e outro de temas sociais, sob a
segunda.
1
O primeiro departamento de direitos humanos foi
criado no governo Fernando Henrique Cardoso, e era comparti-
lhado com os temas sociais (Castro & Castro, 2009).
Em 2003, sob o governo Lula da Silva e a gesto Celso Amorim,
uma srie de outras modificaes ocorre com base no Decreto
n
o
4.759. Permanece, entretanto, a DCJ, com as mesmas funes,
1. Esses setores na Sere tambm esto envolvidos em aes voltadas para os bra-
sileiros no exterior: a Coordenao, principalmente por ser responsvel em
propor diretrizes da poltica externa e coordenar internamente as atividades
de cooperao internacional (por exemplo, para combater o trfico de pes-
soas); e a diviso de direitos humanos e a de temas sociais, responsveis pela
preparao e coordenao interna da posio do Brasil para a participao do
pas nos foros regionais e multilaterais sobre agendas de direitos humanos e
social internacional que tenham as migraes como um dos temas tratados.
84 FERNANDA RAIS USHIJIMA
como rgo responsvel pelos brasileiros no exterior. So algumas
alteraes, relacionadas aos rumos da poltica externa, a criao da
Coordenao-Geral de Aes Internacionais de Combate Fome;
da Subsecretaria-Geral da Amrica do Sul; da Diretoria-Geral de
Promoo Comercial; e da Direo-Geral Cultural, com a nova Di-
viso de Promoo da Lngua Portuguesa.
2
No ano de 2004, da unio das diretorias-gerais, pelo Decreto n
o
5.032, estabelecida a Subsecretaria-Geral de Cooperao e Co-
munidades Brasileiras no Exterior. Ela abrigava, alm do Depar-
tamento das Comunidades Brasileiras no Exterior e da Diviso
Consular, a Agncia Brasileira de Cooperao (ABC), o Departa-
mento de Promoo Comercial e o Departamento Cultural (Apn-
dice A Figura A4). Apesar de interdisciplinar, as aes da
subsecretaria no se referiam a
uma poltica especfica para os emigrantes, seno que se dilua
numa poltica global de promoo do pas no exterior e de coope-
rao internacional. Somente existia o Departamento das Comu-
nidades Brasileiras, o qual se encarregava dos assuntos consulares
[]. O restante pertencia ao mbito geral da cooperao interna-
cional. (Vilhena, 2006, traduo nossa)
Uma subsecretaria-geral se encontra em uma posio mais alta
e mais bem equipada do que uma direo. As seguintes medidas,
relacionadas ao mbito consular, foram desenvolvidas depois dessa
mudana: a intensificao da modernizao consular por meio da
idealizao de um projeto mais amplo, ainda em execuo, o qual,
alm de digitalizar e melhorar o processo de controle das atividades
consulares, pretende promover uma constante informatizao, in-
tegrao e padronizao delas (2004); e a expanso de postos con-
sulares para pases onde se concentram os brasileiros.
2. Sobre a maior ateno concedida aos pases da Comunidade dos Pases de
Lngua Portuguesa (CPLP), ver: Miyamoto (2009). Ao final do captulo,
sero abordadas tambm aes da poltica de promoo cultural do Brasil.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 85
No final de 2006, a estrutura do MRE muda novamente, por
meio do Decreto n
o
5.979. A Subsecretaria-Geral Poltica subdi-
vide-se nas subsecretarias-gerais de Assuntos Polticos I e II, com
uma nova distribuio dos grupos de pases e a concentrao de
temas polticos mais gerais na primeira subsecretaria. Foram criadas
na segunda subsecretaria, em virtude da continuidade da poltica
de coalizo e dos direcionamentos da poltica externa, a Coorde-
nao-Geral de Seguimento da Cpula Amrica do Sul e a Coor-
denao-Geral de Seguimento da Cpula Amrica do Sul-Pases
rabes. Os departamentos de Promoo Comercial, Cultural e a
ABC so unificados na nova Subsecrataria-Geral de Cooperao
e Promoo Comercial, que passa a abrigar a Coordenao-Geral
de Cooperao em Agropecuria, Energia, Biocombustvel e Meio
Ambiente. Alm do mais, no Departamento Cultural, foi includa a
nova Diviso de Promoo do Audiovisual.
Sobretudo com a repercusso da publicao do relatrio final
da CPMI da Emigrao, apresentado em julho, criada, pelo
mesmo decreto, uma subsecretaria-geral, a das Comunidades Bra-
sileiras no Exterior (SGEB), especialmente para cuidar de assuntos
relacionados aos brasileiros no exterior (residentes e viajantes), a
estrangeiros que desejam vir ao Brasil e cooperao judiciria in-
ternacional (Apndice A Figura A5).
Dentro dessa subsecretaria passaram a existir somente dois de-
partamentos, o das Comunidades Brasileiras no Exterior (DCB)
e o de Estrangeiros (DES). No DCB, figurou a Diviso das Co-
munidades Brasileiras no Exterior, que, de acordo com o artigo 126
(Portaria n
o
212, de abril de 2008), alm das funes consulares
tradicionais,
3
passou a coordenar os assuntos referentes s comu-
nidades brasileiras no exterior.
A criao dessa subsecretaria-geral representou um turning
point nas polticas para os brasileiros. Ela permitiu: um avano nos
3. Nesse momento, a Diviso das Comunidades Brasileiras no Exterior concen-
trou as funes da Diviso Consular, a qual deixou de figurar na estrutura do
ministrio, retornando somente com o Decreto n
o
7.304/2010.
86 FERNANDA RAIS USHIJIMA
levantamentos sobre brasileiros no exterior (eles passaram a cobrir
um maior nmero de pases e se tornaram mais frequentes) e na
administrao dos dados coletados pelos postos consulares; uma
melhor coordenao com outras instituies pblicas, necessria
por causa da restrita competncia do MRE;
4
uma reforma mais
ampla do manual consular, com a previso de agncias consulares;
um processo mais especializado de criao de postos consulares, re-
lacionado localizao e ao seu formato; um mapeamento dos
veculos de mdia, associaes e voluntrios para promover a orga-
nizao local, complementar e estender o alcance das polticas
(forma de transnacionalismo poltico realizado pelo Estado); um
aumento no nmero de conselhos de cidados; a criao da Confe-
rncia Brasileiros no Mundo (CBM) e do Conselho de Represen-
tantes dos Brasileiros no Exterior (CRBE) (canais de comunicao
entre o governo brasileiro); e o estabelecimento da Ouvidoria Con-
sular, com a funo de processar os comentrios, sugestes, elo-
gios e crticas a qualquer servio consular.
5, 6
Parte das aes mencionadas foram primeiramente cogitadas
no exerccio de reflexo sobre o servio consular brasileiro, insta-
4. Refiro-me coordenao para a realizao de tratados com outros pases sobre
seguridade social, para facilitar o acesso a servios de sade e para a aceitao
recproca e a troca de licenas para dirigir.
5. Sua criao integra movimento iniciado no governo Lula da Silva, de fortale-
cimento das ouvidorias. Inserida no conjunto das ouvidorias do Poder Exe-
cutivo Federal, tecnicamente coordenadas pela Ouvidoria-Geral da Unio
(Decreto n
o
4.785/2003, substitudo pelo Decreto n
o
5.683/2006), a Ouvi-
doria Consular tm como objetivo contribuir para o seu controle de quali-
dade, auxiliando na busca de solues para os problemas existentes.
6. Algo que tinha funes semelhantes, mas era menos informatizado e estrutu-
rado, seria o formulrio de sugestes previsto no Manual do Servio Consular
e Jurdico de 1998: 3.1.31 Ser afixado no recinto de atendimento ao pblico
cartaz informando aos brasileiros usurios da Repartio Consular da exis-
tncia de formulrio destinado a receber sugestes, crticas ou comentrios
sobre os servios prestados, para futuro encaminhamento Sere/DCJ (Mi-
nistrio das Relaes Exteriores, 1998). Processos de modernizao do Estado
vm sendo importantes para aumentar o alcance de polticas, e para aprimorar
a eficincia e a democracia de uma forma geral.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 87
lado aps a criao da SGEB. Esse exerccio, conduzido pelo Mi-
nistrio das Relaes Exteriores, contribuiu, dentre outras coisas,
tanto para acompanhar as mudanas referentes ao desenvolvimento
das polticas pblicas no governo Lula da Silva,
7
quanto legitimar,
ampliar e garantir a competncia com relao poltica para os
emigrantes.
8
Consequentemente, em 2010, lanado o Decreto
Presidencial n
o
7.214, que atribui ao Ministrio das Relaes Exte-
riores a coordenao da ao governamental integrada para as co-
munidades brasileiras no exterior.
Para consolidar as novas alteraes, outras mudanas acon-
tecem nos setores voltados para os brasileiros no exterior. Com
base no Decreto n
o
7.304/2010, a SGBE mantida; entretanto,
passa a comportar a Coordenao-Geral de Planejamento e Inte-
grao Consular. Ademais, o DCB torna-se o Departamento Con-
sular e de Brasileiros no Exterior e composto por duas divises: a
de Assistncia Consular e a das Comunidades Brasileiras no Exte-
rior. Os deveres e os poderes do DCB aumentam, o qual passa a
no somente orientar e supervisionar o atendimento e a assis-
tncia, mas tambm planejar e executar essas atividades, bem
como propor e executar a poltica geral do Brasil para as comuni-
dades no exterior, acompanhar as atividades do CRBE e pro-
mover o dilogo entre o governo e as comunidades (Apndice A
Figura A6).
Apesar de no se tratar de uma reforma estrutural, mas repre-
sentar tambm a maior importncia que o tema dos migrantes
passou a ter na poltica externa brasileira, o presidente Lula da
Silva, por meio de decreto presidencial de 28 de setembro de 2010,
designou, com base no artigo 39, pargrafo 3
o
, da Lei n
o
11.440/06,
o ministro Affonso Emilio de Alencastro Massot para exercer a
funo de embaixador extraordinrio para Assuntos Migratrios.
7. Tanto a poltica interna quanto a externa so importantes para compreender
aes para os brasileiros no exterior.
8. interessante observar como o MRE vem agindo como um player em vrios
nveis (interna e externamente).
88 FERNANDA RAIS USHIJIMA
De acordo com o embaixador Gradilone (2010), ele atua em coor-
denao com a SGEB e deve contribuir para uma participao mais
efetiva do Brasil em foros internacionais migra trios.
Dentro, especificamente, do sistema de distribuio de fun-
es na organizao do Ministrio das Relaes Exteriores, ocorreu
uma mudana para melhorar a prestao dos servios consulares: a
SGEB ganhou maior autonomia administrativa com relao Sub-
secretaria-Geral do Servio Exterior (SGEX),
9
por meio da ele-
vao da Diviso de Assistncia Consular (DAC) Unidade
Gestora.
10
A partir do histrico realizado possvel verificar que o tema
dos brasileiros no exterior veio ganhando mais status dentro da es-
trutura do MRE, at se igualar a outros temas da agenda da poltica
externa brasileira.
Como o desenvolvimento de polticas para os emigrantes e seus
descendentes implica aes que, muitas vezes, envolvem vrias
reas, o Ministrio das Relaes Exteriores tem tanto agido em con-
junto com outros rgos como feito parte de programas e planos
integradores. Outras mudanas estruturais que abordamos resu-
midamente, no diretamente ligadas ao setor para os brasileiros no
exterior, uma vez que representam direcionamentos da poltica ex-
terna, tambm vm tendo impacto na poltica para esse grupo.
Desde 2004, verificam-se, na poltica para os emigrantes
brasileiros e seus descendentes, alm de importantes elementos de
continuidade, a crescente intensificao e um aprofundamento das
aes, bem como algumas inovaes.
9. Setor responsvel pelos aspectos administrativos relacionados com a execuo
da poltica exterior.
10. A previso de uma verba para a assistncia consular deu-se, pela primeira vez,
em 2000, o que possibilitou uma prestao mais eficaz dos servios consu-
lares.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 89
2.2 Conhecimento e participao dos
brasileiros no exterior
Aes com o propsito de conhecer o perfil dos brasileiros no
exterior, alm de representarem uma estratgia para a incorpo-
rao, constituem o primeiro passo para o estabelecimento de pol-
ticas e permitem uma prestao mais eficiente dos servios pelos
postos. O progressivo fortalecimento e especializao setorial para
o atendimento aos brasileiros no exterior, acompanhado de pro-
cessos de modernizao, veio se dando ao lado do aumento do em-
penho direcionado ao recolhimento de informaes, por meio da
criao e do aprimoramento de relatrios.
Aos relatrios consulares mais administrativos e tradicio-
nais, foram-se juntando solicitaes especficas, como as iniciadas
em 1990, sobre os detentos brasileiros no exterior; as atas das reu-
nies no mbito dos Conselhos de Cidados; registros dos con-
sulados itinerantes; avaliaes dos postos, quanto ao nmero, s
caractersticas e situao dos brasileiros em suas jurisdies; ava-
liaes dos rgos direcionais que, no caso da Subsecretaria-Geral
das Comunidades, passaram a envolver consultas mais regulares
demandadas aos postos sobre o dia a dia do atendimento consular a
brasileiros, estimativas, dados de outros governos sobre os brasi-
leiros em seus territrios e publicaes de centros de pesquisa, de
veculos de comunicao e de organizaes internacionais (Gradi-
lone, 2008).
Levantamentos administrativos internos
11
de brasileiros no ex-
terior comeam a ser realizados pelo Ministrio das Relaes Exte-
riores em 1996 (Patarra, 2005). Desde ento, eles vm se tornando
mais frequentes e mais abrangentes, sobretudo aps a criao da
Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior.
11. Como Patarra (2005) afirmou, no se trata de estatsticas pblicas, mas de
levantamentos administrativos internos, cuja falta de preciso plena levada
em conta pelo prprio Ministrio das Relaes Exteriores.
90 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Outro meio que vem possibilitando o conhecimento dos brasi-
leiros no exterior o estabelecimento de cooperao na rea migra-
tria e consular. No caso de Portugal, criou-se o Mecanismo de
Consultas sobre Nacionais no Exterior, Circulao de Pessoas e
outros temas consulares, o qual, alm de outras funes, promove a
troca de informaes sobre questes relacionadas s comunidades
emigradas e a cooperao na rea consular. Consulta e cooperao
em temas migratrios e consulares vm sendo realizadas tambm
com pases como Espanha, Estados Unidos, Frana, Japo, Mxico
e Reino Unido.
No Brasil, o Instituto de Geografia e Estatstica (IBGE)
o principal provedor de dados e informaes do pas. Em 2010,
pela primeira vez, foi includa no censo uma pergunta sobre a exis-
tncia de parentes no exterior, possibilitando novas estimativas
sobre o nmero de brasileiros residentes fora do pas. Tal consulta
permitiu comparar as estimativas publicadas pelo Ministrio das
Relaes Exteriores e tambm identificar a faixa etria, o sexo e os
principais estados de origem dos emigrantes (IBGE, 2011).
Por mais que esses esforos sejam importantes, vale observar
que, como uma questo demogrfica, a emigrao internacional de
brasileiros carece ainda de censos mais completos e aprimorados,
bem como da realizao de um maior nmero de estudos cient-
ficos com base neles.
O processo de formulao da poltica externa sempre foi e con-
tinua, em geral, bastante concentrado. Todavia, desde o final do
sculo XX, vm-se verificando algumas tendncias de mudana. J
no governo de Lula, foi possvel observar o aumento da interlo-
cuo com as unidades federadas, setores das sociedades locais,
alm do empresariado e da academia, com vistas a atender de-
mandas pontuais e a contribuir para a formao de quadros tc-
nicos em temas de poltica externa. Com relao aos brasileiros no
exterior, uma maior interao com o governo e uma maior possibi-
lidade de participao para orientar aes em seu favor se iniciam
com a criao dos Conselhos de Cidados.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 91
Por outro lado, a prpria organizao de grupos de brasileiros
no exterior dentro do contexto de construo democrtica, maior
evidncia do tema migratrio e aumento da restritividade nos
pases de residncia , acabou tambm por permitir um maior
acesso aos atores pblicos.
12
Um marco nesse sentido o I Simpsio
Internacional sobre Emigrao, organizado, em 1997, pela Casa do
12. Recentemente, foi desenvolvida uma pesquisa pelo Centro Escalabriniano
de Estudos Migratrios (CSEM). Dentre os principais apontamentos reali-
zados a partir de um universo de 44 entidades em vrias localidades, des-
tacamos: a) a situao de irregularidade administrativa e a existncia de
esteretipos (como no caso da mulher brasileira) podem significar e suscitar
formas de resistncia e, at mesmo de oposio da grande coletividade em
rela o s formas associativas informais, e, principalmente, as formais; b) re-
presenta tambm um dos pontos frgeis do associativismo tnico, o seu
peso secundrio quando entra como um dos critrios de escolha e investi-
mento dos migrantes, respeito ao alcance do projeto migratrio de seus mem-
bros, o que pode chegar a representar, at mesmo, o desaparecimento da
associao; c) uma tendncia ao favorecimento de processos de consoli-
dao institucional e legitimao junto s instituies pblicas, mais do que
junto s prprias coletividades, que mudam no decorrer do tempo; e d) o
associativismo brasileiro no exterior ainda est muito longe de ter alguma
forma eficiente de transnacionalismo incisivo nas realidades de origem, e no
se sabe se isso que se quer ou que vai acontecer. A pesquisa ainda aponta o
perfil predominante das associaes em alguns locais no exterior onde se con-
centram os brasileiros: no Japo, a principal atividade desempenhada seria a
sade pblica; em Boston-Estados Unidos, no Reino Unido e no Alto Paran-
-Paraguai, as relacionadas informao e conscientizao; j em Portugal, a
de festas e confraternizao; e na Espanha e na Itlia, a de resgate cultural.
Tambm o MRE realizou um mapeamento (2009) e um sistema de cadastra-
mento voluntrio de vrias associaes e veculos de imprensa e mdia no exte-
rior. Essa relao encontra-se disponvel no stio Brasileiros no Mundo.
Teriam realizado alguns estudos mais pontuais, sobretudo antropolgicos,
que abordam a temtica em questo: Kawamura (2003), sobre os brasileiros
no Japo; Margolis (1994), sobre os brasileiros em Nova York; Kubal, Bake-
well & De Haas (2011), sobre os brasileiros no Reino Unido; e Sales (1999 e
2006), sobre brasileiros na regio de Boston. Seriam alguns estudos mais ge-
rais: Sprandel (2001), sobre associaes, ONGs e sindicalismo; Milesi et al.
(2001), sobre entidades confessionais; Levitt & Dehesa (2003), sobre ncleos
do Partido dos Trabalhadores (PT) no exterior; e Menegazzo (2010), sobre a
participao poltica dos brasileiros no exterior.
92 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Brasil em Lisboa, em parceria com o Consulado-Geral do Brasil na
capital portuguesa e o Centro de Estudos das Migraes Interna-
cionais da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Em 2002, realiza-se o I Encontro Ibrico de Comunidades de
Brasileiros no Exterior, promovido pela Procuradoria Regional dos
Direitos do Cidado do Distrito Federal-MPF, com o apoio orga-
nizacional da Casa do Brasil de Lisboa e a colaborao da Critas
Portuguesa, da Critas Brasileira, da Obra Catlica Portuguesa de
Migraes e da Pastoral dos Brasileiros no Exterior da Conferncia
Nacional dos Bispos do Brasil, sob o patrocnio do Banco do Brasil.
Desse encontro resultou o Documento de Lisboa, uma reunio das
propostas aprovadas pelos presentes, com o objetivo de instigar e
pautar aes do Estado brasileiro.
13
No ano de 2005, foi a vez de brasileiros residentes nos Estados
Unidos, com a realizao do I Brazilian Summit, em Boston, que
contou com a participao de trezentas pessoas, dentre pesquisa-
dores e especialistas em migraes, parlamentares, integrantes da
CPMI da Emigrao, diplomatas brasileiros e autoridades norte-
-americanas. O encontro durou trs dias e resultou na Carta de
Boston
14
(Milesi & Fantazini, 2008).
13. Como apresentam Milesi & Fantazini (2008), as demandas direcionadas ao
Estado brasileiro giraram em torno da representao poltica dos brasileiros
no exterior, da elaborao do Estatuto do Brasileiro no Exterior, da atuao
dos consulados e embaixadas brasileiras, dos servios bancrios, dos acordos e
negociaes diplomticas, das questes criminais, da realizao de censo e re-
gistros civis, do acesso informao, entre outros.
14. Seriam as reivindicaes ao governo brasileiro, realizadas nesse encontro:
abertura de novos consulados brasileiros nos Estados Unidos, consulados
itinerantes, ampliao da atuao e reestruturao do corpo funcional dos
con sulados, adoo de uma poltica de Estados para lidar com os interesses e
necessidades dos brasileiros no exterior, apoio s organizaes no governa-
mentais representativas das comunidades brasileiras residentes nos Estados
Unidos, debate e negociao com o Governo dos Estados Unidos sobre vistos
de entrada naquele pas e reunificao familiar, intensificao dos esforos do
Governo brasileiro na defesa dos direitos humanos e cidadania dos brasileiros
emigrados aos Estados Unidos (Milesi & Fantazini, 2008).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 93
Antes da I Conferncia Brasileiros no Mundo, ocorreu ainda o
II Encontro de Comunidades de Brasileiros no Exterior, ocorrida
em 2007, com a promoo do Instituto Universitas, da Fundao
Alexandre de Gusmo, da Comisso de Direitos Humanos e Mi-
norias da Cmara de Deputados, do IMDH, da Pastoral dos Bra-
sileiros no Exterior (PBE/CNBB), Associazione Internazionale
Scalabriniana al Servizio dei Migranti (AISSMI) e a Abrao Asso-
ciao de Ajuda e de Informao aos Migrantes de Lngua Portu-
guesa em Situao Irregular ou Precria (ASBL).
Dentre os objetivos do encontro, havia o de propiciar a elabo-
rao de um conjunto de demandas e prioridades a ser apresentado
ao Estado Brasileiro (Executivo e Legislativo);
15
e o de oportu-
nizar canal de dilogo entre representantes do governo brasileiro
com entidades e/ou grupos de brasileiros que formam a comu-
nidade brasileira na Europa.
O II Encontro compreendeu uma exposio sobre os avanos
conseguidos a partir do Documento de Lisboa (2002), por repre-
sentante do Ministrio das Relaes Exteriores, do Ministrio da
Justia, Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Senado Fe-
deral e da Cmara dos Deputados; a realizao de conferncias; de
trabalho em grupos para debater e propor; e a formao plenria
15. O Documento de Bruxelas pleiteou: encontros peridicos com o Ministrio
de Relaes Exteriores para discutir as reivindicaes dos brasileiros e brasi-
leiras no exterior; reduo de custos e simplificao da burocracia para ob-
teno documentos; poltica permanente do Estado brasileiro em defesa dos
direitos fundamentais dos cidados brasileiros; acordos multilaterais e bilate-
rais para implementao de polticas pblicas em matria de trabalho, edu-
cao, ensino, cultura, sade, seguridade social; criao do Conselho Nacional
de Migrao; normatizao de nova lei de migraes no Brasil; aperfeioa-
mento dos servios e maiores recursos nos consulados; implementao de ser-
vios jurdicos atravs de Embaixadas e de associaes ligadas s comunidades
brasileiras no exterior; avano em questes e benefcios previdencirios, entre
outros (Milesi & Fantazini, 2008). De se perceber que parte dos pleitos que
encontramos nesse tipo de evento parece nascer de campanhas de atores
polticos pblicos, os quais aproveitam o espao para legitimar interesses
prprios.
94 FERNANDA RAIS USHIJIMA
para aprovao de documento final. Do encontro, surgiram o Do-
cumento de Bruxelas e a constituio provisria de uma rede de
brasileiros e brasileiras na Europa.
16
No governo Lula da Silva, a abertura participao social, de
forma geral, amplia-se. Isso se d por meio da multiplicao de ca-
nais de dilogos com a sociedade civil estabelecidos a partir da
criao e reformulao de conselhos nacionais, conferncias nacio-
nais, fruns, ouvidorias, grupos de trabalho no processo de cons-
truo de polticas pblicas (Brasil, 2010).
No caso dos brasileiros no exterior, iniciou-se um sistema
de conferncias, criou-se uma Ouvidoria na Sere
17
e se estabe-
leceu o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior
(CRBE).
As conferncias nacionais, no novo governo, foram multipli-
cadas e adotaram um formato diferente. Realizadas periodicamente
e construdas sob metodologia participativa, as conferncias
transformaram-se num possvel espao para o desenvolvimento de
polticas.
No caso especfico da Conferncia Brasileiros no Mundo,
18
a
inspirao se deu tambm nos modelos dos encontros em outros
16. A mencionada rede de brasileiros vem se consolidando e os encontros na Eu-
ropa continuam ocorrendo. Em 2009, houve o III Encontro em Barcelona-
-Espanha, que resultou no Documento de Barcelona. Tal documento foi
adicionado ao acervo de contribuies dos grupos de brasileiros no exterior,
para a II Conferncia Brasileiros no Mundo.
17. J tratamos da Ouvidoria Consular no tpico anterior. Nessa concepo pol-
tica, as ouvidorias representariam uma forma de participao poltica mais
individualizada.
18. Vale ressaltar que, na proposta original, reproduzida na compilao dos docu-
mentos que baseiam a elaborao de plano diretor de reforma consular, a pri-
meira sugesto foi a de criao de Conselho de Representantes no Exterior,
partindo de estudo aprofundado do Consejo General de la Ciudadana Es-
paola, e que, a princpio, deveria se reunir uma ou duas vezes por ano no
Brasil com representantes da sociedade civil brasileira organizada no exte-
rior, do Itamaraty e demais Ministrios envolvidos para atualizar, informar,
discutir e propor medidas que beneficiem os brasileiros residentes no exte-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 95
pases, tendo ela surgido para, de certo modo, ampliar e organizar
a participao dos brasileiros no exterior, e permitir, com isso,
uma viso de conjunto das demandas do grupo. O principal foco
da conferncia, nas palavras do embaixador Gradilone, atual sub-
secretrio-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, no
seria a insero poltica desses brasileiros, mas a criao de um
sistema de demandas para ajudar a nortear uma ao governa-
mental integrada.
A I Conferncia das Comunidades Brasileiras no Exterior,
deu-se em 2008. Aberta participao e organizada pelo Minis-
trio das Relaes Exteriores (Subsecretaria e Funag), ela reuniu
especialistas, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e
Judicirio, bem como das principais comunidades de brasileiros
no exterior, escolhidos pelas embaixadas e consulados como con-
vidados do governo, com suas viagens custeadas. O objetivo prin-
cipal do encontro foi o de permitir debate aberto e abrangente de
assuntos sobre emigrao brasileira e polticas pblicas para brasi-
leiros no exterior.
No processo de preparao da conferncia, houve a encomenda
a alguns especialistas, com base em temas selecionados, de traba-
lhos sobre brasileiros no exterior, e, a alguns representantes dos
poderes, sobre as aes em curso ou cogitadas na rea; um levanta-
mento das associaes e organizaes de brasileiros no exterior, e
da imprensa e mdia para eles voltados; a apresentao de um
quadro de iniciativas pelo Itamaraty, com base nos documentos dos
encontros realizados em Lisboa, Boston e Bruxelas; a compilao
rior. Em seguida, com vistas ao planejamento de um eventual CRE , e
se melhana das cerca de 40 Conferncias Nacionais existentes no Brasil,
ressaltou-se a oportunidade de se convocar a I Conferncia Brasileiros no Mun-
do, ocasio em que poderiam ser estabelecidas diretrizes para a eleio dos
Conselheiros (representantes da sociedade civil), diagnstico da situao
dos brasileiros emigrados e plano de trabalho. Por ltimo, sugeriu-se que as
passagens e dirias dos principais representantes da sociedade civil organizada
no exterior deveriam ser custeadas pelo governo brasileiro (Brasil, 2010a).
96 FERNANDA RAIS USHIJIMA
de referncias de vdeos, estudos e pesquisas existentes sobre os
brasileiros no exterior; e de textos enviados por lderes e membro
das comunidades, ou de contribuio independente.
19
Os textos
ficaram disponveis no Portal Consular antes do evento. Dos le-
vantamentos e das contribuies surgiu o Diretrio das Comuni-
dades Brasileiras no Exterior.
A conferncia foi transmitida pela Internet em tempo real
20
e
vdeo sobre ela pode ser acessado pela Internet.
21
Como constava
em sua programao, foram dois dias de conferncia, sendo que, no
primeiro, concentraram-se as apresentaes dos textos encomen-
dados e os debates entre seus autores e representantes dos poderes.
No segundo, as discusses deram-se a partir da diviso dos repre-
sentantes das comunidades em quatro mesas regionais: Es-
tados Unidos, Europa, Amrica do Sul, Japo e outros pases
(frica, sia, Oceania e Oriente Mdio). Cada grupo definiu reco-
mendaes que foram apreciadas em plenrio, para a formao de
uma Ata Consolidada.
Ao final da conferncia, para dar continuidade ao dilogo,
criou-se um conselho formado por membros das comunidades.
Ficou decidido que a conferncia se tornaria um canal instituciona-
lizado e que, na impossibilidade, naquele momento, de se ponderar
mais definitivamente sobre a questo da representao, um con-
selho provisrio seria estabelecido, com o mandato de um ano, para
definir aspectos organizacionais da II Conferncia. Numa ao
prtica, os relatores das mesas (cinco, sendo duas dos Estados
Unidos) foram automaticamente transformados em membros e en-
19. Alm dos grandes encontros abordados, uma participao mais difusa de
grupos de brasileiros no exterior pode ser percebida a partir da compilao
de contribuies s Conferncias Brasileiros no Mundo.
20. possvel encontrar uma verso de registro mais completa da conferncia nos
arquivos da Fundao Alexandre de Gusmo (Funag).
21. Disponvel no canal do Ministrio das Relaes Exteriores no YouTube e no
stio do Ministrio das Relaes Exteriores, Brasileiros no Mundo <http://
www.brasileirosnomundo.mre.gov.br>.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 97
carregados de promover um processo de consulta para angariar o
nome de mais alguns representantes. Composto por trs membros
de cada regio, o nmero de componentes do conselho provisrio
foi 12.
A reunio antecedente II Conferncia foi precedida por
telefo nemas e correspondncias entre o Ministrio das Relaes
Exteriores e o Conselho Provisrio de Brasileiros no Exterior
(CPBE). Ela ocorreu em junho de 2009, no Rio de Janeiro. Dela
resultou um documento sobre: a) forma de atualizao da Ata Con-
solidada; b) se leo dos temas da II Conferncia Brasileiros no
Mundo; c) formato da conferncia e forma de interveno dos par-
ticipantes; d) critrios para a escolha e participao dos represen-
tantes a serem convidados oficialmente, com despesas pagas pela
Funag; e e) recomendaes sobre o processo consultivo de for-
mao do conselho de representantes permanente.
A II Conferncia foi realizada em outubro do mesmo ano. Com
base nos entendimentos comuns entre o CPBE e o Ministrio das
Relaes Exteriores, o primeiro dia foi de orientao e preparao.
Diferentemente da I, na II Conferncia, as mesas foram divididas
por temas: a) representao poltica; b) servios consulares e regu-
larizao migratria; c) trabalho, sade e previdncia; e d) cultura e
educao. Nos outros dois dias da conferncia, houve reunies das
mesas e, ao final, a plenria, em que: a) apresentaram-se e se ava-
liaram os resultados e as concluses das mesas; b) atualizaram a Ata
com novas demandas aprovadas pelas mesas; e c) deliberaram sobre
o conselho permanente e a prorrogao do mandato do conselho
provisrio at a posse do conselho permanente.
O conselho provisrio, por deciso da maioria, no teve o seu
mandato prorrogado e se dissolveu na II Conferncia. A proposta
relacionada ao conselho permanente foi elaborada nas sesses
sobre representao poltica. Nessa proposta, constavam as-
pectos bsicos da composio do conselho permanente e do pro-
cesso de escolha de seus integrantes. Ela foi submetida ao plenrio
e aprovada.
98 FERNANDA RAIS USHIJIMA
O Ministrio das Relaes Exteriores submete sano do
presidente Lula da Silva uma proposta de decreto que, dentre ou-
tras providncias, estabelece princpios e diretrizes da poltica go-
vernamental para as comunidades brasileiras no exterior, institui as
Conferncias Brasileiros no Mundo e cria o Conselho de Represen-
tantes de Brasileiros no Exterior. O Decreto n
o
7.214 sancionado
em 15 de junho de 2010.
De acordo com o artigo 5
o
do decreto, as disposies sobre o
CRBE devem ser complementadas por regimento que disponha
sobre sua forma de funcionamento, atribuies, regras comple-
mentares para a eleio e a reconduo de seus membros e proce-
dimentos para prestao de contas de suas atividades, devendo ser
submetido previamente a consulta pblica, pelo prazo de trinta
dias, e aprovado por ato do Ministro de Estado das Relaes Exte-
riores. Seguindo o previsto no decreto, instituda a Portaria n
o
657, de 26 de outubro de 2010.
Nos princpios e diretrizes de uma nova poltica governa-
mental integrada para as comunidades brasileiras no exterior, o
decreto atribui ao Ministrio das Relaes Exteriores a coorde-
nao da ao governamental integrada para as assistir. O sis-
tema de conferncias inserido como medida a ser adotada para a
observncia dos princpios e diretrizes da poltica, e as atas se con-
firmam como instrumento de referncia para o estabelecimento da
poltica e para a prestao de contas dos rgos pblicos. O CRBE,
alm da funo de colaborar na organizao da conferncia, passa a
ter a finalidade de assessorar o Ministrio das Relaes Exteriores
(MRE) na discusso de temas relevantes para as comunidades bra-
sileiras no exterior, oferecer subsdios para a formulao de pol-
ticas pblicas que as beneficiem e sugerir medidas para o contnuo
aperfeioamento do servio consular prestado pelo MRE (artigo
1
o
, Portaria n
o
657/2010).
O conselho, de 16 representantes e 16 suplentes, oito de cada
regio (Amrica do Norte e Central; Amrica do Sul; Europa; sia,
frica e Oriente Mdio), com mandato de dois anos, foi constitudo
por votao pela rede mundial de computadores, em novembro
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 99
de 2010. No processo consultivo, 298 brasileiros se candidataram e
21.041 votaram.
22
A III Conferncia foi realizada em dezembro de 2010. Os prin-
cipais acontecimentos foram a presena do presidente Lula da
Silva; o empossamento, por ele, dos membros do CRBE, previa-
mente designados por ato do ex-ministro Celso Amorim; a pres-
tao de contas dos ministrios, com base em ata consolidada
composta pelas demandas dos brasileiros no exterior nos ltimos
oito anos (desde o I Encontro em 2002); e a criao de um plano de
ao para o ano de 2011.
Vale observar que, aps a III Conferncia, a Ata ficou aberta a
intervenes em pgina da Internet,
23
por um perodo de trinta
dias; e os membros do CRBE foram convidados a fazer sugestes
com relao ao plano de reforma do Manual do Servio Consular e
Jurdico.
2.3 Servios consulares e
outras medidas de apoio e cidadania
As reparties consulares brasileiras no exterior possuem v-
rias funes, estabelecidas pela Conveno de Viena sobre Relaes
Consulares e por legislao interna: promoo comercial e cultural,
assistncia a brasileiros em dificuldade em outros pases, expedio
de documentos de identificao e viagem, prtica de atos notariais
e vrios outros demandados tambm por estrangeiros, como a con-
cesso de visto.
Alm da ampliao e do aprimoramento na prestao das ati-
vidades consulares mais tradicionais, em decorrncia do cresci-
22. Dos 21.041 votos, 2.477 foram anulados por problemas ou suspeita de irregu-
laridade. O processo consultivo no contemplou as mesmas exigncias de
uma eleio; e o programa e o sistema eletrnicos de votao foram concebidos
pelo prprio Ministrio das Relaes Exteriores.
23. No stio do Ministrio das Relaes Exteriores Brasileiros no Mundo:
<http://www.brasileirosnomundo.mre.gov.br>.
100 FERNANDA RAIS USHIJIMA
mento do nmero de brasileiros que viajam para o exterior e
residem fora do pas, houve a extenso de alguns direitos civis, po-
lticos, econmicos, sociais e culturais para o segundo grupo de
brasileiros
24
(Anexo 1).
2.3.1 A expanso e a reforma da rede consular
Desde o incio da dcada de 1990, o Brasil vem expandindo
seus rgos no exterior. Foram elementos propulsores, a criao de
novas naes, sobretudo com o fracionamento da Unio Sovitica,
a diversificao das relaes, a poltica de promoo comercial e
cultural que fizeram com que o pas fosse se consolidando como
um global player e um global trader , bem como o aumento do n-
mero de viajantes e de brasileiros residindo em praticamente todas
as regies do mundo.
24. Dentre os principais servios consulares mais tradicionais prestados pelas re-
parties brasileiras encontram-se: emisso de documentos de viagem e enca-
minhamento de pedido do Cadastro de Pessoas Fsicas (CPF); atestados de
residncia e de vida; realizao de atos do registro civil (registros de casa-
mento, nascimento e bito), celebrao de casamento (Decreto n
o
4.657/1942,
tambm conhecido como Lei de Introduo s Normas do Direito Brasileiro)
e providncias (com exceo das financeiras) para o traslado do corpo; legali-
zaes (carta de doao, documentos escolares e sentena estrangeira); perda e
reaquisio de nacionalidade; servio eleitoral (alistamento, transferncia de
domiclio eleitoral, reviso eleitoral, segunda via do ttulo de eleitor, justifi-
cao eleitoral); servio militar (alistamento, certificado de dispensa); repa-
triao, orientao e assistncia. A prestao desses servios no exterior veio
sendo facilitada pela previso de verbas especficas (2000), pelas reformas bu-
rocrticas, pelo constante aprimoramento tecnolgico e pela realizao de
convnios entre o MRE e outros rgos pblicos. A tais servios consulares
que so mais tradicionais, adicionou-se recentemente, como veremos, o rece-
bimento de pedidos de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Servio
(FGTS). H ainda projetos de leis com destaque para o Projeto de Lei n
o
791/2007 (autoriza as autoridade consulares a celebrarem a separao e o
divr cio consensuais) que preveem a ampliao da competncia cartorial das
reparties. Vale destacar que a atuao do MRE no se resume prestao
desse tipo de servio, mas tambm realizao de coordenao, de cooperao
e de acordos internacionais.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 101
O crescimento foi acompanhado de reconfiguraes da rede
consular ao longo da histria, em decorrncia das mudanas de/nos
fatores envolvidos nos direcionamentos da poltica externa. Dentre
eles, a formao de comunidades brasileiras no exterior tem le-
vado a uma tentativa de reconcepo e de reforma na gesto dos
servios consulares nos ltimos anos.
Essa tentativa se deu principalmente por meio de um exerccio
de reflexo sobre o servio consular e de apoio a comunidades bra-
sileiras no exterior. Tal exerccio ocorreu em 2007, a partir da Cir-
cular Telegrfica n
o
65.473. Nele, foram envolvidas consultas aos
postos do Ministrio das Relaes Exteriores no exterior e a funcio-
nrios da Sere. Esse exerccio foi se ampliando medida que as su-
gestes foram sendo consideradas e as polticas, postas em prtica.
25
Hoje, ele se encontra institucionalizado na forma de um Plano
Diretor de Reforma Consular,
26
com cerca de 200 aes que j co-
mearam a ser implantadas e que sero continuadas e complemen-
tadas a partir de 2011 (Gradilone, 2010).
Para a constituio do plano, alm das recomendaes, pro-
postas e comentrios resultantes da consulta, foram analisadas e
organizadas pela SGEB reivindicaes dos representantes de brasi-
leiros no exterior, contribuies individuais, reunies de coorde-
nao consular nos Estados Unidos e na Europa, experincias de
outros pases e de consulados considerados modelos, e diretrizes
traadas com base em dados relativos rea consular e a recursos
oramentrios disponveis na Sere
27
(Brasil, 2010a).
25. Hoje, esse exerccio constantemente alimentado, especialmente, pela adoo
de sugestes que dele nasceram, tais como: a criao das Conferncias Brasi-
leiros no Mundo, do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior e
da Ouvidoria Consular; e pelo portal da Intratec, onde seria possvel aos
funcionrios do ministrio fazerem sugestes e a atualizao perene do Ma-
nual de Servio Consular e Jurdico.
26. A proposta de criao de um plano diretor surgiu do consulado brasileiro em
Frankfurt (Brasil, 2010a).
27. Vale observar que, apesar da incluso de demandas dos brasileiros nas anlises
mencionadas, a seletividade se trata de um processo que se d totalmente
dentro do Ministrio das Relaes Exteriores.
102 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Com o levantamento, ficaram claros tanto os limites das mu-
danas realizadas at ento pelo ministrio quanto a importncia
da mobilizao e da predisposio individual e local tanto dos
migran tes quanto dos funcionrios. Na ocasio, assim, foram divul-
gadas as boas prticas, mas tambm os vrios problemas e questes
que envolvem a conduo da poltica para os brasileiros no exterior;
dentre estes, os mais gerais so: a) a necessidade de se desenvolver
um estudo profundo e uma estratgia slida para a reimplantao e
remodelao da rede consular que leve em considerao a realidade
dinmica do nmero e da concentrao dos brasi leiros no exterior;
b) a agilizao e aprimoramento da prestao dos servios; c) a falta
de autonomia administrativa e oramentria da SGEB, para racio-
nalizar e agilizar as decises com alto impacto sobre o atendimento
consular no exterior; d) a desvalo rizao da funo consular; e) a
necessidade de aumentar o contato entre a SGEB e os postos no exte-
rior; f) a atribuio da presidncia do conselho de cidados a cnsul-
-geral ou, no mnimo, a Minis tro Conselheiro, quando no houver
representao consular na capital , o que, alm de limitar a sua
criao, tambm causaria distoro na representatividade dos
brasileiros no exterior; g) a neces sidade de mais treinamento,
agravada pela rotatividade dos funcionrios; e h) a necessidade de
se aumentar o alcance das aes dos consulados, por meio da am-
pliao da associao com organizaes de brasileiros no exterior, o
planejamento das misses consulares itinerantes e a coordenao
da rede.
A partir do exerccio, vem-se estudando a possibilidade de
serem contemplados a criao de novos tipos de reparties con-
sulares, o estabelecimento de novos critrios de lotao de pessoal
baseados em dados objetivos de atividade consular e concentrao
geogrfica de brasileiros, a instituio de novas prticas de trabalho
com utilizao de alta tecnologia, a previso de incentivos a servi-
dores em funes de atendimento pblico, a adoo de programas
de treinamento permanente, a insero de novas tarefas nas mis-
ses consulares itinerantes, a realizao de misses de aconselha-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 103
mento consular (SGEB), a operacionalizao dos conselhos de
cidados, para citar alguns.
Algumas das medidas levantadas com o exerccio j foram im-
plementadas, tais como a criao da Conferncia Brasileiros no
Mundo; do Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior;
a elevao da Diviso de Assistncia Consular (DAC) condio de
Unidade Gestora (UG); atualizaes no Manual de Servio Con-
sular e Jurdico, com a previso da criao de agncias consulares;
28
e a criao de reparties consulares. Consulados itinerantes e os
conselhos de cidados tambm vm sendo expandidos.
Se, por um lado, alguns problemas foram resolvidos, a prpria
implantao das novas polticas fez com que surgissem novos: a
partir da elevao da DAC a UG, a interao entre a SGEB e os
postos no exterior cresceu, no entanto, o aumento dos servios na
Sere no foi acompanhado por um adicional adequado de funcio-
nrios, como consta em relatrio elaborado pelo prprio Ministrio
das Relaes Exteriores; e a dificuldade de avano das polticas no
mbito das Conferncias Brasileiros no Mundo e do Conselho de Re-
presentantes de Brasileiros no Exterior, seja pelo sistema adotado,
29
ou pelas restries financeiras para a concretizao dos planos.
30
28. Foi assim prevista pela primeira vez a criao de agncias consulares no
MSCJ: 2.2.18 Atendidas as necessidades e convenincias do Servio Con-
sular, podero ser criados Agncias ou Escritrios Consulares, vinculados a
uma Repartio Consular de carreira, cujas atribuies sero determinadas
quando de sua criao (Ministrio das Relaes Exteriores, 2010). As agn-
cias consulares, por serem mais especficas e menos custosas, podem facilitar a
expanso do Ministrio das Relaes Exteriores a locais onde existe e se cons-
titui nmero considervel de brasileiros.
29. A busca pelo consenso e a adoo de um sem-nmero de aes acabam invia-
bilizando o avano das polticas e anulando a possibilidade de deciso, por
parte dos emigrantes, quanto ao que consideram prioritrio.
30. Trata-se da reclamao de alguns emigrantes, que tambm apontam, como
consequncia da ausncia de qualquer financiamento para as atividades do
CRBE, a restrio candidatura para o conselho a organizaes de/para os
emigrantes e a grupos mais privilegiados.
104 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Em 2009, a rede consular era composta por 112 setores consu-
lares de embaixadas, 51 consulados-gerais, 5 consulados, 15 vice-
-consulados, e 177 consulados honorrios
31, 32
(Ministrio das Rela-
es Exteriores, 2008). Na dcada de 1990, pelo que nos permite
observar da Tabela 1, houve mais extino de reparties consulares
do que criao ou elevao. No entanto, nesse perodo, destaca-se a
criao do Consulado-Geral de Nagoya (1992), de Boston (1993) e
de Orlando (1997), alm da elevao do Consulado de Houston
categoria de Consulado-Geral (1995). A partir do ano de 2005, o
nmero de reparties consulares passou a crescer por variados mo-
tivos, nem sempre ligados presena de brasileiros na regio.
A maior presena consular em localidades de concentrao de
brasileiros deve-se: a interesses da poltica externa; ao surgimento
de novas demandas;
33
ao aumento no nmero e diversificao da
31. De acordo com a Conveno de Viena de 1963 e o MSCJ, constituiriam cate-
gorias de repartio consular e suas principais diferenas: a) consulados-gerais
(ampla jurisdio, de carreira, criao por decreto, nomeao realizada pelo
presidente, possibilidade de presidncia do Conselho de Cidados); b) consu-
lados (de carreira, criao por decreto, nomeao pelo presidente); c) vice-
-consulados (de carreira, subordinados, criao por decreto presidencial,
possibilidade de oficial e assistente de chancelaria receberem o ttulo de vice-
-cnsul); e c) consulados honorrios (sem remunerao, funo limitada, su-
bordinados, criao por portaria ministerial).
32. A integrao dos consulados honorrios nos esforos da rede consular para
atender aos brasileiros no exterior, quando ocorre, d-se de forma limitada,
restringindo-se a casos especficos de assistncia a brasileiros e a prestar
apoio a misses de autoridades brasileiras em locais mais distantes da sede da
jurisdio consular (Brasil, 2010a).
No Manual do Servio Consular e Jurdico (MSCJ) de 1998, j se encontrava
previsto, como um dos principais objetivos da repartio consular honorria,
prestar assistncia aos brasileiros em sua jurisdio. No entanto, foi somente
com a reforma de 2010 que a escolha do cnsul honorrio passou a recair, obri-
gatoriamente, em pessoas que mantenham vnculos com a comunidade brasi-
leira local; foram determinadas as atividades consulares e de apoio prestadas
pelos consulados honorrios; e estabelecidas a avaliao de desempenho e a
visita pessoal da autoridade consular.
33. Relacionadas, por exemplo, a momentos crticos, tais como o 11 de setembro
de 2001 e as crises econmicas recentes, que podem resultar numa aproxi-
mao com os consulados pelo aumento das dificuldades enfrentadas.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 105
localizao dos brasileiros no exterior; ascenso hierrquica no
MRE, de setor responsvel;
34
e ao aumento do Produto Interno
Bruto (PIB) e da arrecadao do Estado.
Tabela 1 A expanso da rede consular brasileira (1990-2010)
Local* Ano Decreto
Extino do Consulado-Geral em Atlanta
(Estados Unidos)
1990 Decreto n
o
99.585
Extino do Vice-Consulado em Guayaquil
(Repblica do Equador)
1990 Decreto n
o
99.562
Extino do Vice-Consulado do Brasil em Melo
(Repblica Oriental do Uruguai)
1990 Decreto n
o
99.563
Extino do Vice-Consulado em Iocoama (Japo) 1990 Decreto n
o
99.564
Extino do Vice-Consulado do Brasil em Milagro
(Repblica da Venezuela)
1990 Decreto n
o
99.565
Extino do Vice-Consulado do Brasil em Nassau
(Comunidade das Bahamas)
1990 Decreto n
o
99.566
Elevao da categoria do Vice-Consulado do Brasil
em Rivera para Consulado (Uruguai)
1990 Decreto n
o
99.567
Elevao da categoria do Vice-Consulado do Brasil
em Ciudad Guayana para Consulado (Venezuela)
1990 Decreto n
o
99.569
Extino do Consulado em Mendoza (Argentina) 1991
Decreto sem nmero
(DSN),
de 22 de fevereiro
Criao do Consulado-Geral em San Juan
(Porto Rico)
1991
DSN,
de 20 de agosto
Criao do Consulado-Geral em Nagoya (Japo) 1992
DSN,
de 18 de fevereiro
Extino do Consulado em Osaka (Japo) 1992
DSN,
de 18 de fevereiro
34. Com a criao da Subsecretaria-Geral de Cooperao e Comunidades Brasi-
leiras no Exterior (2004) e a Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras
no Exterior (2006).
(cont.)
106 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Local* Ano Decreto
Cria o Vice-Consulado do Brasil em
Puerto Ayacucho (Venezuela)
1992
DSN,
de 21 de maio
Extino do Consulado do Brasil em Dallas
(Estados Unidos)
1993
DSN, de 14 de
dezembro
Criao do Consulado-Geral do Brasil em Boston
(Estados Unidos)
1993
DSN, de 14 de
dezembro
Extino do Consulado-Geral do Brasil em
Nova Orleans (Estados Unidos)
1993
DSN, de 14 de
dezembro
Eleva a categoria do Consulado-Geral o Consulado
em Sydney (Comunidade da Austrlia)
1994 Decreto n
o
1.301
Criao do Consulado do Brasil na
Cidade do Cabo (Repblica da frica do Sul)
1994
DSN, de
27 de dezembro
Elevao da categoria de Consulado-Geral o
Consulado em Houston (Estados Unidos)
1995 Decreto n
o
1.557
Criao do Consulado-Geral do Brasil em Atlanta
(Estados Unidos)
1996
DSN,
de 10 de maio
Criao do Consulado do Brasil em Orlando
(Estados Unidos); inativo
1997
DSN,
de 9 setembro
Extino do Consulado-Geral do Brasil em Atlanta
(Estados Unidos)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em
Genebra (Sua)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em
Hamburgo (Alemanha)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em
Marselha (Frana)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em Paris
(Frana)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em
San Juan (Porto Rico)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em
Vancouver (Canad)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em Xangai
(China)
1999
DSN,
de 9 de junho
(cont.)
(cont.)
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 107
Local* Ano Decreto
Extino do Vice-Consulado do Brasil em
Bella Unin (Uruguai)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Vice-Consulado do Brasil em
Bernardo de Irigoyen (Argentina)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Vice-Consulado do Brasil em Iquitos
(Peru)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Vice-Consulado do Brasil em Melo
(Uruguai)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Vice-Consulado do Brasil em Posadas
(Argentina)
1999
DSN,
de 9 de junho
Extino do Consulado-Geral do Brasil em
Berlim (Alemanha); criao do Escritrio de
Representao da Embaixada do Brasil em Berlim
1999
DSN,
de 9 de junho
Torna sem efeito a extino do Consulado-Geral
do Brasil em Xangai (China)
1999
DSN,
de 8 de setembro
Elevao do Consulado categoria do Vice-
-Consulado do Brasil em Pedro Juan Caballero
(Paraguai)
2000
DSN,
de 4 de maio
Elevao do Consulado do Brasil em Xangai
(China) categoria do Consulado-Geral
2002
DSN,
de 17 de agosto
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Genebra (Confederao Sua)
2005 Decreto n
o
5.372
Criao do Consulado do Brasil em Beirute
(Repblica Libanesa)
2005 Decreto n
o
5.400
Criao do Consulado-Geral do Brasil em Lagos
(Repblica da Nigria)
2005 Decreto n
o
5.422
Criao do Consulado do Brasil em Iquitos
(Repblica do Peru)
2005 Decreto n
o
5.461
Elevao categoria de Consulado-Geral do
Consulado do Brasil na Cidade do Cabo
(Repblica da frica do Sul)
2005
DSN,
de 30 de setembro
Elevao categoria de Consulado-Geral do
Consulado do Brasil em Caiena (Guiana Francesa)
2005 Decreto n
o
5.599
Criao do Consulado-Geral do Brasil em Paris
(Repblica Francesa)
2005 Decreto n
o
5.615
(cont.)
(cont.)
108 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Local* Ano Decreto
Criao do Consulado-Geral do Brasil em Madri
(Reino da Espanha)
2006 Decreto n
o
5.787
Criao do Consulado-Geral em Mumbai (ndia) 2006 Decreto n
o
5.808
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Mendoza (Repblica Argentina)
2006 Decreto n
o
5.809
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Vancouver (Canad)
2007 Decreto n
o
6.113
Criao do Vice-Consulado do Brasil em Lethem
(Guiana)
2007 Decreto n
o
6.153
Criao do Consulado-Geral do Brasil na
Cidade do Mxico (Estados Unidos Mexicanos)
2008 Decreto n
o
6.342
Criao do Consulado-Geral do Brasil em Caracas
(Repblica Bolivariana da Venezuela)
2008 Decreto n
o
6.343
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Washington, D. C. (Estados Unidos)
2008 Decreto n
o
6.435
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Hartford (Estados Unidos)
2008 Decreto n
o
6.436
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Hamamatsu (Japo)
2008 Decreto n
o
5.461
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Canto (Repblica Popular da China)
2009 Decreto n
o
6.839
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Istambul (Repblica da Turquia)
2009 Decreto n
o
6.989
Criao do Consulado-Geral do Brasil em
Bruxelas (Reino da Blgica)
2010 Decreto n
o
7.181
Criao do Consulado do Brasil em
Saint Georges de LOyapock (Guiana Francesa)
2010 Decreto n
o
7.198
Fonte: Castro & Castro (2009) e consulta a decretos na Cmara dos Deputados
<http://www.camara.gov.br>.
(*) No esto includos no quadro a criao de setores consulares em embaixadas,
de consulados honorrios, ou a expanso da jurisdio consular.
(cont.)
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 109
No caso do Paraguai, a rede consular, at 2009, possua a con-
figurao mostrada na Tabela 2:
35
Tabela 2 Rede consular brasileira no Paraguai (2009)
Local Tipo de repartio Decreto/Ano Jurisdio em 2009
Encarnacin Vice-Consulado
Anterior dcada
de 1950
Departamento de Itapua
Concepcin Vice-Consulado
Anterior dcada
de 1950
Departamento de
Concepcin
Pedro Juan
Caballero
Vice-Consulado
Decreto n
o
53.968/1946
Departamentos de
Amambay, Concepcin e
Alto Paraguay
Elevao para
Consulado
DSN, de 4 de
maio de 2000
Assuno Consulado-Geral
Decreto n
o
53.524/1964
Departamentos de
Boquern, Caazap,
Caaguaz, Central,
Cordillera, Guair,
Misiones, Neembuc,
Paraguar, Presidente
Hayes e San Pedro
Salto del
Guair
Vice-Consulado
Decreto n
o
77.398/1976
Departamento de
Canindey
Ciudad del
Este
Consulado-Geral
Decreto n
o
83.719/1970,
substitudo pelo
Decreto n
o
98.128/1989
*
Departamentos do Alto
Paran, Canindey e
Itapua
Fonte: Ministrio das Relaes Exteriores (2009) e stio da Cmara dos Depu-
tados <www.camara.gov.br>.
(*) Substituio do nome da cidade de Ciudad Presidente Stroessner para Ciudad
del Este.
35. A data da emisso do decreto pode no condizer com a de efetiva implantao
da unidade consular.
110 FERNANDA RAIS USHIJIMA
A instalao de parte da rede consular decorre da antiga relao
entre os dois pases e a expanso dela coincide com a intensificao
da aproximao e das polticas de integrao, que culminaram com
a criao da hidreltrica de Itaipu
36
e do Mercado Comum do Sul
(Mercosul).
Podemos dizer que a distribuio da rede no pas abrange, de
uma forma ou de outra, as localidades onde os brasileiros vm se
concentrando,
37
seja por meio da existncia de uma unidade con-
sular, da extenso da jurisdio consular, ou da realizao de mis-
ses consulares itinerantes. Em 2010, segundo dados do DAC, o
Consulado-Geral de Ciudad del Este realizou 12 misses consu-
lares itinerantes, em 12 cidades diferentes, proporcionando 1.630
atendimento fora da sede. Dentre as cidades abrangidas, incluem-
-se algumas brasileiras, no Estado do Paran, para onde vo os na-
cionais que, com os seus descendentes, retornam do Paraguai. No
ano de 2011, foi estabelecido, pela primeira vez, um Conselho de
Cidados no Consulado-Geral de Ciudad del Este.
Seriam algumas das iniciativas prprias desse consulado-geral:
a organizao de palestras de capacitao para seus funcionrios; a
incluso, em misses itinerantes, de palestra sobre previdncia so-
cial; a emisso de carteira do Sistema nico de Sade (SUS) para o
recebimento de atendimento em cidades brasileiras;
38
e a integrao
da misso consular itinerante ao Projeto Justia no Bairro/Sesc
Cida do, o qual decorrente de uma parceria entre o Sistema Fe-
comrcio Sesc/Senac Paran, o Poder Judicirio, o Ministrio
36. Sobre impasses e controvrsias do ponto de vista social, decorrentes da implan-
tao e operao dos empreendimentos hidreltricos, ver Bermann (2007).
37. A instalao dos brasileiros no Paraguai, inicialmente, deu-se mais exclusiva-
mente nos departamentos do leste do Paraguai (Alto Paran, Amambay e
Concepcin). Hoje, a presena brasileira ultrapassa esses departamentos fron-
teirios para alcanar os departamentos de Caaguaz, Caazap, Central e at
setores do Chaco perifrico e Central (Souchaud, 2011).
38. Segundo informao concedida pelo Consulado-Geral do Brasil em Ciudad
del Este, em visita realizada no dia 7 de outubro de 2011, o nmero de brasi-
leiros residentes no Paraguai cadastrados no SUS era de 13.585 naquela data.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 111
Pbli co do Estado do Paran e a Prefeitura de Foz do Igua pro-
porciona servios gratuitos e difunde informaes sobre sade,
educao, trabalho, direito de famlia e cidadania
39
(Ministrio das
Relaes Exteriores, 2011).
Dentre os principais problemas relacionados, especificamente,
rede consular no Paraguai, esto: a residncia onde opera o Con-
sulado-Geral de Ciudad del Este, a qual teria sido precariamente
adaptada para funcionar como escritrio, o que estaria ocasionado
inmeros inconvenientes numa jurisdio que abrange uma din-
mica faixa de fronteira onde vive a maioria dos brasileiros naquele
pas; a falta de coordenao entre as unidades consulares; a neces-
sidade de criao de uma repartio em Coronel Oviedo, capital do
Departamento de Caaguazu, para atender os casos de urgncia
existentes nessa rea sensvel, com antigos conflitos de terras en-
volvendo colonos brasileiros e campesinos paraguaios; e a inade-
quao das instalaes fsicas e a insuficincia de pessoal capacitado
no Vice-Consulado de Concepcin (Brasil, 2010a).
No caso da fronteira norte brasileira (a Bolvia, as Guianas, a
Venezuela, a Colmbia e o Suriname), a expanso consular se ex-
plica pelas relaes bilaterais do Brasil, pela extenso da Amaznia
e polticas de integrao, alm da exportao de servios de em-
presas brasileiras (Tabela 3).
40
Com relao aos brasileiros na re-
gio, uma maior adequao da rede ocorreu entre 2005 e 2010,
aps o ataque a brasileiros no Suriname, que deu maior visibi-
lidade situao de conflito em que vivem na regio (trataremos
na subseo 2.35 o episdio de violncia contra brasileiros no Suri-
name).
39. No stio Brasileiros no Mundo, foram divulgados e compartilhados, em
2011, as boas prticas e os materiais desenvolvidos por vrias unidades
con su lares. Em <http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/cartilhas/
boas- praticas>.
40. Sobre o assunto, conferir Lissardy, 2011; e Spuldar, 2011.
112 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela 3 Rede consular brasileira na Guiana, Guiana Francesa e Suri-
name (2009)
Local
Tipo de
repartio
Decreto/Ano Jurisdio em 2009
Caiena
(Guiana
Francesa)
Elevao
categoria de
Consulado-Geral
Decreto n
o
5.599/2005
Departamentos da Guiana,
Martinica e Guadalupe,
includas as ilhas de Saint
Barthelemy e Saint Martin,
integrantes do
Departamento de
Guadalupe
Saint Georges
de lOyapock
(Guiana
Francesa)
Consulado
Decreto n
o
7.198/2010
Lethem
(Guiana)
Vice-Consulado
Decreto n
o
6.153/2007
Regies 8 e 9
Paramaribo
(Suriname)
Setor Consular
em Embaixada
Fonte: Ministrio da Relaes Exteriores (2009) e stio da Cmara dos Depu-
tados <www.camara.gov.br>.
A configurao da rede no Japo, como podemos ver na Tabela
4, relativamente recente. Ela ainda composta por sete consu-
lados honorrios: Sapporo, Hiroshima, Kobe, Kyoto, Nagasaki,
Naha e Tosu
41
(Ministrio das Relaes Exteriores, 2008). Com o
auxlio da extenso da jurisdio dos consulados-gerais e das mis-
ses consulares itinerantes,
42
a rede no Japo vem abarcando os
principais locais de residncia dos brasileiros no Japo.
43
Porm,
41. Os consulados honorrios de Sapporo, Hiroshima e Nagasaki, em 2009, en-
contravam-se sem titular.
42. Segundo dados fornecidos pelo DAC, os consulados-gerais de Nagoya e de
Tquio realizaram em 2010, respectivamente, 18 e 12 misses consulares iti-
nerantes, a nove e 11 cidades diferentes, somando no total 3.114 e 7.200 aten-
dimentos.
43. possvel encontrar brasileiros em todas as localidades, mas eles se concen-
tram, especialmente, na regio central da Ilha Principal (Honshu) do Japo,
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 113
somente aps 11 anos de reivindicao um consulado-geral foi efeti-
vamente criado em Hamamatsu. A necessidade de descen tralizao
da prestao de servios consulares realizados pelo Consulado-
-Geral de Tquio tambm vem sendo sinalizada.
44
Tabela 4 Rede consular brasileira no Japo (2009)
Local
Tipo de
repartio
Decreto/Ano Jurisdio em 2009
Nagoya Consulado-Geral
Decreto n
o
18/1992
Provncias de Aichi, Ehime,
Fukui, Fukuoka, Gifu,
Hiroshima, Hyogo, Ishikawa,
Kagawa, Kagoshima, Kochi,
Kumamoto, Kyoto, Mie,
Miyazaki, Nagasaki, Naha,
Oita, Okayama, Okinawa,
Osaka, Saga, Shimane, Shiga,
Tokushima, Tottori, Toyama,
Wakayama, Yamaguchi
Tquio Consulado-Geral
Decreto n
o
1.373/1995
Provncias de Akita, Aomori,
Chiba, Fukushima, Gunma,
Hokkaido, Ibaraki, Iwate,
Kanagawa, Miyagi, Nagano,
Niigata, Saitama, Tochigi,
Tquio, Yamagata e Yamanashi
Hamamatsu Consulado-Geral
Decreto n
o
6.599/2008
Prefeitura de Shizuoka, regio
de Chubu
Fonte: Ministrio da Relaes Exteriores (2009) e stio da Cmara dos Depu-
tados <www.camara.gov.br>.
onde se situam as cidades industriais. As principais provncias de residncia
de brasileiros so: Shizuoka (49.800), Shiga (44.600), Mie (40.800), Gifu
(35.600), Aichi (34.700), Ibaraki (20.300) e Saitama (11.400) (Ministrio de
Justia do Japo, 2009).
44. Na cidade de Tquio propriamente, residiam em 2006, pouco mais de quatro
mil brasileiros, ao passo que, no restante da regio abrangida pelo consulado-
-geral, havia mais de cem mil (ou cerca de 96%). Assim, props-se a criao de
pequenos consulados simples, ou agncias consulares em outras cidades,
de modo a facilitar o atendimento aos brasileiros (Brasil, 2010a).
114 FERNANDA RAIS USHIJIMA
A configurao da rede consular nos Estados Unidos (Tabela
5) tambm relativamente recente, e complementada por 14 con-
sulados honorrios: em Cincinnati (Ohio), Norfolk (Virginia),
Nova Orleans (Louisiana), Phoenix (Arizona), Honolulu (Hava),
Salt Lake City (Utah), San Diego (Califrnia), Birmingham (Ala-
bama), Boca Raton (Flrida), Jackson (Mississipi), Memphis
(Tennessee), Montgomery (Alabama), Savannah (Gergia) e Ha-
milton (Bermudas) (Ministrio das Relaes Exteriores, 2008). A
jurisdio dos consulados e as misses consulares itinerantes
45
co-
brem os principais locais de residncia dos brasileiros nos Estados
Unidos.
46
Uma das sugestes de mudana quanto rede brasileira
nos Estados Unidos, seria a criao de um consulado em Newark
(Nova Jersey) e em Orlando (Flrida). Somente nessas duas ci-
dades, sob as jurisdies, respectivamente, dos consulados-gerais
de Nova York e de Miami, foram realizadas, no primeiro caso, 11
misses itinerantes e 2.098 atendimentos; e, no segundo, 5 misses
e 4.700 atendimentos.
A rede consular na Europa, em geral, mais antiga, tendo ocor-
rido uma expanso nos anos 2000, quando os fluxos de brasileiros
para novos pases do continente se intensificaram. Em virtude do
grande nmero de pases, abordaremos somente os casos de Por-
tugal e do Reino Unido, os quais so, respectivamente, destino mais
antigo e mais recente desses fluxos.
45. Dados de 2010 do DAC sobre misses consulares itinerantes: Consulado-
-Geral em Atlanta: 4 cidades, 5 misses, 488 atendimentos; Consulado-Geral
em Boston: 4 cidades, 4 misses, 2.060 atendimentos; Consulado-Geral em
Chicago: 6 cidades, 6 misses, 900 atendimentos; Consulado-Geral em Hart-
ford: 3 cidades, 11 misses, 797 atendimentos; Consulado-Geral em Houston:
9 cidades, 18 misses, 7 mil atendimentos; Consulado-Geral em Los Angeles:
5 cidades, 10 misses, 2.997 atendimentos; Consulado-Geral em Miami: 7
cidades, 31 misses, 10.910 atendimentos; Consulado-Geral em Nova York:
10 cidades, 46 misses, 6.512 atendimento; Consulado-Geral em So Fran-
cisco: 1 cidade, 1 misso, 370 atendimentos; Consulado-Geral em Wash-
ington: 16 cidades, 31 misses, 3.492 atendimentos.
46. Onze estados concentram cerca de 86% dos brasileiros nos Estados Unidos,
sendo eles: Flrida; Massachusetts, Califrnia, Nova York, Nova Jersey, Con-
necticut, Texas, Gergia, Maryland, Illinois e Pensilvnia (Lima, 2009).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 115
Tabela 5 Rede consular brasileira nos Estados Unidos (2009)
Local
Tipo de
repartio
Decreto/
Ano*
Jurisdio em 2009
So Francisco
(Califrnia)
Consulado
Elevao
categoria de
Consulado-
-Geral
Decreto n
o
77.383/1976
DSN, de 3 de
junho de 1993
Estados do Alaska, Oregon,
Washington e, no Estado da
Califrnia, os condados de
Alameda, Alpine, Amador,
Butte, Calaveras, Colusa, Contra
Costa, El Dorado, Del Norte,
Fresno, Glenn, Humboldt, Inyo,
Kings, Lake, Lassen, Madera,
Marin, Mariposa, Mendocino,
Merced, Modoc, Mono,
Monterey, Napa, Nevada,
Placer, Plumas, Sacramento, San
Benito, San Francisco, San
Joaquim, San Mateo, Santa
Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra,
Siskiyou, Solano, Sonoma,
Stanislaus, Sutter, Tehama,
Trinity, Tulare, Tuolumne, Yolo
e Yuba
Boston
(Massachusetts)
Consulado-
-Geral
DSN, de 14 de
dezembro
de 1992
Estados de Massachusetts,
Maine, New Hampshire, Rhode
Island e Vermont
Houston (Texas)
Elevao
categoria de
Consulado-
-Geral
Decreto n
o
1.557/1995
Estados de Arkansas, Colorado,
Kansas, Louisiana, Novo
Mxico, Oklahoma e Texas
Chicago
(Illinois)
Elevao
categoria de
Consulado-
-Geral
Decreto n
o
68.088/1971
Estados de Illinois, Indiana,
Iowa, Michigan, Minnesota,
Missouri, Nebraska, Dakota do
Norte, Dakota do Sul e
Wisconsin
Los Angeles
(Califrnia)
Elevao
categoria de
Consulado-
-Geral
Decreto n
o
68.088/1971
Estados do Arizona, Hava,
Idaho, Montana, Nevada, Utah,
Wyoming e, na Califrnia, os
condados de Imperial, Kern, Los
Angeles, Orange, Riverside, San
Bernardino, San Diego, San Luis
Obispo, Santa Brbara, Ventura
e ilhas norte-americanas no
Pacfico (Johnston, Midway,
Wake, Howland, Jarvis e Baker,
Palmira e Kingman)
(cont.)
116 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Local
Tipo de
repartio
Decreto/
Ano*
Jurisdio em 2009
Miami (Flrida) Consulado
Decreto n
o
88.408/1983
Estado da Flrida (os condados
de Orange, Osceola, Seminole,
Lake, Volusia, Polk e Brevard
deixaro de fazer parte dessa
jurisdio, quando da ativao
do Consulado -Geral em
Orlando); Estado Livre
Associado de Porto Rico e Ilhas
Virgens Norte-Americanas
Washington,
D. C.
Consulado-
-Geral
Decreto n
o
6.436/2008
Distrito de Colmbia, Estados
de Kentucky, Maryland, Ohio,
Virginia, West Virginia e bases
norte-americanas, exceto Guam,
sob a jurisdio do Setor
Consular da Embaixada em
Manila
Atlanta
(Gergia)
Consulado-
-Geral
Decreto de
10 de maio
de 1996
(recriao);
Decreto de
9 de junho
de 1999
(extino); e
Decreto n
o
5.307/2004
(recriao)
Estados da Gergia, Carolina do
Norte, Carolina do Sul,
Alabama, Tennessee e
Mississippi
Hartford
(Connecticut)
Consulado-
-Geral
Decreto n
o
6.436/2008
Estado de Connecticut
Nova York
(Nova York)
Consulado-
-Geral
Estados de Connecticut (at a
ativao do Consulado-Geral de
Hartford), Delaware, Nova
Jersey, Nova York, Pensilvnia e
o Arquiplago das Bermudas
(protetorado britnico)
Fonte: Ministrio das Relaes Exteriores (2009) e stio da Cmara dos Depu-
tados <www.camara.gov.br>.
(*) No h meno do Decreto quando a criao da unidade consular deu-se antes
da dcada de 1970.
(cont.)
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 117
Tabela 6 Rede consular brasileira em Portugal e no Reino Unido (2009)
Local
Tipo de
repartio
Decreto/
Ano*
Jurisdio em 2009
Lisboa
(Portugal)
Consulado-
-Geral
Distritos de Beja, Castelo Branco,
vora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre,
Santarm, Setbal e as regies
autnomas do arquiplago dos Aores e
do arquiplago da Madeira
Porto
(Portugal)
Consulado-
-Geral
Distritos de Aveiro, Braga, Bragana,
Coimbra, Guarda, Porto, Viana do
Castelo, Vila Real e Viseu
Faro
(Portugal)
Consulado-
-Geral
Decreto n
o
7.399/2010
Londres
(Reino Unido)
Consulado-
-Geral
Todo o territrio do Reino Unido da
Gr-Bretanha e Irlanda do Norte,
excetuada a Colnia de Montserrat, sob
a jurisdio da Embaixada em
Bridgetown; as ilhas do Atlntico Sul
sob a jurisdio do Consulado-Geral em
Buenos Aires; Ilhas Bermudas
(Hamilton) sob a jurisdio do
Consulado-Geral em Nova York e as
Ilhas Pitcairn sob a jurisdio do
Consulado-Geral em Sydney, alm das
Ilhas Jersey e das Ilhas Channel
Fonte: Ministrio das Relaes Exteriores (2009) e stio da Cmara dos Depu-
tados <www.camara.gov.br>.
(*) No h meno do decreto quando a criao da unidade consular deu-se antes
da dcada de 1970.
A rede em Portugal, abarca os litorais norte (Consulado-Geral
na cidade do Porto), central (Consulado-Geral em Lisboa) e, a
partir de 2010, Sul (Consulado-Geral em Faro). Alm dos consu-
lados-gerais, h tambm, no pas, consulados honorrios em Angra
do Herosmo (ST), Funchal, Loul (ST), Ponta Delgada (ST) e
Santarm.
47
47. Segundo dados de 2008, fornecidos pelo Servio de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), 70% do total da populao estrangeira em Portugal rene-se em
118 FERNANDA RAIS USHIJIMA
No Reino Unido, a comunidade de brasileiros ganhou corpo
a partir dos anos 2000. No incio, a menor concentrao dos fluxos
dava-se quase totalmente nos arredores de Londres. Hoje, segundo
a OIM, outras localidades onde brasileiros se aglomeram so: as
Midlands (Birmingham), Norfolk, o norte da Inglaterra (Man-
chester) e a costa sul (Brighton) (Kubal, Bakewell & De Haas,
2011, traduo nossa).
Alm do Consulado-Geral de Londres, h alguns consulados
honorrios em Aberdeen, Cardiff, Edimburgo, Glasgow e Man-
chester (Ministrio das Relaes Exteriores, 2008). O problema da
inadequao fsica do Consulado-Geral de Londres j estava sendo
sanado em 2007, no entanto, o relacionado ao reduzido nmero de
funcionrios ainda suscitava reclamao, em 2008:
48
Com um quadro de funcionrios muito reduzido, [...] no difcil
imaginar que o tempo que dispem para processar os servios seja
muito reduzido. Uma procurao, por exemplo, demora cerca de
20 dias para ficar pronta.
Os atendentes recebem de 40 a 50 pedidos de passaportes
diariamente, que demoram aproximadamente 15 dias para fi-
carem prontos. Outros servios ainda tm maior procura como
legalizao de documentos, autenticao e servio eleitoral, que
tm de 60 a 80 solicitaes por dia.
A deficincia institucional mais bvia na rede no Reino
Unido, segundo o ento titular do posto, embaixador Flvio Perri,
seria
a jurisdio excessivamente ampla do Consulado-Geral em Lon-
dres, que se estende sobre todo o Reino Unido. A distncia de
Lisboa, Faro e Setbal, reas onde se concentra tambm parte significativa
da atividade econmica nacional.
48. No havia ocorrido ainda a modernizao completa da prestao dos servios
do consulado.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 119
pontos do norte populoso e economicamente importante em re-
lao a Londres [cerca de seis a oito horas de viagem cara] justifica
amplamente, como o caso de outros pases europeus, a criao de
um consulado simples no centro do pas, para ocupar-se do norte.
(Brasil, 2010a)
2.3.2 Modernizao dos servios consulares e
outras medidas relacionadas documentao
Em conjunto com a criao de reparties consulares, a adoo
de processos de modernizao dos servios consulares permitiu in-
terligar dados governamentais e aumentar o controle, alm de re-
duzir a presso exercida sobre alguns postos no exterior decorrente
do crescimento das demandas. A agilizao da prestao dos ser-
vios se daria por meio da diminuio da carga burocrtica. Os
processos de modernizao tambm tm por fim seguir padres
internacionais.
Esses processos no se dirigem somente aos brasileiros que
vivem no exterior, mas queles que viajam e tambm aos estran-
geiros que queiram ingressar no Brasil. Algumas aes nessa rea,
mais destinadas aos viajantes, como a ampliao do nmero de
acordos de iseno de visto e o aprimoramento do passaporte,
acabam por ter impacto tambm nos fluxos de nacionais que de-
sejam viver fora do pas, pois visam facilitao do trnsito inter-
nacional.
No incio da dcada de 1990, as normas regulamentares rela-
tivas expedio do uso de documentos de viagem foram atua-
lizadas, simplificadas e consolidadas (Decreto n
o
637/1992), com
base no Programa Federal de Desregulamentao, institudo pelo
Decreto n
o
99.179/1990 e
fundado no princpio constitucional da liberdade individual, com
a finalidade de fortalecer a iniciativa privada, em todos os seus
campos de atuao, reduzir a interferncia do Estado na vida e nas
120 FERNANDA RAIS USHIJIMA
atividades do indivduo, contribuir para a maior eficincia e o
menor custo dos servios prestados pela Administrao Pblica
Federal e que sejam satisfatoriamente atendidos os usurios desses
servios.
Em 1996, por meio do Decreto n
o
1.983, atualiza-se o regi-
mento sobre o documento de viagem e se cria o Programa de Mo-
dernizao, Agilizao e Aprimoramento e Segurana da Fiscali-
zao do Trfego Internacional e do Passaporte Brasileiro (Promasp)
no mbito do Departamento de Polcia Federal do Ministrio da
Justia e da antiga Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jur-
dicos e de Assistncia a Brasileiros no Exterior do Ministrio das
Relaes Exteriores. No mesmo perodo, d-se incio implantao
do Sistema Integrado de Acompanhamento Consular (Siac), que
consistia na digitalizao dos dados relativos s diferentes ativi-
dades consulares no exterior e a sua transmisso pela Internet a
banco de dados na Sere.
Em 2004, o Siac substitudo pelo Sistema Consular Integrado
(SCI), projeto mais amplo que, alm da digitalizao e aprimora-
mento do processo de controle dessas atividades,
49
prev a cons-
tante informatizao, integrao e padronizao das mesmas. Entre
seus objetivos, esto a eliminao das estampilhas consulares, a
padronizao dos documentos expedidos, a uniformizao e auto-
mao das rotinas e a emisso de documentos de viagem que incor-
porem elevadas tecnologias de segurana (Firmeza, 2007).
Como parte desse amplo projeto, foi lanado, em 2007, o Portal
Consular, pgina da World Wide Web <www.portalconsular.mre.
gov.br> editada tanto pela Sere quanto pelas prprias unidades no
exterior, a qual vem concentrando e disponibilizando, para o p-
49. O aprimoramento desse processo, suscitado no exerccio de reflexo abordado
anteriormente, envolve a criao de um sistema de aferio das demandas re-
cebidas dos consulados para confronto com os recursos humanos e financeiros
disponveis, com vistas ao estabelecimento de critrios objetivos para a deter-
minao das reais necessidades de ampliao de suas lotaes.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 121
blico em geral, notcias, informaes diversas de interesse dos bra-
sileiros no exterior e aspectos peculiares de cada jurisdio,
descrio dos servios consulares e arquivos com os formulrios
para download, perguntas frequentes, rea para sugestes e comen-
trios, e ferramenta de busca
50
(Firmeza, 2007). Em 2009, criou-
-se tambm o portal Brasileiros no Mundo, no qual podem ser
encontrados informe peridico, documentos, notcias e publica-
es veiculados pela prpria SGEB, por meio do DCB.
No mesmo ano, foi implantado o Sistema de Controle e
Emisso de Documentos de Viagem (SCEDV) numa parceria
entre o Ministrio das Relaes Exteriores, a Polcia Federal e o
Servio Federal de Processamento de Dados (Serpro) , o qual per-
mitiu solicitao pela Internet, padronizou a confeco de alguns
documentos de viagem em todos os postos do Itamaraty no exte-
rior e favoreceu a resposta aos pedidos, por meio do gerencia-
mento, em tempo real, do estoque documental. Encontra-se ainda
em fase inicial de desenvolvimento o Sistema Consular (SC), que
pretende adotar o mesmo sistema do SCEDV, para documentos
cartoriais.
O aperfeioamento no se deu somente no processo de
emisso, mas nos documentos, que passaram a incorporar, com
base em tendncias internacionais determinadas pela Organizao
da Aviao Civil Internacional (Oaci),
51
elementos mais rigorosos
de segurana e uma maior tecnologia, proporcionando-lhes maior
confiabilidade e aceitao em mbito internacional. O passaporte
brasileiro, recentemente, sofreu duas reformas, em 2006 e 2010.
Na primeira, ele incorporou diversos elementos de segurana. J
na segunda, alm do acrscimo de outros elementos de segurana,
o passaporte se torna biomtrico/eletrnico, ao conter dispositivo
eletrnico de gravao de dados (chip).
50. O Portal Consular bastante completo, mas um pouco desorganizado. Pode-
riam disponibilizar nele, o Manual Consular.
51. Foi criada, por meio do Decreto n
o
6.055/2007, a delegao permanente do
Brasil junto Oaci.
122 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Em 2009, tambm como uma medida relacionada docu-
mentao, lanou-se, nos Estados Unidos, a Carteira de Matrcula
Consular, em formato biomtrico. Tal carteira, quando aceita por
autoridades pblicas e instituies privadas no exterior, serve como
instrumento para fins de prova de identidade, nacionalidade ou de
domiclio na jurisdio consular, o que pode permitir a abertura e a
movimentao de conta em bancos, acesso a bibliotecas, escolas,
hospitais e outros servios pblicos. Em decorrncia de gestes
empreendidas pelo Consulado-Geral de Chicago, autoridades locais
passaram a aceitar essa carteira.
52
No ano de 2006, mediante o De-
creto n
o
5.978, a carteira inserida no rol dos documentos de viagem,
permitindo sua utilizao para retornos ao Brasil (Firmeza, 2007).
Esse decreto cria ainda o Passaporte de Emergncia, conce-
dido, de acordo com o artigo 13, quele que, tendo satisfeito s
exigncias para concesso de passaporte, necessite de documento
de viagem com urgncia e no possa comprovadamente aguardar o
prazo de entrega, nas hipteses de catstrofes naturais, conflitos ar-
mados ou outras situaes emergenciais.
Em setembro de 2010, estabelecida a Coordenao-Geral de
Planejamento e Integrao Consular (CGPC), que, subordinada
SGEB, possui a funo de coordenar os trabalhos de aperfeioa-
mento e suporte tcnico do SCI, bem como a gesto dos recursos
oramentrios e financeiros do atendimento prestado pelas repar-
ties consulares, e dos contratos firmados pelo DCB, no mbito
da modernizao consular.
O Brasil ratificou a Conveno sobre Trnsito Virio (Con-
veno de Viena de 1968),
53
a qual prev a emisso, no pas, da per-
misso internacional para dirigir em outros Estados membros.
54
52. Os Estados, sem excetuar o caso do Brasil, dificilmente validam documentos
emitidos por outros Estados, sendo esse o caso tambm da Carteira de Matr-
cula Consular.
53. Decreto n
o
86.714, de 10 de dezembro de 1981.
54. Essa permisso permite a conduo por um perodo mximo de 180 dias, o
qual varia de acordo com o pas. Dentre os pases membros, constam: a Ale-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 123
Mais recentemente, o MRE, em conjunto com o Ministrio das Ci-
dades e o Departamento Nacional de Trnsito (Denatran), tem assi-
nado tambm acordos bilaterais para a troca de carteira. Em 2009,
entrou em vigor o Acordo sobre Reconhecimento Recproco e Troca
de Carteiras de Habilitao com a Repblica da Espanha. Em 2010,
firmou-se, com Moambique, o Acordo de Reconhe cimento Mtuo
de Carteiras de Habilitao. Desde 2009, encontram-se em anda-
mento negociaes com ndia, Itlia, Japo, Marrocos, Moambique
e Reino Unido.
Uma demanda dos brasileiros no exterior seria a adeso do Brasil
Conveno de Haia, relativa supresso da exigncia de legali-
zao dos atos pblicos estrangeiros, de 5 de outubro de 1961,
55
que
tem como finalidade tornar mais simples, clere e menos onerosa a
validao de documentos entre os pases signatrios. Fazem parte
dessa conveno, pases como os Estados Unidos, o Japo, a Coreia
do Sul, a Frana, a Inglaterra, a Alemanha, a ustria, a Blgica, o
Reino Unido, a Itlia, a Espanha, Portugal, a Sua, a Argentina,
o Mxico, a Venezuela, entre outros.
56
2.3.3 Assistncia jurdica e interveno diplomtica
Os consulados, em sua funo de assistir juridicamente aos
brasileiros no exterior, no podem interferir em pedidos de visto
para brasileiros, bem como na denegao de entrada em pases es-
manha, a Blgica, o Canad, a Argentina, Espanha, Estados Unidos, Frana,
Reino Unido, Portugal, Paraguai, e outros.
55. Demanda contida na Ata Consolidada da I Conferncia das Comunidades
Brasileiras no Exterior Brasileiros no Mundo.
56. Diferentemente da conveno, nos acordos de cooperao judiciria em ma-
tria civil, a dispensa da legalizao se d, em geral, somente com relao a
documentos enviados pelas autoridades judicirias que sejam transmi-
tidos pelas autoridades centrais. Um dos desestmulos para a adeso a essa
conveno, que parece sobrepor-se at mesmo a interesses do setor empresa-
rial, pode ser a perda da arrecadao das representaes consulares brasileiras.
124 FERNANDA RAIS USHIJIMA
trangeiros (somente quando h abuso ou discriminao); arcar com
despesas judiciais; interferir em questes de direito privado;
57
ou,
ainda, agir como parte constituda perante rgos locais.
Com isso, a assistncia jurdica se concentra na disponibili-
zao, por meio da contratao de advogados, de assessoria jur-
dica. Nos anos 1990, quando essa prtica foi disseminada, ela se
voltava, especialmente, aos casos de desvalidamento de cidados
brasileiros. Desde ento, ela vem se ampliando. Dependendo da
demanda e da iniciativa dos postos, pode ou no existir tal asses-
soria, bem como variar em sua constncia e em sua rea de concen-
trao. No Paraguai, por exemplo, a assessoria legal permanente e
engloba litgios de terra.
Alm da disponibilizao de advogados, seriam tambm me-
didas adotadas: a elaborao do manual para uso no exterior,
orientando os brasileiros sobre a forma de acionar a Defensoria P-
blica da Unio para a resoluo de pendncias, sem a necessidade de
viagem ao Brasil ou de constituio de advogado; projetos de cola-
borao com a OAB relacionados especializao de advogados em
57. Com exceo dos casos de envolvimento de sequestro de menores, dentro
do escopo da Conveno de Haia, sobre os Aspectos Civis do Sequestro Inter-
nacional de Crianas, de 1980 (aderida pelo Brasil pelo Decreto n
o
3.413, de
14 de abril de 2000). Segundo informaes disponibilizadas pelo Grupo Per-
manente de Estudos sobre a Conveno de Haia de 1980 (institudo pelo Su-
perior Tribunal de Justia), embora o Brasil tenha adotado a traduo da
Conveno de Haia de 1980 para sequestro internacional de crianas, no se
trata precisamente do sequestro tal como o conhecemos no Direito Penal.
Trata-se, isto sim, de: a) um deslocamento ilegal da criana de seu pas e/ou;
b) a sua reteno indevida em outro local que no o da sua residncia habitual.
A autoridade central brasileira incumbida da aplicao da conveno a Se-
cretaria Especial de Direitos Humanos. O setor envolvido no MRE com essa
questo a Diviso de Cooperao Jurdica Internacional. A conveno lida
com dois grandes objetivos: o retorno da criana e o respeito ao direito de
guarda e de visita. Na prtica, o que prevalece na conveno a garantia do
restabelecimento da situao alterada pela ao do sequestrador. A verifi-
cao do direito de guarda e visita somente se d a partir do exame da legis-
lao do pas de provenincia da criana. No mbito regional, h a Conveno
Interamericana sobre a restituio internacional de menores (Decreto n
o
1.212, de 3 de agosto de 1994).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 125
temas de interesse da comunidade brasileira no exterior, prestao
de apoio em caso de inadmisses injustificadas em aeroportos es-
trangeiros, e celebrao de convnio com congneres em outros
pases; e o levantamento, por algumas reparties consulares, de
entidades locais que prestam aconselhamento jurdico gratuito ou
de baixo custo e a atualizao da relao de advogados que atendem
aos grupos de brasileiros no exterior. No mbito do Mercosul (mais
Bolvia e Chile), foi assinado, em 15 de dezembro de 2000, acordo
sobre o benefcio da justia gratuita e assistncia jurdica gratuita,
ratificado pelo Brasil em 2007 (Decreto n
o
6.086, de 19 de abril de
2007).
semelhana disso, o Brasil realizou alguns acordos interna-
cionais de cooperao judiciria em matria civil (incluindo fa-
mlia), comercial e trabalhista, que, segundo o Departamento de
Estrangeiros do Ministrio de Justia, procuram promover o
acesso internacional justia, por meio da incorporao de dis-
positivos que permitem a solicitao de assistncia jurdica gratuita
para atuar perante o Judicirio estrangeiro, e a desobrigao, para
iniciar ao no Judicirio estrangeiro, de pagar cauo, depsito ou
qualquer outro tipo de garantia por ser estrangeiro ou por no ser
residente ou domiciliado no territrio do outro Estado. Estes so os
acordos, protocolos e convenes estabelecidos entre o Brasil e ou-
tros pases sobre o tema:
58
Conveno entre o Brasil e a Blgica sobre Assistncia Judi-
ciria Gratuita (Decreto n
o
41.908, de 29 de julho de 1957).
Conveno sobre Assistncia Judiciria Gratuita entre a Re-
pblica dos Estados Unidos do Brasil e a Repblica de Por-
tugal (Decreto Legislativo n
o
26, de 25 de outubro de 1963).
Conveno sobre Assistncia Judiciria Gratuita entre o
Brasil e o Reino dos Pases Baixos (Holanda) (Decreto n
o
53.923, de 20 de maio de 1964).
58. Pesquisa realizada no stio do Ministrio da Justia, da Diviso de Atos Inter-
nacionais-MRE e da Cmara dos Deputados.
126 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Conveno sobre prestao de alimentos no estrangeiro
59
(Decreto n
o
56.826, de 2 de setembro de 1965).
Convnio de Cooperao Judiciria em Matria Civil, entre
o governo da Repblica Federativa do Brasil e o Reino da Es-
panha (Decreto n
o
166, de 3 de julho de 1991).
Tratado Relativo Cooperao Judiciria e ao Reconheci-
mento e Execuo de Sentenas em Matria Civil entre a Re-
pblica Federativa do Brasil e a Repblica Italiana (Decreto
n
o
1.476, de 2 de maio de 1995).
Acordo de Cooperao Judiciria em Matria Civil, Comer-
cial, Trabalhista e Administrativa, entre o governo da Rep-
blica Federativa do Brasil e o governo da Repblica Oriental
do Uruguai (Decreto n
o
1.850, de 10 de abril de 1996).
Protocolo de Cooperao e Assistncia Jurisdicional em Ma-
tria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa Mer-
cosul (Decreto n
o
2.067, de 12 de novembro de 1996).
Conveno Interamericana sobre Obrigao Alimentar
60
(Decreto n
o
2.428, de 17 de dezembro de 1997).
59. Participam dessa conveno: Alemanha, Argl, Argentina, Austrlia, ustria,
Barbados, Blgica, Bielorrssia, Bolvia, Bsnia Herzergovina, Burkina Faso,
Cabo Verde, Camboja, Chile, China, Chipre, Colmbia, Crocia, Cuba, Di-
namarca, Equador, El Salvador, Eslovquia, Eslovnia, Espanha, Estnia, Fi-
lipinas, Finlndia, Frana, Grcia, Guatemala, Haiti, Holanda, Hungria,
Irlanda, Israel, Itlia, Iugoslvia, Luxemburgo, Macednia, Marrocos, M-
xico, Mnaco, Nger, Noruega, Nova Zelndia, Paquisto, Polnia, Portugal,
Reino Unido, Repblica Centro-Africana, Repblica Dominicana, Repblica
Tcheca, Romnia, Santa S, Sri Lanka, Sucia, Sua, Suriname, Tunsia, Tur-
quia e Uruguai. A conveno importante em virtude da separao de famlias
durante o processo migratrio. H filhos de brasileiros residentes no pas cujos
pais so separados e um deles reside no exterior. Interessante observar que o
Japo no se encontra nessa lista de pases.
60. Em 2007, foram geradas, no mbito da Conferncia de Haia de Direito Inter-
nacional Privado, a conveno sobre a cobrana internacional de alimentos
para crianas e outros membros de sua famlia, e o protocolo sobre lei aplicvel
s obrigaes alimentcias. O Brasil participou das reunies, em 2009, da Co-
misso Especial relativa implementao da Conveno.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 127
Conveno sobre os Aspectos Civis do Sequestro Interna-
cional de Crianas (Decreto n
o
3.413, de 14 de abril de 2000).
Acordo de Cooperao em Matria Civil entre o governo da
Repblica Federativa do Brasil e o governo da Repblica
Francesa (Decreto n
o
3.598, de 12 de setembro de 2000).
Conveno sobre o Acesso Internacional Justia (Decreto
no 658, de 1
o
de setembro de 2010).
Em alguns casos, a gravidade da situao no se resolve com
simples assistncia jurdica, demandando-se a interveno diplo-
mtica. No Paraguai, os conflitos envolvendo terra entre brasileiros
e paraguaios fizeram que o governo brasileiro criasse mecanismos
para facilitar negociaes intergovernamentais. Em 2007, foram
institudos Grupos de Trabalho sobre Questes Migratrias e Fun-
dirias para o exame e apresentao de propostas, respectivamente,
para a regularizao dos imigrantes brasileiros e de ttulos de
dom nio e de posse de terra. Dentro desses grupos, foi institudo
foro bilateral especificamente incumbido de tratar de tenses fun-
dirias envolvendo brasileiros.
Nos conflitos com brasileiros na Bolvia, desencadeados em
2006, relacionados proibio constitucional de ocupao das
fronteiras por estrangeiros dentro de um raio de cinquenta quil-
metros, o governo brasileiro chegou a negociar em 2008, com o go-
verno boliviano, por meio da assinatura de instrumento executivo,
a criao de um projeto de agrovilas na Bolvia para acolher 243 fa-
mlias das quinhentas estimadas.
61
Segundo a ministra Maria Luiza
Lopes da Silva,
62
tal projeto no foi bem-sucedido e se tenta, atual-
mente, repatriar e reassentar as famlias no lado brasileiro da fron-
teira, num esforo conjunto com o Ministrio do Desenvolvimento
61. O projeto financiado pelo crdito extraordinrio aprovado pelo Congresso
Nacional (Medida Provisria n
o
354, de 22 de janeiro de 2007).
62. Entrevista concedida pela ministra Maria Luiza Lopes da Silva, no Ministrio
das Relaes Exteriores, no dia 5 de setembro de 2011.
128 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Agrrio. At 2010, cem famlias haviam sido repatriadas e reas-
sentadas.
Outro problema que vem exigindo, alm da prestao de au-
xlio, a atuao da diplomacia, o caso da crescente inadmisso de
viajantes brasileiros em aeroportos na Europa, entre fins de 2006 e
2007, sobretudo em decorrncia das operaes Amazon I, II e III,
para controlar a entrada de viajantes sul-americanos, coordenadas
pela Agncia Europeia de Gesto da Cooperao Operacional nas
Fronteiras Externas (Frontex), rgo imigratrio central da Unio
Europeia (UE). Segundo o MRE, na ocasio, embaixadas e consu-
lados nos seis pases envolvidos nas operaes foram instrudos a
fazer repetidas gestes junto aos rgos de imigrao para pedir es-
clarecimentos e manifestar preocupao do governo brasileiro
sobre a possibilidade de tratamento discriminatrio a brasileiros.
Em 2008, o Brasil chegou a adotar o princpio da reciproci-
dade, ao negar o visto de entrada a alguns cidados espanhis, e a
enviar uma misso da SGEB para melhorar o dilogo entre auto-
ridades consulares brasileiras e imigratrias espanholas. Mais re-
centemente, de acordo com a ministra Maria Luiza Lopes da
Silva,
63
o Itamaraty tambm vem trabalhando junto com o Minis-
trio do Turismo, para tentar garantir que as agncias de turismo
prestem informao sobre as exigncias impostas para admisso
nos pases.
2.3.4 Assistncia a detentos
Juntamente com o aumento do nmero de brasileiros rumo ao
exterior, verificou-se um crescimento das detenes criminais e
migratrias. Com base no artigo 36 da Conveno de Viena de
1963, sobre Relaes Consulares (Decreto n
o
61.078, de 26 de julho
de 1967), e de acordo com o MRE, os consulados brasileiros vm
sendo instrudos a: a) prestar assistncia aos brasileiros que se
acharem envolvidos em processos criminais; b) estabelecer con-
63. Entrevista concedida para o programa Conexo Futura, do canal Futura, em
28 de junho de 2011.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 129
tatos com diretores de penitencirias situadas em sua jurisdio e
manter relao atualizada de presos brasileiros e andamento dos
seus respectivos processos; c) caso solicitado, servir de ligao entre
os prisioneiros e suas famlias, seja no Brasil ou no exterior; d) nos
postos onde elevado o nmero de prisioneiros brasileiros, in-
teirar-se das condies de sade e das instalaes onde estejam
deti dos e, ainda, instruir funcionrio a visitar periodicamente os
prisioneiros, mantendo fichrio atualizado e enviando relatrios
peridicos; e, e) assegurar, na medida do possvel, aos brasileiros
detidos ou encarcerados, acesso aos servios consulares. No ano de
2010, segundo dados fornecidos pelo DAC, as reparties reali-
zaram 1.284 visitas a presdios
64
e assistiram a 3.991 detentos, como
pode-se observar na Tabela 7.
Dentre algumas prticas locais de assistncia aos detentos, res-
saltadas pelo MRE, podemos citar o encaminhamento, pela Em-
baixada de Washington, em 2005, de uma sugesto de carta
fornecendo informaes em portugus sobre seus direitos (Fir-
meza, 2007); a distribuio, para brasileiros detidos no Paraguai,
de kit com cobertor; e a realizao de campanha, pelo Consulado-
-Geral de Nagoya, para arrecadar livros para doao a penitenci-
rias onde se encontravam brasileiros cumprindo pena.
Desde o fim da dcada de 1990, o Brasil vem negociando
acordos de transferncia de presos.
65
Esses acordos permitem que o
brasileiro condenado no exterior possa cumprir o restante da pena
no Brasil. Segundo o Ministrio da Justia, a transferncia serve
como instrumento de cunho humanitrio que visa re-sociali-
zao, aproximao do condenado de seus familiares em seus am-
biente social e cultural.
64. Em 2010, os cinco postos que mais realizaram visitas a presdios foram: Con-
sulado-Geral em Nagoia (85); Vice-Consulado em Salto del Guair (85);
Consu lado-Geral em Montevidu (84); Consulado-Geral em Santa Cruz de
la Sierra (60); e Vice-Consulado em Cobija (60).
65. A transferncia, diferentemente do pedido de extradio por parte de algum
Estado, constitui um direito do preso. Portanto, deve se dar de forma volun-
tria. A obrigao dos Estados inform-lo desse seu direito.
130 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela 7 Detentos brasileiros assistidos no exterior (2010)
Nome do posto
Nmero
de
detentos
assistidos
(N)
%
N/T
1 Consulado-Geral em Boston 1.131 28,34
2 Consulado-Geral em Nagoia 632 15,84
3 Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu 325 8,14
4 Consulado-Geral em Tquio 325 8,14
5 Consulado-Geral em Miami 180 4,51
6 Consulado-Geral em Lisboa 130 3,26
7 Consulado-Geral do Brasil em Atlanta 84 2,10
8 Consulado-Geral no Mxico 65 1,63
9 Consulado-Geral em Ciudad del Este 62 1,55
10 Consulado-Geral em Santa Cruz de la Sierra 54 1,35
11 Consulado-Geral em Milo 52 1,30
12 Consulado em Pedro Juan Caballero 50 1,25
13 Consulado em Rivera 50 1,25
14 Consulado-Geral em Porto 50 1,25
15 Consulado-Geral em Buenos Aires 44 1,10
16 Consulado-Geral em Paris 44 1,10
17 Consulado-Geral em Toronto 40 1,00
18 Vice-Consulado em Concepcin 38 0,95
19 Consulado-Geral em Assuno 36 0,90
20 Vice-Consulado em Salto del Guair 35 0,88
21 Consulado-Geral em Hartford 30 0,75
22 Vice-Consulado em Encarnacin 30 0,75
23 Consulado-Geral em Zurique 30 0,75
24 Consulado-Geral em Montevidu 29 0,73
25 Consulado em Caiena 28 0,70
26 Embaixada em Pretria 25 0,63
27 Consulado-Geral em Nova York 25 0,63
28 Vice-Consulado em Cobija 22 0,55
(cont.)
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 131
Nome do posto
Nmero
de
detentos
assistidos
(N)
%
N/T
29 Embaixada em Paramaribo 22 0,55
30 Consulado em Ciudad Guayana 18 0,45
Outros 305 7,64
Total (T) 3.991 100,00
Fonte: Compilao sobre dados da Diviso de Assistncia Consular.
Foram negociados, at hoje, os seguintes acordos de transfe-
rncia (em vigor):
66
Promulgao do Tratado sobre Transferncia de Presos, ce-
lebrado entre o governo da Repblica Federativa do Brasil e
o governo do Canad, celebrado em 15 de julho de 1992 (De-
creto n
o
2.547, de 14 de abril de 1998).
Promulgao do Tratado sobre Transferncia de Presos, ce-
lebrado entre o governo da Repblica Federativa do Brasil e
o Reino da Espanha (Decreto n
o
2.576, de 30 de abril de
1998).
Tratado sobre Transferncia de Presos Condenados, cele-
brado entre o governo da Repblica Federativa do Brasil e o
governo da Repblica do Chile (Decreto n
o
3.002, de 26 de
maro de 1999).
Tratado sobre a Transferncia de Presos, entre a Repblica
Federativa do Brasil e a Repblica Argentina (Decreto n
o
3.875, de 23 de julho de 2001).
Acordo entre o governo da Repblica Federativa do Brasil e
o governo do Reino Unido da Gr-Bretanha e Irlanda do
66. Consulta ao stio do Ministrio da Justia, da Diviso de Atos Internacionais-
-MRE e da Cmara dos Deputados.
(cont.)
132 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Norte sobre Transferncia de Presos (Decreto n
o
4.107, de 28
de janeiro de 2002).
Tratado sobre Transferncia de Pessoas Condenadas e de
Menores sob Tratamento Especial entre o governo da Rep-
blica Federativa do Brasil e o governo da Repblica do Para-
guai (Decreto n
o
4.443, de 28 de outubro de 2002).
Tratado entre a Repblica Federativa do Brasil e a Repblica
Portuguesa sobre a transferncia de pessoas condenadas
(Decreto n
o
5.767, de 2 de maio de 2006).
Conveno Interamericana sobre o cumprimento de sen-
tenas penais no exterior, celebrado em 26 de abril de 2001
(Decreto n
o
5.919, de 3 de outubro de 2006).
Tratado sobre Transferncia de Presos entre o governo da
Repblica Federativa do Brasil e o governo da Repblica do
Peru (Decreto n
o
5.931, de 13 de outubro de 2006).
Acordo entre o governo da Repblica Federativa do Brasil e
o governo da Repblica da Bolvia sobre a transferncia de
nacionais condenados, celebrado em 26 de julho de 1999
(Decreto n
o
6.128, de 20 de junho de 2007).
Encontram-se em tramitao no Congresso Nacional os se-
guintes tratados: Angola, Comunidade de Pases da Lngua Portu-
guesa, Itlia, Mercosul e Associados, Moambique, Pases Baixos,
Panam, Suriname e Venezuela.
O pedido de transferncia gratuito e dispensa advogados. Ele
submetido representao ou ao diretor do presdio, e, por in-
termdio do Ministrio da Justia, distribudo ao Juiz da Vara de
Execues Penais da comarca mais prxima de onde o brasileiro
condenado e sua famlia tenham residncia, para que seja providen-
ciada a vaga no estabelecimento prisional. A falta de coordenao
entre os dados da Tabela 7 e os tratados de transferncia assinados
pode se dar pelo desinteresse, em geral de Estados, em arcar com os
custos adicionais em seus sistemas prisionais e pela ausncia da
emigrao na agenda migratria do pas.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 133
2.3.5 Situaes de crise e repatriao
Anteriormente, quando o nmero e os destinos dos brasileiros
no exterior eram mais restritos, os consulados restringiam-se
obrigao por meio de uma ao conjunta do NAB no Brasil, e
dos postos no exterior de prestar informaes em caso de morte,
tutela, curatela, naufrgio e acidente areo (nos termos de artigo
37 da Conveno de Viena de 1963). Com o aumento da exposio
a situaes de crise, o NAB sofreu algumas melhoras, e a rede con-
sular vem, mais recentemente, procurando se organizar para tentar
privar os emigrantes e nacionais viajantes de riscos, remediar ne-
cessidades materiais ou prestar algum auxlio em momentos ex-
cepcionais.
As situaes de crise no exterior podem ser as mais diversas.
Abrangem desde catstrofes naturais at a ecloso de guerras, con-
flitos armados, greves e outras manifestaes. Em casos como
esses, tanto pode existir risco de vida quanto dificuldade de deslo-
camento, de acesso gua e alimentao, corte nas comunicaes,
falta de energia, ausncia de local para abrigo, dentre outros.
Segundo a ministra Maria Luiza Lopes da Silva,
67
atual chefe
do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, as repre-
sentaes buscam localizar os brasileiros e, sendo possvel e neces-
srio, monta-se escritrio local de apoio ou central de atendimento.
Quando houver necessidades materiais, disponibilizam-se recursos
para alimentao, cobertores ou alojamento emergencial. Feridos
ou doentes so socorridos e encaminhados para o atendimento
hospitalar. Se for preciso deixar a regio, os consulados fazem
gestes junto s companhias areas para tentar atender a todos os
nacionais ou, inexistindo outra possibilidade, montam planos de
evacuao.
A repatriao, nos termos do MSCJ, o retorno ao pas de ci-
dado brasileiro, em ocasies excepcionais, custeado pelo Estado.
67. Entrevista concedida para o Programa Brasileiros no Mundo, do canal TV
Brasil Internacional, em maio de 2011.
134 FERNANDA RAIS USHIJIMA
No se d somente em situaes de crise, mas toda vez que houver
comprovao de que o brasileiro se encontra em estado de desvali-
mento, ou seja, em que se verifica a total impossibilidade, por parte
do indivduo e de sua famlia no Brasil, de garantir sua prpria ma-
nuteno no exterior.
68
O transporte do brasileiro somente se d at
o primeiro porto de entrada no Brasil. Em 2010, foram repatriados
4.181 brasileiros.
69
Em 2009, foi possvel acompanhar a atividade do Ministrio
das Relaes Exteriores em um episdio crtico.
70
Na vspera do
Natal, em 2009, brasileiros, em sua maioria garimpeiros, foram
atacados por um grupo de marrons, ou descendentes de escravos
fugitivos, em Albina, cidade do Suriname que faz fronteira com a
Guiana Francesa. Os brasileiros no pas encontram-se, em sua
maior parte, em situao de irregularidade e exercem o garimpo ar-
tesanal, proibido por lei. Eles migram, especialmente, dos estados
do Norte e atravessam a fronteira em busca de oportunidades.
O estouro da violncia contra um grupo de brasileiros, no final
do ano de 2009,
71
teve incio aps uma briga de bar que resultou no
assassinato de um quilombola surinams por um brasileiro. Com
armas de fogo, faces, paus, pedras e machados, um grupo de aproxi-
madamente trezentos surinameses atacou cerca de duzentos brasi-
leiros e ateou fogo, destruiu e saqueou o local onde estes se alojavam,
carros, dentre outros pertences. Pelo que se sabe, 25 brasileiros
foram feridos e entre dez a vinte brasileiras sofreram tentativas de
68. Segundo informaes do DAC, podem ser repatriados, com sua viagem cus-
teada pelo Estado, aqueles cujos membros de sua famlia so isentos do paga-
mento de imposto de renda.
69. Em 2009, os cinco postos que mais realizaram repatriamentos foram: Embai-
xada em Georgetown (107); Consulado-Geral em Munique (41); Embaixada
em Bogot (37); Vice-Consulado em Puerto Ayacucho (34), e Consulado-
-Geral em Tquio (30).
70. O episdio da violncia contra brasileiros no Suriname teve grande reper-
cusso na mdia nacional, conferir: Oliveira, 2009; Vallone, 2009; Loureno,
2009; Giraldi, 2009a; 2009b; 2009c; 2010; Pimentel, 2010.
71. Vale mencionar o contexto da alta do ouro desde o incio da crise financeira de
2008.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 135
estupro ou foram, de fato, violentadas. Sete brasileiros se encon-
tram desaparecidos e no se sabe se houve mortes.
Aps o ataque, 81 brasileiros foram transferidos para a capital,
Paramaribo, pela polcia e foras armadas surinamesas. Dos brasi-
leiros feridos, 14 foram colocados em um hospital militar. A maior
parte do restante ficou hospedada em hotis, com as despesas pagas
pelo governo do Brasil.
No dia 27 de dezembro, dois diplomatas brasileiros so en-
viados para ajudar a Embaixada do Brasil a avaliar o ocorrido e a
prestar assistncia aos brasileiros. O avio que levou os diplomatas
transporta, de volta para o Brasil, cinco nacionais vtimas do ataque.
Trs dias depois, chega um segundo avio das Foras Areas Brasi-
leiras (FAB) para buscar brasileiros feridos e outros interessados,
com misso composta por uma funcionria da secretaria especial de
ateno mulher e uma diplomata especializada em temas consu-
lares. Em sua volta para o Brasil, no dia seguinte, a aero nave equi-
pada com uma unidade de terapia intensiva (UTI) mvel, dois
mdicos, um enfermeiro e auxiliares traz 33 brasileiros. No dia 4
de janeiro, uma ltima equipe, formada por duas assistentes sociais
e uma psicloga da Secretaria Especial de Polticas para as Mu-
lheres, enviada, com o objetivo de examinar as mulheres vtimas
de estupro e outras formas de violncia sexual. A ministra Maria
Luisa Lopes da Silva informou ainda que foi negociado com o go-
verno do Par a concesso de ajuda financeira s vtimas.
72
2.3.6 Regularizao migratria
As tendncias de internacionalizao da economia em contra-
posio imposio de barreiras a migrantes menos qualificados,
vm ampliando o nmero das migraes irregulares. Estima-se que
a situao migratria irregular atinja 70% dos brasileiros que se
72. Informao concedida em entrevista realizada no MRE no dia 5 de setembro
de 2011.
136 FERNANDA RAIS USHIJIMA
encontram no exterior. So trs as principais regies onde se con-
centram emigrantes brasileiros irregulares: nos Estados Unidos,
pas com o maior nmero de brasileiros, na proporo de 60% dos
flu xos; na Europa, segunda maior regio receptora, com a por-
centagem de 50%; e na Amrica do Sul, terceira maior regio, no
montante de 40% do total (dados fornecidos pelo DAC em 2011).
A irregularidade pode se dar de diversas maneiras e em vrios
momentos. Destarte, um migrante pode entrar no pas de forma ir-
regular ou entrar regularmente, mas exceder o prazo permitido de
permanncia ou exercer atividade remunerada sem autorizao.
Em qualquer dos casos, o migrante fica exposto a uma condio de
maior vulnerabilidade.
73
Muitos migrantes, j no momento da tentativa de cruzamento
da fronteira de outro pas, correm riscos e passam por grandes difi-
culdades. Esses so os casos de muitos brasileiros que buscam
adentrar os Estados Unidos de forma irregular. A alta atratividade
desse pas, em oposio sua rigorosa poltica de concesso de visto
e os reforos no controle da fronteira, fazem com que vrios brasi-
leiros contratem atravessadores (conhecidos como coiotes)
suspeitos e enfrentem rotas perigosas.
Assim que chegam ao pas, alguns migrantes so presos e de-
portados. Segundo o relator especial da ONU, em certos pases e
ocasies, os migrantes so confinados em prises comuns ou an-
logas, por perodos de tempo longos ou indeterminados, onde so-
frem maus-tratos, no recebem condies mnimas ou garantias
processuais e judiciais, e so punidos desproporcionalmente.
Aqueles que conseguem permanecer no pas em razo de seu
status (denominados ilegais, clandestinos ou at mesmo crimi-
nosos, em pases onde a infrao da lei de imigrao considerada
73. A reciprocidade de iseno de visto existente com alguns pases da Unio Eu-
ropeia tem permitido que o migrante brasileiro que se encontra irregular-
mente em territrio europeu tenha entrado neste de forma regular. No caso
dos Estados Unidos, diferentemente, sempre foi numerosa a tentativa de se
entrar em seu territrio de forma irregular, sobretudo pela fronteira com o
Mxico.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 137
delito penal), pelo medo constante (da denncia, da priso e da
depor tao), ou por ordem de polticas que restringem direitos,
obrigam a denncia e penalizam tambm terceiros que prestam as-
sistncia encontram dificuldade para exercer a cidadania e ter
acesso a direitos bsicos, como alugar um imvel, ser registrado
em um emprego, abrir credirio, matricular os filhos na escola, re-
correr justia em caso de violao de seus direitos, receber assis-
tncia mdica gratuita.
A poltica imigratria de competncia de cada pas e de sua
populao. Dessa forma, so eles que determinam quem deve en-
trar e permanecer em seus territrios. Para isso, adotam polticas
migratrias mais ou menos restritivas, estabelecendo condies e
normas para admisso de estrangeiros segundo as atividades que
pretendem exercer: turismo, trabalho, estudo, etc.
No contexto mais recente, diante do aumento dos fluxos e de
sua diversidade, bem como de conjunturas econmicas menos fa-
vorveis, e tambm das ameaas terroristas, os pases de residncia
vm estabelecendo exigncias cada vez mais rigorosas para a con-
cesso de vistos, controle de passaportes, segurana porturia e
fronteiria, identificao eletrnica e biomtrica que criminalize a
migrao irregular e o emprego de trabalhadores indocumentados.
Muitos desses pases tm ido alm e tentado interferir na prpria
origem do processo imigratrio (em casos de assimetria de poder),
dentre outras formas, por meio de presses sobre os pases de emi-
grao para que estabeleam controles de sada dos seus nacionais,
ou mesmo que os autorizem a tomar a si tal tarefa.
No entanto, o fato de tais polticas serem consideradas como de
mbito interno dificulta a atuao dos pases de origem, os quais,
segundo princpio internacional, devem procurar no interferir em
assuntos de outros pases. O campo de ao dos pases de origem,
com isso, fica limitado, basicamente, ao mapeamento, divulgao
e aproveitamento de oportunidades de regularizao.
74
Excep-
74. Essa medida vem sendo adotada por alguns pases de origem para tentar am-
pliar a influncia de seus nacionais no pas de residncia.
138 FERNANDA RAIS USHIJIMA
cionalmente, nos casos da Amrica do Sul e de Portugal, o Brasil
vem realizando negociaes mais satisfatrias, respectivamente,
em razo, sobretudo, de processos de integrao e da relao hist-
rica entre os pases.
No contexto da Amrica do Sul, o Brasil firmou acordo de re-
gularizao migratria, em 2004, com o Suriname (Decreto Legis-
lativo n
o
271 de 4 de outubro de 2007); e, em 2005, por troca de
notas, com a Bolvia, o qual sofreu prorrogaes em 2007 (Ajuste
Complementar ao Acordo de Regularizao Migratria) e 2008
(Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo de Regularizao
Migratria), por meio de ajustes entre os dois pases.
Acordos de regularizao migratria, alm de terem um pe-
rodo determinado de abrangncia (estrangeiros que chegaram ao
pas at certa data), precisam ser negociados de forma a ampliar a
sua acessibilidade, pois, muitas vezes, a multa a ser paga, a exigncia
de documentos, ou uma interpretao mais restritiva por parte dos
agentes executores, podem inviabilizar sua aplicao. Em qualquer
caso, a atuao dos consulados fundamental, seja para garantir o
cumprimento do acordo, divulg-lo, ou fornecer documentos e
orientaes aos possveis beneficiados.
Em 2003, tendo em vista o Tratado de Amizade, Cooperao
e Consulta, Brasil e Portugal assinam Acordo sobre Contratao
Recproca de Nacionais, o qual criou a possibilidade de regula-
rizao de brasileiros que pudessem comprovar entrada em Por-
tugal antes dessa data e vnculo empregatcio vigente, sem a
obrigao de regressar ao Brasil para obter o visto de trabalho (em
vigor desde 19 de outubro de 2003) (Firmeza, 2007).
No mbito do Mercosul e de seus Estados associados mais an-
tigos (Bolvia e Chile, 1996), foram negociados em 2002, os acordos
sobre residncia para nacionais dos Estados parte do Mercosul
(Decreto Legislativo n
o
210, de 20 de maio de 2004), e do Mer-
cosul, Bolvia e Chile (Decreto Legislativo n
o
925, de 15 de se-
tembro de 2005), os quais entraram em vigor somente no ano de
2009, em virtude da resistncia do Paraguai (pas na Amrica do
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 139
Sul com o maior nmero de brasileiros irregulares) em ratificar os
acordos.
75
Por troca de notas, em 2006, entre o Brasil e o Uruguai, o
acordo foi implementado entre as partes e entrou em vigor no
mesmo ano (27 de outubro de 2006). A bilaterizao do acordo de
residncia para nacionais dos pases do Mercosul tambm foi reali-
zada entre o Brasil e a Argentina (negociao em 2005 e entrada em
vigor em 29 de agosto de 2006). Os acordos visam normalizao
da situao dos nacionais de um Estado parte que estejam no terri-
trio de outro.
Iniciadas no marco da entrada em vigor do Acordo de Resi-
dncia do Mercosul, segundo o Ministrio das Relaes Exteriores,
foram realizadas at 2010, no Paraguai por intermdio da rede
75. Mais do que uma simples possibilidade de regularizao aos Estados inte-
grantes, o acordo, segundo Novick (2010a), inicia uma trajetria rumo livre
circulao de pessoas e busca ampliar o conceito de direitos humanos. Vale
assinalar que o Mercosul adotou o formato de tratado marco, inspirado em
modelos clssicos e em particular na Comunidade Econmica Europeia
(Novick, 2010a). Acordos que aspiram criar mercados comuns contm
compromissos explcitos que propiciam a conformao de uma cidadania co-
munitria, exigindo polticas migratrias mais abertas e flexveis (Novick
apud Martnez Pizarro, 2010). Num contexto de expanso do processo de in-
tegrao na Amrica do Sul, de nova conjuntura (maior crtica quanto s pol-
ticas neoliberais) e de surgimento de novos atores e espaos de participao,
devemos nos indagar sobre o reflexo concreto que tendncias, especialmente
no mbito imigratrio na regio (por mais que, no caso do Brasil, o nmero de
nacionais na regio no seja to grande e tenha, inclusive diminudo), podem
ter na poltica de emigrao dos pases (espero que tenhamos conseguido dar
neste trabalho, pelo menos, algum insight). Quanto a esta ltima, devemos
observar ainda que espaos de integrao, mais recentemente, vm sendo
usados tambm para discutir polticas de vinculao, trocar experincias
(Vaccotti, 2010), encorajar posturas comuns e tentar articular posies con-
juntas. Apesar do cenrio geral mais otimista, Novick (2010a) alerta para o
fato de que a vacilao entre um processo libertador na regio e um pro-
cesso de expanso e consolidao de mercados dirigidos pelo poder econmico
concentrado tm resultado no avano que as questes industriais e de co-
mercializao vm tendo em detrimento em relao ao desenvolvimento mais
lento dos aspectos sociais e culturais da integrao idealizada.
140 FERNANDA RAIS USHIJIMA
consular, e em parceria com a Organizao Internacional para as
Migraes e autoridades paraguaias , dez jornadas de regulari-
zao migratria de brasileiros naquele pas. No mesmo ano, cerca
de dez mil brasileiros receberam o visto temporrio que lhes per-
mite residir, estudar e trabalhar, o qual poder ser transformado
em visto permanente aps dois anos.
No caso especfico da regio de fronteira, o Brasil e o Uruguai
assinaram, em 2002, acordo para a permisso de residncia, estudo
e trabalho a nacionais fronteirios, em vigncia desde 14 de abril de
2004 (Decreto n
o
5.105). Desde ento, negociaes semelhantes
foram e vem sendo realizadas com outros pases vizinhos (Co-
lmbia, Venezuela, Guiana Francesa, etc.). Em 2005, Brasil e Ar-
gentina assinaram acordo sobre localidades fronteirias, o qual, se
entrar em vigor, permitir que os portadores de carteira de trnsito
vicinal fronteirio gozem dos seguintes direitos:
a) exerccio de trabalho, ofcio ou profisso de acordo com as
leis destinadas aos nacionais da parte onde desenvolvida a
atividade, inclusive no que se refere aos requisitos de for-
mao e exerccio profissional, gozando de iguais direitos
trabalhistas e previdencirios e cumprindo as mesmas obri-
gaes trabalhistas, previdencirias e tributrias que delas
emanam;
b) acesso ao ensino pblico em condies de gratuidade e reci-
procidade;
c) atendimento mdico nos servios pblicos de sade em
condies de gratuidade e reciprocidade;
d) acesso ao regime de comrcio fronteirio de mercadorias ou
produtos de subsistncia, segundo as normas especficas
que constam no Anexo II, e
e) quaisquer outros direitos que as partes acordem conceder.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 141
2.3.7 Questes previdencirias e trabalhistas
No contexto migratrio, em que existem incertezas quanto ao
tempo de permanncia e ao retorno, pode acontecer de um traba-
lhador contribuir para a previdncia social de diversos pases e, em
nenhum deles, conseguir preencher os requisitos para acessar os
seus benefcios. Para resolver casos como esse, a que parte dos emi-
grantes brasileiros est suscetvel, o Ministrio da Previdncia So-
cial, acompanhado pelo Ministrio das Relaes Exteriores,
76
vem
realizando acordos de previdncia social com outros pases. Na vi-
gncia de acordos desse tipo, o tempo de contribuio do tra-
balhador para a previdncia de um determinado pas pode ser
computado para a previdncia do outro, facilitando a obteno da
segurana previdenciria. A cobertura previdenciria de brasileiros
vem sendo ampliada por meio dos seguintes acordos internacionais
em vigor:
77
Acordo com o Chile, assinado em 16 de outubro de 1993
(Decreto n
o
1.875, de 25 de abril de 1996).
Acordo no mbito do Mercosul, assinado em 19 de setembro
de 1997 (Decreto n
o
5.722, de 13 de maro de 2006).
Acordo com a Espanha, assinado em 16 de maio de 1991
(Decreto n
o
1.689, de 7 de novembro de 1995).
Acordo de seguridade social com Portugal, assinado em 7 de
maio de 1991 (Decreto n
o
1.457, de 17 de abril de 1995).
Conveno Multilateral Iberoamericana de Segurana So-
cial, de 10 de novembro de 2007.
76. Segundo o MRE, o seu papel, por intermdio da DBR, tem sido auxiliar o
MPS na identificao de prioridades para a assinatura dos acordos previden-
cirios; intermediar contatos entre o governo brasileiro e o estrangeiro; cuidar
de aspectos formais, legais e protocolares relacionados redao e assinatura
dos textos; e acompanhar seu trmite at a promulgao.
77. Compilao realizada a partir do stio do Ministrio da Previdncia Social.
142 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Encontram-se em processo de ratificao no Congresso Na-
cional: acordo com a Alemanha, assinado em 3 de dezembro de
2009; acordo com a Blgica, assinado em 4 de outubro de 2009; e
acordo com o Japo, assinado em 29 de julho de 2010.
Alm dos acordos previdencirios j assinados ou ratificados,
h perspectivas de novas negociaes, que j se encontram em
curso com o Canad e a provncia do Qubec, a Frana, Sria, L-
bano, Itlia, Israel, Colmbia, Bolvia, Holanda, Coreia do Sul,
Grcia, Luxemburgo e Estados Unidos.
Os acordos internacionais de previdncia social, mesmo nos
pases em que esto em vigncia, abrangem os brasileiros em si-
tuao regular. Se, em solo nacional, a previdncia social constitui
no somente um direito, mas tambm, em regra, uma obrigao
(artigo 4
o
da IN RFB n
o
971/2009), para os brasileiros no exterior,
com exceo de casos em que o empregador consiste em empresa
brasileira, facultada a filiao previdncia social.
Problema anterior possibilidade de computao do tempo de
contribuio entre pases, ou de filiao a algum regime previden-
cirio, seria o desrespeito aos direitos trabalhistas dos emigrantes
brasileiros, mesmo os regulares, que envolve no somente a previ-
dncia, mas igualmente benefcios da seguridade social, bem como
direito a frias, de associao, de licenas, entre outros.
Em virtude do excedente de mo de obra pouco qualificada no
novo contexto de internacionalizao da economia, iniciativas iso-
ladas dos Estados de origem em defesa desses direitos acabam por se
tornar ineficazes. Assim, as aes do Brasil no exterior tm se res-
tringido, em grande parte, prestao de esclarecimentos sobre di-
reitos e deveres, mercados de trabalho e programas de capacitao.
A ao no mbito trabalhista vem sendo conduzida, a partir
dos anos 2000, pelo Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE) e o
Conselho Nacional de Imigrao
78
(CNIg). Em 2008, o MTE criou
78. Originalmente, o Conselho Nacional para Imigrao (CNIg), rgo colegiado
vinculado ao MTE, lida com questes relacionadas imigrao (Portaria n
o
634/1996). No entanto, desde 2004, verifica-se uma concentrao cada vez
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 143
a Casa do Migrante em Foz do Iguau (Paran), entidade que em
parceria com o Ministrio das Relaes Exteriores, a Prefeitura de
Foz do Iguau e a Secretaria de Poltica para as Mulheres realiza a
brasileiros, paraguaios e a outros imigrantes atendimento multidis-
ciplinar que engloba, alm de informaes trabalhistas, questes
ligadas documentao, acesso sade e orientao especfica a
mulheres.
79
Em 2010, o MTE abriu, em parceria com o Ministrio das Re-
laes Exteriores, o Escritrio Experimental da Casa do Traba-
lhador Brasileiro em Hamamatsu (Japo), que funcionou entre o
incio de agosto e o fim de dezembro, com a proposta de propor-
cionar informaes a brasileiros radicados no Japo sobre direitos
e deveres trabalhistas no Japo e no Brasil, programas de capaci-
tao profissional, mercado de trabalho brasileiro e japons ou
encaminh-los a servios especializados no Japo. Avalia-se atual-
mente a necessidade de estabelecimento de uma estrutura de natu-
reza permanente e o formato a ser adotado.
No mesmo ano, diante do retorno de brasileiros do Japo, em
decorrncia da crise econmica que atingiu o pas em 2008, o MTE
instala, em So Paulo, numa parceria com o Instituto de Solida-
riedade Educacional e Cultural (Isec),
80
um projeto-piloto do N-
cleo de Informao e Apoio a Brasileiros retornados do Exterior
(Niatre). O objetivo da criao do ncleo prestar servios como
orientao para reinsero no mercado de trabalho, encaminha-
mento para cursos de qualificao, informaes relativas aos di-
maior de temas ligados emigrao nas reunies desse conselho. Na proposta
de reforma do estatuto do estrangeiro (Projeto de Lei n
o
5.655/2009), adi-
ciona-se ao CNIg, a competncia para definir e coordenar a poltica emigra-
tria, e o transforma, ento, em Conselho Nacional para Migrao (CNM).
79. Em 2009, o nmero de mulheres que procuraram o atendimento da Casa do
Migrante foi superior ao de homens: 1.072 contra 717. Tambm, o nmero de
paraguaios superou o de brasileiros: 974 contra 721 (MTE, 2010).
80. A principal tarefa do Isec defender o direito inalienvel das crianas edu-
cao, com foco de atuao voltado quelas com maior vulnerabilidade, prio-
ritariamente os filhos de brasileiros envolvidos no movimento migratrio
conhecido como movimento dekassegui.
144 FERNANDA RAIS USHIJIMA
reitos de cidadania brasileira e do trabalhador brasileiro, alm de
captar oportunidades de emprego e vagas em cursos de qualificao
profissional.
J a Caixa Econmica Federal estabeleceu no papel de agente
operador do FGTS (artigo 4
o
, Lei n
o
8.336/1990) , por meio da
Circular Diretor da Caixa Econmica Federal (CEF) n
o
521/2010,
com base no Decreto n
o
99.684/1990, que, nos seguintes casos, o
brasileiro residente no Japo poder solicitar a movimentao de
sua conta vinculada FGTS: a) contrato de trabalho rescindido sem
justa causa; b) extino normal do contrato de trabalho a termo;
c) aposentadoria concedida pela Previdncia Social; d) permanncia
do trabalhador por trs anos ininterruptos fora do regime do FGTS;
e) permanncia da conta vinculada por trs anos ininterruptos sem
crdito de depsito, para afastamento ocorrido at 3 de julho de
1990. A circular permitiu ainda que as reparties consulares na-
quele pas operassem o servio de solicitao, tornando desneces-
sria a vinda ao Brasil.
2.3.8 Sade
O problema do acesso sade, pelos brasileiros no exterior,
pode se dar: pela disponibilidade, cada vez mais restrita aos imi-
grantes, mormente queles em situao irregular (e em momentos
de crise econmica), dos servios pblicos de sade; pela inexis-
tncia, em outros pases, de abrangentes sistemas pblicos de sade,
agravados, como j vimos, pelo desrespeito aos direitos de seguri-
dade e previdncia, dos trabalhadores migrantes; e pela dificuldade
com a lngua.
A atuao do governo brasileiro na rea da sade dos emi-
grantes concentra-se nas comunidades fronteirias, e se insere na
poltica mais ampla de integrao regional. Nada ainda de muito
concreto, entretanto, foi finalizado. Em estgio mais avanado,
encontram-se as negociaes entre o Brasil e o Uruguai, que resul-
taram no Acordo para Acesso Recproco aos Servios de Sade na
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 145
Fronteira, firmado em 2008 (Decreto n
o
7.239, de 26 de julho de
2010), ajuste complementar ao Acordo de Residncia, Trabalho
e Emprego, assinado em 2002 (Decreto n
o
5.105, de 14 de junho de
2004). O novo acordo permite a fronteirios de nacionalidades
brasileira e uruguaia o acesso recproco aos servios de sade, p-
blicos e privados, nos dois lados da fronteira, numa faixa de 20 km.
Tambm com o objetivo de facilitar o acesso aos servios de
sade, o Ministrio da Sade (MS), em cooperao com o Minis-
trio das Relaes Exteriores, tem trabalhado para incluir o tema da
sade nos acordos bsicos de cooperao que o Brasil mantm com
pases vizinhos, tais como Argentina, Colmbia, Guiana Francesa,
Guiana, Peru e Venezuela.
Vale ressaltar que, mesmo que no haja instrumentos legais, h
uma troca de servios de sade nas regies fronteirias. Muitos
brasileiros, residentes em pases vizinhos, vo at municpios brasi-
leiros para ter acesso ao Sistema nico de Sade (SUS), o que acaba
por impactar o financiamento do servio de sade nessas loca-
lidades. Para lidar com a situao, o Ministrio da Sade, por meio
da Portaria n
o
1.120/GM, de 6 de julho de 2005 (substituda pela
Portaria n
o
1.188 de 5 de junho de 2006), criou o Sistema Integrado
de Sade.
A ideia do sistema consiste em contribuir para a organizao e
o fortalecimento dos sistemas locais de sade nos municpios fron-
teirios (compensao ao repasse de verbas); e, como viso de fu-
turo, pretende estimular o planejamento e a implantao de aes e
acordos bilaterais ou multilaterais entre os pases que compartilham
fronteiras entre si, por intermdio de um diagnstico homogneo da
situao de sade para alm dos limites da fronteira geogrfica bra-
sileira.
A atuao regional do Brasil na rea da sade concentra-se so-
bretudo no mbito do Mercosul, mas tambm, mais recentemente,
da Unasul, e est relacionada, mais propriamente, ao fortaleci-
mento de sua posio contra os impactos negativos causados
pelas regras internacionais de patente, ao compartilhamento e di-
fuso de modelos de polticas pblicas, livre circulao de pro-
146 FERNANDA RAIS USHIJIMA
dutos para a promoo e assistncia sade, cooperao tcnica
na vigilncia sanitria e epidemiolgica, a aes de sade pblica
de alta externalidade, bem como regulao dos mercados de tra-
balho e da formao no campo, para possibilitar a circulao de
profissionais.
Em outras partes do mundo onde se situam os brasileiros, as
aes, quando existentes, tm se limitado, em maior ou menor grau,
a alertas a viajantes e parceria com associaes que prestam ser-
vios na rea da sade. Especialmente no caso do Consulado-Geral
do Brasil em Nova York, foi includa, em misses consulares itine-
rantes, em 2011, a semana binacional de sade, inspirada em ini-
ciativa dos consulados mexicanos. O Consulado-Geral do Brasil
em Chicago, em decorrncia de programa de cooperao com o M-
xico, iniciado em 2009, vem participando anualmente, em coor-
denao com os consulados mexicanos nos Estados Unidos, da
Semana Nacional de Sade.
2.3.9 Educao
As aes do Brasil para seus nacionais e descendentes no exte-
rior vm se dando em algumas frentes: criao de critrios para o
reconhecimento de escolas brasileiras no exterior; aplicao de
exames supletivos no Japo; extenso, tambm para esse pas, do
programa Universidade Aberta do Brasil (UAB); tentativa, verifi-
cada em alguns consulados, de promoo do ensino do portugus,
entre outras mais especficas, ou que fazem parte de polticas de
integrao e promoo cultural.
O estabelecimento de requisitos para o reconhecimento de es-
colas brasileiras no exterior deu-se, primeiramente, no Parecer do
Conselho Nacional de Educao (CNE) n
o
11, de 1999, por inter-
mdio do Estado do Paran e de grupos de brasileiros no Japo. Tal
parecer tambm previu a possibilidade de aplicao de exames su-
pletivos no Japo, e foi posteriormente substitudo pela Resoluo
do CNE/CEB n
o
2, de 17 de fevereiro de 2004. At 2010, haviam
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 147
sido reconhecidas, no Japo, cinquenta escolas. No pas, o pro-
blema da educao dos brasileiros mais latente em decorrncia da
dificuldade de adaptao e da aprendizagem do idioma. O reco-
nhecimento pelo CNE d-se a escolas com currculos prximos aos
das escolas brasileiras, e tem por objetivo permitir o prossegui-
mento dos estudos no retorno ao Brasil, sem necessidade de reclas-
sificao.
Para atender crescente demanda de professores por parte da
comunidade brasileira no Japo, o MEC, no contexto das aes
articuladas pelo Programa da Universidade Aberta do Brasil
(UAB) (Decreto n
o
5.800/2006), fez parceria com a Universidade
Federal do Mato Grosso e a Universidade de Tokai para o ofereci-
mento de curso de educao a distncia, que inclui a organizao e
funcionamento de polos locais, destinado formao inicial e con-
tinuada de professores. Em virtude dessa iniciativa, em 2009, foi
realizado, por meio de processo seletivo, curso de Pedagogia-licen-
ciatura, na modalidade a distncia, para trezentos professores pro-
ficientes em portugus, que estivessem atuando com crianas
brasileiras em instituies educativas no Japo.
Alm de aes mais especficas de alguns consulados, como o
caso do Consulado-Geral do Brasil em Miami, que realizou tra-
balho de promoo do uso do portugus em escolas pblicas (Brasil,
2010a), h aquelas que integram polticas mais gerais de promoo
cultural, como a expanso, a partir de 2006, da Rede Brasileira de
Ensino no Exterior (RBEx) (Firmeza, 2007).
Na Amrica do Sul, h o Projeto Escolas Bilngues de Fron-
teira, que comea com a Argentina, com base no Protocolo sobre
Integrao Educativa e Reconhecimento de Certificados, Ttulos e
Estudos de Nvel Primrio e Mdio No-Tcnicos, assinado em
1994 (Decreto n
o
2.726/1998), e vem se estendendo a outros pases.
Essa iniciativa visa integrao de professores e estudantes bra-
sileiros com os alunos e professores dos pases vizinhos, alm da
ampliao das oportunidades do aprendizado da segunda lngua.
Outras aes seriam a promulgao do Acordo de Admisso de T-
tulos e Graus Universitrios para o Exerccio de Atividades Aca-
148 FERNANDA RAIS USHIJIMA
dmicas nos Estados Partes do Mercosul (Decreto n
o
5.518/2005),
a criao de um selo de qualidade s instituies educacionais de
ensino superior dos pases do Mercosul, a inaugurao de escola
pblica peruano-brasileira, dentre outras.
Em 2010, em virtude de um grande nmero de brasileiros que
vo estudar medicina fora do pas, por causa da concorrncia e dos
custos, foi elaborado, por iniciativa do MEC e do Ministrio da
Sade, um projeto piloto para implantar um novo modelo de reva-
lidao dos diplomas obtidos por estudantes em universidades
estran geiras. O objetivo do projeto, de acordo com o stio do Mi-
nistrio da Educao, substituir o atual processo de revalidao,
que moroso e fica a critrio de cada instituio, por um exame
nacional unificado, com critrios tcnicos e conceituais claros. De-
vemos mencionar que o reconhecimento de certificados pode ser
prejudicado por diferenas culturais, mas sobretudo lingusticas
e por barreiras existentes ao acesso ao mercado de trabalho dos
pases.
2.4 Polticas de vinculao e transferncia de
recursos: uma poltica para ou uma poltica
voltada para os brasileiros no exterior?
Recentemente, alguns pases de emigrao tm buscado atrair
seus nacionais que residem no exterior com objetivos relacionados
ao desenvolvimento, tais como a recuperao de mo de obra quali-
ficada, o envio de remessas e a promoo do pas no exterior.
difcil apresentar uma nica definio do termo poltica de vin-
culao. Como observa Vilhena (2006):
Se considerarmos os Estados individualmente, encontraremos
muitas diferenas no entendimento do que significa vinculao.
Em meio a noes pouco claras do significado do termo, h vises
utilitaristas pelas quais se justifica o interesse dos Estados por
seus nacionais emigrados, ao passo que, em alguns pases, so
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 149
promovidos enfoques mais integrais e atentos s reais necessi-
dades e expectativas do conjunto da populao emigrada em re-
lao ao pas de origem. Assim, o cenrio que se observa na regio
um reflexo muito claro do pouco conhecimento que existe entre
os pases, das caractersticas de seus emigrados, da maneira por
meio da qual se conectam e de seus interesses em seus pases de
origem. (Traduo nossa)
No caso do Brasil, o processo de desenvolvimento de polticas
de vinculao, que ainda se encontra em uma fase inicial e frag-
mentria, no se apresenta de forma explcita, como se d em pases
como o Uruguai, com o Programa Departamento 20,
81
e na Argen-
tina, com o Programa Provincia 25.
A tentativa de levar a soberania do Estado brasileiro sobre os
emigrantes e seus descendentes d-se por meio da ligao de
direi tos a deveres e a formas de controle. Por exemplo, as facili-
taes ao exerccio do direito de voto, apesar de ser um direito,
tambm um dever; a regulamentao de remessas por vias legais as
colocam sob o controle fiscal; e a vinculao nacionalidade brasi-
leira, como no caso da dupla cidadania, alm de garantir direitos,
prende o indivduo ao sentimento de pertencimento nao.
Dentro desse processo de tentativa de construo de uma pol-
tica de vinculao, abordaremos algumas polticas relacionadas aos
seguintes temas: remessas, nacionalidade, deveres, poltica cultural
e cientistas no exterior.
2.4.1 Remessas
Em 2010, estimou-se que os fluxos de remessas ultrapassaram
US$ 440 bilhes em todo o mundo. Desse montante, US$ 325 bi-
81. Em 26 de setembro de 2005, foi criado por um decreto presidencial, a Di-
reo Geral para Assuntos Consulares e Vinculao da Repblica Oriental do
Uruguai.
150 FERNANDA RAIS USHIJIMA
lhes, ou quase 74% do total, destinaram-se aos pases menos de-
senvolvidos. Os quatro pases que mais receberam remessas foram
a ndia, a China, o Mxico e as Filipinas. O Brasil ocupa a 24
a
quarta posio nessa lista. J se levarmos em considerao o con-
texto da Amrica Latina, o pas sobe para o segundo lugar, em
valor absoluto, atrs somente do Mxico (Figura 3). Nesse ano, se-
gundo estimativas do Banco Mundial, o Brasil chegou a receber
cerca de US$ 4,3 bilhes em remessas (World Bank, 2011).
Figura 3 Estimativas de remessas por pas de recebimento em 2010 (em
US$ bilhes)
Fonte: World Bank, 2011.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 151
No obstante sua posio privilegiada na lista dos pases que
mais recebem remessas, a relativa industrializao do Brasil faz
com que elas representem apenas 0,2% do Produto Interno Bruto
(PIB). Em alguns pases da Amrica Latina, por exemplo, em 2009,
essa porcentagem chegou a 19% em Honduras, 17% na Guiana, e
16% em El Salvador (World Bank, 2011). Se compararmos, no en-
tanto, o valor das remessas com alguns agregados da economia, elas
adquirem maior importncia: em 2003, as remessas representaram
7% das exportaes brasileiras (US$ 73,1 bilhes), sendo maior que
qualquer produto de exportao (Patarra, 2008). Em 2004, as re-
messas atingiram 175% da receita total recebida pelo Brasil pelo
turismo, ou 68% do valor das exportaes de soja, o maior produto
agrcola em termos de valor exportado (Schwarzer, 2008). Em
2010, com o crescimento da receita da exportao (US$ 202 bi-
lhes), em virtude da alta dos preos das commodities, as remessas
alcanaram um pouco mais de 2% de seu total, e 40% da receita da
exportao de soja (US$ 11,042 milhes). De acordo com a classi-
ficao do Banco Mundial, o impacto das remessas no pas consi-
derado mediano.
No histrico elaborado pelo Banco Mundial, que registra as
remessas recebidas pelo Brasil de 1975 a 2011, possvel verificar
o desenvolvimento e as variaes dos fluxos durante o perodo. Se,
na dcada de 1980, a mdia das remessas foi de US$ 64,1 milhes
por ano, em 1990 elas chegam a US$ 573 milhes. a partir dessa
dcada que as remessas comearam a crescer expressivamente, e
tiveram o seu primeiro pico no ano de 1992, quando alcanaram
US$ 1,8 bilho. No ano seguinte, houve uma pequena queda, mas
o crescimento retomou em 1994, e atingiu um novo pico em 1995,
com US$ 3,3 bilhes. De 1996 a 2000, o volume dos fluxos dimi-
nuiu at chegar a pouco mais da metade do valor do pico anterior,
ou US$ 1,65 bilho. As remessas s passaram novamente a faixa
dos trs bilhes em 2004, quando foram registrados US$ 3,6 bi-
lhes. De toda a srie de dados, o maior valor foi de US$ 5,1
bilhes, em 2008 (Figura 4).
152 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Figura 4 Fluxo de remessas para o Brasil (1975-2011)
Fonte: World Bank, 2011b.
(*) Estimativa.
Vale observar que os picos de recebimento de remessas coin-
cidem com alguns marcos da ao do Estado brasileiro para os emi-
grantes. Em 1992 (US$ 1,8 bilho), a necessidade de dar mais
ateno a essa comunidade foi ressaltada na Comisso de Aperfei-
oamento da Organizao e das Prticas Administrativas (Caopa).
Foi instituda, no ano de 1995 (US$ 3,3 bilhes), a Diretoria-Geral
de Assuntos Consulares, Jurdicos e de Assistncia a Brasileiros no
Exterior. Em 2008 (US$ 5,1 bilhes), foi criada a Conferncia Brasi-
leiros no Mundo.
No ano de 2010, como demonstra a Tabela 8, as remessas se
originaram, especialmente, dos pases mais desenvolvidos, com
destaque para os Estados Unidos, em primeiro lugar, com US$ 1,4
bilho, seguidos, respectivamente, pelo Japo, Espanha, Reino Unido,
Itlia, Alemanha, Portugal, Frana e Sua. Os emigrantes brasi-
leiros nos Estados Unidos, que representam 44,45% da populao
de emigrantes, enviaram 33,46% do total de remessas recebidas
em 2010. J os brasileiros no Japo, que representam apenas 7,38%
da populao emigrante, enviaram 27,1% das remessas. Isso de-
monstra que o caso do Japo, em que o migrante j sai do Brasil
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 153
com um contrato de trabalho, permite que o envio de remessas seja
mais imediato, ao passo que, em outros pases, demora-se mais
para se instalar e cobrir as despesas relacionadas migrao.
Apesar de as remessas enviadas por brasileiros residentes nos
Estados Unidos, Japo e Espanha representarem mais de 70% do
total das remessas recebidas, no possvel afirmar que o Estado
brasileiro tenha dado preferncia aos nacionais que l residem, em
detrimento dos demais. As polticas para os emigrantes e seus des-
cendentes tm sido desenvolvidas de uma maneira geral, aten-
dendo demanda populacional de nacionais no exterior. O certo
que os pases que esto no topo da lista (Tabela 8) tm atrado mais
a presena de instituies financeiras, tanto pblicas como pri-
vadas. Quanto s instituies financeiras pblicas, temos o Banco
do Brasil (BB) e a Caixa Econmica Federal (CEF).
A Caixa Econmica Federal uma instituio financeira p-
blica vinculada ao Ministrio da Fazenda que o principal agente
de polticas pblicas do governo federal. Despertada pelo poten-
cial econmico dos brasileiros no exterior, ela tem expandido seus
convnios com instituies nos Estados Unidos, Japo e Portugal.
Em sua pgina internacional, a Caixa possui informaes desti-
nadas aos brasileiros residentes no exterior sobre remessas e ou-
tros servios como o financiamento de casa no pas, emprstimos,
e tambm as cartilhas e o cronograma relacionados ao programa,
em parceria com o Fumin/BID e o Sebrae, para a educao finan-
ceira e empreendedora de brasileiros residente na regio de Gover-
nador Valadares (Minas Gerais),
82
e em Massachusetts (Estados
Unidos).
82. No segundo semestre de 2010, houve oficinas em Governador Valadares,
Mantena, Itabirinha de Mantena e Conselheiro Pena.
154 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela 8 Estimativas de envio de remessas para o Brasil em 2010 (em
US$ milhes)
Pas
de origem
Estimativa de remessas
(E)
E/T
%
1 Estados Unidos 1.431 33,46
2 Japo 1.159 27,10
3 Espanha 472 11,02
4 Reino Unido 184 4,30
5 Itlia 159 3,71
6 Alemanha 142 3,31
7 Portugal 137 3,20
8 Frana 111 2,60
9 Sua 103 2,42
10 Canad 64 1,49
11 Holanda 52 1,22
12 Austrlia 44 1,02
13 Irlanda 33 0,76
14 Argentina 23 0,54
15 Blgica 22 0,50
16 Sucia 20 0,46
17 Noruega 17 0,40
18 Paraguai 16 0,38
19 ustria 15 0,35
20 Dinamarca 11 0,26
Outros pases 64 1,49
Total Mundo (T) 4.277 100,00
Fonte: World Bank, 2011c.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 155
O Programa Remessas e Capacitao para Emigrantes Brasi-
leiros e seus Beneficirios no Brasil, iniciado em 2006, tem como
objetivo geral: a) a incluso dos emigrantes brasileiros e de seus
familiares no sistema financeiro brasileiro; (b) a sensibilizao e
orientao empreendedora dos referidos emigrantes; e (c) a edu-
cao e incluso financeira dos mesmos (Schwarzer, 2008). At
2009, de acordo com o relatrio sobre remessas do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), os resultados alcanados
com esse programa, em relao aos previstos, somente tinham sido
satisfatrios no mbito do direcionamento de servios aos emi-
grantes e seus familiares. Nos demais casos como a orientao fi-
nanceira e empreendedora, em Minas Gerais e nos Estados Unidos,
o estabelecimento de novas empresas, algumas delas, inclusive,
com o financiamento e o apoio da Caixa , os resultados tinham
sido praticamente inexistentes (BID, 2010).
O Banco do Brasil (BB) permite o envio de remessas para o
Brasil, de pontos espalhados na Alemanha, ustria, Espanha, Es-
tados Unidos, Frana, Itlia, Japo, Portugal e Reino Unido. O seu
principal pblico, no entanto, so os brasileiros no Japo. A rede
nesse pas bastante vasta e abrange sete agncias, balces em 24
localidades e convnios com quatro bancos japoneses para a ex-
panso do nmero de pontos de atendimento. H tambm uma p-
gina do banco especialmente destinada a eles, em que podem ser
encontradas informaes sobre remessas com novas alternativas
de envio, como carto de remessas, pelo telefone ou Internet ,
alm do oferecimento de servios especiais, como o financiamento
das despesas para o retorno ao Brasil.
Em algumas agncias da rede no Brasil, existe o Espao Nipo-
-Brasileiro, com salas de atendimento destinadas comunidade
nipo-brasileira e que oferecem informaes e servios do Brasil e do
Japo. O Banco do Brasil instalou o Espao em cidades onde a pre-
sena de imigrantes japoneses e descendentes grande, e que pos-
suem um fluxo mais intenso de migrao para o Japo, sendo elas:
So Paulo (SP), Marlia (SP), Mogi das Cruzes (SP), So Jos dos
Campos (SP), Londrina (PR) e Campo Grande (MS).
156 FERNANDA RAIS USHIJIMA
2.4.2 Nacionalidade
As polticas consulares de apoio e cidadania no exterior, desen-
volvidas pelo Estado brasileiro, esto direcionadas aos nacionais
brasileiros que se encontram fora do pas. As polticas tanto consti-
tuem, de certo modo, um dever estatal, quanto um direito relacio-
nado posse da nacionalidade. Mas a prpria nacionalidade, como
status de membro de um determinado Estado, representa, em si,
um direito.
Em 1994, diante do j consolidado fenmeno emigratrio, e do
aumento da restrio ao acesso a direitos pelos migrantes nos pases
mais desenvolvidos (sobretudo nos Estados Unidos),
83
aprovada
no Brasil a Emenda Constitucional n
o
3, que permite a posse da
dupla nacionalidade.
84
A mesma emenda, entretanto, suprimiu a
possibilidade de aquisio da nacionalidade brasileira por meio do
registro de filhos de pai ou me brasileiros na repartio consular.
Com isso, filhos de brasileiros que nasciam no exterior correram o
risco de se tornar aptridas (Anexo II).
O problema foi a bandeira do movimento Brasileirinhos Ap-
tridas (Sprandel & Neto, 2009), e denunciado pela CPMI da Emi-
grao. S em 2007, ou seja, mais de dez anos depois, foi resgatada,
83. Alm da participao parlamentar, pelo menos em alguns momentos mais
cruciais, essa medida possui outro significado. A concesso da dupla naciona-
lidade veio acompanhando, em particular, a onda anti-imigratria que se deu
nos anos 1990 nos Estados Unidos, a qual foi progressivamente restrin-
gindo direitos exclusivamente aos cidados, criando enormes presses para
que os migrantes se nacionalizassem (Escobar, 2006, traduo nossa). No
caso, o movimento, verificado na Amrica Latina (no somente no Brasil), em
direo permisso da dupla nacionalidade, representou, por parte dos Es-
tados de origem, uma tentativa de impedir que os emigrantes perdessem vin-
culao.
84. Na Constituio Federal de 1988, no era permitida a manuteno da nacio-
nalidade brasileira caso o sujeito se naturalizasse em outro pas, independen-
temente da voluntariedade ou no de seu ato. A emenda tem efeito retroativo
e restaura a nacionalidade brasileira daqueles que a perderam pela aquisio
de outra nacionalidade.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 157
por meio da aprovao da Emenda Constitucional n
o
54, a possibi-
lidade de os descendentes de brasileiros nascidos no exterior adqui-
rirem a nacionalidade pelo simples registro consular (Anexo II).
Essa medida representou a volta de uma poltica de concesso da
nacionalidade que adota no somente critrio do jus soli, mas tambm
o do jus sanguini.
Pode-se dizer que, como consequncia dessa mudana, tran-
sita-se de uma cidadania emigrante para a construo de uma
cidadania extraterritorial, na qual os direitos tambm so esten-
didos aos descendentes de emigrantes nascidos no exterior (Mene-
gazzo, 2010). At ento, as polticas se destinavam a pessoas que
saam do pas; a partir disso, elas tambm se voltam para os brasi-
leiros nascidos no exterior.
85
Com a extenso da nacionalidade brasileira pela adoo
tam bm do critrio do jus sanguini, a presena de nacionais no ex-
terior passa a no depender somente da sada do pas. No ano de
2010, foram feitos 30.438 registros de nascimento de brasileiros no
exterior
86
(Tabela 9).
A Tabela 9 apresenta os trinta postos que mais registraram
nascimentos de brasileiros no exterior. Verifica-se que os primeiros
postos coincidem com os pases de maior residncia dos emigrantes
brasileiros, sendo que alguns desses pases adotam uma poltica
para a concesso de nacionalidade baseada no critrio do jus san-
guini. Isso significa que parte dos filhos de brasileiros nascidos no
exterior possuiro exclusivamente a nacionalidade brasileira, en-
quanto outros tero a dupla nacionalidade.
85. No Brasil, a posse da nacionalidade abriga o direito de voto, mesmo para
aqueles que se encontram no exterior, no havendo imposio de limite tem-
poral, como no caso de alguns pases, em que a ausncia prolongada fora do
pas resulta na perda do direito de votar.
86. Dados gentilmente cedidos pela Diviso de Assistncia Consular do Minis-
trio das Relaes Exteriores.
158 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela 9 Registro de nascimentos de brasileiros no exterior (2010)
Nome do posto
Registro de nascimentos
(R)
%
R/T
1 Consulado-Geral em Lisboa 2.824 9,28
2 Consulado-Geral em Nova York 2.384 7,83
3 Consulado-Geral em Nagoia 1.829 6,01
4 Consulado-Geral em Ciudad del Este 1.629 5,35
5 Consulado-Geral em Miami 1.614 5,30
6 Consulado-Geral em Tquio 1.271 4,18
7 Consulado-Geral em Hartford 1.141 3,75
8 Consulado-Geral em Madri 1.021 3,35
9 Consulado-Geral em Milo 999 3,28
10 Consulado-Geral em Houston 833 2,74
11 Consulado-Geral em Los Angeles 833 2,74
12 Consulado-Geral em Barcelona 754 2,48
13 Consulado-Geral em Porto 684 2,25
14 Consulado-Geral em Paris 628 2,06
15 Consulado-Geral em Roma 615 2,02
16 Consulado-Geral do Brasil em Atlanta 607 1,99
17 Consulado-Geral em Chicago 561 1,84
18 Consulado-Geral em Boston 502 1,65
19 Consulado-Geral em Beirute 474 1,56
20 Consulado-Geral em So Francisco 474 1,56
21 Consulado-Geral em Zurique 441 1,45
22 Embaixada em Tel Aviv 417 1,37
23
Consulado-Geral do Brasil em
Hamamatsu
406 1,33
24 Consulado-Geral em Frankfurt 386 1,27
25 Consulado-Geral em Munique 383 1,26
26 Consulado-Geral em Genebra 361 1,19
27 Consulado-Geral em Toronto 355 1,17
28 Consulado em Pedro Juan Caballero 325 1,07
29 Consulado-Geral em Buenos Aires 304 1,00
30 Consulado em Rivera 295 0,97
Outros 5.088 16,72
Total (T) 30.438 100,00
Fonte: Compilao sobre dados da Diviso de Assistncia Consular.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 159
2.4.3 Deveres
A posse da nacionalidade, tanto garante o acesso a direitos
como exige o cumprimento de deveres. Do mesmo modo que o
nacional que deixa o pas no perde o seu direito de nacionalidade,
dele continuam a ser cobradas obrigaes eleitorais, militares e tri-
butrias.
O voto, alm de um direito, constitui tambm um dever,
mes mo para aqueles nacionais que optaram por residir no exterior.
No Brasil, apesar de o voto ter sido estendido aos brasileiros que
vivem fora do pas j em 1965, por meio da Lei n
o
4.737 (Cdigo
Eleitoral, artigo 222), nas eleies para os cargos de presidente e
vice-presidente da Repblica, somente com o processo de cons-
truo democrtica e, mais especificamente, com a Constituio
Federal de 1988, tal lei foi ratificada e se regulamentaram as condi-
es do voto no exterior (Caldern-Chelius, 2007). Atualmente, a
Justia Eleitoral, em parceria com o Ministrio das Relaes Exte-
riores, estabelece os servios eleitorais em embaixadas e reparties
consulares, como tambm sees de votao em todos os pases com
mais de trinta eleitores registrados.
Os brasileiros que passam a residir em outro Estado exceto no
caso de continuarem percebendo renda e proventos provenientes de
fontes situadas no pas (artigo 682, Decreto n
o
3.000/1999), quando
se tornam sujeitos ao imposto na fonte (a no ser que exista acordo
destinado a evitar a bitributao) esto desobrigados perante a
Receita Federal, desde que tenham cumprido com os seus deveres
fiscais e apresentem a Declarao de Sada Definitiva do Pas (ar-
tigo 16). A apresentao da Certido de Quitao dos Tributos Fe-
derais e da Declarao impede que ele seja tributado, nos primeiros
doze meses de ausncia,
87
duas vezes ou seja, tanto no Brasil como
87. Quem est h mais de 12 meses em pas estrangeiro ser automaticamente
visto como no residente para a Receita Federal (artigo 16, 3
o
, Decreto n
o
3.000/1999).
160 FERNANDA RAIS USHIJIMA
no novo pas de residncia (3
o
) , bem como o libera de preencher
os formulrios at a sua volta.
88
Os nacionais brasileiros do sexo masculino que saem do pas
no ficam dispensados de cumprir com os deveres militares pres-
critos na Lei do Servio Militar e nas Instrues Gerais sobre o Ser-
vio Militar de Brasileiro no Exterior, regulamentadas pela Portaria
do Cosemi, de n
o
1628/1983 (a no ser se existir tratado que pre-
veja a dispensa, em caso de seu cumprimento em outro Estado).
Quando convocado, o nacional precisa pedir autorizao ao Servio
Militar para viajar. Se no exterior ao completar 18 anos, deve se
alistar e se apresentar anualmente em repartio brasileira, para
efeito de adiamento de incorporao.
Alm de outras penalidades, o descumprimento de deveres im-
pede a obteno ou suspende a validade de documentos de identifi-
cao, como o passaporte e o Cadastro de Pessoa Fsica (CPF). Tais
documentos so a principal ferramenta que Estados como o Brasil
usam para controlar a migrao e alcanar indivduos por motivos
de conscrio, tributao, por meio de um sistema de conhecimento
e poder que permite administrao de uma populao um sis-
tema que Michel Foucault denominou de governamentalidade
89
(Fitzgerald, 2009, traduo nossa).
2.4.4 Polticas culturais no exterior
Tanto o Ministrio das Relaes Exteriores (MRE) quanto o
Ministrio da Cultura (MinC) desenvolvem polticas para pro-
mo ver a cultura brasileira no exterior. Tais polticas podem propor-
cionar acesso cultura nacional para emigrantes e seus descen-
88. Desde a Instruo Normativa RFB n
o
864/2008, o isento no precisa mais
apresentar a declarao de imposto de renda.
89. O Brasil um dos poucos pases que exigem a apresentao do certificado de
alistamento militar como condio para a emisso do passaporte. Essa exi-
gncia pode at ser interpretada como uma forma de imposio de barreira
sada de nacionais.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 161
dentes, bem como funcionar como um meio de manuteno e
criao de vnculo com o pas.
As principais aes na rea que podem ter esses efeitos seriam:
a criao de pontos de cultura no exterior,
90
programas de promoo
cultural no exterior,
91
o incio da transmisso da Televiso Educa-
tiva Brasil Internacional (TVE Brasil Internacional),
92
a manu-
teno da Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx) e a
promoo de atividades culturais pelas reparties consulares,
93
alm do desenvolvimento de polticas especficas para estreitar os
laos dos nacionais no exterior com o seu pas de origem.
A RBEx, subordinada ao Departamento Cultural-MRE, tem
como objetivo promover o ensino da lngua portuguesa e contribuir
para a difuso internacional da cultura brasileira no exterior. O seu
principal instrumento de execuo so os centros culturais,
94
mas
90. A instalao de pontos de cultura no exterior uma das estratgias para a am-
pliao e consolidao do Programa Cultura Viva, desenvolvido pela Secre-
taria de Programas e Projetos Culturais do MinC. O primeiro ponto de
cultura foi instalado no ano de 2006, em Paris. Hoje, h pontos nos Estados
Unidos, na ustria, no Paraguai e no Uruguai. Os pontos, por falta de re-
cursos, no se encontram em funcionamento.
91. Esses programas promovem artistas com experincia no territrio nacional.
92. Os pases africanos foram o alvo prioritrio da TVE Brasil Internacional,
canal de TV pblica brasileira para o exterior. Hoje, o canal transmitido em
mais pases, e desenvolveu um programa especialmente direcionado aos brasi-
leiros no exterior, o Brasileiros no Mundo. Para entendimento da maior in-
cluso da frica na poltica externa brasileira, ver Miyamoto, 2011.
93. Seriam outras aes que vm sendo observadas em algumas reparties, alm
das atividades nos centros culturais brasileiros: a criao de boletins culturais
para divulgar artistas brasileiros e manifestaes culturais na jurisdio con-
sular; utilizao dos espaos dos consulados para a exibio de filmes; a orga-
nizao, em conjunto com a comunidade, de festividades e celebraes
tpicas, dentre outros.
94. Os Centros Culturais Brasileiros (CCBs), de acordo com a pgina do Depar-
tamento Cultural-MRE, so instituies diretamente subordinadas ao chefe
da misso diplomtica ou repartio consular do Brasil em cada pas. Suas ati-
vidades esto relacionadas ao ensino sistemtico da lngua portuguesa falada
no Brasil; difuso da literatura brasileira; distribuio de material informa-
tivo sobre o Brasil; organizao de exposies de artes visuais e espetculos
teatrais; coedio e distribuio de textos de autores nacionais; difuso da
162 FERNANDA RAIS USHIJIMA
tambm composta por alguns institutos culturais,
95
por leitorados
e cursos de portugus junto a vice-consulados. A rede vem cres-
cendo nos ltimos anos, segundo informa o MRE, notadamente
em decorrncia da importncia conferida Cooperao Sul-Sul.
Num mundo onde vem crescendo a procura por produtos bra-
sileiros no mercado de arte e entretenimento,
96
os brasileiros no ex-
terior, apesar de no serem envolvidos na poltica externa brasileira
de promoo cultural (que, como vimos, vem seguindo determi-
nadas diretrizes), promovem, de certa forma, a cultura nacional em
outros pases.
97
Por outro lado, para manter ou criar o vnculo com os brasi-
leiros no exterior e tambm com seus descendentes, o Estado bra-
sileiro tem adotado algumas medidas: a) a atribuio de honrarias
(Ordem do Rio Branco) ou o endosso a outras criadas pela inicia-
tiva privada; b) a instituio do Dia da Comunidade Brasileira no
Exterior (29/9/2005) (Firmeza, 2007); c) a elaborao de cartilha
infantil sobre o Brasil, intitulada Brazil for kids; e d) o lanamento
do concurso infantil de desenho Brasileirinhos no Mundo.
98
Essa
ltima iniciativa especialmente importante se considerarmos o
contexto da permisso da aquisio automtica da nacionalidade
brasileira, bastando o registro no consulado, a filhos de brasileiros
msica erudita e popular; divulgao da cinematografia brasileira; alm de
outras formas de expresso cultural brasileira, como palestras, seminrios
e outros. No momento, existem 21 unidades, assim distribudas: 12 no conti-
nente americano, trs no continente europeu e seis no continente africano.
95. Segundo o stio do Departamento Cultural do MRE, os institutos culturais
bilaterais so entidades sem fins lucrativos de direito privado e, embora aut-
nomas, cumprem misso cultural em coordenao com as misses diplom-
ticas e consulares da jurisdio em que esto sediadas. O Brasil possui
atualmente sete institutos, e eles esto situados na Colmbia, na Argentina,
Venezuela, Uruguai, Equador, Costa Rica e Itlia.
96. Ver Pinto, 2012.
97. O Estado brasileiro vem reconhecendo essa contribuio em seus discursos.
98. Inspirado em iniciativa semelhante do governo mexicano, o concurso foi lan-
ado em 2008, e tem como objetivo promover e conseguir vnculos culturais e
de identidade das novas geraes de brasileiros no exterior com seu pas de
origem.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 163
nascidos no exterior, a partir da Emenda n
o
54 de 2007. Com isso,
busca-se estabelecer vnculo da segunda gerao, e de geraes fu-
turas, com o Brasil.
Interessante observar que o envolvimento dos brasileiros no
exterior na poltica externa de promoo cultural significaria consi-
der-los como representantes autnticos da cultura e de nossa
nao (Waterbury, 2010).
99
Por fim, no se pode deixar de consi-
derar a questo da integrao nos pases de residncia.
2.4.5 Cientistas no exterior
As aes para atrair cientistas brasileiros (residentes) no exte-
rior sempre foram bastante tmidas, em nmero reduzido e pon-
tuais. Em 1997, foi realizada a I Conferncia Brasileira sobre
Cincia e Tecnologia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
para discutir opes de trabalho no Brasil para estudantes brasi-
leiros de cincias e tecnologia (Levitt & Dehesa, 2003). Esse foi
praticamente o modelo de estratgia do Brasil at recentemente.
Nos ltimos anos, o Brasil (Ministrio da Cincia e Tecnologia
em coordenao com o MRE) adotou uma nova medida, direcio-
nada aos cientistas brasileiros que residem no exterior, com o obje-
tivo de integrar essa comunidade. A reunio de representantes desse
grupo de emigrantes, e tambm de empresrios brasileiros, deu-se,
pela primeira vez, na II Conferncia Brasil-Estados Uni dos de Ino-
vao (2010). Foi construdo um espao destinado aos cientistas
brasileiros denominado Dispora Brasil no Portal de Inovao,
99. No somente o fato de se encontrarem em territrio de outro Estado (ameaa
soberania do Estado de origem), mas tambm a natureza dupla das migraes
num sentido mais amplo (fatores de risco de uma forte associao da imagem
do Estado aos nacionais no exterior), tm gerado debate sobre se os nacionais
no exterior deveriam desempenhar esse papel (Waterbury, 2010). Adiciona-
ramos que, alm de poder causar polmica, a atribuio desse papel a eles
depende tambm do tipo de poltica de promoo cultural adotado, e do inte-
resse das elites econmicas e polticas.
164 FERNANDA RAIS USHIJIMA
gerenciado pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI)
100, 101
Para citar o caso da Argentina, pas onde a questo da sada de
crebros mais evidente,
102
em 2003, houve a criao de um pro-
grama denominado R@ices (Red de Argentinos Investigadores y
Cientficos en el Exterior). Alm de estimular polticas de vincu-
lao com cientistas argentinos, o programa busca promover a sua
permanncia no pas, e o retorno daqueles interessados em desen-
volver suas atividades na Argentina (Lei n
o
26.421/2008) (Novick,
2010).
100. A Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial foi criada em 2004, e
ligada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
(MDIC).
101. Segundo o MDIC, trata-se de um ponto de encontro, criado para brasileiros
residentes no exterior, interessados em projetos tecnolgicos e/ou de negcios
envolvendo o Brasil. O participante pode integrar foros de discusso, disponi-
bilizar e ter acesso a contedo especializado, facilitar conexes com empresas,
em funo de suas competncias e interesses comuns, e manter-se atualizado
sobre as novidades dos programas de apoio cincia, tecnologia e inovao no
Brasil. Foi criado tambm o blog Dispora Brasil para ampliar o potencial de
alcance da comunidade nascida na ABDI.
102. Somente para termos um parmetro, de acordo com dados fornecidos pelo
Banco Mundial (2011), em 2000, o nmero de mdicos brasileiros no exterior
era de 2.090 (ou 0,6% dos profissionais treinados no pas). J na Argentina, no
mesmo ano, o nmero era de 3.232 (ou 2,9%).
3
LIMITES DA POLTICA NACIONAL
PARA OS EMIGRANTES E SEUS
DESCENDENTES
Neste captulo, trataremos dos limites encontrados no alcance
e na execuo das polticas para os emigrantes e seus descendentes
realizadas pelo Estado brasileiro no perodo de 1990 a 2010. As
polticas para os emigrantes so uma forma de poltica externa,
uma vez que envolvem relaes e tratativas entre os Estados para
que essas polticas possam ter alcance para alm do territrio do
pas de origem dos emigrantes. Dessa forma, daremos questo
um tratamento mais terico, no campo das Relaes Internacio-
nais. Inicialmente, apresentaremos alguns elementos de contrapeso
aos efeitos da globalizao na soberania territorial dos Estados, a
qual embasar a abordagem sobre o espao onde essas polticas so
desenvolvidas. Esse espao representa, para os Estados de origem,
tanto uma possibilidade de atuao no sistema vestfaliano de Es-
tados como um dos principais limites realizao das polticas.
Outros importantes limites seriam a heterogeneidade da compo-
sio da populao brasileira no exterior a qual no pode ser tra-
tada simplesmente como uma dispora, que promova, em grande
escala, interesses econmicos e polticos da poltica externa brasi-
leira e o carter fragmentrio da poltica para os brasileiros no
exterior, que envolve aes em reas que fogem competncia do
Ministrio das Relaes Exteriores e implica uma atuao inte-
166 FERNANDA RAIS USHIJIMA
grada com outros ministrios e rgos pblicos. Ao fim do cap-
tulo, esses e outros limites so avaliados em dois casos especficos,
em que se tenta estabelecer reflexes crticas sobre o tempo de res-
posta s demandas apresentadas pelo fenmeno emigratrio.
3.1 Impactos da globalizao
Para os cticos da globalizao, o prprio conceito de globali-
zao problemtico. Ademais de ser, para eles, uma construo
ideolgica, que ajuda a justificar e legitimar o projeto neoliberal, o
termo usado pelos globalistas sem qualquer especificao de refe-
renciais especiais, o que impossibilita a distino do nacional, re-
gional, internacional, transnacional ou global. Se o global no
pode ser interpretado literalmente, ento, o conceito de globali-
zao, na viso dos cticos, torna-se amplo demais, a ponto de
tornar-se impossvel a sua operacionalizao e se configurar como
um veculo enganoso para o entendimento do mundo contempo-
rneo (Held & McGrew, 2007).
A esfera internacional composta por Estados autnomos e so-
beranos. A conformao dessa ordem de Estados independentes
aconteceu de forma gradual no tempo. Em primeiro lugar, a partir
do marco normativo dos tratados de Vestflia de 1648 e de sua plena
articulao no fim do sculo XVIII e comeo do XIX, quando tor-
naram-se fundamentos da ordem internacional moderna: a sobe-
rania territorial, a igualdade formal dos Estados, a no interveno
nos assuntos internos de outros Estados e o consentimento estatal.
Em segundo, no final do sculo XX, quando a ordem internacional
moderna de Estados consolidou-se verdadeiramente, com o tr-
mino de todos os grandes imprios o europeu, o americano e, fi-
nalmente, o sovitico (Held & McGrew, 2007).
Ainda, a propagao de novas formas multilaterais de coorde-
nao e cooperao internacionais, e novos mecanismos regula-
trios internacionais, como o regime de direitos humanos, no
representariam um grande desafio para o poder do Estado. Eles
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 167
teriam sido, alis, apropriados, muitas vezes, como elementos de
reforo e suporte ao sistema moderno de Estados-nao (Held &
McGrew, 2007).
Os cticos ressaltam o recente crescimento do Estado do ta-
manho de seu oramento abrangncia de sua jurisdio e a ex-
panso do seu poder do policiamento e regulao das atividades
humanas proviso de educao e promoo do cuidado com a
sade (Held & McGrew, 2007).
No incio da formao do Estado moderno na Europa, a auto-
ridade do rei era bastante dbil, e o contato da populao com os
representantes da Igreja era maior do que com quaisquer lderes
polticos ou militares (Held & McGrew, 2007). Foi, de fato, so-
mente no sculo XX que os Estados, num processo gradual, tor-
naram-se mais presentes:
[] Estados, em muitas localidades, vm, crescentemente, rei-
vindicando um monoplio do uso legtimo da fora e da regulao
judicial, estabelecendo foras militares permanentes para reforar
a sua posio de Estado, bem como a segurana nacional, consoli-
dando mecanismos de tributao e redistribuio, estabelecendo
infraestruturas de comunicao abrangentes, procurando siste-
matizar uma lngua nacional ou oficial, aumentando os ndices de
alfabetizao e criando um sistema nacional de escolarizao, pro-
mulgando uma identidade nacional e construindo uma ampla
gama de instituies nacionais polticas, econmicas e culturais.
Ademais, muitos Estados, ocidentais e orientais, vm buscando
criar instituies de bem-estar elaboradas, em parte como um
meio de promover e reforar a solidariedade nacional, envolvendo
a proviso de sade pblica e da seguridade social. (Held & Mc-
Grew, 2007, traduo nossa)
Por mais que o sentimento de pertencimento seja to antigo
quanto a espcie humana, o conceito de nao somente cunhado
no fim do sculo XVIII, medida que construtores de Estados
(state makers) passaram a depender de formas cooperativas de re-
168 FERNANDA RAIS USHIJIMA
laes sociais para centralizar e reordenar o poder poltico num ter-
ritrio circunscrito, e para assegurar e fortalecer sua base de poder
(Held & McGrew, 2007).
A nova fora poltica do nacionalismo criou termos de refe-
rncia poltica fundamentalmente novos no mundo moderno
termos de referncia que parecem to enraizados hoje, que muitos,
se no a maioria dos povos, os tm como naturais. Diferentemente
de pocas anteriores, em que as instituies culturais, ou se esten-
diam por muitas sociedades, ou eram muito localizadas em suas
formas, o advento das naes, dos nacionalismos e dos Estados-
-nao organizaram a vida cultural ao longo dos contornos nacio-
nais e territoriais (Held & McGrew, 2007).
Os globalistas, por um lado, destacam as foras transnacionais
de uma cultura globalizada, e das novas redes de comunicao ele-
trnica e da tecnologia da informao, como agentes que enfra-
quecem a unidade coletiva da identidade nacional. A corrente
ctica, por outro, afirma que no existe nenhum reservatrio
comum de memria, modo comum de pensamento ou histria uni-
versal, para unir as pessoas. Aponta ainda que as culturas nacionais
por possurem razes tnicas e histricas, e a luta pela sua for-
mao ter sido extensa so dificilmente erodidas pelas qualidades
efmeras dos produtos das corporaes transnacionais de mdia
(Held & McGrew, 2007).
Alm do mais, a emergncia de novos sistemas de comunicao
particularmente as novas mdias, os editores independentes e o
mercado livre de material impresso reforou a influncia e o im-
pacto das formas e fontes tradicionais de vida nacional, ao facilitar
a comunicao e a difuso das histrias, dos mitos e rituais nacio-
nais, uma vez que a televiso e o rdio nacionais continuam a ter
audincias substanciais, e a organizao da cobertura da imprensa
mantm fortes razes nacionais (Held & McGrew, 2007).
Mesmo que haja produtos culturais estrangeiros, eles so cons-
tantemente lidos e interpretados, de formas novas, pelos especta-
dores nacionais. Enquanto os sistemas de comunicao permitem o
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 169
acesso ao outro, que se encontra distante, eles podem tambm
despertar a conscincia da diferena, o que geralmente leva acen-
tuao daquilo que distintivo e idiossincrtico. Por mais que as
novas indstrias de comunicao possam gerar uma linguagem
prpria, um conjunto particular de valores e padres de consumo,
eles confrontam uma multiplicidade de linguagens e discursos a
partir dos quais as pessoas do sentido a suas vidas e culturas (Held
& McGrew, 2007).
Os globalistas apontam para a formao de uma verdadeira
economia global a partir da integrao das economias nacionais, de
maneira que a atual organizao da atividade econmica transcende
as fronteiras nacionais e as foras do mercado mundial passam a ter
primazia sobre as condies econmicas nacionais (Held & Mc-
Grew, 2007).
Essa integrao mais profunda, numa nica economia global,
dar-se-ia pela maior mobilidade recente do capital, pela reestrutu-
rao produtiva em mbito mundial, pela emergncia de um novo
padro de interdependncia entre os pases do Norte e os do Sul, e
pelo desenvolvimento de instituies multilaterais de governana
da economia mundial . Em sentido contrrio, os cticos defendem
que, seja a respeito das finanas ou da produo, a evidncia falha
em confirmar a existncia ou emergncia de uma economia global
unificada (Held & McGrew, 2007).
Em comparao com a Belle poque (1890-1914), tanto a mag-
nitude quanto a escala geogrfica dos fluxos de comrcio, capital e
migrantes, so hoje de uma ordem muito menor. Apesar de em
um mundo de uma comunicao praticamente em tempo real o
capital corporativo e at mesmo os pequenos negcios possurem a
opo de maior mobilidade, o destino das empresas, pequenas ou
grandes, so determinados, principalmente, por vantagens compe-
titivas e condies econmicas locais e nacionais (Held & McGrew,
2007).
O capitalismo continua substancialmente nacional: 80% da
produo mundial destina-se ao mercado domstico. O domnio,
170 FERNANDA RAIS USHIJIMA
os ativos e o trabalho de desenvolvimento e pesquisa das corpora-
es nacionais encontram-se em seus pases de origem. Elas buscam
auxlio de seus Estados de origem, especialmente para infraestru-
turas educacionais e de comunicaes, bem como para o emprego
de medidas protecionistas (Mann, 2003).
O multilateralismo econmico no teria reescrito as regras b-
sicas da governana da economia global, j que as instituies mul-
tilaterais funcionam como instrumentos dos Estados, onde eles
resolvem o choque dos interesses nacionais em competio, por
meio do exerccio do poder nacional e da barganha entre os go-
vernos (Held & McGrew, 2007).
Obviamente, no faz parte da argumentao dos cticos que a
economia mundial no mudou. Pelo contrrio, os cticos inter-
pretam as tendncias recentes como uma evidncia de uma signifi-
cante, mas no historicamente sem precedentes, internacionalizao
da atividade econmica; uma internacionalizao que, na verdade,
complementa e acentua, em vez de substituir, a organizao e a re-
gulao predominantemente nacionais, das atividades econmicas
e financeiras. Alm do mais, vale destacar que essa tendncia veri-
fica-se mais entre os maiores pases da OECD, que concentram a
maior parte dos fluxos de comrcio, capital e tecnologia (Held &
McGrew, 2007).
Para os cticos, assim, a moldura do Estado ainda funda-
mental para entender importantes processos, em que se incluem os
relacionados s migraes internacionais (Waldinger & Fitzgerald,
2004). Esses autores, como representantes dessa corrente, pro-
pem, assim, uma abordagem alternativa ao transnacionalismo,
a qual enfatiza a interao entre migrantes, Estados e sociedade
civil, tanto nos pases de origem quanto nos de residncia. Essa in-
terao, na viso dos pesquisadores, em vez de desafiar a hege-
monia dos Estados e do capitalismo global, condiciona as aes
dos migrantes (Waldinger & Fitzgerald, 2004).
Os Estados (de origem e de residncia), suas relaes com ou-
tros Estados, as polticas por eles conduzidas dentro de suas fron-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 171
teiras, bem como a cultura poltica dos atores da sociedade civil,
moldam as opes de atuao dos migrantes. Ao levar em conside-
rao elementos de variabilidade temporal e local, essa nova abor-
dagem tende a realizar anlises mais contingentes e historicamente
matizadas (Waldinger & Fitzgerald, 2004).
A responsabilidade por um modesto relaxamento da distino
entre nacionais e estrangeiros reside, no nas novas normas inter-
nacionais, mas nos atores polticos domsticos, os quais podem
tambm produzir movimento na outra direo. Igualmente, as
lealdades com o pas de origem podem constituir um produto do
momento e no uma caracterstica permanente das democracias
avanadas (Waldinger & Fitzgerald, 2004).
Essas reflexes, por um lado, nos ajudam a compreender o ce-
nrio onde so realizadas, por parte do Estado brasileiro, as po-
lticas para os brasileiros que residem no exterior. Por outro,
chamam nossa ateno para o controle que os Estados buscam rea-
lizar de uma forma geral (Estados de origem e de residncia). No
desconsiderando a importncia de outros atores ao afirmarmos
que os Estados so compartimentos totalmente fechados,
1
vamos
nos focar, como j mencionamos anteriormente, na atuao de um
Estado (o do Brasil por meio sobretudo do MRE) em solo de ou-
tros Estados. Uma vez que o desenvolvimento da poltica inter-
nacional para os emigrantes deve passar, necessariamente, pelas
relaes com os Estados de residncia, sendo as relaes interes-
tatais, portanto, de grande relevncia, analisaremos, a seguir, as
principais regras as quais ajudam a definir limites e possibili-
dades envolvidas no processo.
Veremos que a incorporao dos emigrantes que vem se dando
at o momento por parte do Estado brasileiro estaria dentro da nor-
malidade, no contribuindo, dessa forma, para a eliminao da
territorialidade do poder, uma vez que se d dentro do espao ex-
1. Totalmente centralizados ou que no existam situaes que envolvam mais de
uma esfera (transnacional, internacional, nacional ou local).
172 FERNANDA RAIS USHIJIMA
traterritorial, representado por embaixadas e consulados. Esse es-
pao, como ilhas de soberania alheia, smbolos da fonte e do
limite do poder do Estado de origem sobre seus nacionais consti-
tuem, segundo Ruggie (1993), uma concesso por parte dos Es-
tados com o intuito de lidar com aquelas dimenses da existncia
coletiva reconhecidas como irredutivelmente transterritoriais por
natureza e contornar, com isso, o paradoxo da absoluta indivi-
duao (Ruggie, 1993). Em outras palavras, as embaixadas e os
consulados permitem a ampliao da territorialidade do sistema
de Estado-nao, ao esculpir cuidadosamente excees definidas
para a regra geral da soberania existente dentro de uma ampla (ou
contnua) rea geogrfica (Fitzgerald, 2008).
3.2 Os limites do espao extraterritorial e
a atuao do Estado
Estabelecidas formaes estatais territorialmente fixadas, acor-
dado que elas seriam separadas e mutuamente exclusivas, no havia
restado nenhum espao para o desempenho de tarefas to simples
quanto a conduo da representao diplomtica sem o receio da
perturbao inexorvel e da violao da comunicao (Ruggie,
1993).
No comeo, somente eram concedidas imunidades especficas
para embaixadores residentes na medida em que a situao exigia.
No entanto, essa primeira soluo demonstrou-se insatisfatria,
pois no prevenia mais eficientemente a custosa quebra das re-
laes diplomticas (Ruggie, 1993).
Como alternativa, a teoria da extraterritorialidade foi-se de-
senvolvendo.
2
Segundo ela, o prprio local da misso diplomtica
2. Supe-se que, num primeiro momento, a fico da extraterritorialidade
passou a existir para evitar heresia em relao a certa liberdade de culto, exis-
tente nas capelas dos embaixadores (Ruggie, 1993).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 173
representaria uma extenso do Estado acreditante e no estaria,
assim, sujeito jurisdio do Estado acreditado (Lima, 2002).
Surgido provavelmente no sculo XVI, tal entendimento preva-
leceu durante longo perodo, at ser questionado a partir de fins do
sculo XX e rejeitado (Lima, 2002).
Atualmente, entende-se que a noo da extraterritorialidade
[] no oferece fundamentao satisfatria para concluso de or-
dem prtica, motivo pelo qual se passou a adotar a teoria da neces-
sidade funcional.
3
(Lima, 2002).
Assim, a utilizao dos termos extraterritorialidade e juris-
dio deve se dar com ressalvas. Jurisdio significa um territrio
dentro do qual um governo pode, propriamente, exercer seu poder.
Diferentemente da jurisdio estatal a diplomtica
4
e principal-
mente a consular , ou o territrio atribudo para o exerccio dessas
funes, est longe de ter carter absoluto, pois, segundo a Con-
veno de Viena sobre Relaes Consulares de 1963:
5
a) o estabele-
cimento de reparties consulares (artigo 4
o
), a nomeao de seus
chefes (artigo 10), a fixao do nmero de membros (artigo 20),
precisam ser comunicados e aprovados pelo Estado receptor;
b) os funcionrios consulares no podem interferir na poltica in-
terna e nos negcios dos pases onde esto exercendo as suas fun-
es; c) quando, por circunstncias excepcionais, necessitam atuar
fora da jurisdio, devem obter o seu consentimento; d) os fun-
cionrios consulares somente podem praticar atos diplomticos ex-
cepcionalmente; e) a autoridade consular est sujeita s leis e
3. Interessante observar como esse princpio pode ajudar a explicar o carter
menos absoluto da jurisdio das reparties consulares, uma vez que estas
estariam envolvidas com o que se considera low politics.
4. Regida, principalmente, pela Conveno de Viena sobre Relaes Diplom-
ticas de 1961.
5. A Conveno de Viena sobre Relaes Consulares foi assinada pelo Brasil em
24 de abril de 1963, entrando em vigor em 10 de junho de 1967 (Decreto n
o
61.078).
174 FERNANDA RAIS USHIJIMA
jurisdio do Estado onde se exeram as suas funes, ressalvados
alguns casos de proteo e imunidade.
Como se v, os fundamentos da ordem internacional moderna
(soberania territorial, a igualdade formal dos Estados, a no inter-
veno nos assuntos internos de outros Estados, e o consentimento
estatal) embasam o texto da Conveno de Viena. Apesar de ela
ainda ditar os princpios e os limites vigentes nas relaes entre os
Estados, no podemos deixar de mencionar que, dentro do con-
junto das funes consulares (Anexo I), a proteo do nacional no
exterior vem ganhando maior importncia no novo contexto. Alm
do mais, a ideia da ao internacional como meramente direito do
Estado tambm vem se flexibilizando (haja vista, por exemplo,
a expanso da possibilidade de transferncia dos presos, e no
somen te a de extradio); novos direitos (como o de voto, por
exem plo) vm sendo estendidos aos emigrantes (o que, no exterior,
no mudou a natureza da prestao consular,
6
mas, mais basica-
mente, ampliou suas atividades); e se verifica certa ampliao da
competncia cartorial dos postos no exterior.
7
Quanto proibio
de interveno em questes de direito privado, verificamos uma
certa flexibilizao a partir da Conveno de Haia sobre os As-
pectos Civis do Sequestro Internacional de Crianas, de 1980, em
casos de envolvimento de sequestro de menores. Outro ponto
que deve ser levantado a questo da dupla nacionalidade, pois, se
a Conveno de Haia de 1930 defendia o princpio de que a dupla
nacionalidade deveria ser evitada, presenciamos a sua multipli-
6. No se deve confundir a prestao consular com a negociao de tratados.
Esta pode permitir uma extenso da poltica e de direitos do pas de residncia
a nacionais de outro pas. O problema , muitas vezes, a escassa oportunidade
para a realizao de tratados desse tipo. Em geral, eles se do mais no mbito
judicirio.
7. Alguns pases, como o caso do Brasil, vm ampliando tambm a compe-
tncia cartorial de seus postos no exterior. No entanto, devemos lembrar que a
aplicao da legislao brasileira se d exclusivamente para nacionais brasi-
leiros, como o caso da possibilidade de celebrao de casamento na repar-
tio consular.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 175
cao e a atuao dos Estados com relao a seus nacionais em solo
de outro Estado do qual o sujeito tambm nacional.
Pela Conveno de Viena, podem ser desenvolvidas polticas
no exterior de autoria dos Estados de origem, desde que estejam
circunscritas ao espao extraterritorial, o que significa, em pri-
meiro lugar, a atuao mediante o estabelecimento autorizado (ar-
tigo 4
o
) de modalidades previstas de repartio consular (artigo 1
o
).
A criao de um determinado nmero de reparties simboliza
tanto a potencialidade como os limites da ao dos Estados de
origem. Elas tm permitido a extenso de direitos, por meio da rea-
lizao de eleies presenciais nas reparties, e a promoo de
polticas de cunho social.
Por outro lado, o difcil acesso s reparties, que so insta-
ladas em nmero limitado dentro do territrio de outro Estado,
pode impedir o acesso s polticas,
8
pelas dificuldades de deslo-
camento relacionadas ao custo e ao tempo. Ademais, as polticas
sociais desenvolvidas, dentro dos limites permitidos, acabam se re-
duzindo a aes de cunho mais assistencialista, tais como assis-
tncia jurdica, fornecimento de uma variada gama de informaes
sobre direitos, associaes e voluntrios.
9
Aes mais efetivas que
promovam a regularizao ou a incluso dos imigrantes nos bene-
fcios do Welfare State ficam, em geral, dependendo da dispo-
nibilidade para negociaes que recaem nas decises do Estado de
residncia.
Devemos observar que, dentro desse quadro de limites e possi-
bilidades, as polticas para os emigrantes so, necessariamente, po-
ltica externa, pois sempre envolvem relaes e tratativas entre os
Estados para que essas polticas possam ter alcance para alm do
territrio do pas de origem.
8. No sentido contrrio, tambm se observam dificuldades em promover um
maior alcance das polticas entre os nacionais no exterior.
9. Aes que vm tendo por fim somente complementar aquelas j desempe-
nhadas por associaes de brasileiros no exterior, e ampliar o seu alcance.
176 FERNANDA RAIS USHIJIMA
No caso do Brasil, s se tem permitido que as polticas cheguem
at os emigrantes por meio da expanso da rede consular. Como
vimos no captulo anterior, contriburam para essa expanso, a ele-
vao
10
do tema da emigrao na hierarquia do Ministrio das Rela-
es Exteriores e a maior projeo do pas no cenrio internacional.
Em 2008, a rede chegou a abranger 112 setores consulares de em-
baixadas, 51 consulados-gerais, 5 consulados, 15 vice-consulados,
e 177 consulados honorrios (MRE, 2008).
Alm da criao de reparties consulares, uma nova forma de
ampliao do alcance da rede teve incio com a realizao de mis-
ses consulares itinerantes. A questo que somente por meio da
presena consular que direitos (aos emigrantes) podem ser promo-
vidos (pelo pas de origem em solo do pas de residncia). Desse
modo, ao mesmo tempo que o espao extraterritorial potencializa o
estabelecimento de relaes entre as reparties e os emigrantes,
tambm constitui um limite em si mesmo, porque no h a possibi-
lidade de atuao para alm dele, ou fora de suas regras.
Dentro do espao extraterritorial, fica tambm restringida a
capacidade do Estado de fazer um cidado cumprir com suas obri-
gaes aps deixar o seu pas. Com isso, o Estado de origem e o
emigrante vm estabelecendo uma relao mais voluntria entre si.
O sistema vestfaliano de soberania territorial, ao mesmo tempo que
possibilita a ampla gama de aes do Estado dentro de seu prprio
territrio, limita profundamente a sua habilidade para projetar o
poder poltico para alm de suas fronteiras. Alguns emigrantes
podem retornar a seu pas de origem para cumprir com seus deveres
de cidadania; ou pagar tributos no exterior. No entanto, essas
combinaes so muito tnues. O sistema de Estados soberanos
permanece to robusto que pases emissores ficam dependendo,
alm da cooperao ou do retorno do emigrante, da interveno
coercitiva do pas de imigrao, ou da penalizao da famlia do
emigrante (Fitzgerald, 2008).
10. Essa elevao pode ser observada mais claramente nos organogramas do Mi-
nistrio das Relaes Exteriores apresentados no Apndice A.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 177
A cidadania emigrante ou a extraterritorial diferem, funda-
mentalmente, da residencial, porque, nesse caso, o Estado pode
muito mais facilmente coagir os cidados residentes quando o
poder ideolgico demonstrar-se insuficiente. Consequentemente,
enquanto cidados residentes possuem poucas alternativas quanto
porcentagem de seus recursos que gostariam de trocar por benef-
cios, emigrantes tm mais escolhas. A soluo encontrada pelos Es-
tados para estender sua influncia aos cidados que se encontram
no exterior tem sido criar uma forma de cidadania, denominada
la carte, que se baseia no voluntarismo, nas mltiplas afiliaes, e
que oferece mais direitos do que impe obrigaes (Fitzgerald,
2008).
O Brasil, como vimos, vem promovendo a cidadania extrater-
ritorial por meio do desenvolvimento de uma srie de polticas que
pretendem estender direitos aos emigrantes e aos seus descen-
dentes, da extenso da nacionalidade e da permisso da dupla na-
cionalidade, bem como da flexibilizao dos deveres. Quanto a
esta, vale mencionar que no h, diferentemente do caso do cidado
residente, nenhuma imposio coercitiva quanto cobrana de
dbi tos aos emigrantes. Alm do mais, enquanto se impe ao na-
cional trabalhador que reside no territrio do Estado a contribuio
previdncia, ao emigrante simplesmente oferecida a opo de
participao como contribuinte individual. Mais recentemente,
tambm se permitiu o retorno ao Brasil por meio do carto de ma-
trcula consular, e vem-se verificando uma tendncia a no consi-
derar o descumprimento de obrigao militar para a emisso de
documentos daquele que est fora do territrio (Brasil, 2010a).
Ao passo que, no Brasil, as consequncias para aqueles que no
cumprem os deveres podem ser mais facilmente administradas
(pesam mais), no caso do brasileiro no exterior, a nica questo,
basicamente, que o prende ao cumprimento de deveres o desejo e
a necessidade de possuir documentos de identificao, tais como o
passaporte e o CPF. Nesse sentido, a inteno de retorno, a posse
exclusiva da nacionalidade brasileira e a situao de irregularidade
podem contribuir para a observao de obrigaes. Os deveres atri-
178 FERNANDA RAIS USHIJIMA
budos queles que saem do territrio permitem o conhecimento e
o controle de informaes sobre os nacionais no exterior.
3.3 Existe uma dispora brasileira?
Em muitas das discusses atuais sobre migraes, o termo
dispora frequentemente usado de forma ampla, para se referir
a migrantes que deixaram seus lares, mas mantm ligaes com o
seu pas de origem. Isso vai de encontro literatura acadmica que
debate o conceito de dispora j h vrias dcadas (Vezzoli & La-
croix, 2010). Apesar de no existir uma nica definio, acad-
micos geralmente concordam que, para se qualificarem como
disporas, os membros de comunidades tnicas e nacionais devem
possuir um conjunto de caractersticas: uma histria de disperso
da terra natal; memria coletiva e uma idealizao do lugar de
origem; uma ideia de retorno; uma forte conscincia de grupo e
uma dificuldade para se integrar nos pases de residncia (Cohen,
1997).
No obstante dispora corresponder ao conceito mais amplo
de populaes transnacionais ou seja, aquelas que vivem em
um lugar, mas esto tanto aqui como acol , no pode ser confun-
dida com os conceitos de transnacionalismo migrante e de co-
munidade transnacional. As noes de migrao transnacional e
de comunidade transnacional apontam para a existncia de cone-
xes informais que contribuem para um movimento e uma troca
entre o pas de origem e o de residncia. Por outro lado, a ideia de
dispora est mais relacionada a populaes instaladas no ex-
terior, a pessoas que se tornaram cidados de seus pases de resi-
dncia e segunda gerao em diante (Ionescu, 2006).
Como se pode verificar, ento, o tempo muito importante
para o estabelecimento de uma dispora. Muitas comunidades de
migrantes que vm sendo descritos como disporas so, na ver-
dade, compostas por ondas recentes de migrao, cuja histria
ainda no permite determinar se vo ou no se tornar disporas
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 179
(Cohen, 1997). Alguns desses grupos podem presenciar o retorno
de muitos de seus membros, fragmentar-se ou se integrar com-
pletamente na sociedade de residncia. importante enfatizar,
portanto, que nem toda comunidade migrante forma, automatica-
mente, uma dispora (Vezzoli & Lacroix, 2010).
Os fluxos de brasileiros no exterior so recentes, se compa-
rados com os principais fluxos migratrios internacionais. Alm do
mais, o caso dos brasileiros no exterior, como observa Patarra
(2005),
[] no se trata de levas de emigrantes, de dispora brasileira
ou outros termos frequentemente usados pela imprensa e mesmo
em alguns meios acadmicos para referirem-se questo social da
sada de brasileiros. Mais que isso, os dados permitem levantar a
hiptese da circularidade, comprovada por depoimentos e pes-
quisas qualitativas e reforada pela constatao da existncia de
redes consolidadas [].
Tais esclarecimentos em relao natureza da migrao so
importantes para o estudo das polticas desenvolvidas pelo Brasil.
Os nacionais no exterior, aos quais o pas tem que garantir os
direitos, constituem um grupo heterogneo, formado majoritaria-
mente por trabalhadores migrantes, mas no qual tambm se ob-
serva uma certa tendncia permanncia em alguns pases, e o
crescimento no nmero de nascimentos no exterior. As mltiplas
variveis representam diversas situaes, que precisam de direcio-
namentos especficos por parte do Estado brasileiro.
11
Igualmente, no plano da poltica externa, a existncia de uma
dispora brasileira no se evidencia. Alis, vale mencionar que
11. Os casos de nacionais no exterior englobam situaes to variadas como es-
trangeiros naturalizados brasileiros que agora esto no exterior; o nascimento
de nacionais no exterior que podem ser filhos de emigrantes temporrios ou
permanentes; os migrantes permanentes; e a prpria presena da circulari-
dade, com a migrao temporria e o turismo.
180 FERNANDA RAIS USHIJIMA
uma dispora nem sempre age em favor do seu Estado de origem,
havendo tambm a sua verso antagonista, como no caso dos
cubanos nos Estados Unidos, que militam contra o regime auto-
ritrio em Cuba.
Na rea econmica, o envio de remessas por parte dos brasi-
leiros no exterior significativo, e a comunidade pode constituir
um mercado para produtos brasileiros e uma plataforma para a
promoo desses produtos no meio (Maia, 2008). No entanto, por
mais que isso se coloque como uma possibilidade, difcil afimar
que os brasileiros no exterior venham promovendo a difuso de
produtos nacionais, do modo como se d, por exemplo, no caso
italiano.
Da mesma forma, no campo da participao poltica, diferen-
temente dos indianos e dos chineses no exterior, os emigrantes bra-
sileiros no vm formando lobbies com capacidade de influenciar a
poltica dos Estados onde residem, em favor de interesses do Es-
tado brasileiro.
3.4 A fragmentao das polticas para os
emigrantes e seus descendentes
medida que o tema dos emigrantes brasileiros no exterior
ganha maior importncia, ele acirra disputas polticas internas.
Assim, desde 2003, verificou-se a acentuao delas entre, princi-
palmente, parlamentares, o Ministrio das Relaes Exteriores
(MRE) e o Ministrio do Trabalho e Emprego. Essas disputas se
fundamentaram na mudana para um governo com uma ampla
gama de aliados polticos, na promulgao do Decreto n
o
10.683, de
28 de maio que abriu uma oportunidade para a expanso da bu-
rocracia estatal , na imposio mais organizada de demandas
pelos emigrantes, bem como num histrico de ascenso de remessas
e de acirramento dos problemas enfrentados pelos brasileiros no
exterior aps o 11 de Setembro. Vale observar que o interesse de
outros atores pblicos pela poltica externa com relao ao tema dos
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 181
emigrantes brasileiros d-se pela sua visibilidade pblica e por suas
caractersticas peculiares.
Os casos que permitiram verificar com maior clareza as com-
peties internas foram a realizao da Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito (CPMI) da Emigrao
12
e o estabelecimento da
Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior.
Consistiu em demanda dos prprios emigrantes a criao de uma
Secretaria ou Departamento com poderes jurdicos no mbito do
Ministrio da Justia e do MRE para os assuntos de emigrao,
constante no Documento de Lisboa de 2002. Uma secretaria espe-
cificamente direcionada aos emigrantes instituda no Ministrio
das Relaes Exteriores no ano de 2007, no somente como decor-
rncia dessa demanda, mas tambm como reflexo de outras cir-
cunstncias e de rivalidades polticas.
O requerimento de instaurao da CPMI da Emigrao (RQ
n
o
2, de 2005-CN), datado de 5 de maio de 2005, precedido por
uma presena constante na mdia, desde 2004, de coberturas jor-
nalsticas relacionadas, de um lado, ao crescimento do nmero de
apreenses de brasileiros no exterior, e, de outro, ao aumento
de suas remessas financeiras; de misses parlamentares aos Estados
Unidos; da exibio da novela Amrica, em maro de 2005, no ho-
rrio de maior audincia da Rede Globo de Televiso; e, em maio
12. Tratou-se de iniciativa de grande repercusso do Congresso Nacional, a reali-
zao da Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, da Emigrao (CPMI da
Emigrao), cuja finalidade consistiu em apurar os crimes e outros delitos
penais e civis praticados com a emigrao ilegal de brasileiros para os Estados
Unidos e outros pases, e assegurar os direitos de cidadania aos brasileiros que
vivem no exterior. Ao longo de seu trabalho, que durou cerca de um ano, a
comisso procurou levantar informaes sobre os principais fluxos de brasi-
leiros no exterior (Estados Unidos, Japo e Paraguai) e a realidade por eles vi-
vida atividade que incluiu a realizao de audincias, reunies, entrevistas e
misses no Brasil e no exterior , bem como criar novos instrumentos para
acompanhar as questes referentes a emigrantes brasileiros no exterior, fazer
vrias recomendaes e propor legislaes. Fruto da comisso foi a criao da
Frente Parlamentar Cidadania Sem Fronteiras, para continuar a acompanhar
as questes referentes a emigrantes brasileiros no exterior (Firmeza, 2007).
182 FERNANDA RAIS USHIJIMA
de 2005, pela notcia veiculada na Folha de S. Paulo, sobre a multi-
plicao da captura de brasileiros nos Estados Unidos, que somente
em abril havia atingido o nmero de 4.802 uma incrvel mdia de
160 casos dirios (Sales, 2005).
De um outro ngulo, a realizao da CPMI da Emigrao fez
frente atuao do MRE com relao aos emigrantes, no sentido de
que, dentre as concluses de seu relatrio final, aponta-se a insu-
ficincia dos atuais esforos ministeriais, ainda que bem-intencio-
nados, em fazer face ao grave problema da vulnerabilidade dos
brasileiros residentes no exterior. Alis, a comisso foi alm, ao
propor a criao da Secretaria Especial de Polticas ao Emigrante,
que integre a Presidncia da Repblica, como os rgos mencio-
nados no 3
o
do artigo 1
o
da Lei n
o
10.683/2003.
Na ocasio, a CPMI somente fez a indicao, sem apresentar
nenhum projeto de lei, uma vez que entendia se tratar de compe-
tncia privativa do presidente da Repblica prevista no artigo 61,
1
o
, inciso II, alnea e, da Constituio. No mesmo ano, entre-
tanto, o senador Valdir Raupp, do PMDB-RO, que participou
como vice-presidente da comisso, props o Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) n
o
47 para a criao da Secretaria de Apoio aos Bra-
sileiros no Exterior (Seabe). Diante do limite de competncia
mencionado, a tramitao do projeto vem prosseguindo sob a ar-
gumentao de que, como lei autorizativa, pretende sugerir ao
Poder Executivo, como forma de colaborao, a prtica de um ato
de sua competncia.
Ora, a partir de uma anlise poltica, essa atuao do parla-
mentar reflete interesses, relacionados sua repercusso poltica, e
s oportunidades trazidas pela criao de uma secretaria sob o go-
verno de um partido aliado. Os emigrantes tambm esto na luta
pela ampliao da sua representao poltica e para ocupar espaos
de poder. Um grupo deles, que promove o Estado emigrante,
vem reiterando que no somente deve ser criada uma secretaria di-
rigida por emigrantes, mas tambm uma circunscrio eleitoral no
exterior. Por outro lado, o MRE cuidou logo de criar a Subsecre-
taria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, para tentar
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 183
inviabilizar a nova proposta, ou se fortalecer diante dela, pois sua
eventual concretizao poderia gerar interferncias em sua con-
duo da poltica externa.
O Congresso Nacional tem participado das polticas para os
emigrantes no somente como instncia legisladora, mas tambm
por meio do comparecimento e do apoio a encontros de brasileiros
no exterior; de visitas in loco e recebimento de denncias; bem como
de reunies, audincias temticas e do envio de requerimentos.
Antes da CPMI da Emigrao, uma outra atuao mais destacada
do Congresso foi a realizao de visita por uma comisso bicameral
a Portugal, a pedido da Casa do Brasil em Lisboa. Essa iniciativa
resultou na visita do presidente Lula da Silva quele pas para a as-
sinatura do Tratado de Contratao Recproca de Nacionais em
2003 (Padilla, 2008). As comisses do Congresso, que vm atuando
na questo emigratria, so: a Comisso de Direitos Humanos e de
Legislao Participativa do Senado, a Comisso de Direitos Hu-
manos e Minorias da Cmara, alm das Comisses de Relaes Ex-
teriores e Defesa Nacional da Cmara e do Senado.
Demonstrou tambm sinais de que queria ganhar mais espao
dentro do contexto, o Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE),
que, como vimos, abriga o Conselho Nacional de Imigrao
(CNIg), rgo a ele vinculado que lida com questes relacionadas
imigrao. O marco inicial de sua campanha foi a emisso da
Portaria n
o
254, de 28 de maio de 2004, que criou um grupo de tra-
balho para a elaborao de proposta de poltica nacional de imi-
grao e emigrao. A partir de ento, a atuao e a campanha do
ministrio, por meio, em grande medida, do CNIg, foram se inten-
sificando. O seu objetivo mais recentemente tem sido ficar respon-
svel pela poltica emigratria; e seu mbito de ao, fazer polticas
na rea trabalhista para os emigrantes.
A participao de outros atores no somente se d por causa de
disputas, mas tambm pela limitao da competncia do Minis-
trio das Relaes Exteriores, pois uma poltica para os emigrantes
envolve aes em vrias reas. Isso tem feito que a poltica para os
emigrantes no faa parte
184 FERNANDA RAIS USHIJIMA
de uma estratgia estatal unitria e coordenada. Antes, elas
formam uma constelao de providncias e programas que passam
a existir em diferentes tempos, por razes diferentes, e operam em
diferentes escalas temporais, em diferentes nveis, dentro dos Es-
tados de origem. O termo poltica, portanto, somente deve ser
aplicado com ressalvas. Esta concluso geral sobre a natureza das
polticas de engajamento (ou vinculao) parece dar apoio abor-
dagem neopluralista de David Fitzgerald (2006). Nela, o Es-
tado desagregado numa organizao de vrios nveis, composta
por diferentes unidades, em que os incumbidos do Estado e ou-
tros atores competem pelos seus interesses. (Gamlen, 2006, tra-
duo nossa)
Acreditamos que uma coordenao eficaz para a realizao de
polticas para os brasileiros no exterior por parte da SGEB talvez
reforada pelo carter da Conferncia Brasileiros no Mundo deve
encontrar impedimentos no somente em relao a outros pases,
mas tambm aos demais rgos pblicos e at mesmo dentro do
prprio MRE.
A tentativa, no Brasil, de concentrar o desenvolvimento e a
gesto das polticas em uma nica instncia federal, dificultada
tambm pelos efeitos muitas vezes localizados da emigrao e di-
vergncias partidrias com o governo. A Constituio dispe que a
emigrao assunto que compete ao mbito federal, no qual, acre-
dita-se, deve ser elaborada uma poltica nacional a respeito. O Mi-
nistrio das Relaes Exteriores vem conduzindo uma poltica para
os brasileiros no exterior, no escopo da poltica externa.
O caso do Brasil diferente daquele do Mxico, em que os es-
tados e os municpios so solicitados, como parte da estratgia da
diplomacia federal e de programas, como o Programa para as Co-
munidades Mexicanas no Exterior (PCME), a adotar uma poltica
externa prpria e alcanar os grupos dos migrantes (paradi-
plomacia)
13
(Yrizar Barbosa & Alarcn, 2010).
13. Cita-se o Mxico somente para demonstrar como alguns Estados tambm
procuram estender o seu controle sob o fenmeno emigratrio para o mbito
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 185
No entanto, diante dos impactos e dinmicas proporcionados,
localmente, pelas migraes, estados e municpios tm tomado ini-
ciativas prprias. Vale colocar que, na esfera local, interesses econ-
micos, relacionados s remessas, e de cunho poltico, tais como o
voto e o financiamento de campanhas, alm de certas preocupaes
com a preservao do prestgio nacional e da reproduo da comu-
nidade cultural (Fitzgerald, 2009), podem ganhar maiores pro-
pores.
nesse sentido que, diante tambm da demora do Estado bra-
sileiro na criao de programas para atrair fundos, os governos es-
taduais e municipais tomaram a iniciativa (Levitt & Dehesa, 2003).
Podem-se encontrar, em municpios e estados, outros tipos de
aes e tentativas de manuteno do vnculo dos emigrantes com o
seu local de origem. Algumas delas, como as voltadas para as re-
messas, comearam primeiramente nesse mbito, enquanto outras
somente se do nele, tal como a lei municipal que autoriza o pre-
feito de Governador Valadares (Minas Gerais), a auxiliar financei-
ramente no traslado de corpos para o Brasil.
14
3.5 Tempo de resposta
ao fenmeno da emigrao
Como pudemos observar no captulo anterior, uma srie de po-
lticas vm sendo desenvolvidas para os brasileiros no exterior. Elas
representam uma resposta do Estado s diferentes demandas desse
grupo. O atendimento a essas demandas, no entanto, vem sendo
dificultado pelos limites das polticas, as quais, ademais de serem
fragmentrias, somente podem ser executadas por meio de trata-
local, pois o seu caso diferente do brasileiro. No primeiro, verificam-se mi-
lhes de mexicanos residindo em um pas fronteirio. A partir do censo de
2010, talvez possamos ter uma dimenso da concentrao do fenmeno emi-
gratrio e de seus impactos no Brasil. A existncia de aes relacionadas ao
retorno envolveria uma maior ateno ao mbito local.
14. Lei n
o
5.388, de 10 de novembro de 2004.
186 FERNANDA RAIS USHIJIMA
tivas com outros Estados, e envolvem vrios procedimentos bu-
rocrticos. Pelos motivos apresentados, o tempo de espera para
aplicao dessas polticas tem sido mais longo.
Analisemos o tempo de resposta do Estado brasileiro consoli-
dao do fenmeno da migrao de brasileiros para o Japo.
15
Pela
Tabela 10, podemos observar que houve um crescimento repen-
tino e bastante grande do nmero de emigrantes naquele pas, de
1989 a 1991. Em 1989, em relao ao ano anterior, o crescimento
foi de 249,31%, passando para 14.528 o nmero de brasileiros no
Japo. J no ano seguinte, 1990, o aumento deu-se em 288,42%,
subindo esse nmero para 56.429. Com uma taxa de crescimento
de 111,47%, o nmero de brasileiros no ano de 1991 ultrapassa os
100 mil. Depois desse perodo, a ampliao do fenmeno foi se
dando mais gradualmente, chegando aos 200 mil em 1996 e 300
mil somente em 2005.
At 2007, no existia, no Ministrio das Relaes Exteriores,
um espao hierarquicamente superior especificamente voltado para
atender dinmica migratria brasileira. Alm do mais, a criao de
um consulado envolve a realizao, em um curto espao de tempo,
de uma srie de aes, tais como a nomeao de funcionrios de car-
reira, o deslocamento de funcionrios, a contratao de novos fun-
cionrios, a adaptao oramentria. Ainda, a utilizao do espao
extraterritorial exige uma constante negociao e interao com o
Estado receptor, que implicam a realizao de procedimentos
burocrticos em ambos os pases envolvidos. Por tudo isso, torna-se
difcil a resposta imediata ao fenmeno de um ano para o outro, ou
at mesmo em poucos anos, como no perodo analisado acima
(1989-1991).
15. Os dados sobre a imigrao brasileira no Japo so mais precisos em relao
aos outros pases em decorrncia da regularidade do fluxo. Alis, o Ministrio
das Relaes Exteriores do Brasil tem-se utilizado de estatsticas do Minis-
trio da Justia do Japo em suas estimativas de brasileiros no exterior (Apn-
dice B).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 187
Tabela 10 Populao de imigrantes brasileiros no Japo (1980-2010)
Ano Imigrantes brasileiros
Crescimento em relao ao
ano anterior (%)
1980 1.492 7,11
1981 1.652 10,72
1982 1.643 0,54
1983 1.796 9,31
1984 1.953 8,74
1985 1.955 0,10
1986 2.135 9,21
1987 2.250 5,39
1988 4.159 84,84
1989 14.528 249,31
1990 56.429 288,42
1991 119.333 111,47
1992 147.803 23,86
1993 154.650 4,63
1994 159.619 3,21
1995 176.440 10,54
1996 201.795 14,37
1997 233.254 15,59
1998 222.217 4,73
1999 224.299 0,94
2000 254.394 13,42
2001 265.962 4,55
2002 268.332 0,89
2003 274.700 2,37
2004 286.557 4,32
2005 302.080 5,42
2006 312.979 3,61
2007 316.967 1,27
2008 312.582 1,38
2009 267.456 14,44
2010 230.552 13,80
Fonte: Compilao sobre dados do Judicial System and Research Department,
Ministers Secretariat and Immigration Bureau.
188 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Figura 5 Populao de imigrantes brasileiros e eleitorado brasileiro no
Japo (2000-2010)
Fonte: Menegazzo (2011).
(*) Dados do eleitorado referentes ao ms de outubro.
Por outro lado, apesar das dificuldades citadas, a demanda po-
pulacional no exterior exige uma resposta por parte do Estado bra-
sileiro no desenvolvimento de polticas e no acesso aos direitos
dessa populao.
16
No caso do Japo, por exemplo, dois consulados-
-gerais foram criados entre 1992 e 1995, pouco tempo depois do
rpido crescimento do nmero de emigrantes brasileiros naquele
pas, mas no foram instalados nos principais locais de residncia
destes. Foi somente depois de quase vinte anos, com o estabele-
cimento de um Consulado-Geral em Hamamatsu, que se possibi-
litou a uma grande parte dessa populao um acesso mais efetivo
aos servios consulares, como o registro eleitoral, que permite o
exerccio do direito de voto no exterior. Segundo Menegazzo (2011),
a criao do Consulado-Geral em Hamamatsu, juntamente com a
ampliao das misses consulares itinerantes, fez com que o n-
16. No caso do Brasil, o voto tambm um dever que, uma vez no cumprido,
bloqueia o acesso a outros direitos (rever tpico sobre deveres no captulo an-
terior).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 189
mero de eleitores brasileiros, entre 2006 e 2008, crescesse 1.835%,
passando de 558 para 10.800 (Figura 5).
A fragmentao das polticas para os brasileiros no exterior, e a
falta de integrao interna tambm tm impactado negativamente
no tempo de resposta do Estado s demandas dos brasileiros no ex-
terior. A incorporao de alguns ministrios nessa ao deu-se mais
recentemente, sendo o caso, de grande impacto, o do Ministrio da
Previdncia Social.
Com isso, por exemplo, um acordo de previdncia entre o
Brasil e o Japo somente entrou em vigor no dia primeiro de maro
de 2012, ou seja, 23 anos aps o incio mais significativo do fluxo de
brasileiros para aquele pas (em 1989). Certamente, a dificuldade
nas negociaes pode trazer atrasos na realizao de acordos com
outros pases. Isso, no entanto, no justifica uma demora to longa.
Sabendo que o acordo no ter efeito retroativo, tanto para aqueles
brasileiros que ainda residem no Japo quanto para aqueles que re-
tornaram, houve certo prejuzo, pois no tero o tempo de trabalho
no exterior computado para a sua aposentadoria. Alm disso, foram
desprovidos da seguridade social, para casos como invalidez e aci-
dentes de trabalho durante sua permanncia no exterior.
17
At o momento do acordo, o Brasil havia realizado tratados
com pases cuja presena de brasileiros no era muito significativa,
com exceo de Portugal e Espanha.
18
Mais recentemente, vm-se
expandindo os acordos na rea.
17. Certamente, a ausncia de um acordo previdencirio foi se tornando mais
grave medida que, como vimos no captulo 1, o tempo de permanncia no
Japo foi aumentando. A falta de uma maior ateno quanto ao retorno e
ampliao da legitimao do MRE (por meio da conferncia e do CRBE) num
determinado contexto podem tambm ajudar a explicar a demora para a reali-
zao do acordo. Alguns tipos de ao para os brasileiros no exterior precisam
de uma maior mobilizao pblica interna, nem sempre fcil de se conseguir.
18. O acordo com a Espanha se deu em 1991, ou seja, antes do aumento do vo-
lume de brasileiros no pas nos anos 2000. J o acordo com Portugal existe
tambm em decorrncia do significativo nmero de cidados portugueses no
Brasil.
CONSIDERAES FINAIS
Os fluxos emigratrios do Brasil comearam a ganhar corpo e
constncia na dcada de 1980, e passaram a constituir para o Es-
tado brasileiro uma nova equao demogrfica em mbito interna-
cional, qual ele vem se adaptando. O incio dos fluxos no foi
seguido pela adoo de uma poltica emigratria, por exemplo, com
o controle da sada ou do retorno, mas por uma poltica para os bra-
sileiros residentes no exterior. Essa poltica surge como uma pol-
tica externa.
O crescimento da populao brasileira no exterior foi acompa-
nhado por significativas mudanas na estrutura organizacional do
Ministrio das Relaes Exteriores no perodo analisado (1990-
-2010). Isso reflete a importncia da questo emigratria, quando o
tema emigrao passa a ter um papel de destaque na hierarquia do
ministrio, possibilitando que aes externas relacionadas emi-
grao fossem aumentando seu espao na poltica externa brasileira.
Em 1992, pela primeira vez, o tema ganhou espao dentro da
discusso sobre a necessidade de uma reforma administrativa, com
a Comisso de Aperfeioamento da Organizao e das Prticas
Administrativas (Caopa). Em 1995, ocorreu a primeira mudana
estrutural, quando foi criada a Diretoria-Geral de Assuntos Con-
sulares, Jurdicos e de Assistncia a Brasileiros no Exterior, a qual
192 FERNANDA RAIS USHIJIMA
permitiu um tratamento mais especfico ao tema. No ano de 2004, a
organizao interna direcionada aos brasileiros no exterior passou
a dividir uma instncia hierarquicamente superior, com assuntos
relacionados promoo comercial, at que, em 2007, foi criada a
Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior. A
elevao da questo dentro da hierarquia do Ministrio das Re-
laes Exteriores mostrou-se sempre contnua, sem que houvesse
recuos no perodo 1990-2010.
Antes do fenmeno da emigrao brasileira, a configurao de
misses diplomticas permanentes e reparties consulares no ex-
terior era guiada pela criao de novas naes, pela diversificao
das relaes e pela poltica de promoo comercial e cultural. Acre-
ditamos que, assim como as reformas burocrticas, a expanso da
rede consular brasileira veio sendo direcionada tambm por uma
maior presena de nacionais brasileiros no exterior. Isso pode ser
observado nos casos de instalaes no Japo e nos Estados Unidos,
onde o aumento no nmero de reparties consulares foi determi-
nado pelo crescimento da populao brasileira naqueles pases. A
presena de reparties consulares tem sido o principal meio pelo
qual polticas tm alcanado nacionais no exterior.
A criao de novas polticas e a sua promoo por meio das
reparties vm fazendo parte, no conjunto, de uma poltica de
Estado que busca, alm de proporcionar direitos, levar a soberania
estatal sobre os emigrantes e seus descendentes. Isso vem se
dando, de forma limitada, por meio da ligao de direitos a deveres
e ao controle pelo conhecimento, bem como do desenvolvi-
mento de polticas simblicas e de vinculao. Com isso, busca-se
atrair os nacionais com objetivos relacionados ao desenvolvi-
mento, tais como a recuperao, e o estmulo contribuio a
partir do exterior, da mo de obra qualificada; o envio de remessas;
e a promoo do pas no exterior.
A exemplo disso, verificamos no perodo analisado uma re-
lao entre o desenvolvimento de algumas das principais polticas
para os brasileiros no exterior e o envio de remessas. Essa relao
pode ser verificada a partir da coincidncia entre os picos de recebi-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 193
mento de remessas do exterior e alguns marcos da ao do Estado
brasileiro para seus nacionais no exterior. Em 1992 (US$ 1,8 bi-
lho), a necessidade de dar mais ateno a essa comunidade foi
ressaltada na Caopa. Foi instituda, no ano de 1995 (US$ 3,3 bi-
lhes), a Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurdicos e de
Assistncia a Brasileiros no Exterior. Em 2008 (US$ 5,1 bilhes),
foi criada a Conferncia Brasileiros no Mundo.
Em 2007, as polticas desenvolvidas para a populao brasi-
leira no exterior passaram a ter um novo sentido. Com a possibi-
lidade de extenso da nacionalidade aos filhos de brasileiros
nascidos no exterior, a relao do Estado com os seus nacionais
no exterior transita de uma cidadania emigrante para a cons-
truo de uma cidadania extraterritorial, quando as polticas
deixam de se destinar somente a pessoas que saam do pas e passa
a se voltar tambm para aquelas nascidas no exterior. Ademais,
com a extenso da nacionalidade brasileira pela adoo do critrio
do jus sanguini, a presena de nacionais no exterior passa a no de-
pender somente da sada do pas. Por isso, tratamos no trabalho o
desenvolvimento de uma poltica externa brasileira para os emi-
grantes e seus descendentes.
As polticas que tm por objetivo estabelecer uma maior vin-
culao entre o Estado brasileiro e nacionais no exterior, aquelas de
promoo de interesses econmicos e polticos no cenrio inter-
nacional, e as aes para a extenso de direitos e da cobrana de
deve res, ficam comprometidas por vrias razes. Em primeiro
lugar, pelo espao onde essas polticas podem se dar no exterior, ou
seja, numa ilha de soberania tambm denominada espao ex-
traterritorial incrustada no territrio de outros Estados. Dentro
do espao extraterritorial, restringida a capacidade do Estado de
fazer um cidado cumprir com suas obrigaes aps deixar o seu
pas. Com isso, os Estados de origem vm tentando estender sua
influncia aos cidados que se encontram no exterior, por meio
de uma forma de cidadania, denominada la carte, que se baseia no
voluntarismo, nas mltiplas afiliaes, e que oferece mais direitos
do que impe obrigaes (Fitzgerald, 2008).
194 FERNANDA RAIS USHIJIMA
O Brasil vem promovendo a cidadania extraterritorial por meio
do desenvolvimento de uma srie de polticas que pretendem es-
tender direitos aos emigrantes e aos seus descendentes, da extenso
da nacionalidade e da permisso da dupla nacionalidade, bem como
da flexibilizao dos deveres. Quanto a esta, vale mencionar que
no h, diferentemente do caso do cidado residente, nenhuma im-
posio coercitiva quanto cobrana de dbitos aos emigrantes.
Alm do mais, enquanto se impe ao nacional tra balhador que re-
side no territrio do Estado a contribuio pre vidncia, ao emi-
grante simplesmente oferecida a opo de participao como
contribuinte individual. Mais recentemente, tambm permitiu-se
o retorno ao Brasil por meio do carto de matrcula consular, e
vem-se verificando a possibilidade de se desconsiderar o no cum-
primento de obrigao militar para a emisso de documentos para
aquele que est fora do territrio (Brasil, 2010a).
A tentativa de promoo dos direitos e do alcance das polticas
restringida pelo nmero limitado de reparties dentro do terri-
trio de outro Estado. Alm do mais, as polticas sociais desenvol-
vidas, dentro dos limites permitidos, acabam se reduzindo a aes
de cunho mais assistencialista, tais como assistncia jurdica, for-
necimento de uma variada gama de informaes sobre direitos, as-
sociaes e voluntrios. Aes mais efetivas que promovam a
regularizao ou a incluso dos imigrantes nos benefcios do Wel-
fare State ficam, em geral, dependendo da disponibilidade
para negociaes que recaem nas decises do Estado de residncia.
Nesse aspecto, as polticas para os emigrantes so, necessaria-
mente, poltica externa, pois sempre envolvem relaes e tratativas
entre os Estados para que essas polticas possam ter alcance para
alm do territrio do pas de origem.
Constitui um outro tipo de limite poltica nacional para os
emigrantes e seus descendentes, a heterogeneidade da composio
da populao brasileira no exterior, a qual no pode ser tratada
simplesmente como uma dispora, que promova, em grande es-
cala, interesses econmicos e polticos da poltica externa brasi-
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 195
leira.
1
Na rea econmica, o envio de remessas por parte dos
brasileiros no exterior significativo, e a comunidade pode cons-
tituir um mercado para produtos brasileiros e uma plataforma
para a promoo desses produtos no meio (Maia, 2008). No en-
tanto, por mais que isto se coloque como uma possibilidade, di-
fcil afirmar que os brasileiros no exterior venham promovendo a
difuso de produtos nacionais, do modo como se d, por exemplo,
no caso italiano. Da mesma forma, no campo da participao pol-
tica, diferentemente dos indianos e dos chineses no exterior, os
emigrantes brasileiros no vm formando lobbies com capacidade
de influenciar a poltica dos Estados onde residem, em favor de in-
teresses do Estado brasileiro.
Uma srie de polticas vem sendo desenvolvida para os brasi-
leiros no exterior. Entretanto, no que se refere ao surgimento da
deman da por parte desse grupo, tais polticas ainda vm se dando
de forma lenta. Assim, por exemplo, com relao resposta do Es-
tado brasileiro consolidao do fenmeno da migrao de bra-
sileiros para o Japo, a partir de 1989, verificamos que dois consu-
lados-gerais foram criados entre 1992 e 1995, pouco tempo depois
do rpido crescimento do nmero de emigrantes brasileiros naquele
pas, mas no foram instalados nos principais locais de residncia
destes. Foi somente quase duas dcadas depois, com o estabeleci-
mento de um Consulado-Geral em Hamamatsu, em 2008, que se
possibilitou a uma grande parte dessa populao um acesso mais
efetivo aos servios consulares. Tambm a falta de integrao entre
os ministrios e demais rgos pblicos provocou um atraso de
mais de vinte anos para a entrada em vigor do acordo previdencirio
entre o Brasil e o Japo, em 2012. Isso acabou por deixar muitos
brasileiros que trabalharam no Japo ou l residem sem computar
perodos de trabalho para a sua aposentadoria, ou desprovidos do
1. Vimos que h, sim, a promoo desses interesses, mas no em larga escala; e
que uma mudana de postura por parte de setores e rgos pblicos pode po-
tencializar essa promoo.
196 FERNANDA RAIS USHIJIMA
abrigo da seguridade social para casos de acidente de trabalho e in-
validez durante sua permanncia no exterior. A presena do Estado
no exterior essencial pela proteo e pelos servios que so pres-
tados. No desconsiderando as outras funes das reparties con-
sulares, acreditamos que a ateno s pessoas (no somente com
relao aos brasileiros residentes no exterior, mas tambm a via-
jantes, estudantes, aqueles que querem retornar, retornados ou
aqueles que tiveram aspectos importantes de sua vida internacio-
nalizados) seria uma questo importante, independentemente de o
Estado promover, diretamente ou no, como no caso das Filipinas,
a emigrao. Trata-se de uma faceta social de uma internaciona-
lizao mais econmica. Todavia, devemos levar em conta que al-
gumas demandas apresentadas pelos brasileiros residentes no exte-
rior precisam de uma avaliao sobre a aplicao de algum tipo de
princpio de igualdade (comparao com os brasileiros residentes)
(Barry, 2006) e de serem discutidas em debates nacionais.
2
No poderamos deixar de fazer um comentrio sobre as mu-
danas mais recentes relacionadas poltica consular e voltadas
para os brasileiros que residem no exterior, do ponto de vista mais
governamental. Como pudemos observar (pelo mapeamento da-
tado realizado no captulo 2), nos ltimos anos, essas mudanas na
poltica externa resultaram numa melhoria na prestao de ser-
vios, na expanso das reparties consulares e na assinatura de um
maior nmero de tratados no mbito da mobilidade e da emigrao,
alm de uma maior participao em fruns internacionais sobre
migraes acompanhando a agenda regional e internacional e
da intensificao das intervenes diplomticas.
Como vimos, o aumento do nmero de viajantes e de brasi-
leiros no exterior, a natureza pblica da prestao consular, a mo-
dernizao e o aumento da capacidade administrativa do MRE, so
muito importantes para compreender o novo impulso da poltica
consular e voltada para os brasileiros que residem no exterior. No
2. Os limites internacionais sempre devero ser levados em considerao ou po-
dero se impor a decises internas.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 197
entanto, as mudanas relacionadas a esse grupo explicam-se
tambm pela conjuntura diferenciada e pela poltica social no go-
verno Lula da Silva, pelo aumento da organizao e da participao
(mesmo que limitada) dos emigrantes (alguns, inclusive, com li-
gao com o Partido dos Trabalhadores), pela melhoria da eco-
nomia do pas, pela maior projeo internacional e pela necessidade
de legitimao de um governo novo em uma democracia recente.
3
Por outro lado, como foi possvel verificar, as polticas para os
brasileiros que residem no exterior conformam uma poltica de
Estado, ou seja, vieram incorporando as prticas de vrios governos
ou administraes (Gutierrez Gonzles apud Padilla, 2011).
Alm do mais, aes nesse mbito vm tambm seguindo a evi-
dncia forcenida pela mdia, dando-se em determinados contextos
e dependendo dos interesses das elites polticas e econmicas, bem
como de o quanto os emigrantes tm a oferecer. Outra caracters-
tica que ressaltamos com relao ao governo Lula da Silva, sobre-
tudo no segundo mandato, a ampliao das polticas de tentativa
de engajamento e vinculao.
3. Tanto aspectos da poltica interna como da poltica externa, como explicamos,
foram importantes para compreender as novas mudanas. Continuamos a
afirmar, no entanto, que a poltica voltada para os brasileiros no exterior
sempre uma forma de poltica externa, uma vez que se realiza em solo de outro
Estado.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AWAD, I. The global economic crisis and migrant workers: impact and
response. Genebra: International Labour Office, 2009.
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Diez aos de
inovacin en remesas: lecciones aprendidas y modelos para el fu-
turo. Washington: Fondo Multilateral de Inversiones, 2010.
BARRY, K. Home and away: the construction of citizenship in an
emigration context. New York University Law Review, v.81, n.1,
p.11-59, abr. 2006.
BASSANEZI, M. S. B. Imigraes internacionais no Brasil. In: PA-
TARRA, N. L. (Coord.). Emigrao e imigrao internacionais no
Brasil contemporneo. So Paulo: FNUAP, 1995.
BECK, U. What is globalization? Cambridge: Polity Press, 2000.
BELTRO, K. I., SUGAHARA, S. Permanentemente temporrio:
dekasseguis brasileiros no Japo. Revista Brasileira de Estatstica e
Populao, v.23, n.1, jan.-jun. 2006.
BERMANN, Clio. Impasses e controvrsias da hidroeletricidade.
Estudos Avanados, v.21, n.59, abr. 2007.
BGUS, L. M. Migrantes brasileiros na Europa ocidental: uma abor-
dagem preliminar. In: PATARRA, N. L. (Coord.) Emigrao e imi-
grao internacionais no Brasil contemporneo. So Paulo: FNUAP,
1995.
200 FERNANDA RAIS USHIJIMA
BRASIL. Brasil: 2003 a 2010. Braslia: Presidncia da Repblica, 2010.
_____. Plano Diretor de Reforma Consular: documentos de base. Bra-
slia: Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, Subse-
cretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, 2010a.
_____. Constituio (1967). Constituio da Repblica Federativa do
Brasil: promulgada em 20 de outubro de 1967. Disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui
cao67.htm>. Acesso em jan. 2011.
_____. Constituio (1988). Constituio da Repblica Federativa do
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui
caocompilado.htm>. Acesso em jan. 2011.
BRASILEIROS NO EXTERIOR BRASILEIROS NO MUNDO,
I. Anais eletrnicos... Rio de Janeiro, 2008. Braslia: Ministrio das
Relaes Exteriores, Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasi-
leiras no Exterior, 2008. Disponvel em <http://www.abe.mre.
gov.br>. Acesso em 17/9/2008.
CAIRO. Declarao (1994). Cairo Declaration on Population and
Development. Disponvel em <http://www.un.org/popin/icpd/
conference/bkg/egypt.html>. Acesso em jan. 2010.
CALDERN-CHELIUS, L. Brazil: compulsory voting and renewed
interest among external voters. In: IDEA. Voting from Abroad.
The International IDEA Handbook. Estocolmo; Cidade do M-
xico: International Institute for Democracy and Electoral Assis-
tance, Federal Electoral Institute of Mexico, 2007.
CALLEGARI, C. Atuao governamental em relao s comunidades
brasileiras no exterior na rea educacional. In: CONFERNCIA
DAS COMUNIDADES BRASILEIRAS NO EXTERIOR BRA-
SILEIROS NO MUNDO, I. Rio de Janeiro, 2008. Anais eletr-
nicos... Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Subsecretaria-geral
das Comunidades Brasileiras no Exterior, 2008. Disponvel em
<http://www.abe.mre.gov.br>. Acesso em 17/9/2008.
CANO, G. Organizing Immigrant Communities in American Cities:
Is this transnationalism, or what? Center for Comparative Immigra-
tion Studies (University of California, San Diego), working paper,
n.103, ago. 2004.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 201
CASTLES, S., MILLER, M. J. The age of migration: international
population movements in the modern world. Londres: Macmillan
Press, 1998.
CASTLES, S., WISE, R. D. Migration and development: perspectives
from the South. Genebra: Organizao Internacional para as Mi-
graes, 2007.
CASTRO, Flvio Mendes de Oliveira, CASTRO, Francisco Mendes
de Oliveira. 1808-2008: dois sculos de histria da organizao do
Itamaraty. v.II. Braslia: Fundao Alexandre de Gusmo, 2009.
CERVO, A. L. Relaes internacionais da Amrica Latina: velhos e
novos paradigmas. Braslia: Ibri, 2001.
CHANDER, A. Homeward bound. New York University Law Re-
view, v.81, n.1, p.60-89, abr. 2006.
COENTRO, L. U. Polticas pblicas e gesto das migraes internacio-
nais no Brasil: uma reflexo sobre os migrantes qualificados. So
Paulo, 2011. Dissertao (mestrado em Administrao Pblica e
Governo) Escola de Administrao de Empresa de So Paulo,
Fundao Getlio Vargas.
COHEN, R. Global diasporas: an introduction. Seattle: University of
Washington Press, 1997.
COMISIN ECONMICA PARA AMRICA LATINA Y EL
CARIBE (Cepal). Globalizacin y desarrollo. Santiago de Chile:
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, 2002.
CONGRESSO NACIONAL. Relatrio final da Comisso Parla-
mentar Mista de Inqurito (CPMI). Braslia: Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito da Emigrao, 2006.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAO (CNE) Cmara de
Educao Bsica. Define normas para declarao de validade
de documentos escolares emitidos por escolas de educao bsica
que atendem a cidados brasileiros residentes no Japo. Resoluo
n
o
2, de 17 de fevereiro de 2004. Disponvel em <http://portal.
mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb002_04.pdf>. Acesso em nov.
2010.
_____. Parecer n
o
11, de 7 de julho de 1999. Consulta sobre o estabele-
cimento de normas para escolas brasileiras sediadas no exterior.
Relator: Ulysses de Oliveira Panisset. Disponvel em <http://
202 FERNANDA RAIS USHIJIMA
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb011_99.pdf>. Acesso
em nov. 2010.
CONSULADO DOS EUA concede a partir de amanh vistos com
validade de 10 anos. Folha de S. Paulo. So Paulo, 27/5/2010.
DOMENECH, E. La ciudadanizacin de la poltica migratoria en la
regin sudamericana: vicisitudes de la agenda global. In: NO-
VICK, S. (Org.). Las migraciones en Amrica Latina: polticas, cul-
turas y estrategias. Buenos Aires: Clacso/Catlogos, 2008.
ESCOBAR, C. Extraterritorial political rights and dual citizenship in
Latin America. Latin American Research Review, v.42, n.3, p.43-
-75, out. 2007.
EUROPEAN COMISSION. Economic crisis in Europe: causes,
consequences and responses. European Economy, n.7, 2009.
FERNANDES, D., RIGOTTI, J. I. Brasileiros na Europa. In: CON-
FERNCIA DAS COMUNIDADES BRASILEIRAS NO EX-
TERIOR BRASILEIROS NO MUNDO, I. Rio de Janeiro,
2008. Anais eletrnicos... Braslia: Ministrio das Relaes Exte-
riores, Subsecretaria-geral das Comunidades Brasileiras no Ex-
terior, 2008. Disponvel em <http://www.abe.mre.gov.br>.
Acesso em 17/9/2008.
FIGUEIREDO, J. M. Fluxos migratrios e cooperao para o desen-
volvimento: realidades compatveis no contexto europeu? Porto:
Alto Comissariado para a Imigrao e Minorias tnicas (Acime),
2002.
FILA para ter cidadania italiana tem 380 mil. Folha de S. Paulo. So
Paulo, 20/9/2008.
FIRMEZA, G. T. Brasileiros no exterior. Braslia: Fundao Ale-
xandre de Gusmo, 2007.
FITZGERALD, D. A nation of emigrants: how Mexico manages its
migration. Berkeley: University of California Press, 2009.
_____. Citizenship la carte. Global Migration and Transnational Poli-
tics, n.3, p.1-11, mar. 2008.
_____. Rethinking emigrant citizenship. New York University Law
Review, v.81, n.1, p.90-116, abr. 2006.
_____. Rethinking the local and transnational: cross-border poli-
tics and hometown politics in an immigrant union. Center for
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 203
Comparative Immigration Studies (University of California), wor-
king paper, n.58, ago. 2002.
GALLARDO, G. Migracin, desarrollo humano y ciudadana. Cua-
dernos de Desarrollo Humano, n.3, 2009.
GAMLEN, A. What are diaspora engagement policies and what
kinds of states use them? Centre on Migration, Policy and Society
(Compas). Working Papers (WP), n.32, 2006.
GIRALDI, R. Avio da FAB trar 33 brasileiros e deve chegar ao
Brasil de madrugada. Agncia Brasil, 30/12/2009a.
_____. Embaixada divulga nomes de brasileiros que estavam na regio
do ataque no Suriname. Agncia Brasil, 30/12/2009b.
_____. Trinta e dois brasileiros que estavam no Suriname desembar-
caram em Belm. Agncia Brasil, 31/12/2009c.
_____. Mulheres agredidas sexualmente no Suriname esto em estado
de choque, diz especialista. Agncia Brasil, 9/1/2010.
GLICK-SCHILLER, N., BASCH, L., SZANTON-BLANC, C.
Nations unbound: Transnational Projects Postcolonial Predica-
ments and Deterritorialized Nation-State. Londres: Routledge,
1994.
_____. Towards a Transnational Perspective on Migration: Race,
Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. Annals of the
New York Academy of Sciences, v.645, 1992.
GLICK-SCHILLER, N., LEVITT, P. Havent we heard this some-
where before? A substantive view of transnational migration stu-
dies by way of a reply to Waldinger and Fitzgerald. Center for
Migration and Development (Princeton University). Working
Paper, jan. 2006.
GLOBAL COMISSION ON INTERNATIONAL MIGRATION.
Migration in an interconnected world: new directions for action.
Genebra: Global Comission on International Migration, 2005.
GOZA, F. A imigrao brasileira na Amrica do Norte. Revista Brasi-
leira de Estudos Populacionais (Campinas), 9(1), 1992.
GRADILONE, E. Proposta de poltica governamental para comuni-
dades brasileiras no exterior. In: CONFERNCIA DAS COMU-
NIDADES BRASILEIRAS NO EXTERIOR BRASILEIROS
NO MUNDO, I. Rio de Janeiro, 2008. Anais eletrnicos... Braslia:
204 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Ministrio das Relaes Exteriores, Subsecretaria-Geral das Co-
munidades Brasileiras no Exterior, 2008. Disponvel em <http://
www.abe.mre.gov.br>. Acesso em 17/9/2008.
GRADILONE, E. A poltica consular e de apoio a brasileiros como
fator de credibilidade e afirmao externa do Brasil. In: CONFE-
RNCIA NACIONAL DE POLTICA EXTERNA E POL-
TICA INTERNACIONAL, V. Braslia, 2010. Anais eletrnicos...
Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Fundao Alexandre
de Gusmo, 2010. Disponvel em <http://www.funag.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=67:v-
-cnpepi&catid=43:videoteca&Itemid=2>. Acesso em 4/9/2010.
GRAEME, H. Migraes internacionais no-documentadas: uma
tendncia global crescente. Travessia: Revista do Migrante, p.5-12,
jan.-abr. 1998.
GUARNIZO, L. E., PORTES, A., HALLER, W. Assimilation and
transnationalism: determinants of transnational political action
among contemporary migrants. American Journal of Sociology,
v.108, n.6, p.1.211-48, maio 2003.
GUTIERREZ GONZLES, C. Fostering identities: Mexicos rela-
tions with its diaspora. The Journal of American History, v.89, n.2,
1999.
HAESBAERT, R., SILVEIRA, M. Migrao brasileira no Mercosul.
Travessia, ano XI, n.33, jan.-abr. 1999.
HAIA. Conveno (1930). Convention on Certain Questions Relating
to the Conflict of Nationality Law of 13 April 1930. Disponvel
em <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b00.html>.
Acesso em fev. 2011.
_____. Conveno (1980). The Hague Convention on the Civil As-
pects of Internacional Child Abduction of 25 October 1980. Dis-
ponvel em <http://www.unhcr.org/refworld/publisher,HAGU
EPRIVATE,,,3ae6b3951c,0.html>. Acesso em jan. 2011.
HAMILTON, D. The transformation of consular affairs: the United
States Experience. Clingendael Discussion Papers in Diplomacy,
n.116, dez. 2009.
HEISLER, B. S. Sending countries and the politics of emigration and
destination. International Migration Review, v.19, n.3, outono 1985.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 205
HELD, D., McGREW, A. Introduction: current controversies
about the demise of globalization. In: _____. Globalization/anti-
globalization: beyond the great divide. Cambridge: Polity Press,
2007.
HIGUCHI, N. Mass unemployment of Japanese Latin Americans as
a disaster made by humans: the consequences of labour-market
flexibilization during the economic crisis in Japan. In: CENTRE
ON MIGRATION, POLICY AND SOCIETY (Compas). An-
nual Conference New times? Economic crisis, geo-political
transformation and the emergent migration order, Oxford, 2009.
Anais eletrnicos... Oxford: University of Oxford, Centre on Mi-
gration, Policy and Society, 2009. Disponvel em <http://www.
compas.ox.ac.uk/events/previous/events-2008-copy-1/annual-
-conference/>. Acesso em 20/9/2008.
_____, TANNO, K. Whats driving Brazil-Japan migration? The
making and remaking of the Brazilian niche in Japan. International
Journal of Japanese Sociology, n.12, 2003.
HIRANO, F. Y. O caminho para casa: o retorno dos dekasseguis. In: IV
ENCONTRO NACIONAL SOBRE MIGRAES. Rio de Ja-
neiro, 2005. Anais eletrnicos... Campinas: Associao Brasileira de
Estudos Populacionais, Ncleo de Estudos Populacionais da Uni-
ver sidade de Campinas (Unicamp), 2005. Disponvel em <http://
www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/ 4Enc Nac Sobre
Migracao/ST1-2.pdf>. Acesso em 25/2/2009.
HUNTINGTON, Samuel. Who are we?: the challenges to America
national identity. Nova York: Simon & Schuster Paperbacks, 2005.
IMIGRANTES enviam menos dinheiro para o Brasil. Folha de S.
Paulo. So Paulo, 14/3/2011.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA
(IBGE). Censo Demogrfico 2010: resultados gerais da amostra. Rio
de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica, 2011.
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. International
labour migration: a rights-based approach. Genebra: International
Labour Organization, 2010.
IONESCU, D. Engaging diasporas as development partners for home
and destination countries: challenges for policymakers. Migration
206 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Research Series, n.26. Genebra: International Organization for
Migration, 2006.
JAPAN INTERNATIONAL CORPORATION AGENCY (Jica).
Os nikkeis e a sociedade brasileira nos prximos 20 anos. So Paulo:
Departamento para a Amrica Latina da Jica, 2003.
JONES-CORREA, M. Under two flags: dual nationality in Latin
America and its consequences for naturalization in the United
States. International Migration Review, v.35, n.4, p.997-1.029, in-
verno 2001.
KAWAMURA, L. Para onde vo os brasileiros? Imigrantes brasileiros
no Japo. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.
KLAGSBRUNN, V. H. Globalizao da economia mundial e mer-
cado de trabalho: a emigrao de brasileiros para os EUA e Japo.
In: PATARRA, N. L. (Coord.). Migraes internacionais: herana
XX, agenda XXI. Campinas: FNUAP, 1996.
KOSER, K. International migration: a very short introduction. Ox-
ford: Oxford University Press, 2007.
KUBAL, A., BAKEWELL, O., DE HAAS, H. The evolution of Bra-
zilian migration to the United Kingdom: scoping study report. Ox-
ford: International Migration Institute, University of Oxford, 2011.
LAKE, D. The new sovereignty in international relations. Internati-
onal Studies Review, n.5, 2003.
LEVIT, P., DEWIND, J., VERTOVEC, S. International perspec-
tives on transnational migration: an introduction. International
Migration Review, v.37, n.3, outono 2003.
LEVITT, P., DEHESA, R. Transnational migration and the redefini-
tion of the state: variations and explanations. Ethnic and Racial
Studies, v.26, n.4, 2003.
LEVITT, P., JAWORKSY, B. N. Transnational migration studies:
past developments and future trends. Annual Review of Sociology,
n.3, 2007.
LIMA, A. Brasileiros na Amrica. So Paulo: Sindicato dos Editores de
Livros, 2009.
LIMA, S. E. M. Privilgios e imunidades diplomticos. Braslia: Fun-
dao Alexandre de Gusmo, 2002.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 207
LISSARDY, G. BNDES impulsiona maior presena brasileira na
Amrica Latina. BBC Brasil, 9/11/2011.
LOURENO, I. Diplomatas viajam ao Suriname para acompanhar
situao de brasileiros. Agncia Brasil, 27/12/2009.
MACHADO, I. J. de R. Imigrao em Portugal. Estudos Avanados,
v.20, n.57, maio-ago. 2006.
MAGUID, A. La migracin internacional em el escenario del Mer-
cosur: cambios recientes, asimetras socioeconmicas y polticas
migratorias. Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 19, n.57,
2005.
MAIA, O. A. Brasileiros no mundo: o ambiente mundial das migraes
e a ao governamental brasileira de assistncia a seus nacionais no
exterior. In: CONFERNCIA DAS COMUNIDADES BRA-
SILEIRAS NO EXTERIOR BRASILEIROS NO MUNDO, I.
Rio de Janeiro, 2008. Anais eletrnicos... Braslia: Ministrio das Re-
laes Exteriores, Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras
no Exterior, 2008. Disponvel em <http://www.abe.mre.gov.br>.
Acesso em 17/9/2008.
MALDONADO, R. et al. Las remesas a Amrica Latina y el Caribe
durante el 2009: los efectos de la crisis financiera global. Washing ton:
Fondo Multilateral de Inversiones (BID), 2010.
MALHEIROS, J. M. Jogos de relaes internacionais: repensar a po-
sio de Portugal no arquiplago migratrio global. In: BAR-
RETO, A. (Org.). Globalizao e migraes. Lisboa: Imprensa de
Cincias Sociais, 2005.
MANN, M. Neither nation-state nor globalism. In: WHITE, K. E.,
ROBERTSON, R. (Eds.). Globalization: critical concepts in Socio-
logy. v.II. Londres: Routledge, 2003.
MARGOLIS, M. L. A minoria invisvel: imigrantes brasileiros em
Nova York. Travessia, ano VIII, n.21, jan.-abr. 1995.
_____. Little Brazil: imigrantes brasileiros em Nova York. Campinas:
Papirus, 1994.
MARIANO, K. L. P., MARIANO, M. P. A formulao da poltica
externa brasileira e as novas lideranas polticas regionais. Perspec-
tivas (So Paulo), v.33, jan.-jun. 2008.
208 FERNANDA RAIS USHIJIMA
MARINUCCI, R. Brasileiros e brasileiras no exterior: apresentao de
dados recentes do Ministrio das Relaes Exteriores. Braslia:
Ministrio das Relaes Exteriores, 2007. Disponvel em <http://
www.csem.org.br/2008/roberto_marinucci_brasileiros_e_brasil
eiras_no_exteriorsegundo_dados_do_mre_junho2008.pdf>.
Acesso em 17/9/2008.
MARTIN, S. F. Remittances as a development tool. Economic Pers-
pectives, v.6, n.3, set. 2001.
MASSEY, D. et al. Theories of international migration: review and
appraisal. Population and Development Review (Nova York), v.19,
n.3, 1993.
_____. Worlds in motion: understanding international migration at the
end of the millenium. Clarendon: Press Oxford, 1993.
McGREW, A., HALL, S., HELD, D. Modernity and its futures.
Cambridge: Polity Press e Open University, 1992.
MENEGAZZO, E. Construindo uma cidadania extraterritorial:
participao, representao e incorporao poltica dos emigrantes
brasileiros e seus descendentes. In: II SEMINRIO NACIONAL
SOCIOLOGIA & POLTICA. Curitiba, 2010. Anais do II Semi-
nrio Nacional Sociologia & Poltica (Curitiba), v.4, 2010.
_____. A representao poltica dos emigrantes e seus descendentes: a
cidadania emigrante e a cidadania extraterritorial na Argen-
tina e no Brasil. In: Sociedad Argentina de Anlisis Poltico y la
Universidad Catlica de Crdoba (Org.). X CONGRESO NA-
CIONAL DE CIENCIA POLTICA. Crdoba, 27-30 de julho
de 2011.
MILESI, R., FANTAZINI, O. Cidads e cidados brasileiros no exte-
rior o documento de Lisboa, a Carta de Boston e Documentos de
Bruxelas. In: CONFERNCIA DAS COMUNIDADES BRA-
SILEIRAS NO EXTERIOR BRASILEIROS NO MUNDO, I.
Rio de Janeiro, 2008. Anais eletrnicos... Braslia: Ministrio das
Relaes Exteriores, Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasi-
leiras no Exterior, 2008. Disponvel em <http://www.abe.mre.
gov.br>. Acesso em 20/10/2009.
MILESI, R., SHIMANO, M. L., BONASSI, M. Migraes interna-
cionais e a sociedade civil organizada: entidades confessionais que
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 209
atuam com estrangeiros no Brasil e com brasileiros no exterior. In:
CASTRO, M. G. (Coord.). Migraes internacionais: contribuies
para polticas. Braslia: Comisso Nacional de Populao e Desen-
volvimento, 2001.
MINISTRIO DA JUSTIA DO JAPO. Estatstica do registro de
estrangeiros. Ministrio da Justia Departamento da Imigrao.
2009. Disponvel em <http://www.moj.go.jp>. Acesso em ago.
2010.
MINISTRIO DAS RELAES EXTERIORES. A rede consular
brasileira. Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Subsecre-
taria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, Departa-
mento Consular e de Brasileiros no Exterior e Diviso de Assistncia
Consular, jul. 2008.
_____. Brasileiros no mundo. Estimativas. Braslia: Ministrio das Re-
laes Exteriores, Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasi-
leiras no Exterior, Departamento Consular e de Brasileiros no
Exterior e Diviso de Assistncia Consular, set. 2009.
_____. Brasileiros no mundo. Estimativas. Braslia: Ministrio das Re-
laes Exteriores, Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasi-
leiras no Exterior, Departamento Consular e de Brasileiros no
Exterior e Diviso de Assistncia Consular, jun. 2011.
_____. Manual do Servio Consular e Jurdico. Braslia: Ministrio das
Relaes Exteriores, 2010.
MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Brasileiras e brasi-
leiros no exterior: informaes teis. Braslia: Ministrio do Tra-
balho e Emprego, 2007.
MITCHELL, C. As recentes polticas de imigrao dos Estados Unidos
e seu provvel impacto nos imigrantes brasileiros. In: SALES, T.,
SALLES, M. do R. (Org.). Polticas migratrias: Amrica Latina,
Brasil e brasileiros no exterior. So Carlos: EdUFSCar, 2002.
MIYAMOTO, S. O Brasil e a Comunidade dos Pases de Lngua Por-
tuguesa. Revista Brasileira de Poltica Internacional, v.52, n.2, jul.-
-dez. 2009.
_____. A poltica externa brasileira para a frica no incio do sculo:
interesses e motivaes. Congresso Brasileiro Luso Afro Brasileiro
de Cincias Sociais, 11. Salvador, 2011.
210 FERNANDA RAIS USHIJIMA
MONTEIRO, A. J. R. Estados Unidos, um retrato poltico das migra-
es internacionais. Campinas, 1997. Dissertao (mestrado em
Sociologia) Instituto de Filosofia e Cincias Humanas, Univer-
sidade de Campinas.
MOREIRA LIMA, Srgio Eduardo. Privilgios e imunidades diplo-
mticos. Braslia: Instituto Rio Branco e Fundao Alexandre de
Gusmo, 2002.
MORGENTHAU, H. J. A poltica entre as naes: a luta pela guerra e
pela paz. Braslia: Editora Universidade de Braslia, Instituto de
Pesquisa de Relaes Internacionais; So Paulo: Imprensa Oficial
do Estado, 2003.
NOVICK, S. (Dir.). Migraciones y Mercosur: una relacin inconclusa.
Buenos Aires: Catlogos, 2010.
_____. Polticas migratorias en la Argentina: experiencias del pasado,
reformas actuales y expectativas futuras. In: MONDOL, L.,
ZURBRIGGEN, C. (Coord.). Estado actual y perspectivas de las
polticas migratorias en el Mercosur. Montevidu: Logos, 2010.
OKANO-HEIJMANS, M. Change in Consular Assistance and the
Emergence of Consular Diplomacy. Clingendael Discussion Papers
in Diplomacy, n.26, fev. 2009.
OLIVEIRA, A. C. Japoneses no Brasil ou brasileiros no Japo: a traje-
tria de uma identidade em um contexto migratrio. Campinas,
1997. Dissertao (mestrado em Sociologia) Instituto de Filo-
sofia e Cincias Humanas, Universidade de Campinas.
_____. Direito mobilidade individual e a soberania dos Estados. Es-
tudos Avanados (So Paulo), v.21, n.61, dez. 2007.
OLIVEIRA, J. C., OLIVEIRA, L. A. P. As projees populacio-
nais brasileiras e a questo dos brasileiros que vivem no exterior.
In: CONFERNCIA DAS COMUNIDADES BRASILEIRAS
NO EXTERIOR BRASILEIROS NO MUNDO. I. Rio de
Janeiro, 2008. Anais eletrnicos... Braslia: Ministrio das Rela-
es Exteriores, Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras
no Exterior, 2008. Disponvel em <http://www.abe.mre.gov.br>.
Acesso em 17/9/2008.
OLIVEIRA, M. Ataque contra 80 brasileiros no Suriname deixa 14
feridos, sete em estado grave. G1, 26/12/2009.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 211
OLIVEIRA, M. D. Cidadania e globalizao: a poltica externa brasi-
leira e as ONGs. Braslia: Fundao Alexandre de Gusmo, 1999.
OLIVEIRA, M. M. A mobilidade humana na trplice fronteira: Peru,
Brasil e Colmbia. Estudos Avanados, v.20, n.57, maio-ago. 2006.
ONG, A. Flexible citizenship: the cultural logics of transnationality.
Durham: University of North Carolina, 1999.
ORGANIZAO PARA A COOPERAO E O DESENVOL-
VIMENTO ECONMICO (OCDE). International migration
outlook. Paris: Organizao para a Cooperao e o Desenvolvi-
mento Econmico, 2010.
ORGANIZACIN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRA-
CIONES. Incorporacin de la migracin en las agendas de pol-
ticas de desarrollo. Dilogo Internacional sobre la Migracin, n.8.
Genebra: Organizacin Internacional para las Migraciones, 2006.
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT (OCDE). Latin-American Economic Outlook.
Paris: Development Centre, 2010.
OROZCO, M. (Ed.). Migrants use of technology and tech-based
remittances. Migrant Remittances, v.7, n.2, out. 2010.
PADILLA, B. Migraes e diplomacia parlamentar. In: FRANCO,
Giuliana, MELO, Graa (Org.). Diplomacia parlamentar: uma
contribuio ao debate. Braslia: Instituto Universitas e Fundao
Alexandre de Gusmo, 2008.
_____. As migraes latino-americanas para a Europa: uma anlise re-
trospectiva para entender a mobilidade actual. In: PADILLA, B.,
XAVIER, M. (Org.). Migraes: Revista do Observatrio da Imi-
grao, n.5, out. 2009.
_____. Engagement policies and Practices: expanding the citizenship
of the Brazilian Diaspora. International Migration, v.49, n.3, 2011.
_____, XAVIER, M. (Org.). Migraes entre Portugal e Amrica La-
tina. Migraes: Revista do Observatrio da Imigrao, n.5, out. 2009.
PARIS. Declarao (1948). Declarao Universal dos Direitos Hu-
manos, de 10 de dezembro de 1948. Disponvel em <http://
portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.
htm>. Acesso em jun. 2011.
212 FERNANDA RAIS USHIJIMA
PATARRA, N. L. Migraes internacionais de e para o Brasil: vo-
lumes, fluxos, significados e polticas. So Paulo em Perspectiva,
v.19, n.3, jul.-set. 2005.
_____. Migraes internacionais: teorias, polticas e movimentos so-
ciais. Estudos Avanados (So Paulo), v.20, n.57, maio-ago. 2006.
_____. Governabilidade das migraes internacionais e Direitos Hu-
manos: o Brasil como pas de emigrao. In: CONFERNCIA DAS
COMUNIDADES BRASILEIRAS NO EXTERIOR BRASI-
LEIROS NO MUNDO. I. Rio de Janeiro, 2008. Anais eletrnicos...
Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Subsecretaria-Geral
das Comunidades Brasileiras no Exterior, 2008. Disponvel em
<http://www.abe.mre.gov.br>. Acesso em 17/9/2008.
_____, BAENINGER, R. Migraes internacionais recentes: o caso
do Brasil. In: PELLEGRINO, A. (Org.). Migracin e integracin.
Montevidu: Ediciones Trilce, 1995.
PEREIRA, M. C. Processos migratrios na fronteira Brasil-Guiana.
Estudos Avanados, v.20, n.57, maio-ago. 2006.
PETERSON, V. S. A critical rewriting of Global Political Economy: in-
tegrating reproductive, productive and virtual economies. Nova
York: Routledge, 2003.
PHILPOTT, D. Sovereignty. In: ZALTA, E. N. (Ed.). The Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy, edio de vero, 2010. Disponvel
em <http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/sove
reignty/>. Acesso em 20/11/2010.
PIMENTEL, C. Brasil manda assistentes sociais e psicloga para
atender vtimas de estupros no Suriname. Agncia Brasil, 1
o
/1/2010.
PINTO, R. Interesse por cultura brasileira cria chance de fortalecer
economia via soft power. BBC Brasil, 4/4/2012.
PIORE, M. Birds of passage: migrant labour and industrial societies.
Nova York: Cambridge University Press, 1979.
PIZARRO, J. M. Tendencias recientes de la migracin internacional
en Amrica Latina y el Caribe. Estudios Migratorios Latinoameri-
canos, ano 18, n.54, ago. 2004.
PORTES, A. Globalization from below: the rise of transnational com-
munities. WPTC-98-01 (Princeton University), set. 1997.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 213
PORTES, A. Introduction: the debate and significance of immigrant
transnationalism. Global Networks, v.1, n.3, 2001.
PRIES, L. The approach of transnational social spaces: responding to
new configurations of the social and the spatial. In: PRIES, L.
(Ed.). New transnational social spaces: international migration and
transnational companies in the early twenty-first century. Lon-
dres: Routledge, 2001.
PURDY, R. S. Histria comparada e desafio do transnacionalismo.
In: VII CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSO-
CIAO NACIONAL DE PESQUISADORES E PROFES-
SORES DE HISTRIA DAS AMRICAS. Campinas, out.
2006. Anais eletrnicos... Goinia: Associao Nacional de Pesqui-
sadores e Professores de Histria das Amricas (ANPHLAC),
2006. Disponvel em <http://www.anphlac.org/periodicos/anais
/ encontro7/purdy.pdf>. Acesso em 26/11/2010.
PURI, S., RIZETMA, T. Migrant worker remittances, micro-finance
and the informal economy: prospects and issues. Social Finance
Working Paper, n.21, 1999.
REINO UNIDO desiste de exigir visto para brasileiros. O Estado de
S. Paulo. So Paulo, 9/2/2009.
REIS, R. R. Migraes: casos norte-americano e francs. Estudos
Avanados (So Paulo), v.20, n.57, ago. 2006.
_____. A poltica do Brasil para as migraes internacionais. Contexto
Internacional, v.33, n.1, jan.-jul. 2011.
ROBINSON, W. Saskia Sassen and the Sociology of Globalization: a
critical appraisal. Sociological Analysis, v.3, n.1, primavera 2009.
ROCHA-TRINDADE, M. B. Polticas de migraes: Portugal e
Brasil. In: SALES, T., SALLES, M. do R. (Org.). Polticas migra-
trias: Amrica Latina, Brasil e brasileiros no exterior. So Carlos:
EdUFSCar, 2002.
RODRIGUES, F. Migrao transfronteiria na Venezuela. Estudos
Avanados, v.20, n.57, maio-ago. 2006.
ROGALSKI, M. Les migrations internationales entre limpossible et
linvitable. Recherches Internationales, n.90, abr.-jun. 2011.
ROJAS, J. M. B. Migraes remessas e reincorporao poltica na
Colmbia. Campinas, 2007. Dissertao (mestrado em Cincia Po-
214 FERNANDA RAIS USHIJIMA
ltica) Instituto de Filosofia e Cincias Humanas, Universidade
de Campinas.
RUGGIE, J. G. Territoriality and beyond: problematizing modernity
in international relations. International Organization, v.47, n.1, in-
verno 1993.
SALAMA, P. Viver juntos em igual dignidade: migrantes e a luta contra
a discriminao na Europa. Estrasburgo: Conselho da Europa,
2010.
SALES, T. Imigrantes estrangeiros, imigrantes brasileiros: uma re-
viso bibliogrfica e algumas anotaes para pesquisa. Revista
Brasileira de Estudos Populacionais, (Campinas), 9(1), 1992.
_____. O Brasil no contexto das novas migraes internacionais. Tra-
vessia, ano VIII, n.21, jan.-abr. 1995.
_____. O trabalhador brasileiro no contexto das novas migraes in-
ternacionais. In: PATARRA, N. L. (Coord.). Emigrao e imi-
grao internacionais no Brasil contemporneo. So Paulo: FNUAP,
1995a.
_____. Migraes de fronteira entre Brasil e os pases do Mercosul. Re-
vista Brasileira de Estudos Populacionais (Campinas), 13(1), 1996.
_____. Brasileiros longe de casa. So Paulo: Cortez, 1999.
_____. Pensando a terceira idade da primeira gerao de imigrantes
brasileiros nos Estados Unidos. Travessia, ano XII, n.35, set.-dez.
1999a.
_____. Identidade tnica entre imigrantes brasileiros na regio de
Boston, EUA. In: REIS, R. R., SALES, T. (Org.). Cenas do Brasil
migrante. So Paulo: Boitempo, 1999b.
_____. A organizao dos imigrantes brasileiros em Boston. So Paulo
em Perspectiva (So Paulo), v.19, n.3, jul.-set. 2005.
_____. Hard-working newcomers. In: BARRETO, A. (Org.). Globa-
lizao e migraes. Lisboa: Imprensa de Cincias Sociais, 2005.
_____, BAENINGER, R. Migraes internas e internacionais no
Brasil: panorama deste sculo. Travessia, n.36, jan. 2000.
SALIM, C. A., PATARRA, N. L. (Coord.). A questo dos brasiguaios
e o Mercosul: emigrao e imigrao internacionais no Brasil con-
temporneo. So Paulo: FNUAP, 1995.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 215
SASAKI, E. M. O jogo da diferena: a experincia identitria no movi-
mento dekassegui, Campinas, 1998. Dissertao (Mestrado) Insti-
tuto de Filosofia e Cincias Humanas, Universidade de Campinas.
_____. A imigrao para o Japo. Estudos avanados (So Paulo), v.20,
n.57, ago. 2006. Disponvel em <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000200009
&lng=en&nrm=iso>. Acesso em jan. 2009.
SASSEN, S. Loosing control? Sovereignty in the age of globalization.
Nova York: Columbia University Press, 1996.
_____. Globalization and its discontents: essays on the new mobility of
people and money. Nova York: New Press, 1998.
_____. Cracked casings: notes towards an analytics for studying trans-
national processes. In: PRIES, L (Ed.). New transnational social
spaces: international migration and transnational companies in the
early twenty-first century. Londres: Routledge, 2001.
SCHWARZER, H. Atuao governamental em relao s comuni-
dades brasileiras no exterior na rea de previdncia. In: CON-
FERNCIA DAS COMUNIDADES BRASILEIRAS NO
EXTERIOR BRASILEIROS NO MUNDO, I. Rio de Janeiro,
2008. Anais eletrnicos... Braslia: Ministrio das Relaes Exte-
riores, Subse cretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Ex-
terior, 2008. Disponvel em <http://www.abe.mre.gov.br>.
Acesso em 17/9/2008.
SEIGEL, M. Beyond compare: comparative method after the trans-
national turn. Radical History Review, n.91, inverno 2005.
SERRANO, J. O. Acerca de las remesas de dinero que envan los mi-
grantes: procesos de intercambio social em contextos migratorios
internacionales. Estudios Migratorios Latinoamericanos, ano 17,
n.51, p.307-31, ago. 2003.
SERVIO BRASILEIRO DE APOIO S MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (Sebrae). Dekassegui: empreendedor e cidado. Bras lia:
Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas, 2004.
SERVIO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS. Relatrio de
Imigrao Fronteiras e Asilo. Oeiras: Departamento de Planejamento
e Formao, 2008.
216 FERNANDA RAIS USHIJIMA
SERVIO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS. Relatrio de
Imigrao Fronteiras e Asilo. Oeiras: Departamento de Planeja-
mento e Formao, 2009.
SMITH, M. P., GUARNIZO, L. (Ed.). Transnationalism from below.
New Brunswick: Transaction Press, 1998.
SMITH, R. Migrant membership as an instituted process: compara-
tive insights from the Mexican and Italian cases. WPTC-01-03
(Princeton University), 2001.
SOUCHAUD, S. A viso do Paraguai no Brasil. Contexto Internaci-
onal (Rio de Janeiro), v.33, n.1, jan.-jun. 2011.
SPIRO, P. J. Perfecting Political Diaspora. New York University Law
Review, v.81, n.1, abr. 2006.
SPRANDEL, M. A. Migraes internacionais e a sociedade civil bra-
sileira. In: CASTRO, M. G. (Coord.). Migraes internacionais:
contribuies para polticas. Braslia: Comisso Nacional de Po-
pulao e Desenvolvimento, 2001.
_____. Brasileiros na fronteira com o Paraguai. Estudos Avanados,
v.20, n.57, maio-ago. 2006.
_____, NETO, H. P. Os objetivos da Conferncia Internacional sobre
Populao e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e a poltica migratria
brasileira. In: ASSOCIAO BRASILEIRA DE ESTUDOS
POPULACIONAIS. Brasil, 15 anos aps a Conferncia do Cairo.
Campinas: FNUAP, 2009.
SPULDAR, R. Empreiteiras brasileiras crescem no exterior, mas se
envolvem em polmicas. BBC Brasil, 31/10/2011.
TORPEY, J. Coming and going: on the state monopolization of the
legitimate means of movement. In: WHITE, K. E., ROBERT-
SON, R. (Ed.). Globalization: critical concepts in Sociology. v.II.
Londres: Routledge, 2003.
TORRESAN, A. Ser brasileiro em Londres. Travessia: Revista do
Migrante, ano VIII, n.23, p.35-8, set.-dez. 1995.
UEHARA, A. R. Nacionalizao das comemoraes do centenrio. Dispo-
nvel em <http://www.discovernikkei.org/pt/journal/2007/12/12/
copani-knt/>. Acesso em jan. 2009.
UNITED NATIONS ORGANIZATION. World economic and so-
cial survey: international migration. Nova York: Department of
Economic and Social Affairs, 2004.
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 217
UNITED NATIONS ORGANIZATION. International migration
report: a global assessment. Nova York: Department of Economic
and Social Affairs, 2009.
_____. International migration chart. Nova York: Department of Eco-
nomic and Social Affairs, 2010.
UNITED STATES CENSUS BUREAU. Census 2010 Activities Up-
date, v.2, n.4, jun. 2009.
VACCOTTI, L. Emigracin internacional y polticas de vinculacin: el
caso de Uruguay. Trabalho apresentado no IV Congreso de la
Asocia cin Latinoamericana de Poblacin, realizado em La Ha-
bana, Cuba, de 16-19/11/2010.
VAINER, C. B. Estado e migraes no Brasil: anotaes para uma his-
tria das polticas migratrias. Travessia, n.36, jan. 2000.
VALLONE, G. Aps ataque no Suriname, governo traz cinco brasi-
leiros de volta ao pas. Folha On-Line, 27/12/2009.
VAN AMERSFOORT, H. Gabriel Sheffer and the diaspora expe-
rience. Diaspora: a Journal of Transnational Studies, n.13, p.359-
-72, fev.-mar. 2004.
VERTOVEC, S. Conceiving and researching transnationalism.
Ethnic and Racial Studies, v.22, n.2, 1999.
VEZZOLI, S., LACROIX, T. Discussion paper on building bonds for mi-
gration and development: diaspora engagement policies of Ghana,
India and Serbia. Eschborn: Deutsche Gesellschaft fr Technische
Zusammenarbeit (GTZ), 2010.
VIENA. Conveno (1961). Conveno de Viena sobre Relaes Di-
plomticas, de 24 de abril de 1964. United Nations Electronic
Treaty Collection. Disponvel em <http://treaties.un.org/Home.
aspx>.
_____. Conveno (1963). Conveno de Viena sobre Relaes Con-
sulares, de 19 de maro de 1967. United Nations Electronic Treaty
Collection. Disponvel em <http://treaties.un.org/Home.aspx>.
VIGEVANI, T., CEPALUNI, G. A poltica externa de Lula da Silva:
a estratgia da autonomia pela diversificao. Contexto Internaci-
onal, v.29, n.2, jul.-dez. 2007.
VILHENA, D. V. Vinculacin de los emigrados latinoamericanos y cari-
beos con su pas de origem: transnacionalismo y polticas pblicas.
218 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Santiago de Chile: Centro Latinoamericano y Caribeo de Demo-
grafa (Celad)/Divisin de Poblacin de la Cepal, 2006.
VINCENT, R. J. Human rights and international relations. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1995.
WALDINGER, R., FITZGERALD, D. Transnationalism in ques-
tion. American Journal of Sociology, v.109, n.5, mar. 2004.
WATERBURY, M. A. Bridging the divide: towards a comparative
framework for understanding kin state and migrant-sending state
diaspora politics. In: BAUBCK, R., FAIST, T. (Ed.). Diaspora
and transnationalism: concepts, theories and methods. Amsterd:
Amsterdam University Press, 2010.
WEINER, M., HANAMI, T. Temporary workers or future citizens?
Japanese and U. S. migration policies. Basingstoke: MacMillan
Press, 1998.
WHITE, K. E., ROBERTSON, R. Globalization: an overview. In:
_____. (Ed.). Globalization: critical concepts in Sociology. v.I.
Londres: Routledge, 2003.
WORLD BANK. Migration and remittances data. Annual remittances
data. Washington: World Bank, 2011. Disponvel em <http://
go.worldbank.org/092X1CHHD0>. Acesso em 7/1/2012.
_____. Migration and remittances: Factbook 2011. Washington: World
Bank, 2011a.
_____. Dados sobre o influxo de remessas anuais. World Bank, 2011b.
Disponvel em <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTER
NAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:227
5 9 4 2 9 ~ p a g e PK: 6 4 1 6 5 4 0 1 ~ p i PK: 6 4 1 6 5 0 2 6 ~ t h e S i
tePK:476883,00.html>. Acesso em dez. 2011.
_____. Estimativas bilaterais de remessas (Bilateral Migration Matrix).
World Bank, 2011c. Dispo n vel em <http://econ.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/EXT DEC/ EXTDECPROSPECTS/0,
,contentMDK:22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~the
SitePK:476883,00.html>. Acesso em dez. 2011.
YRIZAR BARBOSA, G., ALARCN, R. Emigration policy and
state governments in Mexico. Migraciones Internacionales (M-
xico), v.5, n.4, jul.-dez. 2010.
APNDICES
APNDICE A
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS DO
MINISTRIO DAS
RELAES EXTERIORES
(1990-2010)
222 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Departamento
da Europa
Departamento
de Organismos
Internacionais
Departamento
do Meio
Ambiente
Departamento
das Amricas
Departamento
do Oriente Prximo
Departamento
de Cooperao
Cientfica, Tcnica e
Tecnolgica
Departamento
Econmico
Departamento
da frica
Departamento de
Promoo Comercial
Departamento
da sia e Oceania
Departamento
Cultural
Figura A1 Estrutura organizacional do Ministrio das Relaes Exte-
riores em 1990
Fonte: Elaborao prpria com base no Decreto n
o
99.578, de 10 de outubro de
1990.
Gabinete
Secretaria de
Planejamento
Diplomtico
Reparties no exterior
- Misses diplomticas permanentes
- Reparties consulares
- Reparties especficas, destinadas a
atividades administrativas, tcnicas ou
culturais
rgos de deliberao coletiva
- Comisso de Promoes
- Comisso de Coordenao
- Comisso de Estudos de Histria
Diplomtica
- Conselho Superior do Servio Exterior
Gabinete do Secretrio-Geral
de Poltica Exterior
Segunda Comisso Brasileira
Demarcadora de Limites
Primeira Comisso Brasileira
Demarcadora de Limites
Secretaria de Informaes
do Exterior
Diviso Especial de Pesquisas
e Estudos Econmicos
Diviso Especial de
Avaliao Poltica
Secretaria-Geral
de Poltica Exterior
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 223
Entidade vinculada
Fundao Pblica
- Fundao Alexandre de Gusmo
Consultoria Jurdica
Cerimonial
Instituto Rio Branco
Subsecretaria de Acomp.,
Aval., Orient., Coord.
e Cont. Financeiro
Subsecretaria de Auditoria
rgos de Apoio
Inspetoria-Geral
do Servio Exterior
Gabinete do
Secretrio-Geral
de Controle
Secretaria-Geral
de Controle
Departamento
de Administrao
Departamento
Consular
e Jurdico
Departamento de
Comunicaes
e Documentao
Departamento do
Servio Exterior
Secretaria de
Oramento e Finanas
Secretaria Especial de
Ordenamento Funcional
Secretaria de Modernizao
e Informtica
Secretaria de Recepo
e Apoio
Gabinete do
Secretrio-Executivo
Diviso de Passaportes
Diviso Jurdica
Diviso de Imigrao
Diviso
de Atos Internacionais
Diviso Consular
Ministro de Estado
das Relaes
Exteriores
Secretaria-Geral
Executiva
224 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Figura A2 Estrutura organizacional do Ministrio das Relaes Exte-
riores em 1995
Fonte: Elaborao prpria com base no Decreto n
o
1.756, de 22 de dezembro
de 1995.
rgos de deliberao coletiva
- Conselho de Poltica Externa
- Comisso de Promoes
rgos no exterior
- Misses diplomticas permanentes
- Reparties consulares
- Unidades especficas, destinadas a atividades
administrativas, tcnicas, culturais ou de
gesto de recursos financeiros
Unidades Descentralizadas
- Escritrios de Representao: Ererio,
Eresul, Erene
Departamento
Cultural
Departamento
da frica e Oriente
Prximo
Departamento
da sia e Oceania
Departamento de
Temas Especiais
Departamento
das Amricas
Departamento
da Europa
Departamento
de Direitos Humanos
e Temas Sociais
Departamento
de Organismos
Internacionais
Secretaria de
Planejamento Diplomtico
Gabinete
Subsecretaria-Geral
de
Assuntos Polticos
Subsecretaria-Geral de
Assuntos de Integrao,
Econmicos e de
Comrcio Exterior
Departamento de
Cooperao Cientfica,
Tcnica e Tecnolgica
Departamento
Econmico
Departamento de
Integrao
Latino-Americana
Departamento de
Promoo Comercial
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 225
Diviso de
Assistncia Consular
Diviso de Atos
Internacionais
Diviso
de Imigrao
Diviso Jurdica
Diviso
de Passaportes
Ministro de Estado
das Relaes
Exteriores
rgos setoriais
- Secretaria de Controle Interno
- Consultoria Jurdica
Entidade vinculada
Fundao Pblica
- Fundao Alexandre de Gusmo
Diretoria-Geral de
Assuntos Consulares,
Jurdicos e de Assistncia
a Brasileiros no Exterior
Instituto Rio Branco
Cerimonial
Corregedoria
do Servio Exterior
Gabinete
do Secretrio-Geral
Inspetoria-Geral
do Servio Exterior
Departamento do
Servio Exterior
Departamento de
Administrao
Departamento de
Comunicaes e
Documentao
Subsecretaria-Geral
do Servio Exterior
Secretaria-Geral
das Relaes
Exteriores
226 FERNANDA RAIS USHIJIMA
rgos de deliberao coletiva
- Conselho de Poltica Externa
- Comisso de Promoes
Unidades descentralizadas
- Escritrios de representao:
Ererio, Eresul, Erene, Eresp, MHD
- Comisses demarcadoras
de limites
rgos no exterior
- Misses diplomticas permanentes
- Reparties consulares
- Unidades especficas
Figura A3 Estrutura organizacional do Ministrio das Relaes Exte-
riores em 2000
Fonte: Elaborao prpria com base no Decreto n
o
3.414, de 14 de abril de
2000.
Gabinete
Secretaria de Planejamento
Diplomtico
Consultoria Jurdica
Departamento das
Amricas
Departamento
da Europa
Departamento
de Direitos Humanos
e Temas Sociais
Departamento
de Organismos
Internacionais
Departamento
da frica e
Oriente Prximo
Departamento
da sia e Oceania
Departamento
Cultural
Departamento de
Temas Especiais
Subsecretaria-Geral
de Assuntos de Integrao,
Econmicos e de
Comrcio Exterior
Subsecretaria-Geral
de
Assuntos Polticos
Departamento de
Cooperao Cientfica,
Tcnica e Tecnolgica
Departamento
Econmico
Departamento de
Integrao
Latino-Americana
Departamento de
Promoo Comercial
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 227
Ministro de Estado
das Relaes
Exteriores
Diviso de
Assistncia Consular
Diviso de Atos
Internacionais
Diviso de Imigrao
Diviso Jurdica
Diviso de
Passaportes
Secretaria-Geral
das Relaes
Exteriores
rgo setorial
- Secretaria de Controle Interno
Entidade vinculada
Fundao Pblica
- Fundao Alexandre de Gusmo
Departamento do
Servio Exterior
Departamento de
Administrao
Departamento de
Comunicaes
e Documentao
Subsecretaria-Geral
do Servio Exterior
Gabinete do Secretrio-
-Geral
Corregedoria do Servio
Exterior
Cerimonial
Inspetoria-Geral
do Servio Exterior
Instituto Rio Branco
Agncia Brasileira
de Cooperao
Direo-Geral de
Assuntos Consulares,
Jurdicos e de Assistncia
a Brasileiros no Exterior
228 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Figura A4 Estrutura organizacional do Minis-
trio das Relaes Exteriores em 2004
Fonte: Elaborao prpria com base no Decreto n
o
5.032, de 5 de abril de 2004.
Departamento
de Organismos
Internacionais
Departamento de
Direitos Humanos
e Temas Sociais
Departamento
da Europa
Departamento das
Amricas do Norte,
Central e Caribe
Depto. de Meio
Ambiente e
Temas Especiais
Departamento
da sia e Oceania
Departamento
do Oriente Mdio
e sia Central
Departamento
da frica
rgos de deliberao coletiva
- Conselho de Poltica Externa
- Comisso de Promoes
Unidades descentralizadas
- Escritrios de representao: Ererio,
Eresul, Erene, Eresp, Erepar, Eresc,
Ereminas, Erenor
- Comisses demarcadoras de limites
rgos no exterior
- Misses diplomticas permanentes
- Reparties consulares
- Unidades especficas
Agncia Brasileira
de Cooperao
Cerimonial
Corregedoria do Servio Exterior
Gabinete do Secretrio-Geral
Consultoria Jurdica
Assessoria Especial de Assuntos
Federativos e Parlamentares
Secretaria de Planejamento
Diplomtico
Gabinete
Coordenao-Geral de
Acompanhamento de Projetos e
de Planejamento Administrativo
Coordenao-Geral de
Cooperao Tcnica
Recebida Bilateral
Coordenao-Geral de
Comunicao e Informao
Coordenao-Geral de
Cooperao Tcnica entre
Pases em Desenvolvimento
Coordenao-Geral de
Cooperao Tcnica no
mbito Federativo
Coordenao-Geral de
Planejamento Estratgico
da Cooperao
Coordenao-Geral de
Cooperao Tcnica
Recebida Multilateral
Departamento
de Negociaes
Internacionais
Departamento
da Integrao
Departamento da
Amrica do Sul
Subsecretaria-
-Geral da Amrica
do Sul
Departamento
Econmico
Departamento
de Temas
Tecnolgicos
Subsecretaria-
-Geral de Assuntos
Econmicos e
Tecnolgicos
Subsecretaria-
-Geral Poltica
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 229
Departamento do
Servio Exterior
Departamento de
Administrao
Departamento de
Comunicaes e
Documentao
Subsecretaria-
-Geral do Servio
Exterior
Departamento
de Promoo
Comercial
Instituto Rio Branco
Inspetoria-Geral
do Servio Exterior
Entidade vinculada
Fundao Pblica
- Fundao Alexandre de Gusmo
rgo setorial
- Secretaria de Controle Interno
Departamento
das Comunidades
Brasileiras no Exterior
Gabinete
Subsecretaria-Geral
de Cooperao e
Comunidades Brasileiras
no Exterior
Coordenao de
Divulgao
Diviso de Acordos e Assuntos
Multilaterais Culturais
Diviso de Operaes
de Difuso Cultural
Diviso de Promoo da
Lngua Portuguesa
Diviso de Temas
Educacionais
Diviso de
Informao Comercial
Diviso de Operaes
de Promoo Comercial
Diviso de Programas
de Promoo Comercial
Diviso de
Feiras e Turismo
Departamento
Cultural
Diviso de Atos
Internacionais
Diviso de Passaportes
Diviso Jurdica
Diviso de Assistncia
Consular
Diviso de Imigrao
Ministro de Estado
das Relaes Exteriores
Secretaria-Geral
das Relaes Exteriores
230 FERNANDA RAIS USHIJIMA
rgos de deliberao coletiva
- Conselho de Poltica Externa
- Comisso de Promoes
Unidades descentralizadas
- Escritrios de representao: Ererio,
Eresul, Erene, Eresp, Erepar, Eresc,
Ereminas, Erenor, Erebahia
- Comisses demarcadoras de limites
rgos no exterior
- Misses diplomticas permanentes
- Reparties consulares
- Unidades especficas
Figura A5 Estrutura organizacional do Ministrio das Relaes Exte-
riores em 2006
Fonte: Elaborao prpria com base no Decreto n
o
5.979, de 6 de dezembro de
2006.
Departamento de
Energia
Depto. de Meio
Ambiente e Temas
Especiais
Departamento
de Organismos
Internacionais
Departamento de
Direitos Humanos
e Temas Sociais
Departamento
da Europa
Subsecretaria-Geral
Poltica I
Departamento
da sia e Oceania
Departamento do
Oriente Mdio e
sia Central
Departamento
da frica
Subsecretaria-
-Geral Poltica II
Departamento de
Negociaes
Internacionais
Departamento
da Integrao
Departamento do
Mxico, Amrica
Central e Caribe
Departamento da
Amrica do Sul
Subsecretaria-Geral
da Amrica
do Sul
Departamento de
Temas Cientficos e
Tecnolgicos
Departamento
Econmico
Subsecretaria-Geral
de Assuntos
Econmicos e
Tecnolgicos
Gabinete
Assessoria de Imprensa
Assessoria Especial de Assuntos
Federativos e Parlamentares
Gabinete do Secretrio-Geral
Corregedoria do Servio Exterior
Cerimonial
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 231
Inspetoria-Geral
do Servio Exterior
Instituto Rio Branco
Departamento
de Estrangeiros
Departamento
das Comunidades
Brasileiras
no Exterior
Subsecretaria-Geral
das Comunidades
Brasileiras
no Exterior
Gabinete
Diviso de Documentos
de Viagem
Diviso das Comunidades
Brasileiras no Exterior
Diviso de Imigrao
Diviso de Atos
Internacionais
Diviso Jurdica
Subsecretaria-Geral
do Servio Exterior
Departamento de
Comunicaes e
Documentao
Departamento de
Administrao
Departamento do
Servio Exterior
Departamento
Cultural
Agncia Brasileira
de Cooperao
Departamento de
Promoo Comercial
Subsecretaria-Geral
de Cooperao e
Promoo Comercial
Entidade vinculada
Fundao Pblica
- Fundao Alexandre de Gusmo
rgo setorial
- Secretaria de Controle Interno
Secretaria-Geral
das Relaes
Exteriores
Secretaria de Planejamento
Diplomtico
Consultoria Jurdica
Ministro de Estado
das Relaes
Exteriores
232 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Cerimonial
Corregedoria do Servio Exterior
Gabinete do Secretrio--Geral
Assessoria Especial de Assuntos
Federativos e Parlamentares
Gabinete
Assessoria de Imprensa do
Gabinete
Figura A6 Estrutura organizacional do Ministrio das Relaes Exte-
riores em 2010
Fonte: Elaborao prpria com base no Decreto n
o
7.304, de 22 de setembro de
2010.
Subsecretaria-
-Geral de
Assuntos
Econmicos e
Financeiros
Departamento
de Negociaes
Internacionais
Departamento
Econmico
Departamento
de Assuntos
Financeiros e
Servios
Subsecretaria-
-Geral da Amrica
do Sul, Central e
do Caribe
Departamento
da Amrica
do Sul I
Departamento
da Amrica
do Sul II
Departamento
da Aladi e
Integrao
Econmica
Regional
Departamento
do Mercosul
Departamento
da Amrica
Central e Caribe
Departamento
do Oriente
Mdio
Departamento
da frica
Subsecretaria-
-Geral Poltica III
Departamento
da sia Central,
Meridional e
Oceania
Departamento
da sia do Leste
Departamento
de Mecanismos
Inter-regionais
Subsecretaria-
-Geral Poltica II
Subsecretaria-
-Geral Poltica I
Departamento
da Europa
Departamento
de Direitos
Humanos e
Temas Sociais
Departamento
de Organismos
Internacionais
Departamento
de Meio
Ambiente e
Temas Especiais
Departamento
dos EUA, Canad
e Assuntos
Interamericanos
Unidades descentralizadas
- Escritrios de representao: Ererio,
Eresul, Erene, Eresp, Erepar, Eresc,
Ereminas, Erenor, Erebahia
- Comisses demarcadoras de limites
rgos no exterior
- Misses diplomticas permanentes
- Reparties consulares
- Unidades especficas
rgos de deliberao coletiva
- Conselho de Poltica Externa
- Comisso de Promoes
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 233
Instituto Rio Branco
Inspetoria-Geral
do Servio Exterior
Entidade vinculada
Fundao Pblica
- Fundao Alexandre de Gusmo
Secretaria de Controle Interno
Consultoria Jurdica
Secretaria de Planejamento
Diplomtico
Ministro de Estado
das Relaes
Exteriores
Secretaria-Geral
das Relaes
Exteriores
Subsecretaria-
-Geral das
Comunidades
Brasileiras no
Exterior
Diviso das
Comunidades
Brasileiras no Exterior
Diviso de
Assistncia Consular
Diviso de
Documentos
de Viagem
Diviso de
Cooperao Jurdica
Internacional
Diviso de Atos
Internacionais
Diviso de Imigrao
Gabinete
Coordenao-Geral
de Planejamento e
Integrao Consular
Ouvidoria Consular
Departamento
de Comunicaes
e Documentao
Subsecretaria-
-Geral do Servio
Exterior
Departamento
de Administrao
Departamento
do Servio
Exterior
Departamento
Cultural
Agncia Brasileira
de Cooperao
Departamento
de Promoo
Comercial
e Investimento
Subsecretaria -Geral
de Cooperao,
Cultura e Promoo
Comercial
Departamento
de Energia
Departamento
de Temas
Cientficos e
Tecnolgicos
Subsecretaria-
-Geral de
Energia e Alta
Tecnologia
Departamento
de Imigrao e
Assuntos
Jurdicos
Departamento
Consular e de
Brasileiros no
Exterior
APNDICE B
ESTIMATIVA DE
BRASILEIROS NO EXTERIOR
(2008 E 2010)
Tabela B1 Estimativa de brasileiros na Amrica do Norte
2008 2010
Pas/
territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/
TT
%
E1/E2
Canad 26.300 1,98 0,86 30.146 2,10 0,97 14,62
Estados
Unidos
1.280.000 96,60 42,09 1.388.000 96,85 44,45 8,44
Mxico 18.800 1,42 0,62 15.000 1,05 0,48 20,21
(T) Total
Amrica do
Norte
1.325.100 100,00 43,57 1.433.146 100,00 45,89 8,15
(TT) Total
Mundo
3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
236 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela B2 Estimativa de brasileiros na Amrica do Sul
2008 2010
Pas/territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/TT
%
E1/E2
Argentina 49.500 9,63 1,63 37.100 9,12 1,19 25,05
Bolvia 23.800 4,63 0,78 50.100 12,31 1,60 110,50
Chile 9.200 1,79 0,30 10.600 2,60 0,34 15,22
Colmbia 1.800 0,35 0,06 2.168 0,53 0,07 20,44
Equador 800 0,16 0,03 1.800 0,44 0,06 125,00
Guiana 5.000 0,97 0,16 7.500 1,84 0,24 50,00
Guiana Francesa 19.000 3,70 0,62 18.000 4,42 0,58 5,26
Paraguai 300.000 58,39 9,87 200.000 49,15 6,40 33,33
Peru 4.500 0,88 0,15 3.520 0,87 0,11 21,78
Suriname 20.000 3,89 0,66 20.000 4,91 0,64 0,00
Uruguai 32.200 6,27 1,06 30.135 7,41 0,96 6,41
Venezuela 48.000 9,34 1,58 26.000 6,39 0,83 45,83
(T) Total
Amrica do Sul
513.800 100,00 16,90 406.923 100,00 13,03 20,80
(TT) Total
Mundo
3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 237
Tabela B3 Estimativa de brasileiros na Amrica Central
2008 2010
Pas/
territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/TT
%
E1/E2
Antgua e
Barbuda
8 0,16 0,00 8 0,12 0,00 0,00
Bahamas 250 4,96 0,01 100 1,47 0,00 60,00
Barbados 37 0,73 0,00 50 0,73 0,00 35,14
Belize 48 0,95 0,00 47 0,69 0,00 2,08
Costa Rica 226 4,49 0,01 1.250 18,33 0,04 453,10
Cuba 1.000 19,85 0,03 750 11,00 0,02 25,00
El Salvador 375 7,44 0,01 350 5,13 0,01 6,67
Guatemala 380 7,54 0,01 425 6,23 0,01 11,84
Haiti 70 1,39 0,00 70 1,03 0,00 0,00
Honduras 500 9,93 0,02 396 5,81 0,01 20,80
Jamaica e
Ilhas Caim
150 2,98 0,00 160 2,35 0,01 6,67
Nicargua 220 4,37 0,01 284 4,16 0,01 29,09
Panam 811 16,10 0,03 2.000 29,32 0,06 146,61
Repblica
Dominicana
750 14,89 0,02 820 12,02 0,03 9,33
Santa Lcia 9 0,18 0,00 10 0,15 0,00 11,11
Trinidad e
Tobago
203 4,03 0,01 101 1,48 0,00 50,25
(T) Total
Amrica
Central
5.037 100,00 0,17 6.821 100,00 0,22 35,42
(TT) Total
Mundo
3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
238 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela B4 Estimativa de brasileiros na Europa
2008 2010
Pas/territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/TT
%
E1/E2
Alemanha 89.000 10,90 2,93 91.087 9,99 2,92 2,34
ustria 3.000 0,37 0,10 4.413 0,48 0,14 47,10
Blgica 42.000 5,15 1,38 60.000 6,58 1,92 42,86
Bulgria 70 0,01 0,00 60 0,01 0,00 14,29
Crocia 170 0,02 0,01 200 0,02 0,01 17,65
Dinamarca 3.000 0,37 0,10 2.500 0,27 0,08 16,67
Eslovnia 32 0,00 0,00 72 0,01 0,00 125,00
Espanha 125.000 15,31 4,11 158.761 17,41 5,08 27,01
Finlndia 508 0,06 0,02 550 0,06 0,02 8,27
Frana 60.000 7,35 1,97 80.010 8,77 2,56 33,35
Grcia 5.100 0,62 0,17 3.000 0,33 0,10 41,18
Holanda 17.600 2,16 0,58 20.426 2,24 0,65 16,06
Hungria 230 0,03 0,01 400 0,04 0,01 73,91
Irlanda 15.000 1,84 0,49 18.000 1,97 0,58 20,00
Itlia 70.000 8,58 2,30 85.000 9,32 2,72 21,43
Noruega 4.100 0,50 0,13 5.542 0,61 0,18 35,17
Polnia 336 0,04 0,01 380 0,04 0,01 13,10
Portugal 137.600 16,86 4,52 136.220 14,94 4,36 1,00
Reino Unido 180.000 22,05 5,92 180.000 19,74 5,76 0,00
Repblica Tcheca 347 0,04 0,01 460 0,05 0,01 32,56
Repblica da
Eslovquia
102 0,01 0,00
Romnia 110 0,01 0,00 141 0,02 0,00 28,18
Rssia 400 0,05 0,01 400 0,04 0,01 0,00
Srvia 60 0,01 0,00 108 0,01 0,00 80,00
Sucia 5.000 0,61 0,16 6.462 0,71 0,21 29,24
Sua 57.500 7,04 1,89 57.500 6,31 1,84 0,00
Ucrnia 80 0,01 0,00 85 0,01 0,00 6,25
Vaticano 14 0,00 0,00 10 0,00 0,00 28,57
(T) Total
Europa
816.257 100,00 26,84 911.889 100,00 29,20 11,72
(TT) Total Mundo 3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 239
Tabela B5 Estimativa de brasileiros na frica
2008 2010
Pas/territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/TT
%
E1/E2
frica do Sul 1.160 3,15 0,04 1.170 4,06 0,04 0,86
Angola 30.000 81,41 0,99 20.000 69,39 0,64 33,33
Arglia 36 0,10 0,00 71 0,25 0,00 97,22
Benin 8 0,02 0,00 13 0,05 0,00 62,50
Botswana 26 0,07 0,00 29 0,10 0,00 11,54
Burkina Faso 30 0,10 0,00
Cabo Verde 350 0,95 0,01 350 1,21 0,01 0,00
Camares 50 0,14 0,00 80 0,28 0,00 60,00
Costa do Marfim 180 0,49 0,01 12 0,04 0,00 93,33
Egito 362 0,98 0,01 350 1,21 0,01 3,31
Etipia 26 0,07 0,00 19 0,07 0,00 26,92
Gabo 65 0,18 0,00 70 0,24 0,00 7,69
Gana 20 0,05 0,00 28 0,10 0,00 40,00
Guin 40 0,11 0,00 52 0,18 0,00 30,00
Guin Bissau 300 0,81 0,01 354 1,23 0,01 18,00
Guin Equatorial 100 0,27 0,00 228 0,79 0,01 128,00
Lbia 300 0,81 0,01 1 0,00 0,00 99,67
Mali 28 0,10 0,00
Marrocos 110 0,30 0,00 151 0,52 0,00 37,27
Moambique 2.700 7,33 0,09 3.500 12,14 0,11 29,63
Nambia 51 0,14 0,00 115 0,40 0,00 125,49
Nigria 312 0,85 0,01 1.212 4,20 0,04 288,46
Qunia 130 0,35 0,00 110 0,38 0,00 15,38
Repblica D.
Congo
80 0,22 0,00 168 0,58 0,01 110,00
Repblica do
Congo
150 0,52 0,00
So Tom e
Prncipe
30 0,08 0,00 45 0,16 0,00 50,00
Senegal 220 0,60 0,01 270 0,94 0,01 22,73
Sudo 6 0,02 0,00 24 0,08 0,00 300,00
Tanznia 30 0,08 0,00 70 0,24 0,00 133,33
Togo 15 0,04 0,00 25 0,09 0,00 66,67
Tunsia 47 0,13 0,00 50 0,17 0,00 6,38
Zmbia 69 0,19 0,00 49 0,17 0,00 28,99
Zimbabue 29 0,08 0,00 0 0,00 0,00 100,00
(T) Total frica 36.852 100,00 1,21 28.824 100,00 0,92 21,78
(TT) Total
Mundo
3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
240 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela B6 Estimativa de brasileiros no Oriente Mdio
2008 2010
Pas/territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/TT
%
E1/E2
Arbia Saudita 686 2,15 0,02 500 1,23 0,02 27,11
Armnia 8 0,03 0,00 21 0,05 0,00 162,50
Catar 500 1,57 0,02 670 1,65 0,02 34,00
Emirados
rabes
1.200 3,76 0,04 2.300 5,67 0,07 91,67
Ir 86 0,27 0,00 190 0,47 0,01 120,93
Iraque 11 0,03 0,00 15 0,04 0,00 36,36
Israel 20.000 62,72 0,66 20.000 49,28 0,64 0,00
Jordnia 1.300 4,08 0,04 1.300 3,20 0,04 0,00
Kuaite 290 0,91 0,01 650 1,60 0,02 124,14
Lbano 5.000 15,68 0,16 7.300 17,99 0,23 46,00
Om 150 0,37 0,00
Sria 2.480 7,78 0,08 3.090 7,61 0,10 24,60
Territrios
Palestinos
4.000 9,86 0,13
Turquia 329 1,03 0,01 402 0,99 0,01 22,19
(T) Total
Oriente Mdio
31.890 100,00 1,05 40.588 100,00 1,30 27,28
(TT) Total
Mundo
3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 241
Tabela B7 Estimativa de brasileiros na sia
2008 2010
Pas/territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/TT
%
E1/E2
Azerbaijo 35 0,01 0,00
Cazaquisto 30 0,01 0,00 10 0,00 0,00 66,67
China 5.700 1,97 0,19 6.303 2,61 0,20 10,58
Cingapura 640 0,22 0,02 900 0,37 0,03 40,63
Coreia do Sul 518 0,18 0,02 1.248 0,52 0,04 140,93
Filipinas 300 0,10 0,01 300 0,12 0,01 0,00
ndia 704 0,24 0,02 450 0,19 0,01 36,08
Indonsia 220 0,08 0,01 150 0,06 0,00 31,82
Japo 280.000 96,70 9,21 230.552 95,42 7,38 17,66
Malsia e Brunei 200 0,07 0,01 202 0,08 0,01 1,00
Paquisto 15 0,01 0,00 18 0,01 0,00 20,00
Sri Lanka e
Maldivas
26 0,01 0,00 0 0,00 0,00 100,00
Tailndia 200 0,07 0,01 500 0,21 0,02 150,00
Taiwan (China) 650 0,22 0,02 600 0,25 0,02 7,69
Timor-Leste 315 0,11 0,01 300 0,12 0,01 4,76
Vietn 39 0,01 0,00 40 0,02 0,00 2,56
(T) Total sia 289.557 100,00 9,52 241.608 100,00 7,74 16,56
(TT) Total Mundo 3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
242 FERNANDA RAIS USHIJIMA
Tabela B8 Estimativa de brasileiros na Oceania
2008 2010
Pas/territrio
Estimativas
(E1)
%
E1/T
%
E1/TT
Estimativas
(E2)
%
E2/T
%
E2/TT
%
E1/E2
Austrlia 18.400 81,78 0,61 45.300 85,45 1,45 146,20
Nova Zelndia 4.100 18,22 0,13 7.714 14,55 0,25 88,15
(T) Total
Oceania
22.500 100,00 0,74 53.014 100,00 1,70 135,62
(TT) Total
Mundo
3.040.993 3.122.813 2,69
Fonte: Compilao de dados do Ministrio das Relaes Exteriores (2009;
2011).
ANEXOS
ANEXO I
CONVENO DE VIENA SOBRE
RELAES CONSULARES DE 1963
(ARTIGO 5
O
)
Artigo 5
o
Funes consulares
As funes consulares consistem em:
a) proteger, no Estado receptor, os interesses do Estado que
envia e de seus nacionais, pessoas fsicas ou jurdicas, dentro
dos limites permitidos pelo direito internacional;
b) fomentar o desenvolvimento das relaes comerciais, eco-
nmicas, culturais e cientficas entre o Estado que envia o
Estado receptor e promover ainda relaes amistosas entre
eles, de conformidade com as disposies da presente Con-
veno;
c) informar-se, por todos os meios lcitos, das condies e da
evoluo da vida comercial, econmica, cultural e cientfica
do Estado receptor, informar a respeito o governo do Es-
tado que envia e fornecer dados s pessoas interessadas;
d) expedir passaporte e documentos de viagem aos nacionais
do Estado que envia, bem como visto e documentos apro-
priados s pessoas que desejarem viajar para o referido Es-
tado;
246 FERNANDA RAIS USHIJIMA
e) prestar ajuda e assistncia aos nacionais, pessoas fsicas ou
jurdicas, do Estado que envia;
f) agir na qualidade de notrio e oficial de registro civil,
exercer funes similares, assim como outras de carter ad-
ministrativo, sempre que no contrariem as leis e regula-
mentos do Estado receptor;
g) resguardar, de acordo com as leis e regulamentos do Estado
receptor, os interesses dos nacionais do Estado que envia,
pessoas fsicas ou jurdicas, nos casos de sucesso por morte
verificada no territrio do Estado receptor;
h) resguardar, nos limites fixados pelas leis e regulamentos do
Estado receptor, os interesses dos menores e dos incapazes,
nacionais do pas que envia, particularmente quando para
eles for requerida a instituio de tutela ou curatela;
i) representar os nacionais do pas que envia e tomar as medidas
convenientes para sua representao perante os tribunais e
outras autoridades do Estado receptor, de conformidade
com a prtica e os procedimentos em vigor neste ltimo, vi-
sando conseguir, de acordo com as leis e regulamentos do
mesmo, a adoo de medidas provisrias para a salvaguarda
dos direitos e interesses destes nacionais, quando, por es-
tarem ausentes ou por qualquer outra causa, no possam os
mesmos defend-los em tempo til;
j) comunicar decises judiciais e extrajudiciais e executar co-
misses rogatrias de conformidade com os acordos inter-
nacionais em vigor, ou, em sua falta, de qualquer outra
maneira compatvel com as leis e regulamentos do Estado
receptor;
k) exercer, de conformidade com as leis e regulamentos do Es-
tado que envia, os direitos de controle e de inspeo sobre as
embarcaes que tenham a nacionalidade do Estado que
envia, e sobre as aeronaves nele matriculadas, bem como
sobre suas tripulaes;
l) prestar assistncia s embarcaes e aeronaves a que se re-
fere a alnea k do presente artigo e tambm s tripulaes;
A POLTICA EXTERNA BRASILEIRA 247
receber as declaraes sobre as viagens dessas embarcaes
examinar e visar os documentos de bordo e, sem prejuzo
dos poderes das autoridades do Estado receptor, abrir in-
quritos sobre os incidentes ocorridos durante a travessia e
resolver todo tipo de litgio que possa surgir entre o capito,
os oficiais e os marinheiros, sempre que autorizado pelas
leis e regulamentos do Estado que envia;
m) exercer todas as demais funes confiadas repartio con-
sular pelo Estado que envia, as quais no sejam proibidas
pelas leis e regulamentos do Estado receptor, ou s quais
este no se oponha, ou ainda as que lhe sejam atribudas
pelos acordos internacionais em vigor entre o Estado que
envia e o Estado receptor.
ANEXO II
CONSTITUIO DA REPBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
(ARTIGO 12)
Captulo III
Da nacionalidade
Artigo 12 So brasileiros:
I natos:
a) os nascidos na Repblica Federativa do Brasil, ainda que de
pais estrangeiros, desde que estes no estejam a servio de seu
pas;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou me brasi-
leira, desde que qualquer deles esteja a servio da Repblica
Federativa do Brasil;
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de me brasi-
leira, desde que sejam registrados em repartio brasileira
competente ou venham a residir na Repblica Federativa
do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira;
[...]
4
o
Ser declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
I tiver cancelada sua naturalizao, por sentena judicial,
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
250 FERNANDA RAIS USHIJIMA
II adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originria pela
lei estrangeira;
b) de imposio de naturalizao, pela norma estran-
geira, ao brasileiro residente em estado estrangei ro,
como condio para permanncia em seu territrio
ou para o exerccio de direitos civis.
SOBRE O LIVRO
Formato: 14 x 21 cm
Mancha: 23, 7 x 42,10 paicas
Tipologia: Horley Old Style 10,5/14
2012
EQUIPE DE REALIZAO
Coordenao Geral
Tulio Kawata
Você também pode gostar
- Fichamento Capítulo 5 Social Theory of International Politics - Alexander WendtDocumento6 páginasFichamento Capítulo 5 Social Theory of International Politics - Alexander WendtVictor TeodoroAinda não há avaliações
- CienTic5 - M1 Biodiversidade VegetalDocumento13 páginasCienTic5 - M1 Biodiversidade Vegetaltiago9andre-1Ainda não há avaliações
- Pedro Feliú, Mariana Kato e Gary Rainer - Mercado de Trabalho e Relações Internacionais No Brasil PDFDocumento9 páginasPedro Feliú, Mariana Kato e Gary Rainer - Mercado de Trabalho e Relações Internacionais No Brasil PDFVictor TeodoroAinda não há avaliações
- Faces Da Desigualdade No Brasil Online 2018Documento80 páginasFaces Da Desigualdade No Brasil Online 2018Victor TeodoroAinda não há avaliações
- Resumo Nuestra América - José MartíDocumento2 páginasResumo Nuestra América - José MartíVictor TeodoroAinda não há avaliações
- As Bem AventurançasDocumento3 páginasAs Bem Aventurançasnadiaraquel_97Ainda não há avaliações
- 04 Conceito de Estruturas de Concreto, Aço e de MadeiraDocumento6 páginas04 Conceito de Estruturas de Concreto, Aço e de MadeiraRafael Ramos Pereira da SilvaAinda não há avaliações
- Inquérito PolicialDocumento38 páginasInquérito PolicialisleyfrAinda não há avaliações
- Acesso A Justica - Conpedi 2014Documento550 páginasAcesso A Justica - Conpedi 2014xxL ' Gisele100% (1)
- Fispq Gel DecapanteDocumento8 páginasFispq Gel DecapanteJeandra Monfardini Bosi100% (1)
- Igreja Entre Aspas - Depoimento QuintaniDocumento5 páginasIgreja Entre Aspas - Depoimento QuintaniTuco EggAinda não há avaliações
- CV ThiagoDocumento3 páginasCV ThiagoThiago PãozimAinda não há avaliações
- A Casa Amarela - Sarah M. BroomDocumento370 páginasA Casa Amarela - Sarah M. BroomMicheleVazPradellaAinda não há avaliações
- Música de GabaritoDocumento3 páginasMúsica de GabaritoRobson FirminoAinda não há avaliações
- Manual Plano Negocios 2007 2Documento8 páginasManual Plano Negocios 2007 2Fabio LobatoAinda não há avaliações
- Salmos 16Documento3 páginasSalmos 16guiramossensAinda não há avaliações
- Slide Do EnxofreDocumento18 páginasSlide Do Enxofreeliardo_viniciusAinda não há avaliações
- Estudo Célula #15 - Pensando em DesistirDocumento2 páginasEstudo Célula #15 - Pensando em DesistirRomildo MaricauaAinda não há avaliações
- Literacia FinanceiraDocumento16 páginasLiteracia FinanceiraRui MoraisAinda não há avaliações
- Laudo AWWA C210-03Documento3 páginasLaudo AWWA C210-03Thi MontrezolAinda não há avaliações
- Livro Nos Caminhos Da Dupla ConsciênciaDocumento212 páginasLivro Nos Caminhos Da Dupla ConsciênciaBruno SimõesAinda não há avaliações
- Faculdade Sete Lagoas - FacseteDocumento21 páginasFaculdade Sete Lagoas - FacseteDaniel FariaAinda não há avaliações
- GIOVANNI TrabalhoPropostoDocumento6 páginasGIOVANNI TrabalhoPropostoGuilherme SilvaAinda não há avaliações
- SODRU - SST - PR - CORP - 007 - Diretrizes de Segurança para Empresas Contratadas Rev 02Documento4 páginasSODRU - SST - PR - CORP - 007 - Diretrizes de Segurança para Empresas Contratadas Rev 02Mario CamiloAinda não há avaliações
- Vitrine 10.2020 TupperwareShowDocumento38 páginasVitrine 10.2020 TupperwareShowTupperware ShowAinda não há avaliações
- A Carta ArgumentativaDocumento6 páginasA Carta ArgumentativaRubens MMaiaAinda não há avaliações
- Aula de ProtoboardDocumento16 páginasAula de ProtoboardDaniel CavalcanteAinda não há avaliações
- Catalogo DpsDocumento16 páginasCatalogo DpsLuis Carlos ChomieniukAinda não há avaliações
- Artigo Qualidade Do SonoDocumento6 páginasArtigo Qualidade Do SonoGustavoguitarAinda não há avaliações
- 664202cf6b16833138be3a9b Correios Pac Seguro AdicionalDocumento2 páginas664202cf6b16833138be3a9b Correios Pac Seguro AdicionalsatsukinhosmiauAinda não há avaliações
- Chamada Tutores Foco 2022Documento7 páginasChamada Tutores Foco 2022Erivaldo SalesAinda não há avaliações
- Cartilhaa4 PDFDocumento24 páginasCartilhaa4 PDFRober SilvaAinda não há avaliações
- Doenca Falciforme FOLDERDocumento2 páginasDoenca Falciforme FOLDERthaybvAinda não há avaliações
- Subsídios Memoriais para A História Do Pinhal: Os JudeusDocumento52 páginasSubsídios Memoriais para A História Do Pinhal: Os JudeusRejan Flores da CostaAinda não há avaliações