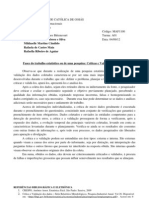Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Guia TCC
Guia TCC
Enviado por
Josue AlfaiaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Guia TCC
Guia TCC
Enviado por
Josue AlfaiaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
D O A B H
R N
I A
R S
A I
L
M
GUIA PARA ELABORAO DE
TCC/MONOGRAFIA
-GEM-
DPC
MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
CENTRO DE INSTRUO ALMIRANTE GRAA ARANHA
SUPERINTENDNCIA DE ENSINO
2 REVISO
Rio de Janeiro
2013
CIAGA
COORDENAO DE
MONOGRAFIAS
CENTRO DE INSTRUO ALMIRANTE GRAA ARANHA
41 Anos Formando, Aperfeioando, Atualizando
e Adestrando Aquavirios.
MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
CENTRO DE INSTRUO ALMIRANTE GRAA ARANHA
SUPERINTENDNCIA DE ENSINO
COORDENAO DE
MONOGRAFIAS
GUIA PARA ELABORAO DE
TCC/MONOGRAFIA
-GEM-
2 REVISO
Rio de J aneiro
2013
Ficha tcnica:
Reviso Pedaggica:
Pedagoga Eurdice Ribeiro Freire
Reviso Ortogrfica:
Professor Luiz Fernando da Silva
Diagramao:
Primeiro-Tenente (RM2-T) Raquel da Costa Apolaro
Pedagoga Eurdice Ribeiro Freire
Tcnico Audiovisual Charmene de Oliveira Ferreira
Responsvel Grfico:
Diviso de Recursos Grficos (DRG)
Coordenao e reviso geral:
Primeiro-Tenente (RM2-T) Raquel da Costa Apolaro
SUMRIO
ATO DE APROVAO
INTRODUO DA 1 REVISO...........................................................................................5
INTRODUO DA 2 REVISO...........................................................................................6
1 GUIA PARA ELABORAO DE TCC/MONOGRAFIA...............................................7
1.1 Trabalho de concluso de curso (TCC) ..........................................................................7
1.2 Etapas da redao.............................................................................................................7
1.2.1 seleo do tema..............................................................................................................7
1.2.2 delimitao do campo de abordagem............................................................................8
1.2.3 elaborao de um esboo preliminar e de um plano de trabalho...................................8
1.2.4 busca das fontes de consulta e coleta de dados.............................................................9
1.2.5 leitura do material coletado e anotaes........................................................................9
1.2.6 elaborao de um esboo preliminar do TCC/monografia..........................................10
1.2.7 redao preliminar da monografia...............................................................................10
1.2.8 reviso..........................................................................................................................10
1.3 Partes componentes do documento...............................................................................11
2 COMPOSIO ESCRITA ................................................................................................14
2.1 Consideraes gerais ......................................................................................................14
2.2 Formas de composio ...................................................................................................14
2.2.1 narrao.......................................................................................................................14
2.2.2 descrio......................................................................................................................16
2.2.3 dissertao...................................................................................................................17
2.3 Um recurso estilstico: o presente histrico..................................................................18
3 ESTRUTURA DA COMPOSIO ESCRITA................................................................20
3.1 O pargrafo.....................................................................................................................20
3.2 Organizao do raciocnio .............................................................................................22
3.3 Mecanismos de coeso do texto .................................................................................... 22
3.3.1 pronomes.....................................................................................................................23
3.3.2 artigo definido..............................................................................................................24
3.3.3 advrbios......................................................................................................................25
3.3.4 lxico...........................................................................................................................25
3.3.5 elipse............................................................................................................................26
4 VIRTUDES E VCIOS DA LINGUAGEM......................................................................28
4.1 Introduo.......................................................................................................................28
4.2 Correo ..........................................................................................................................28
4.3 Clareza.............................................................................................................................29
4.4 Conciso...........................................................................................................................31
4.5 Harmonia.........................................................................................................................33
5 NORMALIZAO GRFICA E BIBLIOGRFICA PARA O
TCC/MONOGRAFIA............................................................................................................35
5.1 Normalizao grfica ................................................................................. ...................35
5.2 Normas de apresentao ............................................................................ ...................35
5.2.1 margens................................................................................................... ...................35
5.2.2 caracteres................................................................................................ ...................35
5.2.3 posio de ttulos e formas de apresentao........................................... ...................36
5.2.4 numerao das partes do texto................................................................ ...................36
5.2.5 espaamento........................................................................................... ...................37
5.2.6 recuos...................................................................................................... ...................37
5.2.7 verso e anverso....................................................................................... ...................38
5.2.8 sumrio................................................................................................... ...................38
5.2.9 numerao das folhas............................................................................. ...................38
5.2.10 nmeros................................................................................................ ...................38
5.2.11 alinhamento dos nmeros..................................................................... ...................39
5.2.12 palavras sublinhadas............................................................................. ...................39
5.2.13 palavras em idioma estrangeiro................................................................................40
5.2.14 palavras usadas com sentido figurado e grias navais..............................................40
5.2.15 sigla...........................................................................................................................40
5.3 Normalizao bibliogrfica............................................................................................40
5.3.1 citao.........................................................................................................................40
5.3.2 tipos de citao...........................................................................................................40
5.3.3 notas de referncias....................................................................................................42
5.3.4 localizao das referncias..........................................................................................42
6 AVALIAO.......................................................................................................................44
6.1 Avaliao do trabalho de concluso de curso (TCC) .............................. ...................44
6.2 Aprovao........................................................................................................................44
7 DISPOSIES FINAIS......................................................................................................45
7.1 Utilizao das monografias dos alunos ..................................................... ...................45
7.2 Divulgao das monografias...................................................................... ...................45
ANEXOS
ANEXO A - MODELO EXEMPLO DE CAPA DE TCC/MPNPGRAFIA............. A-1
ANEXO B - MODELO EXEMPLO DE FOLHA DE ROSTO................................ B-1
ANEXO C - MODELO EXEMPLO DE FOLHA DE APROVAO.................... C-1
ANEXO D - MODELO EXEMPLO DE DEDICATRIA...................................... D-1
ANEXO E - MODELO EXEMPLO DE AGRADECIMENTOS............................ E-1
ANEXO F - MODELO EXEMPLO DE EPGRAFE.............................................. F-1
ANEXO G - MODELO EXEMPLO DE RESUMO................................................. G-1
ANEXO H - MODELO EXEMPLO DE ABSTRACT............................................... H-1
ANEXO I - MODELO EXEMPLO DE LISTA DE ILUSTRAES.................... I-1
ANEXO J - MODELO EXEMPLO DE LISTA DE TABELAS............................. J -1
ANEXO K - MODELO EXEMPLO DE SUMRIO............................................... K-1
ANEXO L - MODELO EXEMPLO DE INTRODUO....................................... L-1
ANEXO M - MODELO EXEMPLO DE PGINA DE TEXTO.............................. M-1
ANEXO N - MODELO EXEMPLO DE PGINA DE TEXTO.............................. N-1
ANEXO O - MODELO EXEMPLO DE REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS..... O-1
ANEXO P - MODELO EXEMPLO DE BIBLIOGRAFIA..................................... P-1
ANEXO Q - MODELO EXEMPLO DE GLOSSRIO........................................... Q-1
ANEXO R - FOLHA DE AVALIAO ESCRITA................................................ R-1
ATO DE APROVAO
APROVO, para emprego no Centro de Instruo Almirante Graa Aranha, a 2 reviso da
publicao GUIA PARA A ELABORAO DE TCC/MONOGRAFIAS.
Rio de J aneiro, RJ , em 18 de junho de 2013.
VICTOR CARDOSO GOMES
Contra-Almirante
Comandante
5
INTRODUO DA 1 REVISO
Este guia para elaborao de TCC/Monografias, de finalidade didtica, destina-se aos
alunos do Curso de Formao de Oficiais de Nutica (FONT) e Curso de Formao de
Oficiais de Mquinas (FOMQ) da Marinha Mercante do Centro de Instruo Almirante Graa
Aranha.
A publicao trata da composio escrita e sua estrutura, da observncia do padro
lingustico, da correo gramatical, clareza e conciso que so fundamentos essenciais para a
elaborao de qualquer redao tcnico-cientfica.
Alm desses fundamentos, destacam-se valores estticos, normas de apresentao,
metodologia, consideraes sobre planejamento, que, na realidade, constituem subsdios
valiosos para o preparo de TCC/Monografias.
Os diversos modelos-exemplos apresentados em Anexos visam oferecer orientaes
para a confeco dos trabalhos.
O TCC/Monografia trabalho de confeco obrigatria, conforme disposto na sinopse
dos Cursos, e apresentada, de forma escrita e oral, durante o 6 semestre do curso.
A presente publicao reproduz, em parte, o Manual Bsico de Redao EGN-215 e
observa os critrios estabelecidos pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT).
6
INTRODUO DA 2 REVISO
Esta reviso destina-se a atualizar o guia para elaborao de TCC/Monografias, de
finalidade didtica, destinado aos alunos do Curso de Formao de Oficiais de Nutica
(FONT) e Curso de Formao de Oficiais de Mquinas (FOMQ) da Marinha Mercante do
Centro de Instruo Almirante Graa Aranha.
As mudanas curriculares introduzidas pela DPC em decorrncia da necessidade de
adequao dos sumrios ao preconizado pela IMO (International Maritime Organization),
incluem o Programa de Leitura (PROLER), em que desde o 1 ano at o 3 ano o aluno
incentivado leitura com nfase em assuntos ligados a Marinha Mercante. Portanto, no 2 ano
quando comear a preparar a sua monografia, j ter uma melhor visualizao dos temas que
poder escolher para desenvolver.
Nesse sentido, foram:
- atualizadas as normalizaes para trabalhos acadmicos;
- atualizadas as regras de redao de forma a facilitar a consulta, no impedindo o
interesse pessoal do aluno em buscar outras referncias para aprimoramento;
- revistos os critrios de avaliao do orientador de forma a melhor valorizar a
pesquisa e o desenvolvimento dos temas; e
- adequados os modelos para disponibilizao na rede juntamente com este guia.
7
CAPTULO 1
GUIA PARA ELABORAO DE TCC/MONOGRAFIA
1.1 Trabalho de concluso de curso (TCC)
Em cumprimento ao currculo dos cursos FONT/FOMQ, ao trmino de seu curso, o
aluno da EFOMM dever apresentar seu TCC/Monografia.
A monografia recebe o nome de Trabalho de Concluso de Curso (TCC) quando, em
nvel de graduao, apresenta resultados de um trabalho de pesquisa ou investigao como
condio para a concluso do curso (METRING, 2011, p. 33).
Em se tratando de monografia, o tema abordado deve ser de interesse do aluno que
deve contemplar os objetivos do curso e deve ser feita sob a coordenao de um orientador.
Para cumprimento curricular, a monografia deve conter o mnimo de 20 e o mximo
de 30 pginas, excluindo os elementos pr-textuais assim como os anexos.
1.2 Etapas da redao
As principais etapas da redao so:
- Seleo do tema;
- Delimitao do campo de abordagem;
- Elaborao de um esboo preliminar e de um plano de trabalho;
- Busca das fontes de consulta e coleta de dados;
- Leitura do material coletado e anotaes;
- Elaborao de um esboo preliminar da monografia;
- Redao preliminar da monografia; e
- Reviso.
1.2.1 seleo do tema
A partir da relao de temas apresentados, o aluno poder escolher um assunto de
acordo com sua inclinao e interesse pessoal, levando-se em considerao a facilidade de
acesso de fontes de informao e seu conhecimento prvio sobre o mesmo. Sero aceitos
8
temas propostos pelos alunos, desde que haja professor/orientador que acompanhe a
elaborao do trabalho, assim como o assunto seja de interesse do Centro de Instruo.
1.2.2 delimitao do campo de abordagem
Do conjunto e abrangncia do assunto escolhido, o aluno escolhe aqueles que deseja
tratar, limitando a amplitude e a profundidade da monografia, desde que o trabalho se torne
realmente significativo.
1.2.3 elaborao de um esboo preliminar e de um plano de trabalho
O aluno deve iniciar as leituras, assinalando as reas que, por sua importncia, devam
merecer maior ateno. Dessa forma, o aluno ter uma ideia geral daquilo que espera
descobrir, assim como indicar a ordem mais conveniente para desenvolver o tema.
Posteriormente, o aluno ter condies de elaborar o esboo preliminar da monografia
que poder ser gradativamente aperfeioado no decorrer da pesquisa.
Exemplo de um esboo preliminar com alguns processos bsicos de diviso do tema:
Processo cronolgico: o tema dividido em perodos.
Tema: Evoluo do sistema poltico brasileiro
- O Imprio
- A Repblica Velha
- A Era Vargas
- A Repblica Populista
- O Sistema Atual
Processo dedutivo: estabelece uma diviso em que se parte do geral para o
particular/especfico.
Tema: Aspectos jurdicos da ampliao do mar territorial brasileiro
- A Lei do Mar
- As diversas posies
- A posio brasileira
9
Processo indutivo: parte do particular para o geral.
Tema: Os processos de tomada do poder pelo Comunismo
- O modelo russo
- O modelo chins
- O modelo cubano
Processo usual: o processo de compartimentao. O tema subdividido em setores que
abranjam aspectos e problemas de mesma natureza ou intimamente correlacionados que se
prestem ao estudo em conjunto.
Tema: A explorao dos recursos minerais da plataforma submarina brasileira por
companhias de capital estrangeiro
- Aspectos jurdicos
- Conseqncias polticas
- O interesse da segurana nacional
- Aspectos econmicos
1.2.4 busca das fontes de consulta e coleta de dados
Estabelecida a estrutura do trabalho, deve-se iniciar a busca das fontes de consulta nas
quais se imagina poder encontrar informaes pertinentes ao tema, organizando-se
concomitantemente uma bibliografia.
Para agilizar o processo o aluno deve aprender a descobrir, apenas pelos ndices,
prefcios, pargrafos iniciais, sumrios, etc as partes realmente interessantes de cada obra e
restringir sua leitura a essas partes.
1.2.5 leitura do material coletado e anotaes
Ao selecionar trabalhos j existentes sobre o assunto escolhido, o aluno deve
constantemente verificar se a fonte no est desatualizada, se no contm ideias
preconcebidas, se confirmada por outras obras de autores categorizados, ou seja, se digna
de confiana. Em especial quando pesquisando na internet, dar preferncia aos stios do
Governo e de empresas/autarquias de renome.
As anotaes em relao leitura do material coletado devem ser feitas de acordo com
o mtodo de trabalho do aluno.
10
1.2.6 elaborao de um esboo preliminar do TCC/monografia
Deve conter em cada diviso e subdiviso, as ideias mestras e as linhas principais de
raciocnio, indicando o caminho que dever ser percorrido nos processos de anlise e sntese
do trabalho.
1.2.7 redao preliminar da monografia
O aluno deve, inicialmente, redigir uma redao, de acordo com seus prprios
mtodos, escrevendo-a livremente do comeo ao fim. A seguir, deve-se rever o texto dessa
redao, corrigindo-o, ampliando-o e adicionando notas com as referncias que apiem as
diversas afirmaes feitas.
1.2.8 reviso
Aps escrever a redao preliminar, o aluno deve examin-la verificando se:
- a linguagem est adequada ao nvel de formao profissional;
- h coerncia e lgica na explanao das idias;
- h concatenao lgica entre as frases e os pargrafos;
- h erros gramaticais;
- a anlise foi bem feita;
- as concluses dela decorrentes so vlidas;
As revises devem ser repetidas at que o orientador julgue que o aluno tenha
realizado o melhor de sua capacidade, que ser ento o produto final.
11
1.3 Partes componentes do documento
De acordo com a NBR 14724:2011, a estrutura de trabalhos acadmicos deve
compreender a parte externa e a parte interna, de acordo com a tabela a seguir:
Capa (obrigatrio) Parte externa
Lombada (opcional)
Folha de rosto (obrigatrio)
Errata (opcional)
Folha de aprovao
(obrigatrio)
Dedicatria (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epgrafe (opcional)
Resumo na lngua verncula
(obrigatrio)
Resumo em lngua estrangeira
(obrigatrio)
Lista de ilustraes (opcional)
Lista de tabela (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas
(opcional)
Lista de smbolos (opcional)
Elementos pr-
textuais
Sumrio (obrigatrio)
Introduo
Desenvolvimento
Elementos textuais (a
critrio do autor)
Consideraes finais
Referncias (obrigatrio)
Glossrio (opcional)
Apndice (opcional)
Anexo (opcional)
Parte interna
Elementos ps-
textuais
ndice (opcional)
Os anexos a este Manual so modelos representativos das partes componentes da monografia.
Elemento Descrio / Informao Pgina
Capa
- Instituio em que se apresenta o trabalho;
- Curso;
- Autor;
- Ttulo;
- Local e ano.
A-1
12
Folha de rosto
- Autor;
- Ttulo;
- Natureza e objetivo (aprovao em curso, grau
pretendido e outros);
- Nome da instituio a que submetido;
- rea de concentrao;
- Nome do orientador;
- Local e ano.
B-1
Folha de aprovao
- Autor;
- Ttulo;
- Natureza e objetivo;
- Nome da instituio;
- rea de concentrao;
- Data de aprovao;
- Titulao e assinatura do orientador, alm de conter
espao reservado para registro da nota atribuda.
C-1
Dedicatria Espao onde o aluno dedica seu trabalho e/ou
homenageia pessoas queridas.
D-1
Agradecimentos dirigido queles que contriburam de maneira
relevante elaborao da monografia.
E-1
Epgrafe Elemento opcional, colocado aps os agradecimentos.
Podem-se tambm colocar epgrafes no incio de cada
captulo.
F-1
Resumo Redigido em uma lauda, com at 500 palavras, seguido
das palavras-chave, na lngua.
G-1
Resumo em lngua
estrangeira
Verso do resumo em ingls (Abstract), espanhol
(Resumen) ou Francs (Resume), seguido das palavras-
chave na lngua.
H-1
Lista de
ilustraes/figuras
Quando as ilustraes/figuras contidas no trabalho
excederem a cinco, devem ser relacionadas em lista,
numa folha separada. Ilustraes, mapas, grficos, etc.
I-1
Lista de tabelas Quando as tabelas contidas no trabalho excederem a
cinco, devem ser relacionadas em lista, numa folha
separada.
J -1
Sumrio Captulos, ttulos, sees e divises da monografia. K-1
INTRODUO: deve apresentar o propsito do
trabalho, motivar o leitor para a leitura e descrever, de
maneira geral, o processo pelo qual o assunto vai ser
abordado
L-1
DESENVOLVIMENTO: o cerne da monografia. O
texto deve ser criteriosamente dividido para melhor
conduo do raciocnio. Essa diviso deve ser feita em
captulos.
M-1
TEXTO
CONSIDERAES FINAIS: apresentam-se os
resultados obtidos atravs de texto sucinto, contendo
uma sntese interpretativa do contedo desenvolvido na
monografia sem acrescentar novos elementos
argumentativos. Podem ser indicadas questes para
novas pesquisas.
N-1
13
Referncia
bibliogrfica
Fontes efetivamente citadas no corpo da monografia.
Elaborada de acordo com a NBR 6023:2002.
O-1
Bibliografia Todas as fontes consultadas, mesmo as que no foram
citadas. Elaborada de acordo com a NBR 6023:2002.
P-1
Glossrio
Relao de palavras de uso restrito, acompanhadas das
respectivas definies. apresentado em ordem
alfabtica e opcional
Q-1
Apndice a matria suplementar de autoria do prprio aluno
com a finalidade de complementar seu trabalho.
Opcional
Anexo
Documentos ou textos no elaborados pelo aluno.
Ficam dispostos depois do ltimo captulo e devem
conter cpias de documentos, transcries extensas e
trabalhos suplementares.
Opcional
ndice a lista detalhada de assuntos em ordem alfabtica
com a indicao de sua localizao na monografia.
Opcional
14
CAPTULO 2
COMPOSIO ESCRITA
2.1 Consideraes gerais
A comunicao , essencialmente, a arte de transmitir pensamentos, opinies,
sentimentos ou informaes por meio dos quais os indivduos afetam, controlam e
influenciam uns aos outros. O comunicador pretende sempre produzir algum efeito no
receptor.
A comunicao escrita a manifestao inteligente, consciente e racional por meio da
qual se estabelecem relaes entre o indivduo e a coletividade.
A composio feita por meio de tcnicas de redao, as quais buscam assegurar
condies para a plena compreenso pelos receptores (leitores) da mensagem transmitida pelo
emissor, comunicador, redator ou autor.
2.2 Formas de composio
Segundo critrios de temporalidade, espacialidade e racionalidade, as composies
podem ser classificadas, se subordinadas a um nico desses critrios, respectivamente, em
narraes, descries e dissertaes.
A fim de exemplificar as diversas formas de composio, optamos por trechos
significativos da obra Histria do poderio martimo, de W. O. Stevens e A. Westcott.
2.2.1 narrao
caracterizada pela temporalidade. O narrador trabalho com fatos. O texto narrativo
desenvolve-se pelos verbos nacionais (fenmenos, aes, movimentos). Narra-se o
movimento do objeto, a ocorrncia na sua dinmica temporal, os fatos que ocorrem no tempo,
o que tem histria, o que atual, o que se viu acontecer, o que se sabe que aconteceu, ou
aquilo que se cria (fico narrativa) com dimenso temporal.
A narrao consiste na enunciao de acontecimentos ordenados focalizados no
tempo; uma sequncia de fatos.
15
So elementos estruturais de uma narrao: enredo, personagem, tempo, espao,
ambiente, situao e ponto de vista, causa, efeito, finalidade, modo.
Exemplo de narrao:
A 7 de outubro, pelo amanhecer, o vigia da Real
1
avistou a vanguarda da frota turca
saindo para o ataque, e esta notcia produziu um efeito salutar. D. J oo convocou um
conselho de guerra, no qual fez calar aqueles que, a exemplo de Dria, opinavam que se
evitasse a batalha. Percorreu em seguida a frota em um navio ligeiro para exortar os oficiais e
os homens a esforar-se o mais que lhes fosse possvel. Todos receberam a absolvio, os
escravos das galeras foram desacorrentados, e o estandarte da Santa Aliana com a imagem
de Cristo crucificado foi iado no navio capitania de D. J oo.
Como os cristos avanassem do largo ao encontro de seus adversrios, encontraram-
se em face de um perigo srio. Os turcos em bela ordem navegavam impelidos pelo vento
que lhes era favorvel. Este mesmo vento soprava naturalmente contra a proa dos cristos,
que, para avanarem, deviam fazer grandes esforos com seus remos. Se o vento se
mantivesse nessa direo, havia grandes probabilidades de os turcos carem sobre seus
adversrios antes que D. J oo pudesse forma sua linha de batalha. Por felicidade, por volta
do meio-dia, o vento mudou e veio ajudar os cristos e retardar os turcos. Esta mudana
permitiu exatamente que a maior parte das divises crists chegassem a seus postos antes do
contato. Entretanto, as duas galeaas que deviam colocar-se frente da ala direita no
puderam alcanar seus postos antes do encontro, e a prpria ala direita, se bem que tivesse
tido largamente tempo de tomar sua posio, continuou o avano em direo ao sul, deixando
o resto da frota para trs (op. Cit. P. 94-95)
O texto narrativo, apresentando uma sequencia de fatos transcorridos durante a
campanha de Lepanto
2
, em que se pode observar a mincia de detalhes narrada pelos autores.
Normalmente, em textos narrativos, as formas verbais se apresentam no tempo
pretrito
3
. ... o vigia da Real avisou a vanguarda da frota turca... (pretrito perfeito); ... e
esta notcia produziu um efeito salutar... (pretrito perfeito); D. J oo convocou um
conselho de guerra... (pretrito perfeito); ... a exemplo de Dria, opinavam que se evitasse
1
Galera capitania Real, comandada por D. Joo.
2
Lepanto o nome moderno de Naupactos, antiga base naval ateniense do Golfo.
3
So tempos do pretrito: o pretrito perfeito, o pretrito imperfeito,, o pretrito mais-que-perfeito, o futuro do
pretrito e o infinitivo perfeito.
16
a batalha (pretrito imperfeito); Todos receberam a absolvio, os escravos das galeras
foram desacorrentados e o estandarte de Santa Aliana com a imagem de Cristo foi iado no
navio de D. J oo (pretrito perfeito) (Ver 1.3 O presente histrico).
2.2.2 descrio
Descrio uma composio em que se sequenciam caractersticas de objetos,
imagens, tipos, paisagens, ambientes. raro encontrarmos um texto exclusivamente
descritivo.
Na prtica literria ou tcnico-cientfica, a descrio sempre um fragmento. Consiste
na enumerao de caractersticas e circunstncias ordenadas focalizadas no espao; uma
sequncia de aspectos.
Exemplo de descrio 1:
A trirreme ateniense tinha cerca de 45 metros de comprimento por 6 de largura. Sua
largura era, pois, cerca de 2/15 do comprimento (pela mesma poca um navio mercante tinha
cerca de 55 metros de comprimento e uma largura igual ao quarto do comprimento).
A trirreme era provida de um s mastro e de uma vela quadrada, que somente era
utilizada com ventos favorveis, como auxlio para os remos, especialmente quando se tinha
que abandonar o combate. De fato, a frase iar as velas entrava na conversao corrente no
sentido de fugir, como dizemos hoje virar as costas.
As trirremes levavam duas velas, ordinariamente feitas de tela: uma grande para as
travessias e uma pequena para o caso de urgncia, durante as batalhas. Antes da ao, era
costume deixar a vela grande em terra, e o prprio mastro era arriado para evitar sua queda
pelo efeito do choque de uma abordagem.
A parte dianteira da trirreme era construda para produzir efeito em um choque de
esporo (op. cit. p. 8-9).
No primeiro pargrafo, o autor descreve, por meio de uma sequencia de aspectos, a
trirreme ateniense.
Os pormenores da descrio singularizam a ambincia, onde os autores no s
pormenorizam o quadro, como tambm expem muito o esprito de observador. Percebe-se a
priori um quadro esttico.
17
A partir do ltimo perodo do 2 pargrafo, o texto torna-se narrativo com verbos de
ao dinmica resgatando, assim a vivacidade do segmento; a descrio inicial geralmente
prepara o palco para o desenvolvimento das aes.
Habitualmente, uma composio comporta combinaes, segundo a convenincia, de
descries e de narraes.
Exemplo de descrio 2:
A galera comum media cerca de 55 metros de comprimento e 5,75 de largura e uma
profundidade de 2,30. Uma coberta nica elevava-se de perto da linha de flutuao at uma
superestrutura que se estendia no meio do navio entre a popa e a proa, formando uma
pequena ponte entre o castelo de proa e o castelo de popa com acesso ao poro. O castelo de
proa possua a principal bateria de canhes e era fechado por baixo para formar o alojamento
dos soldados. A popa possua uma espcie de casa e uma bateria de canhes menos
importante: era tambm um lugar fechado onde os oficiais tinham seus alojamentos.
A galera tinha dois ou trs mastros de velas latinas, enfeitadas em tempos de paz e de
guerra com uma profuso de pavilhes e de flmulas. Quantias considerveis de dinheiro
eram empregadas na ornamentao dessas galeras de guerra, particularmente nas esculturas
muito delicadas da popa e da proa (op. cit. p. 83).
2.2.3 dissertao
Dissertao uma composio que expe juzos estruturados racionalmente. uma
sequncia de conhecimentos, articulaes de ideias e opinies, conjunto de comentrios a
respeito de determinado assunto ou questo. uma sequncia de conhecimentos com valor
cientfico e consiste em uma demonstrao de tese que pode comportar trs propsitos
distintos: convencer por meio de argumentos ou provas; dar a conhecer ou explicar; e discutir
um assunto.
Normalmente a estrutura da dissertao compreende a introduo, o desenvolvimento
e a concluso.
18
Exemplo de dissertao:
No tocante ttica naval, Lepanto, como Salamina, no passou de uma batalha de
infantaria travada sobre plataformas flutuantes. Foi decidida e ganha pelos soldados de escol
da Espanha e da Itlia. Os tempos de manobras martimas ainda no tinham chegado. No se
pode absolutamente encontrar justificao para o procedimento do almirante mais notvel do
lado cristo, J oo Andr Dria.
Mesmo que admitamos explicao, os fatos provaram a inutilidade de sua ttica.
estranho que, nesta vitria naval suprema da Cruz sobre o Crescente, um Dria tenha
deslustrado to vilmente sua glria, precisamente como seu tio av Andra Dria havia
empanado a sua Preveza. Pode-se perguntar se nesses dois genoveses o dio a Veneza no
abolia todo o sentimento de lealdade para a cristandade.
Quais foram as consequencias da batalha de Lepanto e em que sentido podemos
chamar-lhe uma batalha decisiva? primeira vista, a questo parece perturbadora. Por mais
esmagadora que fosse a a derrota sofrida pelos turcos, Uluch Ali possua frota pronta na
primavera seguinte e assolava novamente os mares. Por duas vezes as frotas adversrias
tiveram ocasio de se encontrar para uma nova batalha, porm, Uluch Ali se recusou a aceitar
o desafio. Depois de Lepanto, ele parecia pouco inclinado a outra batalha regular, a menos
que possusse uma grande superioridade numrica (op. Cit. P. 98-99).
Se a dissertao uma exposio de juzos estruturados conforme o texto
exemplificado, para desenvolver um ponto doutrinrio ou externar um tema quer tcnico, quer
cientfico, imprescindvel conhecer seguramente o que vai ser dissertado.
2.3 Um recurso estilstico: o presente histrico
Barroso (Francisco Manuel Barroso da Silva) foi o grande artfice da vitria, tanto
quanto Tamandar, ele possua aquela conscincia de vocao, aquela fora de vontade,
aquela deciso inquebrantvel, que o fizeram dos mais completos marinheiros a servio do
Brasil; e, tambm a humildade crist, apangio dos verdadeiros heris: finda a peleja, relata-
o Incio J oaquim da Fonseca, Barroso desceu sua cmara; encostou a nobre espada e o
revlver no ombro do sof; levou a mo ao peito, de onde retirou o Santo Crucifixo e
rendeu graas a Deus por ter conseguido com os bravos camaradas, dar mais um dia de
glria ao Brasil (Riachuelo, Leduar de Assis Rocha). O negrito nosso.
19
O texto apresenta episdios que ocorrem em uma determinada poca e em um espao
definido. Em razo disso, os tempos verbais se apresentam no pretrito.
Normalmente em uma composio, os tempos mais usados so os tempos do passado:
o pretrito perfeito, o pretrito imperfeito, o mais-que-perfeito, o futuro do pretrito, o
infinitivo perfeito.
Vejamos, agora, o mesmo texto em uma segunda verso, utilizando-se como recurso, a
metfora temporal. Nesse caso, a diferena puramente estilstica, e o tempo do verbo o
presente.
Barroso (Francisco Manuel Barroso da Silva) o grande artfice da vitria, tanto
quanto Tamandar, ele possui aquela conscincia de vocao, aquela fora de vontade,
aquela deciso inquebrantvel, que o fazem dos mais completos marinheiros a servio do
Brasil; e, tambm a humildade crist, apangio dos verdadeiros heris: finda a peleja, relata-
o Incio J oaquim da Fonseca, Barroso desce sua cmara; encosta a nobre espada e o
revlver no ombro do sof; leva a mo ao peito, de onde retira o Santo Crucifixo e rende
graas a Deus por conseguir com os bravos camaradas, dar mais um dia de glria ao Brasil
(Riachuelo, Leduar de Assis Rocha). O negrito nosso.
Esse recurso provoca um efeito importantssimo. O autor aviva o fato, provocando
uma atitude de engajamento, lana mais visualidade e, at mesmo, sugere familiaridade com o
assunto. O uso do presente chama-se presente histrico e pode ser empregado em qualquer
tipo de composio.
20
CAPTULO 3
ESTRUTURA DA COMPOSIO ESCRITA
3.1 O pargrafo
O pargrafo uma unidade de composio, constituda de um ou mais perodos, cuja
proposio se fixa pelo mesmo centro de interesse, em que se desenvolve determinada idia
central, acompanhada de idias secundrias que, por vezes, contribuem para melhor
elucidao da mensagem.
H diversos tipos de construo de pargrafos; no entanto, o de estrutura mais simples
e mais comum consta normalmente de trs partes: introduo, desenvolvimento e concluso.
A introduo representada na maioria dos casos por um ou dois perodos iniciais,
em que se expressa de uma maneira geral a idia-ncleo. O tpico do pargrafo que contem a
idia-ncleo denomina-se tpico-frasal; o desenvolvimento a explanao do que foi
enunciado na idia-ncleo. No desenvolvimento, tanto as frase principais como as secundrias
tm importante misso a de explorar o que foi apresentado no tpico-frasal, acrescentando,
por vezes, algo novo para melhor elucid-lo; a concluso, rara em determinada situao, em
especial nos perodos pouco extensos, reafirma de forma generalizada e de maneira concisa e
clara, as idias apresentadas na introduo e explanadas no desenvolvimento.
Exemplo:
Os brases de armas remontam aos princpios da Idade Mdia, ao tempo das
Cruzadas. Ento a Europa estava fracionada em pequenas glebas; em cada gleba, um Castela,
um feudo e um senhor absoluto. Em torno do castelo, e sob a proteo do senhor,
amontoavam-se idias e povoados.
O destino do senhor era a Guerra Santa contra os Infiis. Assim ele armava o seu
pequeno exercito e, com um pomposo cortejo de vassalos, se engajava na primeira cruzada.
Para distinguir seus soldados, fazia ento pintar, com suas cores, os seus broqueis. Ao voltar
da Palestina, o cavaleiro vitorioso colocava sobre o escudo os trofus que consquistara para
exibi-los aos olhos do soberano e de sua dama. Depois, guardava estes smbolos marciais
como testemunho de suas proezas na Terra Santa.
Esta origem dos brases, segundo um excelente trabalho de Guilherme de Almeida. E
um detalhe curioso que os broqueis a que se refere so os escudos pequenos e redondos,
tambm chamados de torneio exatamente a pea elegida como elemento principal das
21
nossas Armas Nacionais.
No exemplo apresentado, detectamos trs pargrafos:
No primeiro pargrafo, a idia-ncleo apresentada de maneira simples e sucinta
Os brases das armas remontam aos princpios da Idade Mdia, ao tempo das Cruzadas.
Esse o tpico-frasal.
O desenvolvimento do pargrafo est nas frases subsequentes que, ao explanar o
tpico-frasal, apresentam um fato novo: Ento a Europa estava fracionada em pequenas
glebas; em cada gleba, um castelo, um feudo e um senhor absoluto e o ultimo perodo Em
torno do castelo e sob proteo do senhor, amontoavam-se aldeias e povoados tem funo
conclusiva, ao encerrar o pargrafo.
O mesmo ocorre com o segundo e terceiro pargrafos.
2 pargrafo
Tpico frasal O destino do senhor era a Guerra Santa contra os Infiis.
Desenvolvimento
Assim ele armava o seu pequeno exercito e, com um
pomposo cortejo de vassalos, se engajava na primeira cruzada.
Para distinguir seus soldados, fazia ento pintar, com suas cores,
os seus broqueis. Ao voltar da Palestina, o cavaleiro vitorioso
colocava sobre o escudo os trofus que consquistara para exibi-
los aos olhos do soberano e de sua dama.
Concluso Depois, guardava estes smbolos marciais como
testemunho de suas proezas na Terra Santa.
3 pargrafo
Tpico frasal Esta origem dos brases, segundo um excelente trabalho da
Guilherme de Almeida.
Desenvolvimento E um detalhe curioso que os broqueis a que se refere so
os escudos pequenos e redondos, tambm chamados de torneio.
Concluso Exatamente a pea elegida como elemento principal das
nossas Armas Nacionais.
22
No resta duvida de que este terceiro pargrafo tambm tem funo conclusiva em
razo da temtica exposta no texto.
3.2 Organizao do raciocnio
Outro aspecto que deve ser levado em considerao o mtodo utilizado pelo autor.
H dois tipos bsicos de mtodo de organizao do raciocnio que sobremaneira refletem na
organizao do pargrafo: o dedutivo e o intuitivo.
O dedutivo e o indutivo so geralmente considerados os mtodos fundamentais da
redao cientfica.
O dedutivo consiste em passar do geral para o particular, ou seja, da generalizao s
especificaes contidas no desenvolvimento. Nesse caso, h de imediato uma apresentao
sinttica do assunto a ser tratado; ocorre, ento, o processo do raciocnio dedutivo quando o
tpico-frasal inicia o pargrafo.
O indutivo consiste em passar das especificaes para a generalizao, isto , do
particular para o geral. O processo do raciocnio indutivo ocorre quando o tpico-frasal
encerra o pargrafo.
Portanto, quando o tpico-frasal inicia o pargrafo, tem funo introdutria; quando
encerra o pargrafo, funo conclusiva.
3.3 Mecanismos de coeso do texto
Considerando o pargrafo uma unidade de composio, no basta que as frases, que
compem o desenvolvimento das idias, sejam bem ordenadas e inteligveis.
preciso que na concatenao das idias haja um encadeamento gramatical e
semntico entre elas e que da relao de uma frase com a anterior e com a posterior, possa o
leitor facilmente decodificar a mensagem.
Diversos so os mecanismos que mantem a relao natural e lgica entre as frases e os
perodos.
So mecanismos de coeso do texto: os pronomes, o artigo definido, os advrbios, o
lxico, a elipse, dentre outros.
23
3.3.1 pronomes
Os pronomes, por natureza, representam termos que fazem referencia a palavras
empregadas anteriormente.
Nesses casos, so comuns atuarem como liame: os pronomes pessoais (ele, ela, ns, o,
a, lhe); os demonstrativos (este, esse, aquele e variaes); os possessivos (meu, teu, seu e
variaes).
Exemplo 1:
Preparei o ensaio, entreguei-o no prazo marcado.
Trata-se de um perodo constitudo de duas oraes.
O pronome o, na 2 orao, recupera semanticamente o termo presente na 1 orao
que ensaio.
Obs.: Na redao tcnico-cientifica, deve-se evitar termos prprios da linguagem
oral, tais como: o mesmo, o referido.
Exemplo 2:
As ponderaes do Almirante J os J oaquim Incio deram margem a desentendimento
entre os Generais Mitre e o Marques de Caxias, pois este admitia uma certa dose de razo
nas objees do Almirante.
O pronome este retoma o termo Marques de Caxias e o mecanismo de coeso que
mantm a unidade do pargrafo.
Exemplo 3:
Precisamos, por exemplo, de uma nova perspectiva da lei do mar no tocante
extrao do fundo dos recursos minerais, aquacultura e a todos os usos do mar, para
promover o bem-estar e o fortalecimento econmico nacionais. Isto constitui, talvez, um dos
mais importantes e difceis problemas a serem equacionados.
24
O pronome isto exerce, no texto, uma funo recapitulativa e o liame que mantem a
unidade seqencial do 1 para o 2 perodo.
Exemplo 4:
A arte da Guerra regeu a conduo dos conflitos em todos os tempos, e a Estratgia e
a Ttica foram as mesmas tanto sob Cesar quando sob Napoleo. A logstica, tambm. Mas
esta s recentemente vem sendo dogmatizada em trabalhos escritos, analise e estudos da
historia e doutrinas militares.
Esta retoma semanticamente o termo presente no perodo anterior, e com isso mantem
a relao lgica e seqencial entre os perodos.
Exemplo 5:
O aspecto fundamental que caracteriza o Poder Naval est representado pela sua
capacidade de projeo. O seu valor real corresponde, sem duvida, capacidade de ser
projetado sobre qualquer rea e nela exercer o poder, seja atravs do controle de rea, seja
dissuadindo, permitindo ou coagindo o oponente.
O autor no repetiu o termo Poder Naval no 2 perodo, mas manteve a coeso do
texto, retomando-o semanticamente em o seu valor real, onde o pronome possessivo seu faz
referencia ao Poder Naval. A expresso o seu valor real equivale ao valor real do Poder
Naval.
3.3.2 artigo definido
O artigo definido tambm pode ser um elemento coesivo quando se repete um
substantivo contido na orao anterior.
Exemplo 6:
Preparei um ensaio sobre as Operaes Ribeirinhas e o Projeto Calha Norte. O ensaio
foi muito bem-aceito pelo grupo.
Pode-se repetir um substantivo mencionado na orao anterior, mas deve-se marc-lo
pelo artigo definido.
25
3.3.3 advrbios
Os advrbios termos, locues e oraes so tambm elementos de coeso textual.
Por sua natureza, tais mecanismos exprimem relaes de causa, condio,
conformidade, consequncia, modo, fim, lugar, situao, tempo.
Exemplo 7:
Antes de pr em terra as tropas do 2 corpo, Tamandar tratou de executar as
operaes necessrias para obstar a interveno do inimigo. s quatro horas da madrugada
desse mesmo dia 1 de setembro, mandou reconhecer e sondar o rio at Caruzu.
Antes de pr em terra as tropas do 2 corpo relao que, por meio de uma orao,
introduz no apenas a noo de tempo, mas, ainda, de continuidade e movimentao. Tal
mecanismo d o prosseguimento lgico ao perodo. E, na passagem do 1 para o 2 perodo,
fixa, com preciso, o tempo reflete o dinamismo da ao em mandou reconhecer e sondar o
rio at Curuzu.
Exemplo 8:
Mas no basta admirar: preciso aprender. O mar o grande avisador. P-lo Deus a
bramir junto ao nosso sono, para nos pregar que no durmamos. Por ora a sua proteo nos
sorri, antes de se trocar em severidade (Rui Barbosa e a Marinha, Murilo Ribeiro Lopes).
Lo (variao do pronome tono o) o mecanismo de coeso que mantm a unidade do
texto. O pronome retoma semanticamente o mar, anunciado no perodo anterior. Por ora
relao que exprime circunstncia de tempo, de situao o mecanismo de coeso da
textualidade com o perodo anterior.
3.3.4 lxico
A coeso lexical se faz ou por substituio do termo ou por uma forma sinonmica.
a) por substituio
A substituio consiste no emprego de um termo por outro, evitando assim, a
repetio.
26
Exemplo 9:
O mais tradicional emprego das foras navais em situao de normalidade est
inserido na clssica atividade de Mostrar a Bandeira, tambm denominada por muitos
estudiosos de atividade diplomtica. Consiste essa tarefa na realizao de visitas a portos
estrangeiros. Pretende-se com ela ativar ou estimular o relacionamento entre as naes em
causa, angariar prestgio, promover alguma forma de intercambio e mostrar o nvel de
desenvolvimento tecnolgico do poder militar nacional.
Na passagem do 1 perodo para o 2, o autor usa essa tarefa, para reaver o termo
Mostrar a Bandeira. Neste mesmo texto, o encadeamento semntico que mantm a
textualidade se fixa, ainda, no pronome ela em referencia ao termo em questo.
Trata-se de um pargrafo bem estruturado, e os mecanismos estabelecem uma unio
ntima das partes de um todo.
b) por sinonmia
A sinonmia consiste no emprego de palavras que se associam pela identidade de
sentido.
Exemplo 10:
Um dos projetos do governo a aquisio pelo povo da casa prpria; no entanto,
essas moradias s ficaro prontas no prazo de dezoito meses.
Exemplo 11:
A grandeza do Brasil colnia era o acar, um produto que alcanava excelente
cotao no mercado europeu.
3.3.5 elipse
A elipse a omisso de um termo facilmente subentendido.
Exemplo 12:
Francisco Solano Lopes herda, em 1862, o poder do seu pai. Militariza seu povo,
fortifica Humait e adestra trinta mil soldados escolhidos no acompanhamento de Cerco-
Cor.
27
Francisco Solano Lopes est retomado nas oraes do perodo seguinte por ausncia.
No h necessidade de elemento referencial, pois o sujeito dos verbos militariza, fortifica,
adestra facilmente identificvel.
Quem militariza? Quem fortifica? Quem adestra?
A esse processo denomina-se coeso por elipse.
Exemplo 13:
No se admite surpresas para o nauta: h de adivinhar a atmosfera como o barmetro
e prosseguir a tormenta, quando ela pinta apenas como uma mosca pequenina e longnqua na
transparncia da imensidade.
Quem h de adivinhar a atmosfera como barmetro e prosseguir a tormenta?
Nesse caso, no h necessidade de explicar o sujeito da orao. Ele est elptico,
facilmente subentendido. O pronome sujeito est retomado, no perodo, por ausncia.
Nesse mesmo pargrafo, o termo tormenta retomado pelo pronome ela, mantendo,
assim, a coeso do texto.
O assunto no se esgota aqui.
Trata-se de uma amostragem que muito contribuir para que se perceba que, em uma
unidade de composio, o encadeamento gramatical e semntico se faz, tambm por meio de
mecanismos responsveis pela coeso da textualidade.
A coeso da textualidade qualidade fundamental da redao para concatenao das
idias e adequada codificao da mensagem, para melhor entendimento do que se pretende
transmitir com o texto escrito.
28
CAPTULO 4
VIRTUDES E VCIOS DE LINGUAGEM
4.1 Introduo
Escrever bem ser simples, claro, conciso. ser original na maneira de dizer as
coisas, de externar as idias. simples uma linguagem que se coadune com as normas
lingsticas.
O rebuscamento frasal, o emprego abusivo do adjetivo, o excesso de oraes
coordenadas, os perodos extremamente longos entrecortados com oraes de valor
explicativo e construes parentticas na nsia de fazer-se completo, leva a um texto
cansativo, desinteressante, montono.
Escrever , portanto, a arte de traduzir, em palavras, idias, sentimentos... dar a cada
frase, a cada perodo, a cada pargrafo, o exato sentido que a razo e o sentimento
determinam.
Correo gramatical, clareza, conciso, harmonia, simplicidade, originalidade so
virtudes essenciais do estilo; no entanto, a no observncia do saber idiomtico, que ocorre na
fala escrita e na oral, induz a incorrees, gerando, por vezes, vcios de linguagem. Esses
vcios decorrem de erros na pronncia dos fonemas; da troca de posio da acentuao tnica
de um vocbulo; do desconhecimento e da no aplicao dos princpios bsicos que regem a
sintaxe de concordncia, de regncia e de colocao dos termos da orao.
A seguir so apresentadas algumas das virtudes essenciais do estilo e os vcios de
linguagem que as prejudicam.
4.2 Correo
Consiste na observncia das normas gramticas, do padro lingstico. o saber
idiomtico que oferece o correto e o incorreto.
Para se obter correo, preciso evitar:
a) erro de sintaxe
importante conhecer os princpios que regem a sintaxe de concordncia, de regncia
e de colocao dos termos da orao para evitar vcios como:
29
Fazem cinco anos que no nos vamos. Terminado a tarefa, todos se retiraram. Eu
lhe vi ontem. Quando chegamos na estao, o trem j havia partido. Entra, voc no precisa
pedir licena. Entre eu e tu no devem haver mal entendidos. Quando chamaram-me era
tarde. Preciso falar contigo.
Vejamos os mesmos exemplos corrigidos:
Faz cinco anos que no nos vamos. Terminada a tarefa, todos se retiraram. Eu a (o)
vi ontem. Quando chegamos estao, o trem j havia partido. Entre, voc no precisa pedir
licena. Entre mim e ti no deve haver mal entendidos. Quando me chamaram era tarde.
Preciso falar contigo (ou com voc).
b) estrangeirismo
O estrangeirismo o emprego abusivo de palavras: apartheid, Best-seller, input,
output, lobby, know-how, joint venture, open-market, overnight, royalties, drive, marketing,
self service, feedback, shopping, chips, sex-appeal, software, dentre outras.
Convm lembrar que h um sem-nmero de palavras que, com o tempo, conquistaram
espao no nosso meio de comunicao e, por motivo de uso, muitas j esto gramaticalizadas,
fazendo parte do nosso lxico. O estrangeirismo provm do desejo de novas criaes. Surge
por necessidade, comodidade ou gosto artstico e, muitas vezes, por no termos, em nosso
idioma, um termo que to bem represente o que se necessita comunicar. Ser aceitvel quando
no houver palavra em portugus que corresponda ao seu sentido, ou, pelo menos, quando a
comunidade lingustica escolher o estrangeirismo como seu termo preferido.
4.3 Clareza
Consiste na expresso exata, precisa do pensamento, tornando a transmisso fcil e
Compreensvel. Para obter clareza, cabe evitar: a ambiguidade; o anacoluto; o acumulamento;
e o erro de pontuao.
a) ambiguidade consiste em o enunciado apresentar mis de um sentido para a mesma
frase, provocando duplicidade de interpretao.
Observando-se: Destruram os avies antiareos, nota-se que a ateno da frase est
centrada na ao expressa pelo verbo destruir. Com isso, tanto o sujeito como o objeto da
30
ao aparecem em segundo plano, provocando duplicidade de interpretao. Com a
antecipao do sujeito fica eliminada qualquer duplicidade: Os avies destruram os canhes
antiareos, ou os canhes antiareos destruram os avies.
Outro recurso oferecido pela lngua a preposio diante do objeto para evidenciar o
contraste entre o sujeito (o agente) e o complemento (o paciente):
Destruram os avies aos canhes antiareos, ou Destruram os canhes antiareos
aos avies.
b) anacoluto ocorre quando h interrupo do plano sinttico com que se inicia uma frase,
alterando, na estrutura frasal, o seu processamento lgico.
O anacoluto muito freqente na linguagem corrente.
Exemplo:
A Marinha recordo-me dela quando ainda era soldado.
O termo A Marinha foi projetado e abandonado na estrutura oracional, isto , est
sem funo sinttica na frase.
c) acumulamento consiste no excesso de intercalao de fatos, opinies e explicaes
desnecessrios, no mesmo perodo.
O assassnio do Presidente Kennedy, naquela triste tarde de novembro, quando
percorria a cidade de Dallas, aclamado por numerosa multido, cercado pela simpatia do
povo do grande estado do Texas, terra natal, alis, do seu sucessor, o Presidente J ohnson,
chocou a humanidade inteira no s pelo impacto emocional provocado pelo sacrifcio do
jovem estadista americano, to cedo roubado vida, mas tambm por espcie de sentimento
de culpa coletiva, que nos fazia, por assim dizer, como que responsveis por esse crime
estpido, que a Histria, sem dvida, gravar como o mais abominvel do sculo. (Redao
do aluno) apud Othon M. Garcia. Comunicao em prosa moderna, p. 255).
Vejamos o mesmo texto eliminando os excessos:
O assassnio do Presidente Keenedy chocou a humanidade inteira, no s pelo
impacto emocional, mas tambm por uma espcie de sentimento de culpa coletiva por esse
crime que a Histria gravar como o mais abominvel do sculo (Othon M. Garcia.
Comunicao em prosa moderna, p. 256).
31
d) erro de pontuao
Pontuao o emprego de sinais convencionais para representar na escrita as
diferentes pausas ou inflexo de voz, que devem ser observadas por quem fala, escreve ou l.
Sendo a vrgula uma das grandes notaes de grande importncia, porque est
intimamente relacionada com a sintaxe, notrio que a presena ou a sua ausncia pode
alterar o sentido de um enunciado, prejudicando a mensagem e, at mesmo,. Alterando
profundamente o que se pretende dizer.
O erro de pontuao , portanto, o sinal representativo mal colocado que compromete
o enunciado da comunicao.
Exemplo:
No, fique na fazenda.
No fique na fazenda.
4.4 Conciso
Consiste na capacidade de sntese. o expressar fatos, opinies e ideias com o menos
nmero de palavras possvel. De fato, ela o meio termo entre dois vcios: o laconismo e a
prolixidade.
Para obter conciso cabe evitar adjetivao abundante, a redundncia, a perfrase, o
excesso de oraes subordinadas, o suprfluo.
a) adjetivao abundante- a edjetivao excessiva, tornando a linguagem prolixa.
Exemplo de um trecho de uma escritora moderna, citado por M. Rodrigues Lapa, no
seu livro Estilstica da Lngua Portuguesa, 4. ed. p. 101, Ed. Martins fontes.
Alumiado pela estrela rutilante da bondade excelsa, o reformador desceu aos astros
tenebrosos e infectos onde a humanidade se enchera em crimes hediondos. Desse ambiente
impiedoso de misria repelente arrancou as almazinhas inocentes das crianas pobres,
convertendo-as em elementos fecundos e teis sociedade.
O mesmo trecho, liberto do excesso de adjetivao, de clichs e elementos suprfluos:
Alumiado por excelsa bondade, o reformador desceu aos astros onde a humanidade se
encharca no crime. Desse ambiente de misria arrancou as pobres crianas, convertendo-as
em elementos teis sociedade.
32
b) redundncia a repetio, s vezes, com as mesmas palavras, de fatos, opinies,
episdios, etc.
Exemplo:
Hoje um dia muito importante na minha vida porque consegui um emprego. O
emprego no l essas coisas. Digo que muito importante ter conseguido um emprego
porque estava desempregado h muito tempo. muito desagradvel ficar desempregado,
por isso importante o emprego que hoje consegui (Redao de aluno).
c) perfrase- o emprego de muitas palavras quando se poderia dizer a mesma coisa com
poucas.
Derramar lgrimas em vez de chorar
O astro do dia em vez de o Sol
A abbada celeste em vez de cu
O poeta dos escravos em vez de Casto Alves
O vencedor de Austerlitz em vez de Napoleo
d) excesso de orao Subordinadas desenvolvidas - o excesso evitado, usando-se orao
reduzida, ou estruturando o perodo com termos equivalentes.
Exemplo 1:
Quando o diretor chegou, os funcionrios, que estavam interessados na consulta
que haviam feito, vibraram quando tomaram cincia da resposta (o negrito assinala as
oraes desenvolvidas).
O mesmo perodo pode ser reproduzido, eliminando as subordinadas desenvolvidas.
Exemplo 2:
Com a chegada do diretor, os funcionrios, interessados na consulta feita, vibraram ao
tomarem cincia da resposta.
Exemplo 3:
Assim que a vi, pedi-lhe que me devolvesse os livros que eu lhe tinha emprestado por
ocasio dos exames vestibulares que foram realizados no fim do ano que passou.
33
O excesso de oraes subordinadas e, consequentemente, a redundncia da palavra
que podem ser evitados, substituindo-se as oraes desenvolvidas por formas reduzidas ou
por termos equivalentes.
Exemplo 4:
Ao v-la, pedi-lhe a devoluo dos livros emprestados por ocasio dos exames
vestibulares realizados no fim do ano passado.
e) suprfluo- o excesso de fatos, episdios, opinies, dispensveis ao teor da mensagem.
A estrada que atravessa essas regies incultas desenrola-se maneira de alvejante
faixa, aberta que a rea, elemento dominante na composio de todo aquele solo fertilizado,
alis, por um sem- nmero de lmpidos e borbulhantes regatos, cujos continentes so outros
tantos tributrios do Rio Paran e do seu contravertente o Paraguai. Essa areia solta e um
tanto grossa tem cor uniforme que reverbera com intensidade os raios do sol quando nela
batem de chapa (Visconde de Taunay, Inocncia, apud J os de Oiticica, Manual de Estilo, p.
42).
Eliminando-se o suprfluo:
A estrada corta essas regies incultas e arenosas, fertilizadas por inmeros afluentes
do rio Paraguai e do Paran. A areia, um tanto grossa e uniformemente alva, reverbera com
intensidade os raios do sol (Idem, p. 44).
4.5 Harmonia
Consiste no ajuntamento eufnico das palavras na frase e das frases no perodo.
Tem-se harmonia, evitando-se o cacfato, o eco, a coliso.
a) cacfato - o som desagradvel, ridculo ou at mesmo inconveniente, produzido pelo
encontro de duas ou mais palavras.
Exemplos:
- na vez passada; Amrica ganhou; a boca dela; ela tinha dois irmos; a f de mais
prejudica; o pssaro pipila, trina, gorjeia; no fale nunca nisso; no resolve nunca
nada.
34
b) eco - a identificao de sons idnticos no final de cada vocbulo.
Exemplo:
- Em ateno solicitao dessa organizao, vimos...
c) coliso - a concorrncia desagradvel de sons, produzidos por fonemas consonantais
iniciais idnticos.
Exemplos:
- Se se soubesse disso antes, no haveria razo para tanta espera.
- At Dona Firma dava conta, se se botasse a isso...
35
CAPTULO 5
NORMALIZAO GRFICA E BIBLIOGRFICA PARA
TCC/MONOGRAFIA
5.1 Normalizao grfica
A Monografia deve ser apresentada em dois suportes: em papel tamanho A4 (21 cm x
29,7 cm) e em CD no formato PDF. O trabalho deve ser digitado empregando um editor de
texto.
5.2 Norma de apresentao
5.2.1 margens
- Esquerda: 3 cm
- Superior: 3 cm
- Direita: 2 cm
- Inferior: 2 cm
5.2.2 caracteres
O uso de microcomputadores para a edio de texto tornou disponvel grande
variedade de recursos grficos que podem, se bem utilizados, enriquecer a apresentao dos
trabalhos. Essa facilidade, contudo, deve ser empregada criteriosamente, apenas em benefcio
de um melhor entendimento do assunto.
Os caracteres empregados no texto devem ter:
- fonte: Times New Roman;
- estilo: para texto Normal e tamanho 12;
- pargrafo: 1,25cm da margem esquerda;
- para citao: devem ter o tamanho da fonte 10;
- para ttulos: fonte tamanho 16 (caixa alta e negrito); e
- para tpicos ou subttulos: fonte tamanho 14 (caixa baixa e negrito).
36
5.2.3 posio de ttulos e formas de apresentao
Ttulos sem indicativo numrico: errata, agradecimentos, lista de ilustraes, listas de
abreviaturas e siglas, lista de smbolos, resumos, sumrio, referncias bibliogrficas,
glossrio, apndice(s), anexo (s) e ndice (s), devem ser CENTRALIZADOS.
Indicativo numrico: o indicativo numrico de uma seo precede seu ttulo e deve ser em
algarismo arbico. ALINHADO A ESQUERDA, separado por um espao de caractere.
Ttulos que ocupem mais de uma linha devem ser alinhados abaixo da primeira letra da
primeira palavra do ttulo.
Exemplo:
1 A importncia da Marinha
Mercante
Ttulos das sees primrias: devem comear no anverso da pgina, na parte superior e
separados do texto que os sucede por um ESPAO ENTRE LINHAS DE 1,5.
Ttulos das subsees: devem ser separados do texto que os precede e que os sucede por um
ESPAO ENTRE LINHAS DE 1,5.
5.2.4 numerao das partes do texto
Os captulos devem ser centrados na parte superior da pgina, em letras de caixa alta
(maiscula tipogrfica) em negrito e numerados com algarismos arbicos (1, 2, 3...)
Consecutivamente (Anexo M).
Cada captulo deve iniciar, OBRIGATORIAMENTE, uma nova pgina, mesmo que
haja espao til na folha anterior.
37
O texto de uma alnea deve iniciar com letra minscula (exceto para nomes prprios) e
terminar com ponto-e-vrgula. Na penltima alnea, usas-se a conjuno e, s vezes, ou
depois de ponto-e-vrgula e aps a ltima alnea, um ponto.
Se houver necessidade de subdividir as alneas em subalneas, deve-se adotar o mesmo
procedimento das alneas, apenas substituindo as letras pelo hfen.
Exemplo:
1 ...............
1.1 ............
1.2 ............
a) ........ ;
b) ........ ;
c) ........ .
2 ...............
2.1 ............
5.2.5 espaamento
Todo texto deve ser digitado em espaamento 1,5 entrelinhas.
EXCETO:
a) Citaes com mais de 3 linhas: 1,0 (espao simples).
b) Notas de rodap: 1,0 (espao simples).
c) Referncias: 1,0 (espao simples) e separadas entre si por ESPAO SIMPLES.
Devem ser ordenadas alfabeticamente e alinhadas esquerda.
d) Legendas de ilustraes e de tabelas: 1,0 (espao simples).
e) Informaes tais como tipo do trabalho, objetivo, nome da instituio, rea de
concentrao: 1,0 (espao simples).
Notas de rodap
Devem ser digitadas dentro das margens e separadas do texto por um espao simples.
5.2.6 recuos
Citaes diretas (longas com mais de trs linhas): pargrafo independente, recuado a 4 cm
da margem esquerda, com tamanho de letra menor do que o utilizado.
38
5.2.7 verso e anverso
Somente os anversos devem ser utilizados nas monografias.
5.2.8 sumrio
Ttulos dos captulos: devem ser grafados em letras maisculas.
Subdivises: devem ser grafados com letras minsculas.
ANEXOS e a palavra REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS: devem ser grafados em
letras maisculas.
5.2.9 numerao das folhas
Paginao: deve ser apresentadas em algarismos arbicos, colocados no canto superior
direito da folha, a partir da primeira parte textual da monografia.
Capa: no contada na numerao de folhas.
Da folha de rosto at o sumrio: as folhas so contadas, mas no recebem nmeros. A
numerao colocada a partir da introduo.
Apndices e anexos: devem ser numerados de maneira contnua, seguindo o texto principal.
5.2.10 nmeros
Em geral, os nmeros so escritos por extenso. Quando, em benefcio da clareza, no
for conveniente, essa norma no ser seguida. Os nmeros no incio das sentenas so,
obrigatoriamente, escritos por extenso.
Vinte mil homens.
Meia polegada.
39
No Caso de datas, os seguintes exemplos servem de guia:
7 de setembro de 1822.
O sculo XXI.
Nas dcadas de 80 e 90.
Expoentes e os ndices:
H.
H
2
O.
5.2.11 alinhamento dos nmeros
feito da esquerda para a direita.
Exemplos:
Arbicos
1
12
123
Romanos
I
II
VII
5.2.12 palavras sublinhadas
So aplicveis s letras, palavras ou frases para as quais se deseja chamar ateno, e
aos livros, revistas ou jornais.
40
5.2.13 palavras em idioma estrangeiro
Deve-se evitar o uso excessivo, porm quando se tratar de termos tcnicos sem
traduo, ou por outro motivo imperioso, devem ser colocadas entre aspas.
5.2.14 palavras usadas com sentido figurado e grias navais
Sempre que empregadas, devem ser colocadas entre aspas.
5.2.15 sigla
Ao serem mencionadas pela primeira vez, devem figurar entre parnteses, aps o seu
significado por extenso.
5.3 Normalizao bibliogrfica
5.3.1 citao
o reconhecimento, por parte do autor, de que usou informaes contidas em outras
fontes. Devem ser usadas para dar nfase a uma passagem, quando o trecho citado for muito
interessante; ambguo ou questionvel; e expressar to bem uma idia que justifique
reproduzi-la com redao original.
As citaes devem ser exatas, textuais e at mesmo a grafia do original deve ser
respeitada.
5.3.2 tipos de citao
a) citao apelativa ou epgrafe: pode aparecer logo abaixo do ttulo, em forma de uma
citao curta e significativa de uma frase ou pensamento do prprio autor, de um autor
clssico ou consagrado, de dogma, principio ou ditado, correlacionado com o tema central.
Tal artifcio enriquece o trabalho, chama para a relevncia do tema.
b) citao direta: a transmisso textual que o autor ou narrador, ao transcrev-la ou cit-la,
a faz exatamente em conformidade com a pesquisa bibliogrfica.
41
Exemplos:
De acordo com o pensamento de Mahan, Poder Martimo no sinnimo de Poder
Naval, (...) mas tambm o comrcio e a navegao pacfica que (...) deram nascimento
esquadra, e graas a ela, repousam em segurana.
4
O mesmo recurso deve ser utilizado, quando a mensagem de interesse estiver inserida
em uma parte do texto; deve-se, nesse caso, usar o sinal de reticncias antes e aps o trecho
citado.
Exemplo:
... os lderes das potncias democrticas viram-se diante da necessidade de compor uma
ordem mundial para que assegurasse a paz duradoura para todo o planeta ...
5
.
a) citao curta (at trs linhas): so inseridas no texto entre aspas.
b) citao longa (mais de trs linhas): pargrafo independente, recuado a 4 cm da margem
esquerda, tamanho de letra menor do que o utilizado no texto, sem aspas e espao simples.
Exemplo:
A terceira guerra pnica nenhum interesse apresenta sob o ponto de vista
naval. Roma, que no se satisfizera com as derrotas infligidas ao inimigo
nas duas guerras precedentes, aproveitou um pretexto para invadir o
territrio de Catargo e fazer desaparecer quaisquer vestgios desta cidade.
Com a sua destruio, desapareceu seu grande imprio martimo, e Roma se
tornou a soberana suprema do Mediterrneo.
6
c) parfrase
Consiste em reproduzir um texto, uma ideia ou um pensamento de outrem sem omitir
ou acrescentar dados que possam prejudicar a fidelidade da mensagem. No se trata de
simples resumo, mas da capacidade de transladar a mensagem com recursos prprios sem
desvirtuar a essncia original.
4
SILVA, Octavio Tosta da. Teorias Geopolticas. Revista da Escola Superior de Guerra. Rio de J aneiro, v. 8,
n. 21, p. 143-176. maio. 1992.
5
MATOS, Carlos de Meira. A nova ordem mundial. Revista da Escola Superior de Guerra. Rio de J aneiro, v.
8, n. 21, p. 49-52. maio. 1992.
6
STEVENS, W. O. e WESTCOTTA A. Histria do poderio martimo. 2. Ed. So Paulo: Ed. Nacional, 1958.
p. 47.
42
5.3.3 notas de referncias
a) nota explicativa: seu propsito e dar ou ampliar conceitos, definies, explicaes e
comentrios, evitando a sua insero no texto a fim de no interromper a exposio de idias.
Podem ser colocadas ao final da obra ou sob a forma de notas de rodap.
Exemplo de nota explicativa sob a forma de nota de rodap:
Para aqueles que pretendem navegar pelo mundo a fora se habilitarem como PY (rdio-
amador) e terem um transceptor ham
7
poder ser de grande utilidade.
b) referncia cruzada: quando se deseja fazer referncia a informao contida em outra parte
da monografia.
Exemplo:
A composio entre a velocidade indicada e a velocidade calculada determinar o
erro, e a maioria dos odometros tem condies de permitir um ajuste que eliminar, ou pelo
menos diminuir o erro nas leituras (ver odometro 3.3).
c) referncia a entrevista: podem constar sob a forma de nota de rodap ou em anexo a
parte. No caso de o aluno preferir relacionar as entrevistas em documento anexo
monografia, tal anexo deve receber o ttulo RELAO DE ENTREVISTAS REALIZADAS.
5.3.4 localizao das referncias
a) no texto: quando a citao for mencionada no decurso da monografia, deve-se indicar o
nome do autor e entre parnteses o ano e a pgina onde se encontra a mensagem citada.
Exemplo:
A respeito da ocorrncia de duas ou mais ondas eletromagnticas, Barros afirma que quando
chegam simultaneamente ao mesmo ponto do espao poder ocorrer o que chamamos de
interferncia (1995, p. 17).
7
As transmisses de rdio-amadores so internacionalmente conhecidas pelo apelido ham transmissions.
43
b) no rodap: uma citao feita no texto pode ter sua bibliografia indicada na forma de notas
de rodap.
Exemplo: Veja o texto abaixo.
Diante de um antigo problema em relao ao conhecimento da profundidade abaixo da
quilha, surgiu o ecobatmetro que proporciona a informao de profundidade abaixo da
quilha de forma praticamente instantnea permitindo, inclusive, uma valiosa verificao da
posio por outros sistemas de navegao.
8
Neste caso, a referncia de nmero 5 constar do rodap, como exemplificado abaixo.
8
BARROS, Geraldo Luiz Miranda de. Navegando com a eletrnica. Rio de J aneiro: Catau, 1995.
44
CAPTULO 6
AVALIAO
6.1 Avaliao do trabalho de concluso de curso (TCC)
1) o TCC dever ser entregue em uma verso escrita e outra em meio magntico (CD) ao
orientador, no 6 semestre at o final do ms de agosto;
2) o orientador dever entregar as verses definitivas do TCC e a respectiva nota
Coordenao de TCC/Monografia;
3) o TCC que obtiver nota entre 3 e 5,9 ser restitudo ao aluno para correo ou elaborao
de um novo trabalho sobre o mesmo tema, a critrio da Coordenao de TCC/Monografia ou
do professor/orientador, num prazo mximo de 30 dias para anlise e atribuio de uma nova
nota;
4) o TCC ser avaliado segundo os critrios anunciados na Folha de Avaliao Escrita (FAE),
anexo R.
6.2 Aprovao
1) para aprovao o aluno dever obter nota igual ou superior a 6 (seis);
2) no caso de TCC com avaliao inferior a trs o aluno poder ter sua matrcula cancelada.
Caber ento ao Conselho de Ensino a deciso final quanto reprovao;
3) podero ser apresentados pelos alunos, no mximo, os dez trabalhos mais bem avaliados;
4) os TCCs que obtiverem nota a partir de 8.0 (oito) sero selecionados para comporem o
acervo da Biblioteca deste Centro de Instruo;
5) a aprovao no TCC condio essencial para a expedio do histrico escolar do aluno
(a) ao trmino do ano letivo.
45
CAPTULO 7
DISPOSIES FINAIS
7.1 Utilizao das monografias dos alunos
O CIAGA se reserva o direito de utilizar os trabalhos apresentados pelos alunos para
referncias disponveis em biblioteca fsica ou virtual para outros alunos, para aprimoramento
do material didtico utilizado em seus cursos ou melhor aproveitamento.
7.2 Divulgao das monografias
Os autores das monografias tm liberdade de divulg-las fora do mbito do CIAGA,
independentemente de autorizao deste Centro de Instruo, desde que seja comunicado
antecipadamente Coordenao de TCC.
46
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Informao e documentao -
referncia elaborao. NBR 6023/2002. Rio de J aneiro, 2002.
_______. Informao e documentao numerao progressiva das sees de um
documento escrito. NBR 6024/2012. Rio de J aneiro, 2012.
_______. Informao e documentao sumrio. NBR 6027/2012. Rio de J aneiro, 2012.
_______. Informao e documentao ndice. NBR 6034/2004. Rio de J aneiro, 2004.
_______. Informao e documentao resumo. NBR 6024/2003. Rio de J aneiro, 2003.
_______. Informao e documentao citaes em documento. NBR 6024/2002. Rio de
J aneiro, 2002.
_______. Informao e documentao referncias. NBR 6023/2012. Rio de J aneiro,
2002.
_______. Informao e documentao trabalhos acadmicos. NBR 14724/2011. Rio de
J aneiro, 2011.
_______. Norma para datar. NBR 6024/1989. Rio de J aneiro, 1989.
CASTAGNARO, Fabiana Correa. Material de apoio para trabalho de concluso de curso
TCC. Rio de J aneiro, 2013.
ISKANDAR, J amil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos cientficos.
METRING, Roberte Arajo. Pesquisas cientficas: planejamento para iniciantes. 1 Ed.
Curitiba: 2011.
ANEXOS
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUO ALMIRANTE GRAA ARANHA
CURSO DE FORMAO DE OFICIAIS DA MARINHA MERCANTE
NOME DO ALUNO
TEMA
RIO DE JANEIRO
2013
A-1
ANEXO A
ANEXO B
B-1
NOME DO ALUNO
TTULO DA MONOGRAFIA: subttulo se houver
Monografia apresentada como exigncia para
obteno do ttulo de Bacharel em Cincias Nuticas
do Curso de Formao de Oficiais de
Nutica/Mquinas da Marinha Mercante, ministrado
pelo Centro de Instruo Almirante Graa Aranha.
Orientador (a): ________________________
Rio de J aneiro
2013
ANEXO C
C-1
NOME DO ALUNO
TTULO DA MONOGRAFIA: subttulo se houver
Monografia apresentada como exigncia para
obteno do ttulo de Bacharel em Cincias Nuticas
Nutica/Mquinas da Marinha Mercante, ministrado
pelo Centro de Instruo Almirante Graa Aranha.
Data da Aprovao: ____/____/____
Orientador (a):_______________________________________________________________
Titulao (Mercante/Especialista/Mestre/Doutor, etc)
_________________________
Assinatura do Orientador
NOTA FINAL:____________
ANEXO D
D-1
Aos Xx, Xx tudo em minha vida.
ANEXO E
AGRADECIMENTOS
Antes de tudo, agradeo ao Prof. Dr. Fulano pela paciente orientao desta
monografia. Seu direcionamento de pesquisa, suas sugestes e apontamentos para o
bom desenvolvimento do trabalho...
E-1
ANEXO F
F-1
Os que se encantam com a prtica sem a cincia so como os
timoneiros que entram no navio sem timo nem bssola, nunca tendo
a certeza do seu destino.
(LEONARDO DA VINCI)
ANEXO G
G-1
RESUMO
Ao se estudar a Marinha Mercante, necessrio fazer uma retrospectiva histrica da formao
de seus oficiais e da evoluo da Marinha Mercante no Brasil, apontando os momentos
principais no contexto nacional; como por exemplo o desenvolvimento de seus navios e seus
respectivos sistemas de propulso, assim como a diviso social do trabalho martimo e sua
evoluo para o parcelamento do trabalho. Analisa-se ao longo do tempo como se inicia e se
desenvolve a formao do oficial de mquinas, desde a sua implementao de ensino de nvel
mdio at nvel superior, com titulao de Bacharel em Cincias Nuticas, ministrada nos
Centros de Instruo da Marinha Mercante (CIABA e CIAGA). Com base nas normas que
regulamentaram esse tipo de ensino; nos programas para exames, na criao das escolas e
suas principais caractersticas, assim como, nas grades curriculares dos principais cursos.
Palavras-chave: Marinha Mercante no Brasil. Oficial de Marinha Mercante. Navios
Mercantes. Sistema de Propulso.
ANEXO H
H-1
ABSTRACT
This study makes a historical retrospective on the formation of the Brazilian Merchant Marine
Officer, pointing at the most relevant moments of the national reality. It explains the
development of merchant ships and their propulsion systems, as well as the social division of
maritime work and its evolution in the parceling of work; finally, an analysis of the evolution
of the formation of the engine officer is made, from the origin to the todays college level,
granting Bachelor in Nautical Sciences degrees, as applied by the Merchant Marine
Instruction Centers (CIAGA an CIABA). The related legislation is also referred. The
examination programs, the instruction centers creation an their main peculiarities as well as
the curricula of the main courses are also exploited.
Key-words: formation of the Brazilian Merchant Marine Officer and evolution of the
Brazilian Merchant Marine.
ANEXO I
I-1
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da Tabela)
Tabela 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da Tabela)
Tabela 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da Tabela)
Tabela 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da Tabela)
Tabela 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da Tabela)
Tabela 6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da Tabela)
ANEXO J
J-1
LISTA DE ILUSTRAES
Figura 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da figura)
Figura 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da figura)
Figura 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da figura)
Figura 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da figura)
Figura 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da figura)
Figura 6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nome da figura)
ANEXO K
K-1
SUMRIO
INTRODUO.......................................................................................................................11
1 POLUIO MARINHA.....................................................................................................12
1.1 Poluio por gua de lastro...............................................................................................13
1.1.1 gua de lastro..............................................................................................................13
1.1.2 Bioinvaso e gua de lastro.........................................................................................14
1.2 Poluio por lixo marinho................................................................................................15
1.2.1 Poluio por plstico...................................................................................................16
1.2.2 Ilhas de lixo.................................................................................................................17
1.2.3 Bioinvaso e lixo.........................................................................................................18
1.3 Petrleo e derivados..........................................................................................................18
1.3.1 Comportamento no ambiente.......................................................................................19
1.3.2 Poluio por leo.........................................................................................................20
2 LEGISLAO AMBIENTAL...........................................................................................22
2.1 Acidentes com derramamento de leo..............................................................................22
2.1.1 Torrey Canyon.............................................................................................................22
2.1.2 Exxon Valdez..............................................................................................................23
2.1.3 rika............................................................................................................................23
2.1.4 Prestige........................................................................................................................23
2.1.5 Deepwater Harizon......................................................................................................24
CONSIDERAES FINAIS.................................................................................................41
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .................................................................................42
ANEXO L
L-1
INTRODUO
Desde a Antiguidade os oceanos foram fonte do desenvolvimento humano: primeiro
como fonte de alimento atravs da pesca e mais tarde como meio de novas descobertas. O
homem sempre se fascinou pelo mar, e desse fascnio veio a curiosidade para saber o que
existia alm do que se podia ver e assim, surgiram as primeiras expedies martimas.
As expedies que deram origem a uma nova Era tinham como objetivo principal o
descobrimento de novas rotas comerciais e a partir desta poca se consolidou o comrcio
martimo que o molde do que temos hoje como Marinha Mercante. Mesmo sendo uma
atividade muito antiga, a preocupao do impacto dessa atividade no ambiente marinho
muito recente.
Esse trabalho mostra que o conceito de preservar o ambiente marinho ainda no bem
entendido por todos os setores: preserva-se por que lei, e essas leis e convenes so criadas
a partir de grandes desastres, como pode ser visto num captulo especfico sobre a legislao
aplicada ao assunto.
A poluio martima proveniente de diferentes fontes, no entanto este trabalho tem
por objetivo abordar apenas o papel da Marinha Mercante nesse contexto.
O objetivo do trabalho mostrar o impacto da atividade mercante no ambiente, para
que como profissionais possamos aplicar o conceito de desenvolvimento sustentvel que visa
preservar os recursos naturais para as geraes atual e futura.
ANEXO M
M-1
CAPTULO 1
POLUIO MARINHA
Segundo a Conveno de Montego Bay Artigo 1, poluio do meio marinho significa
a introduo pelo homem, direta ou indiretamente, de substncias ou de energia no meio
marinho, incluindo os esturios, sempre que a mesma provoque ou possa vir a provocar os
efeitos nocivos, tais como danos aos recursos vivos e vida marinha, riscos sade do
homem, entrave s atividades martimas, incluindo a pesca, e s outras utilizaes legtimas
do mar, alterao da qualidade do mar, n que se refere a sua utilizao, e deteriorao dos
locais de recreio.
Internacionalmente so consideradas as seguintes formas de poluio marinha:
a) Poluio de origem terrestre: proveniente de fontes terrestres, inclusive rios, lenis
freticos, esturios, dutos e instalaes de descarga;
b) Poluio proveniente de atividades relativas aos fundos ocenicos e ilhas artificiais e
instalaes sob jurisdio nacional, com especial ateno s atividades de extrao de
petrleo e gs natural;
c) Poluio proveniente de atividades no leito do mar, nos fundos marinhos e em seu
subsolo alm dos limites da jurisdio nacional;
d) Poluio por alojamento: lanamento deliberado no mar de dejetos e outras matrias a
partir de embarcaes, aeronaves, plataformas ou outras construes, inclusive
afundamento deliberado destes no mar;
e) Poluio proveniente de embarcaes: derramamento involuntrio de substncias
txicas, nocivas, bio-acumulativas ou persistentes no meio ambiente, entre as quais se
incluem os leos e hidrocarbonetos derivados de petrleo, inclusive poluio
radioativa proveniente de embarcaes propulsionadas por este tipo de energia;
f) Poluio proveniente da atmosfera ou atravs dela: aeronaves e utilizao do espao
areo, bem como transportadas na atmosfera e depositadas no mar, provenientes de
descargas poluentes;
g) Poluio originria das atividades de dumping;
h) Poluio proveniente de atividades e testes nucleares
ANEXO N
N-1
CONSIDERAES FINAIS
O presente trabalhou demonstrou que apesar de a poluio marinha ser um problema
antigo e de grande impacto para o ecossistema e, consequentemente, para a vida humana,
apenas a pouco tempo se tornou uma preocupao efetiva a nvel internacional.
Torna-se evidente que a poluio no fica esttica, que uma rea afetada, afeta outras
atravs das correntes marinhas, por isso importante que novas convenes e regulamentos
sejam produzidos e que os pases cheguem a acordos a respeito da troca de informaes
concernente ao assunto.
Evidenciou-se nesse trabalho, o papel fundamental da Marinha Mercante nesse
processo, e espera-se que nos trabalhos que se seguem a esse o panorama ambiental seja
melhor do que o atual.
Foram mostrados alguns projetos e instituies que tentam combater o assunto, mas
fundamental que exista uma conscincia global a respeito do tema, pois sem essa conscincia,
muitos dos projetos existentes como o mapeamento de lixo em diferentes regies ou a coleta
manual, tornam-se altrustas.
Fica a esperana de que em breve, tenhamos a conscincia efetiva sobre o impacto das
nossas atividades na natureza e de que respostas mais eficientes sejam aplicadas aos possveis
incidentes futuros.
ANEXO O
O-1
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ANDRADE, Srgio dos Anjos. Manual do curso especial de segurana pessoal e
responsabilidades sociais. 1 ed. Rio de J aneiro: DPC, 2007. 75p.
BRAIN, Marshall. Como funciona o sistema de tratamento de esgoto. Disponvel em: <
ambiente.hsw.uol.com.br/tratamento-de-esgoto.htm >Acesso em: 29 jun. 2011.
COTRIM, Flvio Pinheiro. Mudana global do clima: cincias e polticas pblicas.
Disponvel em: <www.cecm.usp.br/revista/Artigos/Mudanca_Global_do_Clima>Acesso em:
1 jul. 2011.
ANEXO P
P-1
BIBLIOGRAFIA
ACCIOLY, J air Amaral. Apostila de legislao. Rio de J aneiro: EFOMM. 2009.
FIORILLO, Celso Antnio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abellha. Manual de direito
ambiental e legislao aplicvel. So Paulo: Max Limond. 1999.
ANEXO Q
Q-1
GLOSSRIO
Baud A unidade para medida da velocidade de transmisso de dados, usualmente usada
para descrever a velocidade com que um modem transfere dados, como 2400 bauds. Uma
medida mais precisa para a velocidade de transmisso bps (bits por segundo).
Cache a parte da memria que faz o seu computador rodar mais rpido, ao armazenar os
dados mais recentemente acessados. Da prxima vez que precisar dos dados, ele os consegue
da memria cache em vez do disco, que seria mais lento. Tambm chamada de RAM Cache.
Download Para copiar arquivos de outro computador para o seu, geralmente atravs de um
modem. (Veja tambm descarregar ou baixar.)
Drive lgico A seo do disco rgido ou da memria que tratada como se fosse um disco
separado, e ligada por uma letra prpria. Por exemplo, voc pode dividir o seu disco rgido
nos drives lgicos C, D e E. Ele continua um nico disco, mas est dividido em outros drives
lgicos. Drives lgicos so mais freqentes em redes.
ANEXO R
FOLHA DE AVALIAO ESCRITA (FAE)
Nome:
N
Turma:
Data:
_____ / _____ / ____
Tema:
Nota final:
Orientador (a):
Rubrica do
Orientador (a):
CRITRIOS DE AVALIAO NOTA
Elementos pr e
ps-textuais
Capa at o sumrio; referncias; apndice; anexo e ndice.
1,0
Clareza Texto fcil de entender, ordenao das ideias, adequao da
linguagem, coeso, coerncia.
Evitar: perodos longos ou muito curtos, linguagem rebuscada,
conectores mal empregados, palavras que geram a ambigidade.
1,0
Conciso Preciso/exatido.
Evitar: frases feitas e chaves, usar palavras a mais do que o
necessrio, adjetivao abundante, redundncia, pleonasmo,
excesso de oraes subordinadas desenvolvidas.
1,0
Originalidade O texto tem origem no indivduo, criatividade, capacidade crtica.
Evitar: plgio.
1,0
Correo Norma culta: concordncia, regncia, colocao pronominal,
seleo vocabular, ortografia, pontuao, acentuao, emprego de
maisculas e minsculas, crase.
Evitar: estrangeirismo, barbarismo, cacografia, cruzamento
lxico.
1,0
Harmonia/Elegncia Boa disposio das palavras, apresentao do texto, agradvel
leitura.
Evitar: grias, frases prontas, cacofonia, eco, coliso aliterao e
abreviao.
1,0
Introduo: apresentao do trabalho. 0,5
Desenvolvimento: argumentos fortes, nenhuma informao
poder ser subentendida.
Tipo de texto: Dissertativo-argumentativo.
2,0
Partes do Texto
Consideraes Finais: confirmao da tese apresentada,
apontando eventuais perspectivas.
0,5
Pesquisa Aprofundamento (obras de autores renomados), material
empregado, mtodo, aplicabilidade de dados, fatos e cumprimento
do prazo determinado.
1,0
Total 10,0
R-1
Você também pode gostar
- Hinário Padrinho Fernando DiniDocumento8 páginasHinário Padrinho Fernando DiniPaulo Castilho100% (2)
- Ansiedade Na PerformanceDocumento29 páginasAnsiedade Na PerformanceElder ThomazAinda não há avaliações
- Livreto Manual de ReparoDocumento12 páginasLivreto Manual de ReparoÉder ZeiqueAinda não há avaliações
- Manual Video Porteiro Amelco Vip 2010 PDFDocumento13 páginasManual Video Porteiro Amelco Vip 2010 PDFJosue Alfaia50% (2)
- Bandeiras Conveniencia Beneficios MaleficiosDocumento63 páginasBandeiras Conveniencia Beneficios MaleficiosJosue AlfaiaAinda não há avaliações
- 1.4.3-Navios GraneleirosDocumento25 páginas1.4.3-Navios GraneleirosRafael LucenaAinda não há avaliações
- Guia TCCDocumento69 páginasGuia TCCJosue AlfaiaAinda não há avaliações
- Apostila Prp-1 EgpoDocumento125 páginasApostila Prp-1 EgpoJosue AlfaiaAinda não há avaliações
- Psicologia, Direitos HumanosDocumento10 páginasPsicologia, Direitos HumanosfelipejasbickAinda não há avaliações
- Módulo - Batalha EspiritualDocumento28 páginasMódulo - Batalha EspiritualMarcus Marques100% (1)
- Machado de Assis - Luís SoaresDocumento10 páginasMachado de Assis - Luís SoaresluccacmAinda não há avaliações
- Trabalho de Conclusao de CursoDocumento44 páginasTrabalho de Conclusao de CursoThalia DomingosAinda não há avaliações
- Revisão Do Livro The Fourth WaveDocumento31 páginasRevisão Do Livro The Fourth WaveArthurBrasilAinda não há avaliações
- Questionário - Como Analisar Narrativas - Cândida GanchoDocumento4 páginasQuestionário - Como Analisar Narrativas - Cândida GanchoRochelle da Fonseca OliveiraAinda não há avaliações
- O Papel Do TeólogoDocumento7 páginasO Papel Do Teólogomslinda91100% (1)
- Exercícios Sobre LINGUAGEMDocumento3 páginasExercícios Sobre LINGUAGEMAdriana Duarte Soares100% (2)
- Por Uma Escola Do Campo: A Experiência Do MST Com Escolas de Ensino Médio em Assentamentos de Reforma Agrária No Estado Do CearáDocumento25 páginasPor Uma Escola Do Campo: A Experiência Do MST Com Escolas de Ensino Médio em Assentamentos de Reforma Agrária No Estado Do CearáPaulo RobertoAinda não há avaliações
- Instrução Normativa 99Documento20 páginasInstrução Normativa 99marcio262626Ainda não há avaliações
- Mediunidade, Estudo e Prática Programa-2 PDFDocumento376 páginasMediunidade, Estudo e Prática Programa-2 PDFMarcos Villela Pereira100% (1)
- O ConsoladorDocumento23 páginasO ConsoladorC Caminho FriburgoAinda não há avaliações
- Boaventura Recepção e Estudos CulturaisDocumento178 páginasBoaventura Recepção e Estudos Culturaiswalery05Ainda não há avaliações
- D, Timotéo oSBDocumento28 páginasD, Timotéo oSBMoises OliveiraAinda não há avaliações
- Tarot Vs AstrologiaDocumento7 páginasTarot Vs AstrologiaAdriane Freitas F100% (1)
- DissertaçãoDocumento8 páginasDissertaçãoFatu SoareAinda não há avaliações
- Protocolo de IntençõesDocumento7 páginasProtocolo de IntençõesArthur Farias de SouzaAinda não há avaliações
- Atividades Auto Avaliação-GiseleDocumento2 páginasAtividades Auto Avaliação-GiseleAntonio CarlosAinda não há avaliações
- MEMORIASDocumento154 páginasMEMORIASFelipe Rangel PradoAinda não há avaliações
- Quero Fazer Divulgação Científica Nas Mídias Sociais... E AgoraDocumento64 páginasQuero Fazer Divulgação Científica Nas Mídias Sociais... E AgoraJean FariasAinda não há avaliações
- Flexão Pura - Capitulo 4, Resistência Dos MateriaisDocumento20 páginasFlexão Pura - Capitulo 4, Resistência Dos MateriaisHugo CavalcanteAinda não há avaliações
- Questionario de Métodos de EstudoDocumento11 páginasQuestionario de Métodos de EstudoCarla Campelo100% (1)
- 5 Espacialidade RuralDocumento2 páginas5 Espacialidade RuralcrcncrcnAinda não há avaliações
- REFERENCIAL 812185 - Técnico-a-de-Informação-e-Animação-Turística - ReferencialEFADocumento59 páginasREFERENCIAL 812185 - Técnico-a-de-Informação-e-Animação-Turística - ReferencialEFATJAcores4470100% (1)
- Lista de Exercício Extra - 2º AnoDocumento2 páginasLista de Exercício Extra - 2º AnoGleicikelly GazolaAinda não há avaliações
- ESTATÍSTICA - Crítica e Validação de Dados em Uma Pesquisa.Documento1 páginaESTATÍSTICA - Crítica e Validação de Dados em Uma Pesquisa.Rafaella RibeiroAinda não há avaliações
- O CruzeiroDocumento8 páginasO CruzeiroEd MarcosAinda não há avaliações
- O Manual Negro Do VampirismoDocumento34 páginasO Manual Negro Do VampirismoGillian TheKawaiiAinda não há avaliações