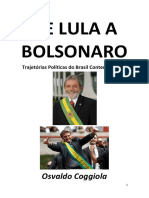Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Políticas Culturais para o Desenvolvimento
Políticas Culturais para o Desenvolvimento
Enviado por
Bárbara Duarte LiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Políticas Culturais para o Desenvolvimento
Políticas Culturais para o Desenvolvimento
Enviado por
Bárbara Duarte LiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UMA BASE DE DADOS PARA A CULTURA
NESTOR CANCLINI
HELENA SAMPAIO
CHRISTIANO LIMA BRAGA
ANA MARA OCHOA
JAUME PAGS FITA
ALFONS MARTINELL
PEDRO TADDEI NETO
PATRICIA RODRGUEZ ALOM
SYLVIE ESCANDE
EDGAR MONTIEL
GEORGE YDICE
SYLVIE DURN
LUS ANTNIO PINTO OLIVEIRA
GUSTAVO MAIA GOMES
TEIXEIRA COELHO
Braslia, setembro de 2003
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 1
UNESCO 2003 Edio publicada pelo Escritrio da UNESCO no Brasil
Culture Sector
Division of Cultural Policies and Intercultural Dialogue
Culture and Development Section / UNESCO-Paris
Os autores so responsveis pela escolha e apresentao dos fatos contidos neste livro, bem como pelas
opinies nele expressas, que no so necessariamente as da UNESCO, nem comprometem a Organizao.
As indicaes de nomes e a apresentao do material ao longo deste livro no implicam a manifestao de
qualquer opinio por parte da UNESCO a respeito da condio jurdica de qualquer pas, territrio,
cidade, regio ou de suas autoridades, nem tampouco a delimitao de suas fronteiras ou limites.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 2
UMA BASE DE DADOS PARA A CULTURA
NESTOR CANCLINI
HELENA SAMPAIO
CHRISTIANO LIMA BRAGA
ANA MARA OCHOA
JAUME PAGS FITA
ALFONS MARTINELL
PEDRO TADDEI NETO
PATRICIA RODRGUEZ ALOM
SYLVIE ESCANDE
EDGAR MONTIEL
GEORGE YDICE
SYLVIE DURN
LUS ANTNIO PINTO OLIVEIRA
GUSTAVO MAIA GOMES
TEIXEIRA COELHO
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 3
Edies UNESCO BRASIL
Conselho Editorial da UNESCO no Brasil
Jorge Werthein
Cecilia Braslavsky
Juan Carlos Tedesco
Adama Ouane
Clio da Cunha
Comit para a rea de Cultura
Jurema de Souza Machado
Slvio Tendler
Margarida Ramos
Traduo: Elga Prez Laborde
Edio de Textos: Caroline Soudant
Reviso: Ins Ulhoa
Assistente Editorial: Larissa Vieira Leite
Apoio Tcnico: Ana Luiza Piatti
Projeto Grfico: Edson Fogaa
Diagramao: Paulo Selveira
UNESCO, 2003
Polticas culturais para o desenvolvimento: uma base de dados para
a cultura. Braslia : UNESCO Brasil, 2003.
236 p.
l. Cultura e DesenvolvimentoBrasil 2. CulturaPolticas
PblicasBrasil 3. CulturaCooperao Tcnica Internacional
4. CulturaBase de DadosBrasil 5. CulturaSistema de Informao
Brasil 6. Patrimnio CulturalPreservaoBrasil 7. ArtesanatoBrasil
8. CulturaEstatsticaBrasil I. UNESCO
CDD 350.85
Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura
Representao no Brasil
SAS, Quadra 5 Bloco H, Lote 6, Ed. CNPq/IBICT/UNESCO, 9 andar.
70070-914 Braslia DF Brasil
Tel.: (55 61) 2106-3500
Fax: (55 61) 322-4261
E-mail: UHBRZ@unesco.org.br
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 4
Sumrio
Agradecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Introduo
JorgeWerthein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
PARTE I Reconst r ui r pol t i cas de i ncl uso na Amr i ca Lat i na
1.Reconstruir polticas de incluso na Amrica Latina
Nstor Garca Canclini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
PARTE II Cul t ur a, desenvol vi ment o e i ndi cador es soci ai s
2.A experincia do artesanato solidrio
Helena Sampaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
3.A cultura nas polticas e programas do Sebrae
ChristianoBraga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
4.Indicadores culturais para tempos de desencanto
Ana Mara Ochoa Gautier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
PARTE III Ci dade e pol t i cas cul t ur ai s
5.O Frum Universal das Culturas: Barcelona 2004
JaumePags Fita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 5
6.Cultura e cidade: uma aliana para o desenvolvimento.
A experincia da Espanha
AlfonsMartinell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
7.Preservao sustentada de stios histricos:
A experincia do Programa Monumenta
PedroTaddei Neto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
8.O Centro Histrico de Havana um modelo de gesto pblica
PatriciaRodrguez Alom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
PARTE IV Base de dados par a a cul t ur a
9.Entre mito e realidade, quarenta anos de produo de indicadores
culturais na Frana
SylvieEscande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
10.A comunicao no fomento de projetos culturais para o desenvolvimento
Edgar Montiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
11.Para um banco de dados que sirva
GeorgeYdiceeSylvieDurn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
12.As bases de dados do IBGE Potencialidades para a cultura
Lus AntnioPintoOliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
13.Primeiras aes para um programa de informaes culturais no Brasil
GustavoMaia Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
PARTE V Banco de dados: do i ner t e cul t ur al cul t ur a da vi da
14.Banco de dados: do inerte cultural cultura da vida
Teixeira Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Nota sobre os autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 6
7
Agradecimentos
A UNESCO e o IPEA realizaram, em agosto de 2002, o Seminrio
Internacional sobre Polticas Culturais para o Desenvolvimento Uma base de
dados para a Cultura que teve por objetivo, no s renovar o interesse pela relao
entre cultura e desenvolvimento, mas estimular o surgimento de uma agenda
comumpara a criao de bases de dados sobre a cultura.
A UNESCO apresenta nesta publicao o registro das contribuies dos
especialistas e agradece aos nossos parceiros e colaboradores: Instituto de
Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica (IBGE), Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), Fundao Joaquim
Nabuco (Fundaj) e a Seo de Cultura e Desenvolvimento da Diviso de
Polticas Culturais e Dilogo Intercultural da UNESCO.
Agradecimentos especiais ao professor Teixeira Coelho Neto pelo apoio na
concepo do seminrio e elaborao do relatrio final.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 7
9
Apresentao
A relao entre cultura e desenvolvimento vem assumindo, crescente e
aceleradamente, um lugar de destaque na agenda contempornea. Est claro
que, nessa perspectiva, falamos de cultura no seu conceito mais pleno. Cultura,
portanto, como a dimenso simblica da existncia social de cada povo, arga-
massa indispensvel a qualquer projeto de nao. Cultura como eixo construtor
das identidades, como espao privilegiado de realizao da cidadania e de
incluso social e, tambm, como fato econmico gerador de riquezas.
Todavia, dar conta dessa dimenso conceitual da cultura e das potenciali-
dades de desenvolvimento social a inscritas no tarefa fcil. Exige, primeira-
mente, um concentrado esforo de convencimento poltico que garanta o
necessrio deslocamento da cultura, nas agendas governamentais, da posio
subalterna a que costuma estar relegada condio de questo estratgica.
Mas tal deslocamento e sua materializao em polticas pblicas de cultura
cada vez mais transversais, sintonizadas e sincronizadas com o conjunto das
outras polticas sociais no depende to somente do trabalho de convencimento.
Requer, tambm, que os gestores culturais disponham de informaes, dados e
anlises capazes de alimentar o processo de formulao, acompanhamento e
avaliao de polticas.
Aqui o desafio , essencialmente, produzir conhecimento terico e prtico
das vrias dinmicas culturais, mapear as cadeias produtivas da economia da
cultura, identificar os atores sociais envolvidos, criar e disponibilizar bancos de
dados e sistemas de informaes.
No Brasil, nesse campo, muito ainda h por ser feito. E muito pretende
fazer o Ministrio da Cultura do Governo Luiz Incio Lula da Silva que,
reconhecendo como fundamental e estratgica a relao entre cultura e desen-
volvimento, elegeu entre suas prioridades o enfrentamento da tarefa e do
desafio aqui enunciados.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 9
10
Assim que saudamos as mltiplas e importantes reflexes apresentadas
no Seminrio Internacional sobre Polticas Culturais para o Desenvolvimento
Uma Base de Dados para a Cultura, promovido pela UNESCO e pelo IPEA,
realizado em Recife, em agosto de 2002, e que agora vm a pblico com a
edio deste livro, pelo que representam como contribuio relevante para o
cumprimento da tarefa e a superao do desafio que se muito tm de difcil
mais ainda tm de inadivel.
Gilberto Gil
MinistrodeEstadoda Cultura
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 10
11
Abstract
UNESCO presents a record of theparticipant experts' contribution totheSeminar on
Cultural Policies for Development - A Databasefor Culture. This event was jointly organised
withIPEA in August 2002 withsupport fromBancodoBrasils Cultural Centre, Sebrae, the
JoaquimNabucoFoundation and IBGE.
Focusingon best practices selected in Brazil and abroad, theSeminar aimed not only to
reviveinterest in theconnection between cultureanddevelopment but alsotofoster theemergence
of a common agenda for thecreation of a Brazilian information systemon culture.
Issues examined includethereconstruction of policies for social inclusion in Latin
America, urban development and local cultural policies, therelationshipbetween violenceand
culture, and concern withculturein development programmes. In addition, specificstudies
relatingtotheconception of databasesandcultural statisticsin Brazil werepresentedandelements
identifiedfor thedesign of a useful database. Thefinal chapter provides critical comments anda
systematicorganisation of theaforementioned contributions, addingfurther conclusions.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 11
13
No a primeira vez que se discute polticas culturais no Brasil, nemmesmo
as relaes entre cultura e desenvolvimento. Essas ltimas so pauta da UNESCO,
desde pelo menos os anos 1980. Tambm no a primeira vez que se discute a
importncia das informaes sobre a cultura, e no so inditas as tentativas
de levant-las. No entanto, tenho a ousadia ou o otimismo de acreditar que
amadurecemos bastante e, sobretudo, que a nossa demanda por umsistema de
informaes sobre a cultura hoje de uma tal evidncia que teremos a capacidade
de concepo e as adeses necessrias para constru-lo.
A evoluo do pensamento da UNESCO sobre a cultura tem sido uma
bela construo no campo das idias que, ao longo do tempo, veio agregando com-
plexidadeao entendimento do processo cultural e ampliando progressivamente
as nossas responsabilidades. Se voltarmos aos anos 1980, mais precisamente
Conferncia Mundial do Mxico de 1982, vamos nos deparar comos conceitos de
cultura e de desenvolvimento sendo expressos comuma tal intimidade entre ambos,
que um leitor menos atento poderia facilmente permutar um pelo outro, sem
prejuzo dos seus contedos. A Recomendao da Dcada Mundial do Desen-
volvimento Cultural, que resultou da Conferncia do Mxico, conceitua:
culturacomo o conjunto de caractersticas espirituais e materiais, inte-
lectuais e emocionais que definemumgrupo social. (...) engloba modos de vida,
os direitos fundamentais da pessoa, sistemas de valores, tradies e crenas; e
desenvolvimentocomo umprocesso complexo, holstico e multidimensional,
que vai alm do crescimento econmico e integra todas as energias da comunidade
Introduo
JorgeWerthein
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 13
14
(...) deve estar fundado no desejo de cada sociedade de expressar sua profunda
identidade...
Energiacriadoraedesejodeexpressar identidade... no seria estauma bela definio
para cultura? Ou para desenvolvimento? Ou para os dois?
Depois do Mxico, veio, em 1986, a Conferncia de Bruntland, que em seu
documento final, Nossofuturocomum, introduziu os conceitos de sustentabilidade
e de biodiversidade, ambos transportados, trazendo avanos importantes, para o
campo da cultura. No h hoje programa ou projeto de reabilitao de stios
histricos que no adote a preservao sustentada como umprincpio norteador,
ainda que com variados graus de eficincia e conceitos de sustentabilidade
freqentemente parciais. Da mesma forma, a defesa da diversidade cultural
passa a ser tratada pela UNESCOcomo uma poltica imperativa frente s tendn-
cias de homogeneizao trazidas pela globalizao.
A dcada seguinte marcada pela criao da Comisso Mundial de Cultura
e pelo relatrio Javier Perez de Cuellar, Nossa diversidadecriadora, publicado em
1995. O relatrio acrescenta que o desenvolvimento no tem de ser apenas
sustentvel, mas cultural. Por ltimo, em 1998, a Conferncia de Estocolmo sobre
Polticas Culturais para o Desenvolvimento fixa objetivos, como a adoo da
poltica cultural como chave da estratgia de desenvolvimento, a promoo da
criatividade, da participao na vida cultural e da diversidade cultural elingstica.
A UNESCO prossegue publicando bienalmente informes mundiais sobre a
cultura, em que se ressaltam novas tendncias, apontam-se eventos que afetam
a cultura, divulgam-se boas prticas em polticas culturais e publicam-se uma srie
de indicadores quantitativos. Toda essa seqncia se d num crescendumque vai
imbricando cada vez mais, tornando cada vez mais indissocivel e, por fim,
postulando at mesmo como determinante, o significado da cultura no processo
de desenvolvimento.
Relembro esses conceitos porque eles nos colocam diante do primeiro
grande desafio para a construo de umsistema de informaes sobre a cultura.
Esse desafio resulta exatamenteda riqueza do objeto comquepretendemos trabalhar:
trata-se da definio do campo de trabalho, ou seja, desse que acabo de defender
como sendo o vastssimo campo da cultura.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 14
15
I nt r oduo
Insisto, no entanto, que a busca dessa definio deve ser assumida como
uma instigao permanente, mas, ao mesmo tempo, mobilizadora, e no como uma
dvida paralisante. Os pases e instituies que avanaramna construo dos seus
bancos de dados sobre a cultura certamente conviveram e convivem com essa
inquietao, que deve implicar a busca da flexibilidade na formatao das infor-
maes e da amplitude das correlaes que se possa estabelecer entre elas. Nada,
no entanto, que nos impea de comear pelo que j sabemos, pelo que os mais
experientes tm para nos dizer e, principalmente, pela construo de critrios
que sejam pactuados como referncias, para que no se perca tempo em polemizar
sobre resultados, sem considerar as premissas das quais se originaram as anlises.
Vencido esse obstculo inicial, qualquer que seja a dimenso do universo
adotado, uma primeira chave de umsistema de informaes aquela que seja capaz
de demonstrar que a cultura tem significado econmico. E, por conseqncia,
que esse significado deve ser medido.
Mais uma vez, os mais cticos diro das dificuldades de se dimensionar a
participao da atividade informal ou de atividades que, indiretamente, participam
do processo de produo de bens culturais.
Insisto emcomearmos por aquilo que as estruturas existentes de coleta de
dados j so capazes de captar e que no pouco! No conhecemos, e por
isso no aproveitamos, os resultados que podemvir de tudo que j est disponvel
em matria de informao bruta, no sistematizada. Esses dados no tm sido
trabalhados ou tornados pblicos com regularidade a ponto, por exemplo, de
nos oferecer instrumentos para defender, de forma mais convincente, uma melhor
participao da cultura no oramento pblico.
A cultura hoje um dos setores de mais rpido crescimento nas economias
ps-industriais. Conhecer o seu funcionamento, alm de ampliar o seu desem-
penho como um fator de ingresso para a economia, nos permitir associar a
melhoria de condies de vida como parte da mesma estratgia, favorecendo
a criao endgena, melhor organizao do processo de produo e acesso aos
bens culturais.
Outro resultado importante que decorre de todo tipo de mensurao
confivel e produzida com regularidade o de favorecer comparaes que
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 15
16
acabam por estimular uma competio saudvel entre setores, administraes ou
territrios. A mdia repercute hoje uma infinidade de ndices, muitos deles aguar-
dadosansiosamente a cada ano, e muitos j incorporados ao vocabulrio de grande
parcela da populao. Quando publicados, surgeminevitavelmente as comparaes:
uns so chamados s falas por no estarem cumprindo o seu papel, outros saem
envaidecidos e premiados pela sua evoluo ou pelo seu bom desempenho.
A vertente econmica, ainda que pouco trabalhada entre ns, me parece ser,
como disse, a mais imediata. A segunda chave de umsistema de informaes sobre
a cultura, mais complexa e no dedutvel da mensurao direta, mas de correlaes
que iro desafiar nossos especialistas, surge, no entanto, como essencial para que
no se perca de vista o real sentido da cultura.
Falo do tratamento da cultura como capital social. Se esse um setor que
tem como matrias-primas a inovao e a criatividade, ele tambm pea-chave da
economia do conhecimento e pode significar umestmulo permanente para outros
setores. Almdisso, mobilizador por estimular o sentimento de pertencimento a
umprojeto coletivo, a participao, a promoo de atitudes que favoreama paz e
o desenvolvimento sustentado, o respeito a direitos, enfim, a capacidade da pessoa
humana e das comunidades de regerem o seu destino.
A terceira chave insumo e fundamento para a compreenso das anteriores:
preciso conhecer mais profundamente o processo de produo de bens culturais.
preciso compreender as prticas culturais, identific-las, compreender a sua
relao comos lugares, coma cidade, como ambiente. preciso conhecer os atores
do processo cultural, seja na condio de produtores, de consumidores ou de
gestores. importante compreender as regras que regem suas relaes, entre
si e com a produo de cultura, sejam a legislao, as condies de formao
profissional, suas organizaes, suas interdependncias.
Tudo isso parece pretensioso? Grande demais? Pode ser se pretendermos que
a produo dessas informaes seja atribuda a umnico agente, capaz de vasculhar
cada canto onde se produz cultura neste pas. No entanto, a soluo no vir da
criao de um grande organismo produtor de estatsticas culturais. Tambm no
vir de umnovo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatsticas (IBGE) ou de um
novo Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), agora dedicados cultura.
Menosainda de um novo Ministrio da Cultura, novas secretarias de cultura, ou
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 16
17
mesmo de uma nova UNESCO, que se transformariamemgrandes rgos de
estatsticas.
Ao contrrio, o entendimento da UNESCO de que necessitamos, antes de
tudo, conceber e desenhar um sistema, compreendido como algo orgnico e arti-
culado. Algo que, partindo de um cerne de conceitos comuns, de um quadro de
prioridades e de uma estratgia convincente de adeso, passe, a partir da, a dissemi-
nar tarefas de execuo descentralizada, mas convergentes para um todo comum.
Alm daqueles cuja misso j a produo e o tratamento da informao,
como o caso do IPEA edo IBGE, os demais atores dessesistema so o setor pblico
que gera recursos e formula e implementa polticas culturais; o setor privado, seja o
empresarial, sejamas organizaes no-governamentais; a universidade; os produtores
de cultura. fundamental que quemproduz cultura seja tambmseduzido pela
cultura da informao. Essa deveestar disseminada entretodos, emcada instituio,
emcada local de trabalho, emcada produtora, por pequena que seja. Naturalmente
que, ao sistematizar tudo isso, uns tero atribuies maiores, outros menores, mas
no h como pensar em conhecer o universo da cultura, com a abrangncia que
pretendemos que ele tenha, se essa no for uma prtica difundidapor todo o setor.
E mais:
h hoje uma grande subutilizao do acervo de informaes do IBGE,
assim como so subutilizados os acervos recolhidos e em permanente
produo por todo o sistema de cultura;
h uma indiscutvel capacidade na universidade brasileira;
h onde buscar inspirao e experincia, seja naquilo que j produzimos,
seja nos exemplos dos pases que j avanaramneste tema;
h o IPEA, cada vez mais envolvido emcompreender eavaliar o processo social.
Nesse contexto, a UNESCO se oferece como melhor da sua vocao: criar
sinergias, buscar convergncias, aportar cooperao em torno de boas idias e de
bons projetos e de grandes empreitadas como ser a disseminao da cultura da
informaoentre os produtores de cultura e a criao de umsistema brasileiro de
informaes culturais.
I nt r oduo
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 17
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 18
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 19
21
Gostaria de propor alguns pontos de partida para repensarmos a atual
crise da Amrica Latina. Parece-me que essa valiosa iniciativa de elaborar modelos
renovados para construir indicadores culturais no pode ser estabelecida com os
mesmos instrumentos conceituais que tnhamos at alguns anos atrs para
vincular a cultura com o desenvolvimento social. A decadncia das utopias de
integrao latino-americana e os projetos de liberalizao do comrcio colocam
novas condies para o desenvolvimento sociocultural. De forma que se quisermos
ser eficazes para reunir estatsticas culturais e situ-las nas polticas de desen-
volvimento nacional e continental teremos que considerar as novas articulaes
entre economia e cultura.
Ante a pergunta de como desenvolver e integrar a Amrica Latina, cada ano
h mais respostas negativas: governantes que vendem o patrimnio, empresrios
que retiramseus investimentos, e emmuitos pases mais de 10% da populao
contesta a pergunta emigrando. Em lugar da retrica poltica que celebra a
histria comum, os estudos antropolgicos e de economia da cultura, os documentos
literrios e artsticos oferecemuma viso ambivalente sobre a viabilidade da Amrica
Latina. Parece que grande parte dessa viabilidade se manifesta globalmente de
trs modos: como produtores culturais, como migrantes e como devedores.
As condies atuais exigem um novo diagnstico: trata-se de repensar o
continente no horizonte da rea de Livre Comrcio das Amricas (ALCA)
proposto pelos Estados Unidos para 2005 e da crescente presena europia,
sobretudo da espanhola, na regio. Devemos pesquisar o que podem fazer ainda
1. Reconstruir polticas
de incluso na Amrica Latina
Nstor GarcaCanclini
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 21
22
os cidados e os organismos nacionais e internacionais para reconhecer a diver-
sidade cultural e somar recursos, convertendo-as em uma economia de escala e
recolocar o foco nas tarefas socioculturais.
Falemos das dvidas
Umrelatrio do Sistema Econmico Latino-Americano (SELA) anunciou,
emjulho de 2001, que cada habitante latino-americano deve US$ 1.550 ao nascer
(BOYE, 2001). Em tais declaraes parece que j no se trata se queremos ou
no ser latino-americanos, trata-se de um trgico destino pr-natal. Mas tambm
sabemos que essa cifra mdia da dvida significa para alguns habitantes o que
podero ganhar emuma semana ou emalgumas horas, e para a maioria de indgenas
e camponeses seu salrio de cinco ou dez anos.
Uma conseqncia dessas desigualdades que para alguns resulta em
uma dramtica dvida inicial e para outros j est quitada desde que entramno
berrio. No o mesmo enfrent-la em pases com recursos estratgicos abun-
dantes, ou com planos de desenvolvimento sustentveis durante dcadas
(Brasil, Chile, Mxico, talvez os trs melhores situados na globalizao), em
que a instabilidade, governos errticos e corruptos alienaram quase tudo, como
na Argentina. Como as dvidas nos perseguem de diversas formas, so distintas
as possibilidades de evadi-las ou modific-las. Essas diferenas prevalecem
sobre os padecimentos comuns. Por isso, estamos unificados, no unidos pelas
dvidas.
Mas, ao mesmo tempo, nessa condio de subordinao extrema devido
ao endividamento, as polticas neoliberais impulsionadas desde Washington e
alguns organismos transnacionais propemintegrarmos a ALCA no ano de 2005.
Jamais uma poltica de reestruturao econmica, nem a populista nem a desen-
volvimentista, tinha conseguido impor-se de forma simultnea e com tal homo-
geneidade no conjunto dos pases latino-americanos. Devido a essa coincidncia
alguns grupos sustentamque existemas condies para acordos de livre comrcio
regionais e para uma nova forma de integrao, no s dos pases latino-ameri-
canos, mas comas metrpoles mais dinmicas, particularmente comos Estados
Unidos. Nunca, como hoje, tivemos a possibilidade de sintonizar as experincias
da latino-americanidade em uma mesma freqncia.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 22
23
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
Que efeito teve esse modelo de modernizao e integrao nos vinte anos
emque se levou aplicando-o?H que se avaliar tanto seus impactos na economia
e na poltica quanto para o desenvolvimento sociocultural. As cifras revelam que,
diferena do liberalismo clssico, que postulava a modernizaopara todos, a proposta
neoliberal nos conduz a uma modernizaoseletiva: passa da integraodas sociedades ao
submetimentoda populaos elites empresariais latino-americanas, edessas aos bancos, investi-
dores ecredores transnacionais. Amplos setores perdemseus empregos e previdncias
sociais bsicas, diminui a capacidade de ao pblica e o sentido dos projetos
nacionais. Para o neoliberalismo, a excluso umcomponente da modernizao
encarregada ao mercado.
O controle da inflao mediante as polticas de ajustee o dinheiro obtido
pelas privatizaes (das linhas areas, petrleo e minas, bancos e empresas estatais
de outros ramos) conseguiram dar novo impulso s economias de alguns pases
latino-americanos, ou estabilizar outras, emprincpios dos anos 1990. Foi uma
recuperao frgil, quase sem efeitos nos aumentos do emprego, da segurana e da
sade. Tampouco corrigiu desigualdades. Os desequilbrios histricos e estruturais
entre pases, e dentro de cada nao, agravaram-se.
Toda a recuperao temporal, limitada a setores de alguns pases, ser
precria enquanto no se renegocie a dvida externa e interna de modo que permita
umcrescimento emconjunto. O fato quemais desequilibrou eempobreceu os pases
da Amrica Latina nos ltimos trinta anos foi o aumento sufocante da dvida
externa. Eles deviam US$ 16 bilhes em 1970; US$ 257 bilhes em 1980 e
US$ 750 bilhes em2000. Essa ltima cifra, segundo clculos da Comisso para
Amrica Latina e o Caribe (Cepal) e do SELA, equivale a 39% do Produto
Geogrfico Bruto e a 201% das exportaes da regio. No h possibilidade de
reduzir os mais de 200 milhes de pobres, explica o secretrio permanente do
SELA, se no reunirmos o poder disperso dos devedores (BOYE, 2001).
Por que atrasa a nossa modernizao?H algo a mais que a repetio dos
intercmbios desiguais entre naes e imprios. Passamos de situarmo-nos no mundo
como um conjunto de naes com governos instveis, freqentes golpes militares,
pormcomo entidade sociopoltica, a ser ummercado: umrepertrio de matrias-
primas com preos em decadncia, histrias comercializveis que se convertem
em msicas folclricas e telenovelas, e um enorme pacote de clientes para as
manufaturas e as tecnologias do norte, pormcompouca capacidade de compra,
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 23
24
que paga as dvidas vendendo seu petrleo, seus bancos e suas linhas areas. Ao
desfazermos do patrimnio e dos recursos para administr-lo, expandi-lo e comu-
nic-lo, nossa autonomia nacional e regional se atrofia.
No faltam, nessa etapa, projetos de integrao ou, pelo menos, liberalizao
comercial. Em 1980, a Argentina, a Bolvia, o Brasil, a Colmbia, o Equador,
o Mxico, o Paraguai, o Peru, o Uruguai e a Venezuela assinaram o Tratado de
Montevidu, por intermdio do qual nasceu a Associao Latino-Americana de
Livre Comrcio (ALALC), comsemelhante abulia e incapacidade de converter as
declaraes emprogramas realizveis. Algo diferente emerge, em1991, quando a
Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai comeam a desenhar um mercado
comum (Mercosul) e procuram harmonizar seus sistemas produtivos, fazem
reunies de reitores universitrios e vrios programas de intercmbio cultural;
porm, as iniciativas mais audazes, inspiradas na unificao europia, como atingir
uma moeda comume tarifas zero entre os quatro pases, naufragamnas penrias
internas de cada um e nas transgresses incessantes dos acordos.
O esgotamento das utopias regionalistas talvez seja o legado decisivo
deixado Amrica Latina pela dvida externa e a sua agravada dependncia,
segundo afirmam Alfredo Guerra-Borges e Mnica Hirts. O listado dessa
voragem de acordos de livre comrcio, somatria de projetos fragmentados,
dizem esses autores, coloca as economias nacionais numa abertura sem rumo,
com regras contraditrias, crises recorrentes e sem instrumentos para enfren-
t-las. Menos ainda para construir posies de mnima fora nas negociaes
internacionais. Se algumas elites tecnocrticas e empresariais insistem em
acumular convnios, acordos e tratados para aliviar os riscos da competncia
global empequenos setores.
Tambm nos globalizamos como emigrantes
No ltimo ano do sculo XX tantas pessoas deixaram o Uruguai como
tantas outras nasceram no pas. Nos Estados Unidos, na Europa, ou em outras
naes latino-americanas moram 15% de equatorianos, aproximadamente uma
dcima parte dos argentinos, colombianos, cubanos, mexicanos e salvadorenhos. A
Amrica Latina no est completa na Amrica Latina. Sua imagem lhe chega dos
espelhos espalhados no arquiplago das migraes.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 24
25
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
Em vrias naes da Amrica Latina e o Caribe as remessas de dinheiro
enviadas pelos migrantes representammais do que 10% do Produto Interno Bruto
(PIB). O Mxico recebeu, em 2001, segundo um estudo do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), US$ 9,273 milhes de seus residentes nos Estados
Unidos, ou seja, quase o mesmo que ingressa por turismo e o dobro de suas expor-
taes agrcolas. Os trabalhadores salvadorenhos no exterior enviarama seu pas no
mesmo ano US$ 1,972 milho, os dominicanos US$ 1,807 milho e os equatorianos
US$ 1,400 milho. Em conjunto, a Amrica Latina recebeu, em 2001, uma vez
e meia o que pagou como juros pela sua dvida externa nos ltimos cinco anos, e
muito mais do que chega em emprstimos e doaes para o desenvolvimento.
Se esses nmeros interessampara apreciar o grau emque os habitantes da
Amrica Latina dependem do que acontece fora da regio, muito do que ocorre
nesses processos extraterritoriais no medvel emcifras. Assimcomo o incremento
de investimentos externos revela apenas uma parte do estado da economia, a
intensificao das migraes est modificando de muitas formas a localizao do
latino-americano no mundo. s novas aberturas de fronteiras somam-se novas
formas de discriminao, as melhores condies de sobrevivncia local nos
pases centrais e nos perifricos devemser vistas ao lado do exlio e a destruio
ou reorganizao do sentido histrico.
Horizontes do latino-americano
Tambmse redimensiona o horizonte do latino-americano pela exportao
de nossas msicas e telenovelas e a migrao de nossos produtos culturais. O que
significa que a condio de ser latino-americano no se encontra apenas obser-
vando o que acontece dentro do territrio historicamente delimitado como a
Amrica Latina. A resposta a questes como essa, sobre os modos de ser latino-
americanos, vem tambm de fora da regio, como as remessas de dinheiro dos
emigrantes.
A msica temse ocupado da multiplicidade dessa localizao dos lugares
desde os quais se fala. E umprocesso longo, iniciado pelo menos desde que o rdio
e o cinema fizeramcomque Carlos Gardel fosse apropriado pela Colmbia,
Mxico e Venezuela; Agustn Lara, pela Argentina, Chile e mais dez pases; os sons
vera-cruzanos e as salsas porto-riquenhas emtodas as naes do Caribe e outras
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 25
26
mais alm. Os roqueiros e os msicos tecnosde diferentes pases compemdiscos
juntos e as empresas discogrficas transnacionais os fazem circular por todas as
partes.
De onde so os cantores?, segue perguntando a cano cubana. Essa
difuso que transcende o local da cultura, e o conseguinte desmantelamento
dos territrios, acentua-se agora, no apenas devido s viagens, aos exlios e s
migraes econmicas. Tambmpelo modo emque a reorganizao de mercados
musicais, televisivos e cinematogrficos reestrutura os estilos de vida e desagrega
o imaginrio compartido.
Msicos brasileiros gravaramdiscos emespanhol, ou misturamnas canes,
portugus, espanhol e ingls. Argentinos convidam a seus espetculos e CDs
cantores brasileiros, mexicanos e colombianos. Roqueiros do Mxico concebem
suasmelodias e letras para que tambmse sintamexpressados os seus compatriotas
residentes nos Estados Unidos.
No se misturam apenas os pases da Amrica Latina. O horizonte dos
latino-americanos amplia-se a setores da Europa e dos Estados Unidos. As peri-
pcias do mercado fazem com que romancistas argentinos, chilenos, peruanos,
colombianos e mexicanos publiquem em editoras de Madri ou Barcelona.
Porm, a maior parte dos discos de msica rancheira produzida em Los Angeles
porque o desenvolvimento tecnolgico da Califrnia reduz custos e tambm
porque nessa cidade estadunidense h quatro milhes de hispano falantes, em
sua maioria mexicanos. Ao identificar a cidade onde geram-se mais discos,
vdeos e programas televisivos que circulam em espanhol, um especialista
em transnacionalizao da cultura afirma que Miami a capital da Amrica
Latina (YDICE, 1999).
Quemadministra hoje, no meio dessa variedade de cenas, as representaes
do latino-americano? Essa heterogeneidade de experincias do latino-americano
manifesta-se hoje na relocalizao dos relatos artsticos e intelectuais dentro do
espectro das comunicaes dos meios. Esgotados os modelos de gesto nacional
e autnoma, a globalizao tem trazido novos administradores das imagens do
latino-americano. Encontro quatro foras-chave na cultura que manifestam a
redistribuio atual do poder acadmico e de comunicao, ou seja, a capacidade
de interpretar e convencer:
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 26
27
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
a) os grupos editoriaisespanhis, ultimamente subordinados s megaempre-
sas europias (Berstelmann, Planeta) e a grupos da comunicao (Prisa,
telefnicae televiso espanhola);
b) algumas empresas de comunicaes estadunidenses (CNN. MTV, Time
Warner);
c) os latinoamerican studies, concentrados nas universidades estadunidenses e
com pequenos encravamentos no Canad e na Europa;
d) osestudoslatino-americanos, entendidos no sentido amplo como o conjunto
heterogneo de especialistas em processos culturais, pertencentes a con-
textos acadmicos, literrios e cientfico-sociais, que desenvolvem um
intercmbio intenso, porm menos institucionalizado que o dos latino-
americanistas estadunidenses.
Poderia existir umquinto ator: os governos latino-americanos e suas polticas
socioculturais. Porm, no fcil justificar seu lugar entre as foras predominantes
devido a sua pouca participao no que diz respeito s tendncias estratgicas
do desenvolvimento.
Emrelao produo intelectual e aos modelos de desenvolvimento ainda
baixa a incidncia das empresas audiovisuais. Uma anlise mais extensa poderia
considerar como esto reconfigurando as imagens da Amrica Latina, o jornalismo
da CNN, os entretenimentos distribudos pela Time Warner, pela Televisa, a
difuso discogrfica das grandes empresas e outros atores da comunicao que cada
vez mais articulam seus investimentos em meios escritos, audiovisuais e digitais.
Aqui farei aluso, sobretudo, recomposio do poder acadmico e editorial.
Os editores espanhis, que produzemsete livros no mesmo tempo emque
Mxico, Buenos Aires e o restante da Amrica Latina produzemtrs, vma este
continente como criadores de literatura e como ampliadores das clientelas do seu
pas. Seu poder econmico e de distribuio temdado transcendncia internacional
no apenas aos autores do boom(Cortzar, Fuentes, Garca Mrquez, Vargas
Llosa) e a outros menos canonizados (Arreola, Onetti, Piglia, Ribeyro); tambm
promove escritoras (Isabel Allende, Laura Esquivel, Marcela Serrano) e os autores
jovens que em poucos anos esto conseguindo ser difundidos em muitos pases
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 27
28
e impulsionados para sua traduo: Eliseo Alberto, Sylvia Iparraguirre, Luis
Seplveda, Juan Villoro e Jorge Volpi, entre outros.
O fortalecimento desse espao comumibero-americano se realiza de forma
assimtrica. Da produo editorial espanhola, 70% so exportados para a Amrica
Latina, enquanto que apenas 3% do que se publica no territrio latino-americano
chega Espanha. O desequilbrio maior no ocorre na narrativa, seno pela
quase ausente publicao de estudos culturais, sociolgicos ou antropolgicos de
latino-americanos nas editoras espanholas hegemnicas. Quando o fazem, as
filiais dessas empresas na Argentina, Chile, Colmbia ou Mxico limitam a
circulao dos livros ao pas de origem. Salvo poucas, as editoras comsede em
Barcelona, Mxico e Buenos Aires, como o Fondo de Cultura Econmica, Paids
e Gedisa, as demais constroema imageminternacional da Amrica Latina como
provedorade fices narrativas, no de pensamento social e cultural, ao qual s
atribudo interesse domstico para o pas que o gera.
Para uma anlise mais cuidadosa, a Amrica Latina tempoucos observatrios
generalizados emnossas lnguas. Essas so algumas das condies institucionais, de
comunicao e de mercado nas quais ao comear o sculo XXI se reconfigura o
latino-americano: estamos entreas promessas docosmopolitismoglobal ea perda dos projetos
nacionais.
Indstrias culturais: entre Estados Unidos e Europa
a) A expansoeconmica eda mdia propiciada pelas indstrias culturais nobeneficia
eqitativamentea todos os pases, nemregies.
No intercmbio mundial de bens culturais, a Amrica Latina fica apenas
com 5% dos ganhos. interessante correlacionar a distribuio econmica
dos benefcios da comunicao com a distribuio geolingstica: o espanhol
a terceira lngua mundial pelo nmero de falantes, em torno de 400 milhes
se includos os 35 milhes de hispano falantes nos Estados Unidos.
Nas ltimas dcadas aumentou o nvel educativo mdio e o consumo por
intermdio dos meios macios e interativos de comunicao. Por que no
conseguimos nos converter numa economia cultural de escala, com maior
capacidade exportadora?
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 28
29
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
H que se destacar que a assimetria na globalizao das indstrias culturais
no gera s desigualdade na distribuio de benefcios econmicos. Tambm
agrava os desequilbrios histricos nos intercmbios da comunicao, no acesso
informao e aos entretenimentos e na participao da esfera pblica nacional
e internacional. Pode-se dizer que a falta de emprego o principal estopim
das emigraes; a decadncia do desenvolvimento educativo e cultural tambm
constitui um fator de expulso.
A difuso de alguns livros, msicas e telenovelas em circuitos macios das
cidades grandes e medianas coexiste em todos os pases latino-americanos com o
fechamento de livrarias e teatros, o desmantelamento de bibliotecas e o
desmoronamento de salrios emtodo o setor pblico. O fervor que s vezes geram
os espetculos ao ar livre nas capitais, exposies s quais as tcnicas de mercado
habilitam pblicos momentneos no podem nos fazer esquecer da emergncia
cultural e educativa em que mergulhou a maioria das instituies estatais devido
ao ajuste financeiro neoliberal.
A carncia de disposies de compreenso artstica e intelectual, cuja
formao requer dcadas, assim como a perda de instrumentos conceituais pela
desero escolar e a escassez de estmulos culturais complexos e duradouros, no
se resolvem instalando computadores em algumas milhares de escolas e predi-
cando efeitos mgicos de internet para o restante. Rajadas de globalizao no
podem compensar polticas tecnocraticamente elitistas e, por isso, finalmente,
discriminatrias.
b) O predomnio estadunidensenos mercados da comunicao reduziu o papel de
metrpoles culturais quea Espanha ePortugal tiveramdesdeosculoXVII ea Frana
desdeoXIX atprincpios dosculoXX na Amrica Latina, embora odeslocamentodo
eixoeconmicoecultural dos Estados Unidos noseja uniformeemtodos os campos.
Ditoemforma direta: emtempos deglobalizaonoh apenas americanizaodo
mundo.
Questionemos um local comum de muitas anlises da globalizao: no
se trata s de uma intensificao de dependncias recprocas (BECK) entre
todos os pases e todas as regies do planeta. Por razes de afinidade geogrfica e
histrica, ou de acesso diferencial aos recursos econmicos e tecnolgicos, o que
chamamos globalizao muitas vezes se concretiza como agrupamento regional
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 29
30
ou entre pases historicamente conectados: asiticos, latino-americanos com
europeus ou estadunidenses, estadunidenses com aqueles grupos que em outros
pases falam ingls e dividem seu estilo de vida. As afinidades e divergncias
culturais so importantes para que a globalizao abranja ou no todo o planeta,
para que seja circular ou simplesmente tangencial.
Tambmobservamos que algumas reas das indstrias e do consumo so
mais propcias que outras para a globalizao. A indstria editorial acumula foras
e intercmbios por regies lingsticas, enquanto o cinema e a televiso, a msica e
a informtica fazem circular seus produtos mundialmente com mais facilidade.
As megalpoles e algumas cidades de mdio porte (Miami, Berlim, Barcelona),
sedes de atividades altamente globalizadas e de movimentos migratrios e turs-
ticosintensos, se associam melhor a redes mundiais, mas ainda existe nelas
uma dualizao que deixa marginalizados amplos setores.
Quanto chamada americanizao de todo o planeta, inegvel que
um setor vasto da produo, distribuio e exibio audiovisual seja propriedade
de corporaes dos Estados Unidos ou se dedica a difundir seus produtos:
filmes de Hollywood e programas televisivos estadunidenses so distribudos por
empresas desse pas em cadeia de cinemas e circuitos televisivos, em que o capital
predominante norte-americano ou associado a empresas japonesas ou alems que
favorecemo cinema de lngua inglesa. H que se prestar ateno na energtica
influncia que exerce os Estados Unidos na Organizao das Naes Unidas
(ONU), na Organizao dos Estados Americanos (OEA), no Banco Mundial,
no Fundo Monetrio Internacional (FMI) e em organismos de comunicao
transnacional, o qual repercute s vezes em benefcios para as empresas estadu-
nidenses. A cabala (lobbysmo) das empresas e do governo estadunidenses vem
influindo para que nos pases europeus e latino-americanos se paraliseminiciativas
legais e econmicas (leis de proteo ao cinema e ao audiovisual) destinadas a
impulsionar sua produo cultural endgena. No podemos esquecer o lugar
protagnico de Nova York nas artes plsticas, Miami na msica e Los Angeles
no cinema. Mas seria simplista sustentar que a cultura do mundo se fabrica desde
os Estados Unidos, ou que este pas monopolize o poder de orientar e legitimar
tudo o que se faz em todos os continentes.
A globalizao cultural no umramo da engenharia gentica, cuja finalidade
seria reproduzir em todos os pases clones do american way of life.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 30
31
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
Ainda no tempo aberto nesta ltima guerra, quando se subordina a poltica
mundial a estratgias blicas e essas operam com sentido imperial, a lgica dos
mercados culturais continua mais diversificada. Ela desenvolve-se nas redes multicen-
trais, que foi instaurando a globalizao da mdia. A diversidade cultural vasta
demais e com ciclos longos, arraiga-se nos hbitos cotidianos, inclusive de gente
sem territrio, como para que a dissolvamempoucos anos comreaes xenofo-
bistas e a prepotncia de muitos msseis.
As crises vividas em2001-2002 na Argentina, na Colmbia, no Peru e na
Venezuela reduzem nos pases latino-americanos o peso da agenda nacional
estadunidense, imposta globalmente a partir de 11 de setembro. Hoje, ocupamo
centro dos debates a decomposio social produzida pela distribuio regressiva
dos investimentos, o agravamento da dependncia externa pelas privatizaes, a
corrupo e perda de credibilidade do sistema poltico, a necessidade de reformar
o Estado e fortalecer a participao cidad. Essa agenda no conduz, empases que
acabaram de se livrar de ditaduras militares, a fantasias militaristas, mas a uma
tentativa de recomposio do tecido social e cultural. Os latino-americanos no
podemdesconhecer que nos meses posteriores a 11 de setembro morreu mais gente
na guerra colombiana, ou pela fome em vrios pases centro-americanos, que por
antraz nos Estados Unidos.
Outro processo que limita e situa a hegemonia estadunidense na Amrica
Latina a apropriao por parte de empresas espanholas, francesas e italianas
de redes de telecomunicaes, bancos, editoras e canais de televiso em nossos
pases. Os capitais europeus esto modificando os signos de nossa dependncia.
No Brasil, os espanhis ocuparam, em1999, o segundo lugar dos investimentos
estrangeiros, com 28%; na Argentina, passaram ao primeiro posto, deslocando
os Estados Unidos, no mesmo ano. Esse avano europeu uma das razes pelas
quais o governo estadunidense acelera as gestes para a Alca.
Entretanto, o controle das corporaes estadunidenses sobre amplos setores
da comunicao macia no implica a obedincia automtica das audincias. Os
estudos sobre consumo musical revelam que em quase todos os pases latino-
americanos no predomina a msica em ingls, nem o que se chama msica
internacional, como unificao do anglo-americano e do europeu. S na
Venezuela a msica internacional atinge 63% do pblico. No Peru prevalece a
chicha; na Colmbia, o vallenato; emPorto Rico, a salsa. No Brasil, 65%
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 31
32
do que se ouve provmdo conjunto de msicas nacionais, enquanto na Argentina,
Chile e Mxico a combinao de repertrios domsticos comespanhol supera a
metade das preferncias. Segundo explica George Ydice, o sistema de comer-
cializao e consumo no pode ser explicado em termos de homogeneizao,
tampouco de localizao. A consolidao do sistema se consegue articulando
ambos aspectos(YDICE, 1999, p. 233).
Reconstruir um latino-americanismo crtico
Duas tentaes. A mais publicizada a daqueles que admiramas facilidades
comque hoje nos comunicamos entre pases distantes, fazemnegcios multina-
cionais e desfrutama ampliao da oferta de centros comerciais, supermercados e
televiso a cabo. Registram que as viagens ao estrangeiro j no so privilgios
de artistas e escritores da elite, pois alcanamempresrios, turistas, polticos e at
trabalhadores comuns se o emprego escasso na sua terra ou queremmelhorar seus
lucros emoutra. O cosmopolitismo que artistas plsticos e escritores identificavam
h meio sculo como o ingresso dos latino-americanos contemporaneidade
hoje dividido por quemse conecta internet ou compra na loja: a globalizao
domiciliar.
O risco oposto o de quem sofre a perda de emprego ou a instabilidade do
mesmo pela competncia globalizada que exige reduzir custos emtodas as partes,
emprimeiro lugar o custo do trabalho. Os que no podemconsumir a diversidade
oferecida nas vitrines da mundializao protestamcortando estradas e paralisando
fbricas, uns poucos se organizando em cada cume de gerentes e governantes para
atacar seus smbolos. Destroem McDonalds, ironizam as grandes marcase,
ainda usando recursos tecnolgicos interculturais, como telefones celulares e redes
informticas, rejeitam, sob a etiqueta da globalizao, a ordem injusta.
Ambas posies costumam enunciar crticas globalizao como se se
tratasse de um ator social, capaz de produzir comunicaes ou pobreza genera-
lizadas. A rigor, a globalizao no um sujeito, se no um processo no qual se
mobilizam atores que podem orient-lo em diferentes direes. Nem sequer o
neoliberalismo, que imprime o sentido predominante reordenao do mundo,
um ator. Podemos dar esse nome a uma ideologia econmica, inclusive a um
tipo de organizao dos mercados, ainda que os atores responsveis tenhamoutras
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 32
33
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
denominaes: as de alguns governos metropolitanos e, sobretudo, um conjunto
de marcas: Sony, America On Line, MTV, Nike, Benetton.
Como a globalizao, a Amrica Latina tampouco umator. umterritrio
ocupado por nativos: emigrantes de todos os continentes; europeus que comearam
a vir h cinco sculos, e ainda chegamcomindstrias culturais e investimentos
especulativos que conseguemos benefcios de nossas comunicaes como mundo;
estadunidenses que continuamsua apropriao centenria de riquezas de nosso
subsolo, pedaos de territrio e, ultimamente, as radiofreqncias, estimadas por
eles mesmos como a propriedade mais valiosano sculo XXI (RIFKIN).
Se essa composio histrica to heterognea faz to difcil entender o que
a Amrica Latina e quemso os latino-americanos, torna-se mais complicado
ainda identific-los, especialmente nos ltimos anos ao instalar-se na Amrica
Latina empresas coreanas e japonesas, mfias russas e asiticas, quando nossos
camponesese operrios, engenheiros e mdicos, formam comunidades latino-
americanasem todos os continentes, at na Austrlia. Como delimitar o que
entendemos por nossa cultura se grande parte da msica argentina, brasileira,
colombiana, cubana e mexicana se edita em Los Angeles, Miami e Madri, e so
ouvidas nessas cidades quase tanto quanto nos pases onde surgiu?
Entretanto, continua havendo governantes latino-americanos que se renem
periodicamente com a justificativa de que representam as naes existentes. H
movimentos indgenas que se renememfederaes como latino-americanos, como
cinegrafistas, que se agrupamcomo mesmo rtulo, associaes de universidades e
redes informticas que reivindicamesse nome. Para que serve tudo isso? Vejamos
uma breve agenda de tarefas que poderiamcontribuir para que a Amrica Latina se
reconstitua como regio, fazendo-se mais criativa e competente nos intercmbios
globais.
a) Identificar as reas estratgicas denossodesenvolvimento. impensvel fortalecer
o que ainda existe de cultura e sociedade nacionais, com perfis histricos
distintivos (no essncias ou identidades metafsicas), sem empreender
projetos como regio que a permita crescer e relocalizar-se no mundo.
Essa perspectiva significa colocar no centro as pessoas e as sociedades,
no os investimentos, nem outros indicadores financeiros ou macro-
econmicos, que articulam, de forma difusa, a Amrica Latina com o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 33
34
mundo. A pergunta-chave no comque ajustes econmicos internos vamos
pagar melhor as dvidas, mas que produtos materiais e simblicos prprios
(e importados) podemmelhorar as condies de vida das populaeslati-
no-americanas e potencializar nossa comunicao com os demais.
Por certo, importa consolidar o patrimnio histrico tangvel (monumentos,
stios arqueolgicos, bosques, artesanatos) e intangvel (lnguas, tradies e
conhecimentos socialmente benficos). O argumento de pginas anteriores sugere
tambmquanto podemos esperar de nossas msicas, discos e vdeos, das telenovelas
e dos programas informativos para que se intensifique o conhecimento recproco
e nos situememforma mais produtiva no mundo, o que podemos obter do uso
turstico de nossas riquezas, administrando esses recursos democraticamente
em funo de necessidades locais. Uma tarefa-chave neste campo reavaliar
as incompatibilidades clssicas entre patrimnio e comrcio, procurando um
caminho que transcenda a mera defesa do valor simblico dos bens culturais e
limite a sua comercializao.
medida que a produo de contedos ganha espao nas indstrias
culturais advertimos que os nicos recursos para crescer no so os dos que
controlam o hardware. As culturas latinas proporcionam novos repertrios e
outros estilos narrativos (melodramas, telenovelas, msicas tnicas e cinema
urbano) que esto diversificando as ofertas da cultura macia internacionalizada.
A capacidade de alguns pases europeus para gerar cinema e televiso, potencializada
por programas de co-produo endgena e leis que a protegem, evidencia o
lugar que existe nos mercados globalizados para culturas no realizadas em
ingls e no habituadas a reduzir toda a simbolizao a megaespetculos.
O crescente interesse demonstrado por Hollywood, MTV, Sony e outras
empresas por tudo quanto se tem realizado na histria e atualmente se produz
na Amrica Latina leva a imaginar o que poderamos fazer com uma gesto
mais autnoma.
Necessitamos de ministrios de cultura que promovam esse capital cultural
e saibam promov-lo entre as populaes hispano falantes dos Estados Unidos e
da Europa, cada vez commaior capacidade de consumo. Emumestudo de 2001,
o Conselho Nacional de Populao do Mxico adverte que de pouco mais de sete
milhes de mexicanos maiores de quinze anos radicados nos Estados Unidos,
255 mil contam com licenciatura e ps-graduao. Tanto as autoridades quanto o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 34
35
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
jornalismo (La Jornada, 03 de setembro de 2001) interpretam esses dados, com
razo, como fuga de talentos, investimento educativo que perde o Estado mexi-
cano. Tambm poderamos pensar nesses emigrantes como aliados polticos
e audincias qualificadas para a produo cultural em espanhol, segundo o
demonstram 1.600 publicaes estadunidenses em nossa lngua que geram
lucros de US$ 492 milhes por ano (IBEZ, 2001, p. 29).
b) Desenvolver polticas socioculturais quepromovamoavanotecnolgicoea expresso
multicultural denossas sociedades, centradas nocrescimentoda participaodemocrtica
dos cidados. Necessitamos passar do perodo de acordos aparentemente
destinados apenas ao livre comrcio (TLC, Mercosul), que de maneira
sub-reptcia provocam modificaes em relaes trabalhistas, culturais e
educativas, semque ningumas preveja nemregule, a uma etapa emque a
cooperao internacional trabalhe como que possa homogeneizar-se, com
as diferenas que persistiro e com os crescentes conflitos interculturais.
Enquanto sigamos fazendo de conta que s importa baixar os custos alfan-
degrios e dar facilidades s mercadorias e investimentos, s se coordenaro os
juros empresariais e financeiros. Logo, em alguns anos dessa integrao
econmica sem poltica, que empobrece e irrita as maiorias, sabemos que a
coordenao que se segue a de dispositivos repressores, a integrao
transnacional de polcias e militares.
A contraparte decisiva dessas alianas de minorias mesquinhas e autoritrias
a solidariedade dos cidados. Integrar a Amrica Latina ser uma utopia,
assim, entre aspas irnicas ou cnicas, enquanto no se articulemos trabalhadores
indgenas, consumidores, cientistas, artistas e produtores culturais; enquanto no
incluirmos na agenda formas de cidadania latino-americana que reconheam
os direitos de todos os que produzem dignamente dentro ou alm de seus ter-
ritrios de nascimento.
Talvez, essa ltima questo seja a ausncia-chave na Alca. compreen-
svel que ao governo e aos empresrios estadunidenses s lhes preocupe
desafogar comercialmente sua economia recessiva, inibir a competncia dos inves-
timentos europeus na Amrica Latina e facilitar intervenes militares em pases
onde colapsou o Estado (Colmbia), ou est cambaleante pela desintegrao do
regime partidrio (Argentina, Peru, Venezuela), as rebelies urbanas e camponesas
ou a infiltrao do narcotrfico no tecido poltico, militar e judicial (quase todos
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 35
36
os demais). De passagem, entrar sem restries e comprar os servios providen-
ciais, educativos e de sade. E tambm impor seus direitos de patentes farma-
cuticas e tecnolgicas, como tem registrado analistas dos documentos
preparatrios da ALCA (KATZ, 2001).
Podemos entender que empresrios latino-americanos resignados a salvar
seu negcio como gerentes de transnacionais aceitem essas condies. Torna-se
mais difcil crer nos polticos que fazem propaganda da ALCA como recurso
para aperfeioar nossa competncia exportadora quando os Estados Unidos
se negam a descer suas barreiras alfandegrias com relao ao Brasil, Mxico e
a Unio Europia, quando sabota a nica integrao latino-americana que no
se limita ao livre comrcio (Mercosul) e acentua a perseguio a migrantes
estrangeiros.
Uma integrao pensada desde os cidados deveria prever transferncias de
fundos comos quais os pases mais desenvolvidos poderiamajudar a reconverso
de outros (como na Unio Europia). Colocaria em primeiro plano a proteo dos
trabalhadores e no a competitividade das empresas, o melhoramento da qualidade
de vida e no a mobilidade dos capitais. E, naturalmente, a gesto autnoma do
patrimnio cultural, social e material de cada sociedade. Emsuma, procuraria
desenvolver polticas de incluso generalizada, no de benefcios seletivos para elites.
Falou-se que os anos 1980 foramuma dcada perdida da Amrica Latina
pelo crescimento zero da regio. Como chamar a dcada de 1990? Foi, entre
outras coisas, a dcada da impunidade: do avano de empresas transnacionais, que
se apoderaramdo patrimnio latino-americano e de muitos governantes corruptos
que privatizaramat o que dava lucros como pretexto de que algumas empresas
estatais no eramrentveis. Esvaziaramos suportes econmicos e destruramas
condies de trabalho local que fazem crvel a existncia das naes. Fujimori,
Meneme Salinas encabeamuma vasta lista de nomes que forjarama descrena
cidad pela poltica. Para usar uma das palavras favoritas dos organismos inter-
nacionais, deixaram sem sustentabilidade os projetos nacionais e os regionais,
como o Mercosul e o Pacto Andino.
No quero incorrer em prognsticos apressados sobre o que ser esta
primeira dcada do novo sculo. Desconhecemos aonde nos levaro os protestos e
os conflitos, que j esto custando mortos demais como para adjudicar-lhes
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 36
37
Reconst r uir polt icas de incluso na Amr ica Lat ina
voluntariamente poderes de transformao, apenas eficazes se fossemacompanhados
por programas alternativos, econmicos, e sociopolticos, que no temos.
Uma novidade que irrompe nestes primeiros meses do sculo XXI que
se reabrem perguntas, por exemplo, sobre a viabilidade de um capitalismo que
acreditou possvel seguir fazendo lucros rpidos aliando as operaes financeiras
com o narcotrfico, a indstria de armas e a corrupo dos polticos. Voltam a
aparecer na Amrica Latina, Europa e Estados Unidos perguntas sobre o lugar da
produtividade no crescimento econmico, do trabalho na produtividade nacional e
dos estados nacionais na globalizao da economia, as tecnologias e a cultura.
Um dos acontecimentos culturais mais transcendentes neste momento que j no
vivemos na dcada da impunidade dos negcios sujos e do pensamento nico que
os autorizava. Ainda que essa afirmao tenha algo de utopia, a aprovao recente
da Corte Penal Internacional, como apoio de 66 pases, nos aproxima necessria
globalizao da Justia.
Se possvel reverter a decadncia econmica e social das naes latino-
americanas, ser necessrio comear por transcender as formas predominantes
de globalizar-nos como migrantes e devedores, e impulsionar um novo lugar no
mundo como produtores culturais. No se trata de acreditar que vamos nos salvar
pela cultura. Mas, talvez, nos ocupando dequestes culturais, consigamos demonstrar
que nem tudo depende das dvidas. Contra as Alianas Militares e Polticas que
nesses tempos guerreiros se inflamamde maisculas, e tambmpara diferenciarmos
de tantas palavras que se gastaramna solenidade de pocas passadas, o nacional e
o latino-americanopodem crescer sempre que se nutrem de intercmbios solidrios
e abertos, renovados e renovveis. Intercalar este nome latino-americano no
dilogo global, encontrando a medida comque possamos escrev-lo a condio
para que nossa identidade no seja lida entre aspas.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 37
38
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BECK, Beck. Queslaglobalizacin? Falaciasdel globalismo, respuestasalaglobalizacin.
Barcelona: Paids, 1998.
BOYE, Otto. Los acuerdos regionales para la deuda externa en Amrica Latina y el
Caribe, palestra do Secretrio Permanente do SELA, na Cpula sobre a Dvida
Social, organizada pelo Parlamento Latinoamericano e realizada emCaracas,
Venezuela, entre 10 e 13 de julho de 2001. Disponvel em: http:/ / lanic.utexas.edu/
~sela/ AA2K1/ ESP/ ponen/ ponen20.htm
GUERRA-BORGES, Alfredo. Integracin latinoamericana: das pocas, dos estilos.
Una reflexin comparativa. In: Iberoamericana. AmricaLatina Espaa-Portugal, Nueva
poca, volumen I, 2001. p. 61-79.
HIRST, Mnica. Condicionamiento y motivaciones del proceso de integracin y
fragmentacin en Amrica Latina. In: Integracin Latinoamericana. Buenos Aires:
Instituto para la Integracin de Amrica Latina, 1992. p.19-31.
KATZ, Claudio. El abismo entre las ilusiones y los efectos del ALCA. In: Nueva
Sociedad, Venezuela, julio-agosto, 2001.
UNESCO. WorldCultureReport, Cultural diversity, conflict andpluralism. Paris: 2000a.
YDICE, George. La industria de la msica en la integracin Amrica Latina-
Estados Unidos. In: CANCLINI, Nstor Garca y MONETA, Juan Carlos
(coords.). Lasindustriasculturalesen laintegracin latinoamericana. Buenos Aires: Eudeba;
Mexico, Grijalbo/ SELA/ UNESCO, 1999.
As relaes EEUU-Amrica Latina ante a integrao Latinoamericana e o Ibero-
americanismo, Conferncia preparada para o Seminrio Agendas Intelectuais e
Localidades do Saber: UmDilogo Hemisfrico organizado pelo Social Science
Research Council (Estados Unidos) e Centro Cultural Casa Lamm, Mxico D.F.,
5 e 6 de outubro de 2001.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 38
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 40
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 41
43
2.A experincia do artesanato solidrio
HelenaSampaio
Todos sabemos da extrema complexidade do termo cultura e da dificuldade
emdefini-lo. Cultura , antes de tudo, umprocesso: cultura de vegetais, criao,
reproduo de animais e, por extenso, cultivo ativo da mente humana. Cultura
remete, portanto, continuidade e tambm mudana, transformao.
No final do sculo XVIII, vindo do alemo edo ingls, o termo cultura referia-
se configurao ou generalizao do esprito, quilo que informava o modo de
vida de determinado grupo social. Ainda naquele sculo, pela primeira vez o termo
cultura fra usado no plural, como culturas. Isso viria a ser fundamental para o
desenvolvimento, no sculo XIX, da antropologia comparativa, para a qual cultura
continuou designando o modo de vida global e caracterstico de umpovo, o que nos
permite, atualmente, reconhecer e defender cultura enquanto diversidade cultural.
Essa breve introduo temo intuito de registrar que cultura, nos ltimos trs
sculos, vemreunindo e acumulando formas e sentidos diversos. Para ilustrar,
destacarei, de forma bastante esquemtica, trs sentidos.
O primeiro corresponderia a uma posio idealista, aquele emque a nfase
da cultura est no esprito formador de ummodo de vida, presente emtodas as
atividades sociais, mas evidenciado nas atividades especificamente culturais. So as
expresses artsticas, a linguagem, alguns tipos de trabalho intelectual.
Um outro sentido, representando a posio materialista, aquele em que a
nfase recai na idia de cultura como ordem social global, no mbito da qual, uma
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 43
44
cultura especfica, seja ela material ou simblica, considerada seu produto direto
ou indireto.
Por fim, no sculo XIX, o termo cultura mostraria mais uma forma de
convergncia. Ao mesmo tempo emque apresentava alguns elementos comuns ao
entendimento de cultura como produto de uma ordem social global, o termo
cultura distanciava-se desse entendimento, ao insistir que, tanto a prtica cultural
como a produo cultural, seus componentes mais conhecidos, no procedem
apenas de uma ordem social constituda, mas so igualmente elementos dessa
mesma constituio. Nessa acepo, cultura se aproximaria daquela posio idealista
do sculo XVIII, da idia do esprito formador.
No sculo XX, cultura passaria a ser tratada como sistema ou sistemas de
significao, mediante o qual, ou os quais, uma dada ordemsocial comunicada,
vivida, reproduzida, transformada e estudada.
essa a concepo de cultura que est na base do que entendemos hoje,
ou seja, aquilo que os homens criam, atribuem sentido, transformam e podem
compreender. Aquilo que, ao mesmo tempo, faz comque os homens se transformem
e possamser apresentados, conhecidos e compreendidos por outros homens. Da a
sua importncia estratgica no mundo contemporneo.
Sabemos que essas diferentes nfases que permearam, pelo menos nos
ltimos trs sculos, a noo de cultura reaparecemquando reconhecemos o papel
destacado da cultura no fortalecimento da coeso social, na gerao de renda, no
aumento do capital social e humano das naes, tudo isso contribuindo para o
crescimento pessoal, para a aquisio de habilidades e para a afirmao da imagem
dos pases.
Cultura feita de teias de significao que nos permitem a construo do
entendimento. E esse entendimento, no sentido mais habermasiano, para a incluso
social, para a superao da pobreza, para a defesa do meio ambiente e as condies
para a paz.
Essas diferentes dimenses e funes da cultura, quando justapostas, tm
por objetivos estratgicos tanto reconhecer a complexidade do termo como o de
ressaltar a sua importncia funcional para o desenvolvimento social e pessoal.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 44
45
A exper incia do ar t esanat o solidr io
Como a cultura pode desempenhar tantos papis? No o caso de dis-
correr sobre poltica cultural? Se o termo cultura j encerra tanta complexidade,
o que dizer da combinao poltica cultural?
Passo a descrever uma ao social muito especfica e embasada na valoriza-
o da cultura e das identidades culturais. Trata-se do Programa Artesanato
Solidrio, concebido no Conselho do Programa Comunidade Solidria e que
contou, no seu incio, com a parceria financeira da Superintendncia de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
Surgiu como umprojeto como objetivo de minorar os efeitos da seca em
comunidades pobres nas regies nordeste e norte de Minas Gerais, por meio do
desenvolvimento de projetos locais de incentivo gerao de renda. De 1998,
quando foi implantado, at hoje, o projeto transformou-se emumprograma e
ampliou sua esfera de atuao. No contexto especfico de uma poltica cultural, o
Programa Artesanato Solidrio atua na esfera do que a UNESCO, desde 1989,
reconhece como cultura tradicional e popular. Apesar dessa terminologia j ter sido
aprimorada at pela prpria organizao desde a elaborao das Recomendaes
sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, em 1989, at hoje ela man-
tm-se adequada para circunscrever a atuao do Programa Artesanato Solidrio.
Esse programa pode ser definido como um conjunto de criaes que
emanamde uma determinada comunidade cultural, fundada na tradio e expressa
por um grupo, ou por um indivduo, que reconhecidamente responde s expecta-
tivasda comunidade enquanto expresso de sua identidade social e cultural. Seus
padres e valores so transmitidos oralmente por imitao ou por outros meios,
suas formas compreendem, entre outras, a lngua, a literatura, a msica, a dana, os
jogos, a mitologia, os ritos, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes.
O Programa Artesanato Solidrio tempor objetivos revitalizar o artesanato
tradicional como uma manifestao da cultura popular brasileira e, por meio desta
revitalizao, gerar renda.
O artesanato tradicional aquele que faz parte do modo de vida das pessoas
que o realizam. Seguindo padres estticos prprios e transmitidos espontanea-
mente de gerao para gerao, muitas vezes utilizando matria-prima disponvel
nas regies onde ele feito.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 45
46
O Programa se realiza pela implementao de umprojeto emumdetermi-
nado ncleo. O ncleo pode corresponder a ummunicpio de pequeno porte, a um
distrito rural ou mesmo a uma localidade especfica de municpios maiores, como
so os casos dos ncleos de Salvador e de Olinda.
Neste segundo semestre de 2002, estamos atuando em 66 ncleos,
em13 estados brasileiros, com uma equipe de campo formada por dez
gerentes regionais e vinte agentes locais. Esto envolvidos diretamente no
Programa 2.400 artesos, sem contar suas famlias, o que chegaria numa ordem
de dez mil pessoas.
Cada projeto desenvolvido em um ncleo compreende diferentes aes,
seqencialmente previstas emumplano de trabalho. Para o desenvolvimento desses
planos no campo e para a sua manuteno institucional, o Programa envolve uma
rede de parceiros.
O Programa conta hoje coma parceria realizadora do Museu de Folclore
Edison Carneiro, ligado Fundao Nacional de Arte (Funarte), e com os
seguintes parceiros financiadores: Servio Brasileiro de Apoio Pequena e Mdia
Empresa (Sebrae), Ministrio da Integrao Nacional, Agncia de Desenvolvimento
do Nordeste (Adene) e Caixa Econmica Federal. Entre os parceiros regionais,
contamos coma Fundao JoaquimNabuco/ PE, o Museu Tho Brando/ AL, o
Instituto Xing, o Sebrae/ Xing, Sebrae/ PB, Sebrae/ PE, Sebrae/ PA, Sebrae/ AL,
entre outros Sebraes estaduais, almtambmde algumas parcerias de profissionais
voluntrios, como advogados, arquitetos, etc.
Para atingir os objetivos de revitalizar o artesanato tradicional e gerar renda,
o Programa adota trs estratgias:
1. A primeira a promoo do dilogo entre os prprios artesos. Isso
significa incentivar a organizao do grupo, a formao de associaes e
cooperativas, promover o trabalho coletivo, a realizao de oficinas com
mestres para o repasse do saber. Ao implementar essas aes, o Programa
contribui para aumentar a auto-estima de homens e mulheres que se tornam
protagonistas do desenvolvimento local. uma oportunidade para incluso
social no sentido amplo, por resgatar e fortalecer a cidadania nos ncleos
onde o Programa atua.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 46
47
A exper incia do ar t esanat o solidr io
2. A segunda estratgia a troca e o dilogo entre os artesos e seus produtos.
Nesse aspecto, somos atentos questo da medida da interveno. Como
diz Janete Costa, a idia interferir semferir. O que significa?O campo do
artesanato tradicional no o espao para o designer. Por isso, a maneira
de trabalhar do Programa reconhecer, de sada, o valor da identidade
cultural do artesanato nas comunidades, buscar resgatar por meio de
pesquisas e da a importncia dos museus que nos apiam as formas
mais tradicionais daquela tipologia de artesanato.
Muitas vezes, essas formas mais autnticas acabam sendo transformadas
por designersincautos e atravessadores apressados em ver o lucro, ou, ainda, pela
facilidade de vendas para turistas. O artesanato de tradio tende, dessa forma,
a ser substitudo por produtos menos elaborados, mais caricatos e acaba sendo
vendido a preos mais baixos do que umartesanato tradicional de boa qualidade
poderia alcanar. Essas intervenes tendema seguir a lgica do imediato epouco con-
tribuempara a sustentabilidade dos saberes e fazeres tradicionais da cultura popular.
Como manifestao da cultura, o artesanato se transforma, dinmico.
Resgatar o artesanato tradicional no significa ausncia de mudana, mant-lo
intocado para o registro histrico. O objetivo do Programa gerar renda para os
artesos e por isso o produto do artesanato tambmprecisa ser, de alguma forma,
ajustado ao mercado consumidor. dentro desse contexto que se insere a terceira
estratgia do programa, ou seja, a outra ponta do dilogo.
3. A terceira estratgia o dilogo entre os artesos e o mercado consumidor,
comsuas demandas e exigncias. Trabalhando por meio de oficinas comos
artesos, o Programa busca aprimorar os produtos artesanais para torn-los
mais universais. Coloca-se o paradoxo: para seremuniversais os produtos no
devemperder o que os particulariza, pois a reside sua identidade. Portanto,
a interferncia do especialista, dos que realizamas oficinas, deve ser quase
invisvel. Qual seria o limite dessa interveno?O que pode ser feito para
alcanar essa universalidade?
A interferncia opera emtrs nveis: o primeiro, mais imediato, a melhoria
da qualidade do produto. Isso feito por meio da melhoria da qualidade da
matria-prima, especialmente no caso dos produtos que usam linhas, tecidos,
produtos industriais, tingimento, sugerindo e ensinando o uso de corantes naturais.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 47
48
No caso da matria-prima natural, como as fibras, so realizadas oficinas de manejo
sustentado. Outro tema o aumento da resistncia das cermicas, assim como a
qualidade do acabamento do produto, sobretudo nas emendas, costuras e pinturas.
O segundo nvel de interveno a padronizao ou atualizao das
medidas, especialmente no caso de confeces. Um jogo americano, por
exemplo, deve ter sempre o mesmo tamanho. H uma medida universal para
esse produto. Em razo de usos mais contemporneos de alguns produtos, so
feitas atualizaes: uma toalhinhade bandeja, por exemplo, que h quarenta
anos podia ser minscula, hoje deveser maior, j que ningum tem ou usa
bandejinhas to delicadas e pequenas.
Por fim, o cuidado de interferir semferir, remetendo criao de produtos
similares aos existentes, utilizando-se a mesma tcnica e o mesmo estmulo para
a criao do produto tradicional. o que ocorreu em Pitimb (PE), onde as
mulheres que tranavam fibras e que tradicionalmente apenas representavam as
galinhas resolveram, a partir de uma ao desenvolvida na oficina de criao do
ncleo de artesanato, acrescentar outros elementos presentes na paisagemlocal,
como as frutas tropicais.
Nas oficinas de criao, o Programa tambm desenvolve com os artesos
estudos de cores e pesquisas de resgate de padres tradicionais mais adequados
aos nichos do mercado consumidor identificados por especialistas.
O mercado de artesanato de tradio, atualmente, manifesta maior preferncia
por trabalhos de bordados mais limpos, geomtricos, emcores mais neutras. Esses
pequenos ajustes, que so resultantes do dilogo do arteso com alguns nichos
do mercado consumidor, podemser realizados no contexto da tcnica e da esttica
tradicional desses artesos.
Outra dimenso trabalhada, visando ao desenvolvimento social, o fomento
formao dos recursos humanos envolvidos no Programa. O Programa conta
atualmente comvinte agentes locais e dez gerentes regionais. Essas pessoas atuam
diretamente nos ncleos de artesanato, realizando atividades relacionadas comreas
de cultura e com o tema identidade cultural. Percebeu-se que seria impossvel
dar continuidade e sustentabilidade a essas aes culturais e sociais sem investir
na formao de recursos humanos.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 48
49
A exper incia do ar t esanat o solidr io
Coma parceria do Museu de Folclore Edison Carneiro, no Rio de Janeiro,
estamos promovendo um curso para agentes locais, com os temas identidade
cultural, cultura popular e preservao do patrimnio. A idia , sobretudo, sen-
sibilizar os agentes locais, emgeral jovens das comunidades onde o Programa atua,
muitas vezes concluintes do 2 grau ou at mesmo universitrios, e introduzi-los
nesses temas. Hoje, eles trabalham no Programa, amanh podero ser agentes
culturais trabalhando nas prefeituras municipais, tcnicos dos Sebraes estaduais,
ou de outras instituies e/ ou projetos culturais.
Ao propiciar esses cursos introdutrios, o Programa Artesanato Solidrio
est contribuindo para a sustentabilidade das suas aes. O Programa ainda
promovecursosna rea de gesto e planejamento de projetos, j que essa uma
rea muito carente de formao.
A garantia de sustentabilidade de qualquer projeto cultural ou ao social
depende, emgrande parte, da formao das pessoas envolvidas; detentoras de uma
viso geral do que gerir ou planejar as aes de umprojeto. Acreditamos que a
atuao mais expressiva do Programa Artesanato Solidrio no desenvolvimento
local seja a de formao de recursos humanos.
Finalmente, o programa atua sobre a criao ou sensibilizao do pblico
consumidor, em conseqncia, a ampliao de canais de acesso do arteso ao
mercado consumidor.
O Programa Artesanato Solidrio est empenhado na criao da Central
ArteSol, uma organizao da sociedade civil de interesse pblico (OSCIP), sem
finalidade lucrativa, cujo objetivo complementar as aes do Programa, abrindo
novas frentes de comercializao, no pas e no exterior, para os produtos de arte-
sanato tradicional dos 66 ncleos ligados ao Programa.
O trabalho como artesanato de tradio, objeto do Programa Artesanato
Solidrio, demonstra que possvel associar os termos poltica por meio de um
projeto cultural e social especfico, desde que se tenha emmente atuar emvrias
frentes e ter como alvo a educao continuada, capaz de propiciar a incluso dos
setores direta ou indiretamente ento envolvidos na ao.
Nessas trs dimenses emque o Programa atua a promoo do dilogo, a
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 49
50
formao de recursos humanos e a ampliao do acesso ao mercado, mediante a
sensibilizao do pblico consumidor de artesanato de tradio a misso
contribuir para transformar os artesos emprotagonistas do desenvolvimento social.
Por sua vez, a noo de cultura nas trs dimenses consideradas vai aparecer
como elemento de desenvolvimento social e de crescimento pessoal, tanto nas
oficinas dos artesos, na capacitao dos recursos humanos do Programa, bem
como na formao do pblico consumidor de artesanato.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 50
51
O Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) atua
emvrios segmentos, por meio de umvasto conjunto de programas e projetos, nos
quais a cultura comparece no exatamente como umprograma emsi, mas como
uma estratgia que permeia todas as aes da organizao.
Inegavelmente, discutir estratgias de desenvolvimento em qualquer pas do
mundo requer considerar a dimenso cultural. No se pode propor uma estratgia
desenvolvimentista semter emmente as complexas inter-relaes entre a economia
e a cultura e semconsiderar os anseios daqueles a quemse destina, seja a comunidade,
sejamos indivduos emparticular.
Considerando a enorme diversidade cultural que se constitui no elemento
central da nossa identidade, o Brasil temumpapel fundamental nessa discusso.
Apesar dessa constatao, os estudos e at mesmo as estratgias de ao para
a rea da cultura no Brasil carecemainda de maior articulao. Apresentam-se de
forma descontnua e, no caso dos estudos, contemplam um vis ainda muito
fiscalista, importando o aspecto mais imediato: a medio de receita gerada pelo
setor. Faz-se necessrio, no entanto, refletir sobre algumas questes:
Qual o impacto da cultura no desenvolvimento econmico e social do Brasil?
Quais os fatores que condicionamas relaes entre a cultura e o modelo de
desenvolvimento brasileiro?
3. A cultura nas polticas
e programas do Sebrae
ChristianoBraga
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 51
52
Como tratar o chamado processo de hibridao, em que elementos da
cultura popular tradicional so influenciados e influenciamo processo de
modernizao?
Como criar as condies favorveis ao desenvolvimento e, ao mesmo tempo,
preservar a nossa rica diversidade cultural?
Sema pretenso de querer responder a todas essas questes, importante
situar o Sebrae nesse contexto. O Sebrae uma organizao civil semfins lucrativos,
que temcomo objetivo fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas
no Brasil, acreditando que o desenvolvimento econmico e social do pas depende
de polticas e estratgias que fomentemo desenvolvimento dos pequenos negcios.
OSebraeno , emsi, umformulador depolticas culturais, no umpatrocinador
de projetos culturais, no o mecenas das artes, mas procura, nos seus projetos de
fomento ao desenvolvimento, atuar levando em conta a dimenso cultural.
O interesse da instituio pelo tema da cultura vemsendo constantemente
renovado. Destaca-se a evoluo pela qual o Sistema tem passado nos ltimos
quatro anos, particularmente, a transformao a qual costumamos denominar,
Sebrae reinventado. A organizao deixou de atender empresa individualmente
e passou a considerar todo o seu ambiente. Ou seja, entendemos que no adianta
apenas dotarmos o pequeno empresrio do acesso ao crdito, tecnologia,
informao, ao conhecimento, se no considerarmos a ambincia em que esses
pequenos negcios esto imersos.
Trabalhar o desenvolvimento dos pequenos negcios significa criar o
ambiente favorvel para que esses se desenvolvam. E dessa dimenso do ambiente
que participa fortemente a questo cultural.
Um outro aspecto refere-se s nossas estratgias setoriais de atuao.
Hoje, temos a cultura permeando as aes do Programa Sebrae de Artesanato,
por meio de uma grande parceria com o Comunidade Solidria e com uma srie
de outros organismos, inclusive internacionais, atingindo cerca de 500 municpios
brasileiros. Podemos citar tambmoutras aes no mbito do artesanato, como a
promoo de uma mostra do artesanato brasileiro na Feira Internacional de Milo,
em2002. Como Museu Casa do Pontal, no Rio de Janeiro, estamos fazendo um
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 52
53
A cult ur a nas polt icas e pr ogr amas do Sebr ae
mapeamento da cultura popular no Brasil. Est previsto, ainda, iniciar umCenso
Nacional do Artesanato.
Se considerarmos o movimento da atividade cultural no pas, sem nos
atermos discusso dos dados setoriais, segundo os ltimos estudos feitos pela
revistaMarketingCultural, a cultura movimentou emtorno de R$ 7 bilhes por ano.
Interessa ao Sebrae saber como se articula esse segmento, como se articulam
suas cadeias produtivas e, principalmente, qual o espao da pequena empresa
no mbito da atividade cultural. Algumas instituies e especialistas da rea tm
manifestado a dificuldade de responder a essa questo, pelo fato dos temas da
relao entre cultura e mercado, cultura e economia serem ainda bastante
incipientes no Brasil. Para ns, no entanto, mesmo que incipientes, esses so temas
com os quais estamos profundamente envolvidos.
Se entendermos que importante a preservao da cultura, a valorizao da
identidade local, no se pode deixar de lado a perspectiva da sustentabilidade.
Assim, quando discutimos cultura estamos necessariamente considerando a
vertente da gerao de emprego, renda e negcios.
Para isso, alguns dados so interessantes:
No Brasil, conforme citado, a cultura movimenta emtorno de R$ 7 bilhes
por ano. Emestados como a Bahia, por exemplo, h estimativas indicando
que o PIB cultural gira emtorno de 4,4%. Almdisso, grandes eventos, como
Parintins
1
eOktoberfest
2
, movimentammilhes dereais emcidades de pequeno
e mdio porte, sem contar o impacto do carnaval carioca e de Pernambuco.
O setor cresce em ritmo acelerado, na esteira das mudanas provocadas
pelas inovaes tecnolgicas e pela globalizao da economia;
O comrcio eletrnico, por exemplo, vemimpulsionando fortemente esse
mercado, pela venda de livros, CDs, artesanato e pinturas pela internet,
1
Festival realizado anualmente, no ms de junho, na cidade de Parintins, Amazonas, com o objetivo de preservar a
tradio do Boi Bumb.
2
Festa alem, em Blumenau, no ms de outubro, durante duas semanas e meia e recebe milhares de pessoas.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 53
54
podendo incorporar muitos outros produtos e servios de natureza
cultural;
Estudo realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico
e Social (BNDES), publicado no Jornal doBrasil, de 15/ 10/ 1998, aponta o
mercado cultural como o sexto maior gerador de postos de trabalho do
pas, diretos e indiretos, sendo equivalente ao do setor comercial;
Omercado dos patrocnios culturais, assumido pelas grandes empresas privadas,
apresenta vasta oportunidade de crescimento: hoje, cerca de 1.200 empresasj
exercem o mecenato, mas outras cem mil so patrocinadoras em potencial.
Almdisso, a cultura, nas suas interfaces como turismo, o terceiro setor e a
educao, encontra reas de grande potencial para o pas, que ainda so pouco
exploradas do ponto de vista da gerao de ocupao e renda.
Para comprovar a potncia econmica dessas interfaces, basta citar alguns
nmeros:
Pesquisa realizada pela Embratur e publicada no jornal Gazeta Mercantil, de
26/ 11/ 1998, indica que o turismo cultural e o turismo religioso ocupam,
respectivamente, o primeiro e o segundo lugar na preferncia dos nossos
turistas internos, que movimentam70% da receita no setor. O Brasil,
descrito por Domenico De Masi
3
como o pas da felicidade e por Fritjof
Kapra
4
como o pas davida temtudo paraseorganizar no universo do turis-
mocultural comdiferenciais competitivos, atraindo umnmero cada vez maior
de visitantes estrangeiros e, conseqentemente, mais divisas internacionais;
A grande maioria das empresas brasileiras tomou conscincia de que o
poder pblico, sozinho, no pode mais responder pela soluo de todos os
problemas nacionais e est investindo intensamente emprojetos sociais.
Conforme pesquisa do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA),
somente na Regio Sudeste 440 mil empresas apiamprojetos sociais. A rea
3
Domenico De Masi, socilogo italiano da Universidade La Sapienza, de Roma. Autor do livro cio criativo.
4
Fritjof Kapra, fsico. Autor do livro O Tao da Fsica. A fsica moderna e o misticismo oriental.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 54
55
A cult ur a nas polt icas e pr ogr amas do Sebr ae
cultural, medida que possibilita o uso de incentivos fiscais, poder propi-
ciar a realizao de projetos socioculturais voltados para a auto-organizao
e a auto-sustentabilidade das comunidades beneficiadas;
A educao a rea que recebe maior investimento das empresas privadas
(40,3% dos projetos). Interface natural da cultura, a rea educacional
poder receber aporte ainda maior de recursos, tambm por causa dos
incentivos fiscaise pela recente descoberta dos profissionais de marketing
da importnciade criar e fixar imagem positiva dos produtos dentro dos
estabelecimentos de ensino.
O fenmeno da globalizao, apesar de massificante, enaltece os valores
socioculturais regionais, que podemser difundidos e consolidados como produtos
tpicos e geradores de receita.
O Sebrae, como instituio de fomento, preocupado em melhorar as
condies do ambiente emque atuamas micro e pequenas empresas (MPE), no
pode, portanto, deixar de participar dessa discusso e, de maneira pragmtica,
incluir emseus programas a dimenso cultural, bemcomo mobilizar e catalisar
energias na construo de iniciativas concretas voltadas para o desenvolvimento
desse importante setor.
Por fim, um outro motivo de renovao do interesse da organizao para
trabalhar a dimenso cultural, foi o resultado das pesquisas projeto denominado
Cara Brasileira, ao que comeamos a desenvolver em2002.
Este projeto parte de duas hipteses que se transformaramemduas apostas
que o Sistema Sebrae faz hoje. A primeira que revitalizar e inovar o patrimnio
cultural, alm de um investimento social profcuo, uma operao econmica
de grande eficcia. Isto porque o mercado atingiu nveis de superproduo e
hiperconcorrnciaem grande parte dos setores produtores de bens e servios,
que satisfazem necessidades bsicas, como a nutrio, proteo, cuidados com a
sade, fazendo com que os produtos e servios de elevado contedo cultural
passem a representar uma fronteira ainda amplamente inexplorada. em tal
direo que as pessoas cada vez mais vo procurar satisfazer desejos de enrique-
cimento da conscincia e crescimento pessoal, como conseqncia da crescente
disponibilidade para o lazer.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 55
56
A segunda que a promoo de atividades econmicas, fundamentadas no
patrimnio cultural do pas, fornece s micro e pequenas empresas uminstrumento
de crescimento muito acessvel. Os homens e mulheres que tiram o seu sustento,
como empresrios ou como empregados dos milhes de pequenas empresas
existentes no pas, esto imersos nesse rico e diverso patrimnio e contribuem, em
grande parte, para sua preservao e difuso. Todavia, no conseguem, na maior
parte dos casos, tirar desse patrimnio os instrumentos para melhoria da sua
qualidade de vida.
A metodologia do projeto contemplou a realizao de consultas e grupos de
discusso envolvendo cerca de 25 especialistas de diferentes reas, que se dedicaram
a discutir a brasilidade aplicada aos negcios. Entre eles, o economista Luiz Nassif,
a designer Maria Clementina Cunha, a arquiteta Janete Costa, a fotgrafa e
pesquisadora da arte popular Maureen Bisiliat, o antroplogo Roberto DaMatta,
o jornalista Jorge Cunha Lima. Sabemos que sobre o tema da brasilidade e da
cultura brasileira existem verdadeiros compndios e obras de grande vulto.
No entanto, essa pesquisa foi a primeira tentativa de trazer essa discusso, de
uma maneira pragmtica, para o campo dos negcios.
Seu objetivo foi definir um perfil de brasilidade, compreendido como um
conjunto dos traos peculiares da cultura, dos valores estticos e das formas
de comunicao dos brasileiros. Conjunto capaz de diferenciar o sujeito, pes-
soas ou empresas, produtos ou servios, portadores de caractersticas competi-
tivas vantajosas para insero no mercado globalizado.
Aps os resultados da pesquisa Cara Brasileira, decidimos priorizar alguns
segmentos, como o caso do turismo e da moda. Estamos propondo, com a
Universidade e outros parceiros, umnovo painel de especialistas para identificar,
nesses dois segmentos, exemplaridades daquilo que chamamos cara
brasileira. Da mesma forma, como resultado de articulaes do Sebrae, o tema
discutido durante o maior evento de moda da Amrica Latina, o So Paulo
Fashion Week, foi exatamente como fazer uma moda com cara brasileira.
Estamos tambm iniciando uma parceria com o Ministrio do Desen-
volvimento da Indstria e Comrcio um esforo que engloba uma srie de
instituies para a promoo da imagemexterna do Brasil. Almdisso, estamos
elaborando um convnio com o Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 56
57
A cult ur a nas polt icas e pr ogr amas do Sebr ae
Nacional (IPHAN) para identificao e proteo de elementos da cultura ima-
terial, assim como a incluso do Sebrae como parceiro nas aes de gesto urbana
sustentvel de stios histricos e arqueolgicos.
A idia criar alguns ncleos de designe de estudo que contribuam para
a proteo, certificao da propriedade intelectual dos cones e produtos
desenvolvidos nas comunidades, com a finalidade de gerao de ocupao e
renda. Este seria o desdobramento maior dessa pesquisa.
A pesquisa Cara Brasileira temreforado a nossa compreenso de que a nica
forma de promover um desenvolvimento integrado e sustentvel dos diversos
setores produtivos por meio de uma viso de territorialidades, ou seja, de como
criar territrios que sejamcompetitivos. Territrio tende a ser uma microrregio
comclaros sinais de identidade coletiva, compreendendo umnmero de municpios
que mantenhamuma ampla convergncia emtermos de expectativas de desenvolvi-
mento articuladas comnovos mercados, e que promovamuma forte integrao
econmica e social, localmente.
O conceito de territorialidade passa, ento, a ser o mecanismo central de
fortalecimento da dinmica regional, que permite projetar para espaos mesorre-
gionais, nacionais e internacionais, a personalidade diferenciada e a viso de
futuro, de uma sociedade local organizada.
Para tanto, faz-se necessrio mapear as tipicidades, cones culturais, smbolos
e as referncias culturais do local, fazendo com que essas sejam apropriadas
pelas comunidades e contribuam para o reconhecimento de um territrio.
Temos feito um grande esforo, com vrios especialistas, para compreen-
der como delimitar um territrio a partir de referncias geogrficas, culturais
e da existncia de cadeias produtivas que possam, a partir das tipicidades locais,
agregar valor aos seus produtos e servios, tais como os atrativos tursticos, o arte-
sanato ou a gastronomia.
A aplicao desse conceito j tem alguns exemplos emblemticos dentro
da organizao. o caso do trabalho de resgate dos mestres de ofcio que o
Sebrae/ Minas est desenvolvendo em Arax. A tradio e o saber-fazer desses
mestres estava se perdendo, o que motivou o Sebrae, com outros parceiros, a
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 57
58
uma ao de revitalizao e de resgate da histria e do conhecimento dos mestres
de ofcio.
Outro exemplo o inventrio das referncias culturais, destinos hist-
ricos e cones locais que est sendo elaborado no Vale do Paraba e no litoral
norte de Alagoas. Seu objetivo criar atrativos tursticos, agregar valor ao
artesanato e melhorar a imagem dos produtos e servios produzidos por aque-
las comunidades.
Almdesses, destacamos:
1. o trabalho que vemsendo realizado na regio do Xing de criao de nar-
rativas e tematizao de servios tursticos baseados nas estrias geradas a
partir do Cangao e dos seus cones, assim como a estratgia do protago-
nismo juvenil;
2. o trabalho de interpretao do patrimnio desenvolvido na Praia do Forte
na Bahia;
3. a leitura dos espaos urbanos e culturais de algumas cidades do Cariri
paraibano;
4. o trabalho de resgate da iconografia para o artesanato do Mato Grosso;
5. o trabalho comqueijarias da regio do Cerid (PB).
importante tambm registrar algumas estratgias setoriais. o caso do
turismo, em que trabalhamos com as possibilidades de valorizao das micro e
pequenas empresas tursticas a partir da dimenso cultural. Do artesanato, desde o
resgate da cultura popular e suas relaes como mercado. Das indstrias culturais,
por meio do mapeamento de cadeias produtivas da msica, assim como da inds-
tria grfica e de outros segmentos potenciais.
Ressalto que essas estratgias so tambm permeadas pela perspectiva de
territorialidade, contribuindo para que as micro e pequenas empresas possamse
diferenciar, por meio de produtos e os servios comelevado contedo cultural,
nesse jogo competitivo do chamado mercado globalizado.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 58
59
A cult ur a nas polt icas e pr ogr amas do Sebr ae
Discutir a cultura dentro da organizao temsignificado umgrande desafio,
maior do que imaginvamos. No entanto, algumas iniciativas dos Sebraes estaduais
avanaram, algumas comresultados interessantes, outras comalguns equvocos, que
so naturais, considerando o ineditismo do tema e a dificuldade de coordenao
das aes emtodo o pas.
O Sebrae reconhece a cultura como uma dimenso importante para o desen-
volvimento dos seus projetos e, por intermdio do seu corpo tcnico e das suas
parcerias, busca uma estratgia de abordagem da cultura nos programas de fomen-
to e desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Nossa idia construir uma perspectiva e uma estratgia emque a dimenso
cultural faa parte de todas as nossas aes e projetos.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 59
61
Umdos sintomas que mais claramente marca a cartografia latino-americana
contempornea o incremento significativo
1
e a transformao dos fenmenos
da violncia. Os pases da Amrica Latina e do Caribe, emconjunto, ostentama
taxa mdia de homicdios mais alta do mundo 21,3 por cada cemmil habitantes
(GUERRERO, 1997).
2
A Colmbia se dessangra em uma interminvel guerra sem aparente sada.
El Salvador e Guatemala passam das guerras civis dos anos 1980 presena
exacerbada de uma delinqncia que pe em xeque a sociedade. Cidades como
Mxico, So Paulo, Medelln, Bogot e Buenos Aires convertem-se em terri-
trios de movimento restrito, onde o medo constitui-se em mediador social da
diferena e da excluso. Tudo isso vemunido a uma generalizao da inseguranae
da desconfiana provocada pela corrupo, a impunidade e os desfalques
econmicos desatados pelo neoliberalismo ao extremo e pela globalizao de
fenmenos de paralegalidade, tais como o narcotrfico, o terrorismo e a pirataria.
4. Indicadores culturais para
tempos de desencanto
AnaMaraOchoaGautier
1
Para uma anlise recente do que significam essas cifras ver CONCHA-EASTMAN, Alberto. Violencia urbana en
Amrica latina y el Caribe: dimensiones, explicaciones, acciones. In ROTKER, Susana (ed.). Ciudadanas del miedo,
Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
2
Diz Guerrero:"...a regio das Amricas tem uma taxa mdia de homicdios de cerca de 17 para cada cem mil habitantes.
Enquanto que Amrica Latina e o Caribe tm 21,3 para cada cem mil habitantes, outros pases ou regies tm taxas
inferiores, e alguns pases asiticos, em torno de 1 ou 2 para cada cem mil habitantes (GUERRERO, 1997, p.16).
Alberto Concha-Eastman coloca a taxa da Amrica Latina de 15 para cada cem mil habitantes (CONCHA-EAST
MAN, op.cit.).
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 61
62
Nesse clima de desconcerto, de fracasso do poltico e do social para conter
as fronteiras do desastre, afiana-se, emalguns setores,
3
a noo de que a cultura
serve para reestruturar o espao pblico, para restaurar prticas de convivncia, ou
como caminho para a paz e a reconciliao. Surge, ento, uma primeira pergunta:
A que nos referimos quando dizemos que a cultura o caminho para a reestrutu-
rao do espao pblico e da convivncia? Para responder a essa pergunta
necessrio primeiro esclarecer o que entendemos por violncia e quais so as suas
manifestaes contemporneas.
Em segundo lugar, necessrio vincular o tema da violncia ao do
desenvolvimento e, devido razo que nos convoca, ao de pensar ndices culturais
vlidos para o contexto das nossas cidades e pases. A pergunta que deveramos
confrontar neste caso seria: O que significa o estado atual da violncia na hora de
pensar a relao culturadesenvolvimento e o desenho de indicadores culturais que
sejam significativos para o nosso contexto regional? Comeo, ento, abordando
o primeiro tema a que estamos nos referindo quando falamos de violncia
na Amrica Latina.
CARACTERSTICAS GERAIS DA VIOLNCIA CONTEMPORNEA
NAS CIDADES E PASES DA AMRICA LATINA
Delimitao do campo
Hoje em dia todos os fenmenos da violncia esto em ressonncia uns
com os outros: a impunidade alimenta a corrupo, o narcotrfico e os bandos
organizados e a execuo extrajuzo de quadrilheiros exacerba sua raiva e sua
excluso. A esse clima de abuso generalizado agrega-se o fato de que a violncia
produz desordem e caos em todos os campos da vida, gerando a sensao de
que permeia tudo. Emcerto sentido o de sua permeabilidade e de sua capacidade
deconvocatria , a idia de violncia, como a de cultura, corre o perigo semntico
de nomear tudo e nada ao mesmo tempo.
3
No devemos esquecer que os setores que procuram responder violncia com violncia so to fortes ou mais que
os setores que demandam respostas sociais e culturais.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 62
63
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
Para no confundir a violncia coma justificada sensao de caos que ela
produz, para poder pensar a correlao entre cultura e violncia como umcampo
possvel de interveno, necessrio partir de uma delimitao de ambas as esferas.
Para o contexto deste trabalho opto pela definio de violncia formulada pelo
sanitarista Sal Franco: Entendo por violncia toda forma de interao humana
na qual, mediante fora, se produz dano a outro para a consecuo de um fim
(FRANCO, 1999, p. 2-3).
4
Dessa definio desprendem-se vrias caractersticas: a
violncia relacional; d-se geralmente em condies de desigualdade de foras;
uma fora que produz dano e intencional.
Entretanto, ao falar da relao culturaviolncia (ou polticas culturais
violncia), estou me referindo ao campo cultural emtrs ordens diferenciadas,
porm, interativas. O primeiro a cultura como o cotidiano (umcampo que nos
aproxima mais antropologia); o segundo a cultura como campo comunicativo
(os circuitos de circulao das artes indstrias culturais, museus, etc.); e o
terceiro a cultura como manifestao artstica concreta, sejamda chamada cultura
popular macia ou tradicional ou das belas-artes. A poltica cultural atua emtodas
essas ordens de maneira interativa. a partir da interao entre esses campos
culturais que se constroemos indicadores que correlacionamcultura e violncia.
1. As particularidades dos fenmenos da violncia variamde umlugar para
outro. Entretanto, quase todos os fenmenos locais de violncia sofremo
impacto, direta ou indiretamente, dos fenmenos mais amplos da violncia,
corrupo ou terror. Portanto, h de se pensar simultaneamente a particu-
laridade dos fenmenos da violncia e sua trama como parte de uma rede de
violncias que se sobrepemumas comas outras.
Como bemdiz Teresa Caldeira, ao analisar o caso especfico de So Paulo:
O incremento da violncia o resultado de umciclo complexo que inclui
fatores, tais como o padro violento de reao da polcia; a desconfiana
no sistema de justia como mediador pblico e legtimo do conflito e
4
Outra definio de violncia, muito parecida anterior, a proposta por Alberto Concha-Eastman: Violncia
uma ao intencional do uso da fora ou do poder e pela qual uma ou mais pessoas produzem dano fsico, mental
(psicolgico), sexual ou em sua liberdade de movimento ou a morte a outra ou outras pessoas, ou a si prprias, com
um fim predeterminado (CONCHA-EASTMAN, op.cit. p.45).
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 63
64
provedor de uma reprimenda justa; respostas violentas e privadas ao crime;
resistncia democratizao; e a fraca percepo da populao dos direitos
individuais e seu apoio a formas violentas de castigo (CALDEIRA, 2000,
p.105).
Distintos autores utilizam diferentes termos para se referir a essa rede
de superimposies violentas. Teresa Caldeira fala de ciclos de violncia;
Carlos Mario Perea fala de violncias difusas (PEREA RESTREPO, 2000),
outros de guerras civis nas cidades (COELHO, 1999). Todos eles compartilham
a idia deque a violncia se desatou e para entenderem as suas tramas neces-
srio estabelecer a correlao de atores a diferentes nveis e por meio de distintos
espaos.
Por exemplo, as quadrilhas de Medelln (Colmbia) uma cidade marcada
pelo narcotrfico e as escolas de sicrios que deixou Pablo Escobar como herana
e que hoje so exportadas para Madri no se comportamda mesma maneira que
as quadrilhas de Bogot, onde o narcotrfico como crime organizado temmenos
ingerncia na estrutura integral das quadrilhas (PEREA RESTREPO, 2000).
Assim a diferena de outros tempos nos quais os fenmenos da violncia eram
mais localizveis. Hoje, a violncia deve ser pensada simultaneamente desde suas
particularidades locais e por meio de suas redes globais.
2. A violnciaproduz criseemtodasasordens, escreveu Susana Rotker (2000).
Como tal, a violncia umfenmeno profundamente cultural. Qualquer
vtima que sobreviva a uma experincia de violncia experimenta uma interrupo
do fluxo cotidiano da realidade, uma ausncia ainda que temporal de
explicaes do seu sentido da vida e da sua relao com os semelhantes.
Quando a experincia no se limita ao pessoal, mas que se conjuga com uma
sensao generalizada de insegurana e medo, torna-se ummurmrio permanente,
um rudo que se ala como tela de fundo do cotidiano.
Diz Martn Barbero (2000, p.29): o que temconvertido algumas de nossas
cidades nas mais caticas e inseguras do mundo no apenas o nmero de assassi-
natosou assaltos se no a angstiacultural emque vive a maioria de seus habitantes.
Essa angstia surge, emparte, ao se constatar que as explicaes sobre o sentido do
social a que estamos acostumados no funcionam.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 64
65
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
A presena exacerbada da violncia questiona profundamente paradigmas
que at muito pouco tempo erampilares estruturais de nossas sociedades, tais
como o espao pblico pensado como o produto de umpacto social, a idia de
cidadania baseada emnoes de direito e respeito pessoa, e o poder como um
campo articulado pelo estado.
5
O espao pblico est quebrado por fenmenos, tais como a privatizao da
segurana, a redefinio da cartografia das cidades, na medida emque se amuralham,
e a limitao do espao fsico como local de encontro e sociabilidade. Teresa
Caldeira, emseu livro sobre So Paulo, City of walls, assinala o medo e a violncia
como fatores fundamentais na estruturao de novos padres de segregao urbana
que geramnovas formas de discriminao: a privatizao da segurana e a recluso
de alguns grupos sociais emredutos fortificados e privados(CALDEIRA, 2000,
p.2). Umdos pilares da noo de espao pblico sua distino do privado
desmorona-se neste mbito e, detrs das novas muralhas, os meios de comunicao
substituem a praa pblica como foro poltico e como espao de encontro
(MARTIN BARBERO, 2000).
Susana Rotker diz que a presena de prticas de inseguranase traduz no
que ela chamou cidadanias do medo(ROTKER 2001, p. 5); cidadanias emque
alguns dos fatores determinantes na mediao do social so a insegurana e a
desconfiana. Se, para alguns, a possibilidade de seremvtimas ou a realidade de
teremsido, constitui uma marca de angstia permanente, para outros, como os
quadrilheiros, a possibilidade de infligir medo, constitui a capacidade de provocar
respeito emque tudo mais excluso (PEREA RESTREPO, 2000).
Diz Carlos Mario Restrepo:
... A quadrilha umprojeto de poder contundente, pretende o temor e a
admirao da vizinhana. No lhe interessa nada diferente, basta-se como
5
Sem dvida, todas essas idias a do espao pblico, a de cidadania e a de poder tm sido questionadas durante
as ltimas dcadas desde campos como o estudo dos movimentos sociais ou desde a redefinio do conceito mesmo
de poltica. Nesses campos, as concluses geralmente levam construo de uma ordem alternativa e nesses estudos a
violncia costuma ser uma nota marginal, salvo que se interrompa totalmente a possibilidade de existncia
desses movimentos alternativos, como tem acontecido em alguns casos na Colmbia. Para uma explicao de
noes de espao pblico e uma crtica s tendncias utpicas da idia de sociedade civil, ver RABOTNIKOV, Nora: Sirve
la reivindicacin de lo pblico para renovar el significado de izquierda y derecha? Conferncia apresentada no Simposio
Internacional Reabrir espacios pblicos: Polticas culturales y ciudadana. 24 a 26 de setembro. Cidade de Mxico.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 65
66
controle de umreduzido territrio, seus intercmbios e as contingncias
associadas satisfao de suas apetncias. De resto, a conquista de espaos
amplos ou de ingerncias polticas desborda seus clculos. Contudo, seu
poder eficaz os conecta almdo vizinho, se ligamaos fluxos delituosos e
adquiremuma dinmica seguindo as foras dos contextos urbanos onde
habitam(PEREA RESTREPO, 2000, p. 425-426).
Nesse contexto, o sentido da luta pelo poder no se fixa apenas na capaci-
dade da transformao de uma realidade social na qual a excluso extrema, seno
na capacidade mesma de produzir medo. As ticas guerreiras dos excludos
(SALAS, 2000), a temporalidade efmera de suas vidas, as feridas corporais de
combate adquiridas emsuas pequenas guerras do asfalto(PEREA RESTREPO,
2000), ostentadas como tatuagens de sobrevivncia herica (PEREA RESTREPO,
1999; SALAS 2000), alimentam-se da certeza de que emalguns lugares a linha
divisria entre a vida e a morte extremamente tnue. Alimentam tambm a
certeza, ainda mais contundente, que lhes d ummundo descontrolado: no terreno
das violncias contrapostas a luta pelo poder ummbito crucial de sobrevivncia.
A impunidade, a corrupo, a tortura aos presos, os atos policiais ou privados
extrajuzos, os seqestros como prtica para resolver a economia do cotidiano ou
para financiar guerras se impemuns aos outros, gerando uma tica do desencanto
que atravessa o sem-sentido do social e do pessoal.
A transgresso da vida como lugar de transcendncia e da sacralidade do
corpo como lugar que contma vida questiona nossa idia da luta pela transfor-
mao do poder como algo essencial para a criao de uma nova ordem. Mas nem
por isso essas violncias so totalmente apolticas. Emseu habitar o extremo, na sua
manifestao da barbrie (SALAS, 2000), emsua opo por romper comtodo o
sentido das ordens sociais, desvendama [profundidade da] crise e a [magnitude
da] excluso (PEREA, 2000, p. 427). Cidadanias do medo, prticas da
insegurana, ticas do desencanto termos com que tratamos de nomear a
desordem que nos habita. Termos que nos remetem ao fato de que a violncia
abala profundamente as estruturas da ordem social e cultural.
3. Mesmo que os diferentes fenmenos da violncia estejamemressonncia
uns comos outros necessrio fazer distines macro (e estabelecer
relaes) entre violncias organizadas e violncias de natureza menos
orgnica.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 66
67
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
Diferentes autores fazemuma distino macro entre violncia organizada, ou
seja, aquela que tem o potencial de converter a organizao em elementos de
acumulao de poder (PEREA RESTREPO, 2000, p. 405) como os grupos
armados organizados ou o narcotrfico e aquelas violncias de natureza menos
orgnica, mais cotidiana e, supostamente espontneas, tais como a quadrilha.
Tambmse fazemdistines entre violncias polticas, obedientes a umprojeto
coletivo de transformao da sociedade, e as violncias restantes amarradas a
recursosparticulares e procuras econmicas(PEREA RESTREPO, 2000, p. 405).
Essas distines macro so importantes na hora de se entender a relao
entre a violncia generalizada das cidades latino-americanas e situaes de conflito
armado e tambm quando se pensar indicadores de violncia ou indicadores
culturais. No momento, a necessidade dessa distino aplica-se de maneira
contundente ao caso da Colmbia, mas tambm necessria para entender o
caso de pases como Peru, El Salvador e Guatemala.
Hoje, todas as violncias esto emressonncia umas comas outras (PCAUT,
2001). E no apenas na Colmbia. Surge, ento, uma pergunta: Como se esta-
belece uma correlao entre violncias e situaes de conflito armado organizado?
Essa pergunta remete-nos aos cenrios de guerra de fins do sculo XX e comeos
do XXI.
Daniel Pcaut escreveu, para o caso da Colmbia, que o que temos neste pas
uma guerra contra a sociedade civil (PCAUT, 2001). Mary Kaldor assinalou
uma srie de caractersticas comuns naquilo que ela denomina as novas guerras,
ou seja, a violncia de natureza poltica que se desenvolve emnvel global a partir
da dcada de 1980 at nossos dias. Segundo ela, nessas guerras:
Apaga-se a distino entre guerra (geralmente definida como a violncia
entre estados ou entre grupos polticos organizados por motivos polticos),
crime organizado (violncia levada a cabo por grupos privados organizados
para propsitos privados, geralmente financeiros) e violao de direitos
humanos em grande escala (violncia perpetrada por estados ou grupos
polticos organizados contra indivduos) (KALDOR, 1999, p. 2).
Mesmo que essas guerras sejamlocais, elas se do por meio de diversas
conexes transnacionais de tal maneira que a distino entre o interno e o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 67
68
externo, entre agresso (ataques de fora) e represso (ataques de dentro do pas),
ou entre o local e o global, so difceis de sustentar (KALDOR, 1999, p.2).
Isso significa que ao longo do sculo XX, o conflito blico tem se deslocado
dos corpos militares aos corpos cidados.
6
Segundo David Held e Mary Kaldor, nessas guerras a violncia dispersa e
fragmentada, est dirigida contra os cidados; e os objetivos polticos combinam-
se com a comisso deliberada de atrocidades que supem uma violao macia
dos direitos humanos... Seu objetivo conseguir poder poltico pela propagao
do medo e do dio(HELD; KALDOR, 2001).
Nesse deslocamento do medo, como ttica social multiplicada, transforma-
se drasticamente a relao culturaviolncia, j que o momento teatral da batalha
deixa de ser o espao onde se dirime o conflito quando s fica o recurso das armas,
e passa a ser uma mediao constante do sentido mesmo da cidadania. Assistimos,
portanto, no apenas multiplicao e mundializao de guerras contra a
sociedade civil, seno tambm instaurao do medo no cidado no-guerreiro,
como objetivo poltico globalizado.
H de questionar que to novas so essas guerras, sobretudo em pases
do terceiro mundo caracterizados por impunidades, desaparies organizadas,
intervenes externas veladas, execues extrajuzos e corrupes. A novidade est
em que essas caractersticas afianaram-se em atores armados de diferentes
naturezas ideolgicas, e temse globalizado, adquirindo formas particulares em
diferentes situaes e lugares concretos.
O que interessa assinalar que esses conflitos armados compartilham
vrias caractersticas com outras formas de violncia: a perda da distino entre
o pblico e o privado, a perda da sacralidade da vida que comportava algumas
ticas guerreiras (IGNATIEFF, 1998), a perda de um sentido de cidado com
direitos e o cultivo do medo como espao para construir poder. Embora, a maneira
como se d a correlao entre os diversos tipos de violncia no evidente, algo que
se observar mais adiante, como no caso da Colmbia. Hoje, no existemlimites
claros entre os distintos tipos de violncia e se perderamos cdigos que delimi-
6
Segundo Mary Kaldor, no incio do sculo XX a relao entre vtimas militares e civis era de 8:1. Hoje, quase
exatamente o contrrio, a relao de vtimas militares e civis de 1:8 (KALDOR, 1999, P. 8).
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 68
69
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
tavam as aes e a tica da guerra. Surge, ento, uma pergunta: Quando os
fenmenos da violncia urbana possuemo potencial de se converter emconflitos
armados organizados emgrandeescala?H pases, como a Venezuela ou a Argentina,
onde essa pergunta urgente.
4. muito fcil, a partir da sensao de caos, desordem e angstia que
produz a experincia desbordante da violncia, que o medo se torne
dio. Nesse momento quando se cai em totalitarismos analticos ou na
petio de solues drsticas, fanticas e salvadoras de um problema que
provoca um medo profundo. Por exemplo, comum na Amrica Latina
identificar jovens marginais comcriminalidade (ADORNO, 2000; PEREA
RESTREPO, 2000; SALAZAR, 2000).
Porm, atribuir essa generalizao de atividades de grupos especficos a
grupos populacionais completos, apenas serve para alimentar a confuso e o caos.
necessrio distinguir entre populaes gerais e grupos concretos de afiliao
violenta e atuar desde definies e distines claras.
7
Alm disso, necessrio
distinguir entre diversas prticas sociais e culturais. No se pode confundir, por
exemplo, o fenmeno do rapou do funkcomatividades delituosas das quadrilhas.
Um dos objetivos dos indicadores culturais para a relao violnciacultura
precisamente poder construir categorizaes que ajudem a esclarecer o mundo
caticoda violncia. As polticas pblicas e a correlao que estabelecemos entre
cultura e violncia devem-se desprender de pesquisas claras, no de generalizaes
intuitivas.
5. As cifras da violncia, como as cifras da cultura, so caracterizadas
por uma srie de problemas de coleta e registro. Diante dessa situao, a
interpretao do que nos dizemas cifras exige especial cuidado e deve-se
fazer a partir de pesquisas slidas que lhes dem sentido, contexto e sig-
nificado aos nmeros e uma cultura poltica que defina com clareza as
razes pelas quais se constroem esses indicadores.
7
Uma dessas distines , por exemplo, a que distingue bando de quadrilha. Existe uma diferena substantiva entre
bando e quadrilha. O primeiro uma organizao delituosa constituda com o propsito expresso de acumular
capital mediante o furto, mas carente da intimidade e da exposio pblica do calote. Pelo contrrio, a quadrilha,
alm de possuir membros que se dedicam ao calote, sustenta-se na clandestinidade e conserva uma disciplina
responsvel pela efetividade de suas aes: profissionaliza-se na sua capacidade operativa mediante a aquisio de
veculos, armas sofisticadas e conexes de alto nvel (PEREA RESTREPO, 2000, p. 8).
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 69
70
Segundo a Organizao Pan-americana de Sade (OPS), a regio da Amrica
Latina e o Caribe temuma taxa mdia de homicdios de 21,3 para cada cemmil
habitantes (cifras para 1991). Em1980, a taxa mdia era de 12,5 para cada cem
mil (MORAL, 1997, p. 16). Para 1998, Colmbia, El Salvador, Brasil e Puerto
Rico j ostentavamtaxas de homicdio almde 20 para cada cemmil habitantes
(Colmbia, 73,3; El Salvador, 40,9; Brasil, 23,5; e Puerto Rico, 22,4).
8
Em boa medida, o relato da violncia narra-se em cifras. Como bem diz
Susana Rotker, as cifras so freqentemente o primeiro recurso de que se dispe
para tentar comunicar a experincia ou a desmesura da violncia social no cotidi-
ano (ROTKER, 2000, p. 8). Porm, a pergunta crucial : O que significam
as cifras? Na Colmbia, por exemplo, se diz que 15% das mortes violentas
so geradas pelo conflito armado, enquanto as 85% restantes so produtos de
outros tipos de violncias. Embora, como questionam vrios autores: Como
se retroalimentam umas e outras violncias?.
9
Aqui onde o crculo retorna,
inevitavelmente, complexa relao entre diferentes formas de violncia,
dificuldade de se deter apenas em um s campo. Diz Carlos Mario Perea, inter-
pretando as cifras da Colmbia:
Dentro do contexto nacional, Bogot no a cidade da violncia homicida.
Sua taxa mdia de 66 homicdios por cemmil habitantes, entre 1988 e
1996, empalidece frente de Medelln, assolada por uma violncia que
atinge uma aterrorizadora mdia de 378 homicdios por cemmil habitantes
(PEREA, 2000, p. 419).
Todavia,
As 73 localidades mais violentas da Colmbia so pequenos municpios de
zonas de colonizao ajudados por umou vrios dos atores organizados.
8
Cifras tomadas de clculos realizados por Alberto Concha-Eastman baseados na informao encontrada na Situacin
de la Salud en las Amricas, Indicadores Bsicos de Salud. OPS/OMS, 1998. Ver CONCHA-EASTMAN, op. cit.
9
Como diz Daniel Pcaut: Neste momento a violncia uma situao generalizada. Todos os fenmenos acham-se
em ressonncia uns com os outros. Pode-se considerar, como nosso caso, que a violncia posta em obra por seus
protagonistas organizados constitui o marco no qual se desenvolve a violncia. Embora, no se possa ignorar que a
violncia desorganizada contribui para ampliar o campo da violncia organizada. Uma e outra se reforam mutua
mente. Seria muita presuno querer traar ainda linhas claras entre a violncia poltica e aquela que no ...
A verdade que ningum est protegido do impacto dos fenmenos da violncia (2001: 90).
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 70
71
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
Nenhuma cidade ordena, nemsequer a atormentada Medelln [...] Porm,
nada mais que a agregao das trs grandes cidades Bogot, Medelln e
Cali fazemmais da tera parte dos homicdios nacionais: so as urbes onde
as influncias dos atores organizados entramno acordo comnumerosas
mediaes (PEREA RESTREPO, 2000, p. 406).
Essas aterrorizadoras cifras fortalecema tendncia: umas e outras formas de
violncia se alimentam. Porm, a compreenso do fenmeno no se detm nas
cifras so umtraado para entender como se arma o mapa do terror.
Outro exemplo, outro pas. EmEl Salvador, as taxas de homicdios inten-
cionais se sustentariam entre 138 sobre cem mil habitantes nos anos 1994 e
1995, para logo diminuir para um pouco menos de 120 em 1996 (CRUZ Y
GONZLEZ, 1997, p.4). Entretanto, se se comparamos dados e as estatsticas
entre diferentes fontes de dados para a violncia, emSan Salvador, que abriga 31%
da populao, teria ocorrido s 24% dos homicdios do total nacional, enquanto
no interior se teria produzido 76% dos assassinatos sobre 69% restante da
populao. Isso quer dizer que no interior, a taxa de homicdios seria mais elevada
que na capital (CRUZ Y GONZLEZ, 1997, p.7).
Emambos os casos, o da Colmbia e o de El Salvador, fica evidente que a
relao entre a cidade e a histria da nao crucial na hora de compreender os
fenmenos da violncia. Surgem, ento, uma srie de advertncias no momento de
se pensar emcifras:
a) No se pode confundir informao comsignificado e, a partir da construo
de indicadores, cair no padro contemporneo de que cada dia estamos
informados de mais coisas, s que cada dia sabemos menos o que significam
(MARTIN BARBERO, 2000, p. 33). Portanto, para decifrar o que dizem
os nmeros temos de estabelecer uma srie de correlaes com o social,
o cultural e o histrico. No se pode construir nem indicadores de violn-
cia, nem indicadores culturais, sem estabelecer tramas de correlaes claras.
Parte do trabalho de construir a relao entre indicadores de violncia eindi-
cadores decultura resideemdefinir as categoriasque lhes do o traadoa esse
mapa de relaes.
b) As cifras da violncia compartilhamvrias caractersticas comas cifras da
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 71
72
cultura. Primeiramente, aparecemcomo incompletas, insuficientes, caducas e
de difcil coleo e ordenamento devido a prticas institucionais caracteri-
zadas pela falta de dados e registros. Emmuitos outros casos, as fontes das
cifras existentes se tomamde registros realizados por alguns dos agentes
envolvidos, tais como da polcia, no caso da violncia, ou das indstrias
culturais, no caso da cultura. Isto quer dizer que a acumulao de dados est
necessariamente mediada pelas intenes e formas de organizao das ins-
tituies respectivas. O qual no quer dizer que esses dados devam ser
descartados, mas na hora de interpret-los necessrio detalhar as carac-
tersticas de suas formas de coleo e o que isso implica para uma anlise das
cifras. Diante desse quadro, evidente a necessidade de pesquisas profundas,
com fins pblicos claros para alimentar as estatsticas e seu significado.
Ou seja, as pesquisas devem estar mediadas por uma cultura poltica com
intenes claras de propsito das cifras e do seu significado.
6. Semntica e narratividade da violncia.
A violncia constri suas prprias formas estticas de organizar a confrontao
diria com suas manifestaes. H vrias manifestaes em relao s linguagens,
s narrativas e ao campo artstico emgeral que aqui simplesmente assinalarei, j que
o campo vasto e controvertido:
a) A perda de sentido do que as palavras nomeiam ou, para coloc-lo em
termos mais acadmicos, a ruptura entre significado e significante. O que as
palavras expressam se altera nas prticas do medo. Um seqestrado no
um seqestrado. uma mercadoria. Uma execuo extrajuzo no uma
execuo extrajuzo. uma limpeza. Um massacre no menciona o terror.
simplesmente umassunto mais do cotidiano. Essa exacerbao do eufemis-
mona linguageme essa banalizao do terror emsua repetio sob a forma
de notcia agem como mscara do macabro que se constitui em sintoma
da cotidianizao do medo. Desse caos semntico alimenta-se a indiferena
e o terror. Desse caos semntico alimentam-se os crculos do dio. o
amplo campo da mimese e da mscara como estratgia para o terror.
b) Uma das caractersticas das vtimas da violncia ordenar o mundo.
Seja desde o reconto obsessivo do que lhes aconteceu ou desde umsilncio
profundo em que o medo reprime a palavra. Se bem que sejam aparente-
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 72
73
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
mente diferentes essas duas opes, no fundo so as mesmas: ficamos com
uma nica possibilidade de narrao ou de silncio a da marca que nos
deixa a violncia. Como dizia uma amiga que esteve presa nos campos de
concentrao da Argentina, nos anos 1970, o problema que nos deixaram
comapenas umrelato, apenas uma histria para contar.
Mas a pergunta que surge no apenas o que se narra ou se plasma na
msica e nas esculturas das lpides, seno como se narra, como tomamforma as
estticas da violncia, tanto das vtimas quanto dos agressores no terreno cultural
difuso que a todos, de alguma forma, nos toca. H muitas e diversas formas de
arte: desde os rascunhos que fazemos filhos dos desaparecidos na Argentina para
elaborar seu duelo e sua histria at os narcocorridos das selvas colombianas e os
desertos mexicanos que celebram os novos heris da violncia. Na interpretao
dessasformas, h um perigo de maniquesmo: o assunto aqui no escolher entre
celebrar ou impugnar as novas formas, decidir de antemo se so expresso ou
conteno da violncia, ou se so esquecimento ou memria, denncia ou
cumplicidade.
A ordemque se altera aqui no apenas a da forma do discurso. Tambmo
da relao entre representao, narratividade e fatos. Assimcomo os espaos pblicos
da violncia nos exigemmudar a ordemdas idias consagradas, as estticasda violn-
ciaexigem-nos reinterpretar a maneira como nos questionamos sobre a relao entre
cultura, arte, vida e morte. Estabelecer indicadores que correlacionamcultura e
violncia implica estar consciente da presena dessas mltiplas lgicasestticas.
INDICADORES CULTURAIS PARA O CONFLITO
Os tempos so, ento, profundamente violentos. No quer dizer isso que
a violncia o nico fenmeno que existe, tambm h espaos de construo
social. O que quero assinalar a urgncia do problema e seu profundo sig-
nificado cultural contemporneo devido a sua relevncia. Como bem diz o
historiador Guy Lardreau numa poca concreta h prticas sociais que
aparecem como expresso privilegiada da globalidade social, que do o tom
a que as outras [prticas] ajustem seu eco(LARDREAU, 1980, p. 32). Penso
que no seria exagerado dizer que hoje na Amrica Latina, a violncia uma
dessas prticas.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 73
74
Retornamos, ento, pergunta que formulamos no incio deste trabalho:
O que significa o estado atual da violncia na hora de pensar a relao cultura
desenvolvimento e o desenho de indicadores culturais que sejamsignificativos para
o nosso contexto regional? Diante desse quadro de medos, de poderes desborda-
dos, de angstia cultural, como e para que construir indicadores culturais?Susan
Rotker disse: A pergunta comunidade no como pensar o medo, ou como
narr-lo, seno como venc-lo: corpo a corpo ou corpo comcorpo e no contra o
corpo(ROTKER, 2000, p.22).
Ao longo deste trabalho temos explorado a violncia como fator no apenas
sociopoltico, mas tambmcultural. Nestaparte, quero concentrar-meemoutradimen-
soda relao culturaviolncia. Emsituaes de crise extrema surge cada vez com
maior fora, pelo menos emalguns setores, a idia dequea cultura umcampo de
reconstruosocial edeconvivncia. Alguns, como GeorgeYdice, vemnessetipo de
demandauma crescente instrumentalizao da cultura por parte de organismos
internacionais, instituies, organizaes, corporaes da cultura (YDICE, 1999).
Indubitavelmente, isso uma realidade. Porm, surge uma interrogao:
Que interesse invoca esse processo de instrumentalizao da cultura?Quando
se entrevistampessoas que moramemregies de conflito armado intenso sobre o
que significa a cultura ou a arte para eles, encontra-se uma definio do instru-
mental muito mais ampla que aquela aceita pelas teorias de desenvolvimento ou
pelos idelogos dos movimentos sociais. No h apenas uma demanda material ou
de identidade. H tambm uma demanda de transcendncia na vida, ali onde
os resqucios da criatividade foram reduzidos ao mbito do macabro. O que se
demanda no uma ao fria sobre a cultura, tampouco unicamente ter recurso
a um relato de identidade; o que se demanda, muitas vezes, a possibilidade de
retornar a imaginao para um sentido pela vida. outro o significado do
instrumental o que aqui se invoca.
Diz o poeta espanhol Luis Garca Montero:
Superando o impulso depreciativo pela palavra egosta e a frieza desper-
sonalizada das razes do Estado, o conceito de interesse sonha um ponto
de equilbrio que permite segurar a felicidade, o prazer como ponto de
referncia moral, a necessidade de contratos sociais ou de regras poticas.
(GARCA MONTERO, 2000, p.16) .
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 74
75
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
... Ali onde no existem. No apenas pelo instrumental que se invoca a
cultura nos cenrios do medo, seno que tambmcomo estratgia de esperana.
No cenrio das desaparies e da vertigem, toma fora o medo e como paradoxo
tambma esperana. Ummedo, como dir Jean Delumeau, liberto de sua ver-
gonha e uma esperana semprograma(REGUILLO, 2000, p. 63-64).
Nas zonas de conflito armado, as pessoas que procuram na cultura um
sentido de vida designam diversos campos de ao. Podemos enumerar alguns
deles:
1. A cultura e as artes como possibilidade de construo de espaos de
participao onde s existe excluso. Alguns trabalhos que analisamessa
medida centram-se no surgimento de movimentos sociais ou grupos artsticos
de bairro que geramessa potencialidade.
2. A cultura e as artes como campo de reconciliao, sobretudo quando vm
combinadas comprocessos de negociao militar e legal de conflitos violen-
tos. Emalguns casos, na Colmbia, por exemplo, temsido possvel negociar
parcialmente o conflito emnveis muito locais. Deram-se, nesses lugares,
simultaneamente, processos de negociao militar e polticas locais com
mobilizao artstica e cultural que redefineme transformamo espao pbli-
co e as tramas do medo que deixou a guerra (OCHOA GAUTIER, 2002).
3. A cultura e as artes como antdoto do medo, ali onde reina o imprio dos
violentos e somente possvel extrair umpequeno espao de sobrevivncia
presena cotidiana do macabro. Emalguns casos no possvel negociar o
conflito armado nemdeter, por exemplo, a violncia entre quadrilhas nos
bairros. Nesses casos, as artes no cumprema funo de solucionar o con-
flito armado ou de redefinir a natureza de umespao pblico marcado pelo
medo. Porm, podemprover espaos de encontro que cumprama importante
funo de refgio da violncia. No podemos menosprezar a funo desses
espaos nem como mbitos de negociao primria ali onde tem conflito
violento e no se tem podido negociar, tampouco como mbito de sobre-
vivncia emocional e psicolgica (OCHOA GAUTIER, 2002).
4. A cultura e as artes como estratgia para transformar os hbitos do dio
e da vingana que se acumulam no ciclo de violncias contrapostas.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 75
76
5. A cultura como mbito para elaborar o duelo.
10
Este listado primrio de estratgias parece dar uma rota concreta esperana.
Trs campos cruciais surgem na hora de se pensar indicadores culturais.
O primeiro seria umcampo que tema ver coma relao violnciacultura
espao pblico e implicaria estudos sobre a relao entre oferta cultural, criativi-
dade cultural e artes emlugares de violncia intensa. A pergunta de fundo seria:
Como se relaciona a oferta cultural, a criatividade cultural como tipo de espao
pblico (ou ausncia do mesmo) emlugares de violncia intensa?
O segundo campo seria na relao exclusocircuitos de circulao artstica
e criatividade artstica. Emsituaes de profunda excluso, como se d a relao
entre circulao cultural (ou seja, possibilidades de participar de um circuito
produtivo e comunicativo das artes), violncia e criatividade?
O terceiro campo seria na relao cultura polticapoltica cultural em
diferentes mbitos sociais e culturais. As perguntas, nesse caso, seriam: Para quem
esto desenhadas as polticas culturais de diferentes tipos de instncias institucionais
ou organizacionais? Como se implementam essas polticas, ou seja, como se
media a relao com a populao para as quais foram desenhadas? Esse campo
estratgico j que em poltica cultural costuma freqentemente existir uma
distncia enorme entre o desenho das polticas e sua prtica. tambmo mbito
de pesquisa que nos permitiria estabelecer uma inter-relao estratgica entre
cultura, justia, legalidade e economia. A cultura sozinha no soluciona nada.
Finalmente, nunca h que se perder de vista que a relao culturaviolncia,
culturaconvivncia emtempos atuais invoca umcampo profundamente intersub-
jetivo da relao de uns comoutros, da arte coma vida e da arte coma morte. Ou
seja, invocama relao entre cultura, arte, vida e morte no como umobjeto deter-
minado, seno como umcampo de deciso. No podemos deixar que as estratgias
do dio e da onipotncia dos soberbos nos puxemirremediavelmente at o viciado
crculo das vinganas que confundemsegurana ou xtase comfanatismo assassino.
10
Para ampliar este ponto, ver GAUTIER, Ana Mara Ochoa, Entre los deseos y los derechos, Un ensayo crtico de polticas
culturales. Bogot: Instituto Econmico Colombiano de Antropologa e Historia, 2002.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 76
77
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
Diante da abundncia de fatos violentos temos que tomar uma deciso.
As mltiplas maneiras de confrontar as dificuldades e diferenas no podemseguir
sendo encurraladas ao extremo macabro da excluso em que a nica resposta
angustiosa e letal a onipotncia da morte violenta. Necessitamos, emoutras
palavras, reescrever nosso pacto coma morte para poder dar espaos a novos tipos
de histria de vida ou vida como histria possvel. As palavras do psiquiatra
Luis Carlos Restrepo, escritas para a Colmbia, so talvez vlidas para muitas
cidades da Amrica Latina:
Este pas dolorido necessita uma explorao, s vezes cultural e sensorial,
que permita avanar no caminho das reparaes coletivas, pois nossa vida
depende emgrande parte do tipo de pacto que sejamos capazes de estabele-
cer com os mortos... Quando uma cultura comea a tornar-se um campo
de defuntos insepultos que nos espreitamcomseu fedor para que derra-
memos de novo o sangue e saciemos seus anseios de vingana se faz
imprescindvel aclimatar a profisso de sepultureiros... O poder dos vivos
sobre os mortos reside emque, diferente deles, seguimos gerando linguagem
a borbotes, exuberncia que ressalta frente patticamudez dos defuntos.
Para no ser marionetes nas mos caprichosas da memria, importante
entender nosso dilogo com a morte como um campo de deciso que nos
abre a possibilidade de dar maior significado a uma vida compartilhada
(1997, p. 188).
A histria do medo no se reescreve unicamente transformando os relatos.
Tambmh de se transformar, numesforo conjunto, as condies que o produ-
zem. Somente assim talvez possamos construir histrias de vida em que no
tenhamos de escolher entre o esquecimento e a memria e em que a convivncia
na diferena substitua a densa trama das excluses. Talvez a funo mais importante
de estabelecer a correlao entre indicadores de violncia e indicadores culturais,
seja a de assentar as bases que nos ajudem a dar programa esperana.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 77
78
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADORNO, Srgio. La delincuencia juvenil en San Pablo: mitos, imgenes y hechos.
In: ROTKER, Susana (ed.). Ciudadanasdel miedo. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
2000. p. 95-109
CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. City of walls: crime, segregation, andcitizenshipin SoPaulo.
Berkeley, London: University of California Press. 2000.
COELHO, Teixeira. Guerrasculturais. Arte e poltica no novecentos tardio. So Paulo:
Iluminuras. 1999.
CONCHA-EASTMAN, Alberto. Violencia urbana en Amrica Latina y el Caribe:
dimensiones, explicaciones, acciones. In: ROTKER, Susana (ed.), Ciudadanasdel miedo.
Caracas: Editorial Nueva Sociedad. 2000. p. 39 - 53.
CRUZ, Jos Miguel y GONZLES, Luis Armando.Magnitud de la violencia en El
Salvador. ECA, n. 588, 1997.Disponvel em: http:/ / www.uca.edu.sv/ publica
/ eca/ 588art2.html
DELUMEAU, Jean. A histriadomedonoOcidente, 1300-1800. So Paulo: Companhia
das Letras. 1978.
ESCOBAR, Arturo. Encounteringdevelopment. Themakingandunmakingof theThirdWorld.
Princeton: Princeton University Press. 1995.
______. El final del salvaje. Naturaleza, culturay polticaen laantropologacontempornea.
Bogot: CEREC, ICAN. 1999.
FRANCO, Sal. El Quinto: Nomatar. Contextosexplicativosdelaviolenciaen Colombia.
Bogot: Tercer Mundo Editores, IEPRI. 1999.
GARCIA MONTERO, Luis. El sextoda. Historiantimadelapoesaespaola. Madrid:
Editorial Debate. 2000.
HELD, David y KALDOR, Mary. Aprender de las lecciones del pasado. El Pas,
lunes, Madrid, p.19, 8 oct. 2001.
IGNATIEFF, Michael. El honor del guerrero. Guerra tnica y conciencia moderna.
Madrid: Taurus. 1998.
KALDOR, Mary. 1999. New andoldwars: organizedviolencein aglobal era. Stanford:
Stanford University Press.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 78
79
I ndicador es cult ur ais par a t empos de desencant o
LARDREAU, Guy. Prefacio. GeorgesDuby, DilogosobrelaHistoria, Conversacionescon Guy
Lardreau. Madrid: Alianza Editorial: 1980. p.11-35.
MARTN BARBERO, Jess. La ciudad: entre medios y miedos. In: ROTKER,
Susana (ed.), Ciudadanasdel miedo. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 2000. p. 29-35.
MORA, Gustavo. Inauguracin. Taller sobrelaviolenciadelosadolescentesy lasPandillas
(Maras) Juveniles. Organizacin Panamericana de la Salud, Autoridad Sueca para el
Desarrollo Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. San Salvador, El
Salvador, 7-9 de mayo de 1997. 1997. Disponvel emhttp:/ / www.paho.org/
Spanish/ HPP/ HPF/ ADOL/ taller.pdf
OCHOA GAUTIER, Ana Mara. Entrelosdeseosy losderechos. Un ensayocrticosobre
polticacultural. Bogot: Instituto Colombiano de Antropologa. 2002.
PCAUT, Daniel. Guerracontralasociedad. Bogot: Editorial Planeta Colombiana.
2001
PEREA RESTREPO, Carlos Mario. Un ruedo significa respeto y poder. Pandillas
y violencias en Bogot. In: Violenciacolectivaen lospasesAndinos. Bulletin de LInstitute
Franais dEtudes Andines. Instituto de Estudios Andinos (Ifea): Lima, 2001,
Tome 29, n. 3.
REGUILLO, Rossana. Los laberintos del miedo. Un recorrido para fin de siglo.
In: Revistadeestudiossociales. Enero, n.5: 2000. p. 63-73.
RESTREPO R., Luis Carlos. La sangre de Gaitn. In: El saqueodeunailusin. El 9
deabril: 50 aos despus. Colombia: Numero Ediciones, Ministerio de Cultura,
Instituto Distrital de Cultura y Turismo: 1997. p.179-189.
ROTKER, Susana. Ciudades escritas por la violencia. (A modo de introduccin).
In: ROTKER, Susana (ed.), Ciudadanas del miedo. Caracas: Editorial Nueva
Sociedad: 2000.p.7-22
SALAS, Yolanda. Imaginarios y narrativas de la violencia carcelaria. In: ROTKER,
Susana (ed.). Ciudadanasdel miedo. Caracas: Editorial Nueva Sociedad. 2000.p.203-
216.
SALAZAR J., Alonso. Hacia una estrategia dereconstruccin cultural. In: ROTKER,
Susana (ed.). Ciudadanas del miedo. Caracas: Editorial Nueva Sociedad. 2000.
p.169-181.
YUDICE, George. The privatization of culture. Social Text, n.59, 1999. p.17-35.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 79
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 80
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 81
83
BARCELONA, UMA RESPOSTA POSITIVA A
POLTICAS CULTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
Temtica e significado
Barcelona uma cidade exemplar para a discusso do tema em anlise
porque cresceu muito nos ltimos cemanos e justamente emrazo de certos
impulsos de desenvolvimento bastante determinados no tempo e emfuno de
acontecimentos culturais.
A cidade serviu como sede, no final do sculo XIX, exatamente em 1888,
para a Primeira Exposio Universal, evento que estimulou no apenas a moder-
nizao do porto da cidade, mas tambm a construo de edifcios singulares
e de alguns dos monumentos mais conhecidos atualmente, como o dedicado
a Colombo, no Portal da Paz.
Em 1929, foi organizada uma Segunda Exposio Universal em Barcelona.
Isso justificou a necessidade de se dotar a cidade de uma zona prpria para esse
tipo de acontecimento. A rea foi criada na Praa da Espanha e, hoje, mais de
setenta anos depois, continua sendo utilizada para as exposies, feiras e con-
gressos que ocorrem na cidade.
5. O Frum Universal das Culturas:
Barcelona de 2004
JaumePagsFita
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 83
84
A Exposio Universal de 1929 serviu tambm para dotar a cidade de
infra-estrutura de transporte. At ento Barcelona no tinha metr. Em funo
do evento, construiu-se a primeira linha, ainda hoje em funcionamento, e desde
l muitas outras foram criadas at a instalao da rede.
Esses so alguns exemplos de como a organizao de eventos de mbito
internacional vemsendo aproveitada h mais de cemanos pela capital catal para
impulsionar o seu desenvolvimento econmico e social. Tanto a exposio de 1888
como a de 1929 serviram, como dissemos, para dotar a cidade de uma importante
infra-estrutura porturia e viria.
Paralelamente a isso, cada um desses eventos trouxe consigo um consi-
dervel incremento da imigrao. Trabalhadores foram atrados pelas grandes
obras infra-estruturais que a cidade queria desenvolver e logo se integraram
sociedade barcelonesa-catal. Esse foi, sem dvida, um dos elementos que
favoreceram a renovao da cultura e da sociedade catal.
Nos anos 1930, entra-se na fase marcada pela guerra civil e, depois, a partir
de 1939, por quarenta anos de ditadura, cuja prioridade certamente no foi o
desenvolvimento da cidade. Ainda assim, realizou-se durante o franquismo um
evento na mesma linha que os anteriores, s que demarcado pelas coordenadas
do regime.
Organizou-se em Barcelona o Congresso Eucarstico, uma reunio impor-
tante, centrada no catolicismo, que tentava recuperar ou reunir as foras, no
exatamente progressistas, mas as foras vivas da cidade e do pas naquele momento.
O evento no teve a importncia dos precedentes, mas chegou a ter algumimpacto
internacional e, de todo modo, tambmserviu para criar e urbanizar uma nova zona
da cidade.
Recuperada a democracia, um dos desafios a que se props o primeiro
prefeito democrtico foi o de criar para Barcelona um evento internacional na
linha das tradicionais exposies, que haviam funcionado to bem em 1888 e
em 1929. Ele decidiu, ento, organizar os Jogos Olmpicos.
A proposta de realizao dos Jogos Olmpicos emBarcelona ocorreu no ano
de 1986, menos de dez anos, portanto, desde a constituio da primeira
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 84
85
O Fr um Univer sal das Cult ur as: Bar celona 2004
prefeitura democrtica. Foi preciso trabalhar muito sua candidatura para con-
seguir ser a sede das Olimpadas, o que, como se sabe, no muito simples.
Mas, afinal, o fato de Barcelona ter sido designada como sede dos Jogos
Olmpicos de 1992 constituiu um grande acontecimento para a cidade. O evento
foi um sucesso, tanto do ponto de vista da participao dos pases como da sua
organizao e serviu de base para urbanizar uma nova parte da cidade.
Foi construdo umnovo porto na faixa martima, eliminada uma linha de
trens que isolava a cidade do mar e tambmcriadas praias para a populao e um
ou dois centros cidados ao redor da Vila Olmpica, que logo se tornou um
bairro residencial e, atualmente, um dos lugares que mais se desenvolve.
Tambmse aproveitou a preparao das Olimpadas para dotar a cidade de
infra-estrutura de esportes e para melhorar os sistemas de transporte e particular-
mente para prover a cidade de umanel virio de 40 quilmetros, chamado AsRondas.
Esse anel virio, que logo estar saturado graas ao incremento incessante do
trfego, atualmente ainda permite o deslocamento de um extremo a outro de
Barcelona, com uma certa comodidade.
As Olimpadas serviram simultaneamente como um impulso para o
desenvolvimento da infra-estrutura de turismo. A rede hoteleira, a cargo da ini-
ciativa privada, foi acrescida de um bom nmero de hotis e praas hoteleiras,
para ser capaz de absorver o impacto do crescimento da atividade turstica.
Como nos eventos internacionais anteriores, os Jogos Olmpicos tambm
permitirama divulgao do que Barcelona representava emtermos de projetos e
oportunidades. Isso significou umaumento importante da imigrao.
Diferentemente do que ocorreu por ocasio das exposies de 1888 e 1929,
quando a imigrao provinha da prpria Espanha, no caso das Olimpadas, a
globalizao fez comque os imigrantes viessemdo Marrocos, do norte da frica,
em geral, bem como de alguns pases latino-americanos.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 85
86
UMA NOVA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO: O FRUM
UNIVERSAL DAS CULTURAS DE 2004
Perfil e organizao do evento
Em 1996, completados exatamente dez anos da candidatura para sediar os
Jogos Olmpicos, Barcelona se props a organizar um novo acontecimento com
impacto mundial que servisse novamente para impulsionar o desenvolvimento
da cidade. Esse acontecimento o Frum Universal das Culturas que se realizar,
se tudo correr como previsto, em 2004.
O Frum constitui um empreendimento singular e sua organizao,
um desafio para a cidade. Ao contrrio das exposies internacionais e dos
Jogos Olmpicos, eventos que j haviam sido realizados antes, o Frum
uma novidade. Portanto, no se trata somente de organizar algo j conheci-
do, de arranjar um cenrio e prever o funcionamento da cidade para que as
coisas funcionem. No caso do Frum, trata-se tambm de desenhar o prprio
acontecimento.
O desafio bem maior porque temos de fazer tudo: conceber o evento,
desenhar o cenrio em que vai ocorrer e prever toda a organizao necessria
sua realizao. Estamos trabalhando nisso faz algum tempo, por meio de
um consrcio formado pela prpria cidade, pela Prefeitura, pelo Governo
Regional da Catalunha e pelo Governo Federal da Espanha. Essas coordenadas
associando as trs esferas de governo foram copiadas do sistema utilizado para
os Jogos Olmpicos, que funcionou muito bem.
Constituiu-se, assim, para o Frum, um consrcio formado pelas trs
administraes, em que cada qual contribuir com um tero de seu custo. O
oramento previsto de 318 milhes de euros, quer dizer, aproximadamente
US$ 300 milhes, sendo 60% financiados por aportes iguais das trs esferas
administrativas citadas e 40% por empresas que queiram patrocinar o evento
e pelos ingressos a serem vendidos ao longo de sua realizao.
O FrumUniversal das Culturas umevento comumcomponente cultural
maior do que tiveram as exposies universais ou os Jogos Olmpicos e conta com
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 86
87
O Fr um Univer sal das Cult ur as: Bar celona 2004
o auspcio e o patrocnio da UNESCO. Sua realizao foi aprovada por una-
nimidade pela Assemblia Geral do rgo, em novembro de 1997.
Para isso, o governo da Espanha fez chegar UNESCO por inter-
mdio da Organizao das Naes Unidas (ONU), de que pas-membro a
proposta de realizao do Frum e, desde ento, ela tem estado presente com seus
rgos na concepo do evento, ainda que no participe de seu financiamento.
Temos uma comisso permanente da organizao do Frum na sede central da
UNESCO em Paris.
Trabalhamos tambm nos ltimos anos no desenho do acontecimento em
si e na preparao das estruturas de gerenciamento que permitam realiz-lo com
sucesso. Atualmente, temos umapropostadeprogramaqueo Conselho deAdministrao
do Frumaprovou emdata recente. Essa proposta est disposio da comunidade
internacional e pode ser consultada diretamente na web, no sitedo Frum.
Faremos agora uma breve apresentao dessa proposta de programa do
Frum2004, explicando primeiro por que a chamamos de proposta de programa,
quais os objetivos previstos a partir de sua concepo.
A proposta pretende ser um documento para o debate com a comunidade
internacional, pois entendemos que esse evento deva ser extremamente participativo.
E acreditamos que o Frumpode ser bem-acolhido pela comunidade internacional
to logo ela seja convocada a dele participar.
Mas o Frum tem componentes bastante diferentes de outros eventos.
Ele no est, por exemplo, vinculado ao comrcio, como as exposies que
pretendiam difundir os produtos e servios que cada pas fornecia. Com a globa-
lizao cada vez mais intensa do comrcio, esse tipo de exposio de alguma
forma perdeu o sentido.
Por outro lado, a organizao do Frumno est vinculada a estados
nacionais ou a seus governos. A idia organizar um evento cultural por meio das
instituies culturais que queiramparticipar. Isso no quer dizer que a participao
dos pases esteja vetada. Apenas o Frum no ter a mesma organizao das
exposies internacionais em que cada pas tem seu pavilho para expor seus
servios, seus produtos ou, nesse caso, sua cultura.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 87
88
Entendemos que as culturas podem transcender aos estados nacionais ou,
ao contrrio, s vezes so as naes que transcendem s culturas. E o Frum pre-
tende ser umintervalo no tempo e no espao, de relao e debate entre as culturas,
sem intermedirios e, principalmente, sem intermedirios polticos. Assim, a
organizao do Frumno se ater a mediar as manifestaes de estados nacionais.
Assim, para conseguir o compromisso dos que queiram participar no s
de sua realizao, bem como da gestao do programa, lanamos essa proposta
com o objetivo de debat-la com a comunidade internacional. Entendemos que
o intercmbio de opinies necessrio e que, para garantir seriedade ao debate,
ele precisa acontecer a partir de documentos escritos.
Sendo nossa, claro, a responsabilidade de elaborar umprimeiro documento,
reunimos todo o trabalho realizado at este momento nessa proposta de pro-
grama que lanamos luz, em busca do necessrio retorno. O que nos interessa
colher essencialmente dois tipos de opinio: as crticas sobre os contedos do
programa, isto , as incluses consideradas importantes, as sugestes de mudana;
e, emsegundo lugar, as contribuies no sentido de viabilizar o que ali est sugerido.
A proposta de programa no mais que umndice. Por exemplo, no caso de
umdos formatos de manifestao previstos no Frum, que so os debates, j existe
uma lista de aproximadamente 43 debates propostos no programa, todos com
nome ou ndice para permitir que se tenha uma idia do seu propsito.
Os comits cientficos de avaliao ainda no esto designados, continuamos,
portanto, considerando as propostas de participao nos simpsios, debates e
congressos anunciados. Todas as contribuies interessantes sero bem-vindas.
Vale esclarecer, no entanto, que desde a sua concepo o FrumUniversal
das Culturas foi associado a trs eixos: primeiro, a diversidade cultural; segundo, a
sustentabilidade do desenvolvimento; e terceiro, as condies para a paz. Portanto,
qualquer atividade que pretenda se desenvolver no mbito desse evento, no importa
o formato que venha a assumir, dever estar direta ou indiretamente relacionada
com algum desses trs eixos ou, eventualmente, com mais de um.
De concreto, temos alguns dos eventos internacionais que acontecero em
Barcelona durante o Frum2004, como a reunio do Parlamento das Religies
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 88
89
O Fr um Univer sal das Cult ur as: Bar celona 2004
associao inter-religiosa que agrupa lderes religiosos de todo o mundo e que
se reuniu anteriormente emChicago e na Cidade do Cabo. Em2004 o Parlamento
vai se reunir pela primeira vez em uma cidade fora da zona anglo-saxnica.
Para essa reunio est prevista a presena de mais de dez mil pessoas ligadas
religio, manifestao cultural das diversas civilizaes.
Muitos outros eventos vo ocorrer no Frum, como o Festival Mundial da
Juventude, que tambm dever reunir, como em suas edies anteriores, mais de
dez mil jovens de todo o mundo, ou o Frum das Naes Unidas, organizado
pela Agncia Habitat das Naes Unidas, com sede em Nairbi, que agrupa
municpios, lderes municipais e polticos para discutir a pobreza, o desenvolvi-
mento e a vida nas cidades.
Quanto aos formatos que pretendemos utilizar, inicialmente a proposta
do programa est organizada com base em seis formatos diferentes, a serem
desenvolvidos paralelamente. Acreditamos que o Frum possa funcionar assim.
O primeiro formato constitui um chamado reflexo: um conjunto de
exposies estreitamente vinculadas com os citados eixos. Esto programadas,
at o momento, cerca de 24 exposies: uma sobre diversidade lingstica e
comunicao interpessoal, outra sobre sustentabilidade e desenvolvimento, outra
ainda sobre as caractersticas da evoluo da comunicao da espcie humana
etc. Existem tambm exposies coordenadas entre o Frum e espaos culturais
da cidade, que tm tradio na realizao desse tipo de evento.
O segundo formato umconvite ao dilogo: congressos, debates, simpsios,
que se realizaro em Barcelona enquanto durar o Frum, todos sempre ligados a
umdaqueles trs eixos.
Jo terceiro formato umaconvocao criatividade: coexistiro no Festival dasArtes
as mais diversas manifestaes artsticas, ligadas ao teatro, msica, ao cinema etc.
O quarto formato prope-se ao encontro e ao intercmbio. Constitui, sem
dvida, o mais inovador e ser desenvolvido emtoda a cidade e, particularmente,
numa grande praa que est sendo construda como cenrio do Frum, a Praa
das Culturas. Nela nossos arquitetos esto desenhando espaos de encontro e de
intercmbio de experincias entre os participantes.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 89
90
Um quinto formato um convite cooperao e solidariedade entre
organizaes governamentais ou de organizaes no-governamentais que podero
participar do evento, apresentando e trocando experincias.
E, finalmente, o ltimo formato previsto na proposta do programa deno-
mina-se Boas Prticas. Com ele, pretendemos ressaltar experincias realizadas,
avaliadas positivamente e consideradas de interesse geral. Esperamos que o
Frum possa representar a oportunidade de ampliao e difuso de prticas
bem-sucedidas no mbito daqueles eixos fundamentais e que tenha um papel
significativo contra a tradio dos meios de comunicao de divulgar sistemati-
camente apenas as notcias negativas.
Esse o conjunto de formatos previstos para o Frume cada qual comuma
funo e uma proposta de desenvolvimento. Teremos numerosas exposies, mais
de vinte congressos, mais de quarenta debates, alm do Festival das Artes com
manifestaes artsticas de todo tipo. Tudo isso pode ser consultado na proposta
do programa que, como dissemos, est aberta para receber opinio da comunidade
internacional e, particularmente, das pessoas vinculadas ao mundo da cultura
com vistas avaliao de seu contedo para estabelecer o programa definitivo e
sugesto de meios de realizao dos eventos que integraro o Frum.
Vale tambm ressaltar que esse grande evento internacional que acontecer
em Barcelona no ano de 2004 vai durar vinte semanas, comeando em 9 de maio,
um domingo, e terminando tambm em um domingo, dia 26 de setembro. Sero
cinco meses ininterruptos de atividades em que buscaremos a participao de
toda a cidade e que toda Barcelona vibre e se interesse pelo desenvolvimento
daquilo que o Frum prope.
Para uma ampla divulgao do evento nos moldes da realizada durante
os Jogos Olmpicos, j existe umacordo entre a televiso espanhola e a televiso
catal criando o Canal Frum. Isso permitir o acompanhamento distncia de
todo o evento, bem como a transmisso pela televiso de sua programao.
Contamos comdivulgao via internet. Almda proposta do programa na
web, temos umFrumvirtual emfuncionamento h alguns meses, no qual existe
uma participao crescente de pessoas ou comunidades interessadas nos objetivos
e nas linhas estratgicas do evento.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 90
91
O Fr um Univer sal das Cult ur as: Bar celona 2004
Para terminar, gostaramos de ressaltar que a idia de realizao do Frum
surgiu em1996, seis anos antes, portanto, dos fatos de 11 de setembro de 2001,
os quais marcarampara a comunidade internacional a necessidade de reflexo sobre
os temas do convvio e da globalizao. Assim, desde ento, e diante das mudanas
de atitude e da nova situao internacional, a organizao de umevento comesse
perfil parece ainda mais interessante e oportuna.
evidente que a globalizao tem seus defensores e seus detratores, mas
os enfoques que sobre a globalizao se realizamconstituemenfoques parciais, em
geral, apenas do ponto de vista econmico ou do ponto de vista social. Ao passo
que ns estamos pensando na globalizao a partir de umaspecto cultural mais
amplo. O Frum pretende tratar de todos os temas abrangidos por aqueles trs
eixos que se vinculam muito claramente globalizao: a diversidade cultural,
a sustentabilidade do desenvolvimento e as condies para a paz.
Esperamos tambm que o Frum tenha continuidade e que outra cidade
se proponha a organizar umnovo Frum, depois de 2004, mantendo acesa a tocha
que Barcelona pretende passar a quemse habilite. H alguns candidatos, mas nada
de concreto ainda. De nossa parte, queremos ver a continuidade do Frumcomo
evento internacional coma parceria da UNESCO, e faremos todo o possvel para
que seja assim. Nesse sentido, j criamos emBarcelona, almde outras estruturas,
uma Fundao que manter o Frumvirtual, conservando acesa a chama que, com
a proposta e o evento, tentamos acender.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 91
93
Ao tratar de polticas culturais territoriais locais, nossa experincia de mais
de vinte anos de gesto e de anlise da matria nos permitiu chegar a uma primeira
concluso: no acreditar emmodelos. Entendemos cada poltica cultural, cada um
de seus aspectos e de que seus objetivos tmumsentido mundial e umsentido em
seu prprio contexto.
como professor na matria que posso garantir: as polticas culturais
precisamser consideradas emseu prprio contexto. Podemos fornecer algumas
pautas, mas preciso decidir qual a poltica mais idnea para cada realidade.
A segunda metade do sculo XX evidenciou que no se cria desenvolvi-
mentosem considerar a perspectiva cultural. Nesse sentido, pensamos que, em
mbito internacional, o que se pode fazer transferir experincias e reflexes para
que sejam avaliadas e contextualizadas em cada realidade. Existindo interesse
em aproveitar experincias de outros lugares, preciso estar disposto a recriar
e a superar o que j foi realizado.
Falo a partir de uma experincia dual: durante dez anos do perodo da
ditadura na Espanha, trabalhei como mundo da cultura na sociedade civil e,
durante quinze anos, como responsvel tcnico na direo de polticas culturais da
cidade de Barcelona, momento emque comecei a refletir sobre nossas prticas.
Nessa ltima etapa, trabalho como professor, formador e investigador na rea
6. Cultura e cidade:
Uma aliana para o desenvolvimento
A experincia da Espanha
AlfonsMartinell
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 93
94
de cultura e tambmnesse novo projeto que a Ctedra Unesco Polticas Culturais
em Cooperao.
Com esse projeto, que iniciamos na Universidade, em parceria com uma
instituio da sociedade civil, a Fundao Interarts, estamos nos especializando
na investigao aplicada em polticas culturais locais e regionais.
Esse o contexto da minha fala, alm dos decorrentes das mudanas
ocorridas na Espanha depois da ditadura, a que outros autores j se referiram
aqui. Chegamos a uma democracia baseada em dois eixos fundamentais: o da
institucionalizao das liberdades democrticas e o da descentralizao adminis-
trativa, da autonomia das regies.
Para ilustrar essa questo, eis alguns dados do Ministrio da Cultura da
Espanha, referentes ao ano de 2000, que acabamde ser editados emlivro e que,
alis, no considero positivos: dos gastos pblicos com cultura, a administrao
central se responsabiliza por apenas 29,5% deles; a regio por 39%; e as munici-
palidades por 31%.
Esses dados refletemfielmente o processo de descentralizao que atribuiu
maior autonomia s regies. Ns que ramos municipalistas aspirvamos a que
a transferncia do poder central se depositasse mais nas localidades propriamente
ditas do que nas regies. Entretanto, passamos de uma realidade, em1979, na qual
entre 80% e 85% dos gastos pblicos comcultura provinhamda administrao
central, para a situao atual, emque a administrao central s se responsabiliza
por 29% desses recursos.
Volto a insistir na importncia de se desenvolverempolticas locais para a
cultura, a partir do confronto destes nmeros: s 13% dos recursos que compem
o oramento nacional so repassados para os municpios. Mas os municpios se
responsabilizampor 31% dos gastos pblicos comcultura. Emmbito regional,
33% do total dos recursos do estado central so repassados regio, e a ela
competem 39% dos gastos pblicos com cultura.
Isso quer dizer queao longo desses anos formou-seuma certa opinio pblica
a respeito das questes culturais, bem como uma classe poltica no mbito local
que acredita ou que se v obrigada, pela presso popular, a trabalhar emcultura.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 94
95
Cult ur a e cidade: Uma aliana par a o desenvolviment o A exper incia da Espanha
Assim, mesmo dispondo de uma fatia menor do oramento geral, at agora o
municpio que vemfuncionando como principal motor da cultura.
Esse grande avano na descentralizao das polticas culturais se deu na
dcada de 1990. At ento, os municpios no podiamarcar cominiciativas muito
notveis nessa rea. Mas, aos poucos, a presso popular passou a exigir que a
municipalidade democrtica se integrasse emprogramas de interesse da populao,
na recuperao dos espaos pblicos, na recuperao de edifcios significativos para
a cultura etc.
Este o contexto a partir do qual vou falar, o de umpas descentralizado, de
umpas que gerou uma cultura de polticas locais, ainda que eu deva adverti-los
quanto aos efeitos das novas polticas do governo conservador, da atual situao
econmica e, ultimamente, at da falta de criatividade do poder local. Na Espanha,
a meu ver, a cidade vemrealmente perdendo sua fora, seu papel de agente inovador
no campo cultural.
Reflexes em defesa da centralidade da cultura e da administrao
local das polticas culturais
Resta a lio que tentarei transmitir por meio de uma srie de reflexes e
prospectivas que fizemos comrelao s polticas culturais da cidade.
Primeiro, meu trabalho, tanto emmeu pas, quanto emmbito global, como
neste seminrio, por exemplo, se inscreve na busca e na justificao de uma maior
centralidade da cultura. E aqui tambmestou me referindo a uma parte do setor
privado; no estou falando somente do Estado. Mas, a valorizao da cultura no
setor pblico temimportncia fundamental, sobretudo pelos seus grandes aportes
democracia e convivncia, tambmreferidos por Ana Maria Ochoa Gautier.
Sabemos que verdadeiramente muito difcil atribuir umvalor ao retorno
social das polticas culturais, calcular a rentabilidadesocial da cultura. No entanto,
creio que os aportes sociais da cultura so maiores aos que se percebemno mundo
poltico. Sero necessrios, contudo, estudos que provem isso. Assim, ultrapas-
samos a demonstrao retrica, o mero discurso, e j comeamos a trabalhar e
a estabelecer relaes a partir de indicadores quantitativos.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 95
96
O esforo se justifica diante do papel secundrio que a cultura ocupa na
agenda poltica da maioria dos pases, por culpa dos partidos polticos, mas tambm
da opinio pblica e do prprio setor cultural. Se a cultura s se incorpora,
quando se incorpora, de forma marginal, s agendas polticas da grande maioria
dos pases, alguma responsabilidade por isso deve caber ao prprio setor cultural.
Mas esse ponto mereceria uma anlise aprofundada.
A segunda reflexoimportante a respeito da cultura que no existem regras
estabelecidas para o bom desenvolvimento das polticas culturais. Uma regra
possvel para a definio das polticas culturais seria definir o que de interesse
geral e o que de interesse do mercado e, ainda, o que de interesse misto.
A relao entre o papel do setor pblico, o papel do setor privado e o papel do
terceiro setor, no est muito claro. E no existe a inteno de regularizar
esses papis. Quem tem de fazer o que na cultura? Quem responsvel por
uma poltica cultural? Esse um tema fundamental.
Muitas vezes a lgica do mercado parece bemsedutora. Mas sabemos que se
deixssemos a cultura nas mos do mercado, quase 60% ou 70% das formas
expressivas hoje existentes desapareceriam. A preservao das diversas identidades
culturais e das formas expressivas de interesse geral depende da interveno
do Estado.
A terceira reflexo que, apesar dos avanos no mundo da cultura emtermos
de eventos e reflexes, existe uma presso enorme sobre os poucos recursos a ela
destinados. Nunca se promoveram tantos fruns relacionados ao assunto.
Nem instituies como o Banco Mundial, o Banco Interamericano ou a UNESCO
fizeramtantas reunies a esse respeito e, no entanto, o setor vem perdendo
recursos nas diferentes esferas de governo.
quase como apertar a porca de um setor que j tem poucos recursos. Isso
est acontecendo nos pases commenos renda e tambmnos pases commais renda
e por diversas razes. No vou prolongar-me em crticas a pseudopolticas que
tentamjustificar-se isentando o Estado do dever de intervir emmatria de cultura.
Os neoliberais costumam defender que o Estado no deve intervir em
cultura, ainda que as polticas neoliberais o tenham feito, tanto para reduzir a
parcela destinada cultura nos oramentos, como para justificar a omisso do
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 96
97
Cult ur a e cidade: Uma aliana par a o desenvolviment o A exper incia da Espanha
Estado nesse campo. Ridicularizando a administrao pblica e atribuindo-lhe
ineficincia, pregama no-interveno do Estado.
A quarta reflexo tambm constitui uma constatao: a resistncia
descentralizao dos aparelhos de administrao na cultura mais forte que
em outros setores da vida pblica. Apesar dos grandes discursos dos organismos
internacionais, apesar das declaraes dos governadores, apesar das promessas,
os processos de descentralizao real das estruturas ligadas ao desenvolvimento das
polticas culturais, quando existem, so inexpressivos. E no se podemdesenvolver
certas dinmicas de cultura e desenvolvimento, sem a necessria aproximao ou,
como dizem no mundo empresarial, sem autonomia para tomar decises o mais
prximo de onde existe o problema.
A quinta reflexodiz respeito criao de uma base de dados para a cultura,
comvistas a uma maior conexo das polticas culturais e do processo de desen-
volvimento local.
s vezes contamos com pouca pesquisa. Para evidenciar a importncia
da cultura no desenvolvimento local, teramos que trabalhar no somente
os efeitos diretos, mas os indiretos e os induzidos. Tambm teramos de
estudar um pouco mais aqueles valores intangveis inerentes a esse tema.
Alm da criao de empregos, por exemplo, que constitui um benefcio
bastante tangvel, as polticas culturais podem contribuir com muitos outros
aspectos.
Muitas vezes uma ao cultural no cria emprego, mas cria lazer criativo
ou no cria desenvolvimento econmico, mas gera segurana. So os efeitos
que denominamos mais-valiase que devemser aferidos. No entanto, muitas vezes
os aspectos qualitativos das pesquisas de avaliao so esquecidos.
J comeam estudos no sentido de preencher essa lacuna. Para buscar o
equilbrio na aferio dos aspectos quantitativos e qualitativos que uma
poltica cultural envolve, criamos, na Fundao Interarts, uma base de dados
que se chama Fatos. Nela, no registramos estatsticas culturais, mas prticas
culturais desenvolvidas em 75 regies e cidades da Europa, a partir no de
aspectos quantitativos, mas de qualitativos: o que eles tm, o que usam, o que
no usam, o que priorizam.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 97
98
A anlise dessa base de dados, a Fatos, que estamos preparando para a
primeira publicao, contribui com uma viso diferente. Permite no apenas
verificar emque medida a cultura contribui como PIB, mas tambmonde ocorrem
os maiores benefcios decorrentes de aes culturais, emgeral bemmais significa-
tivos que os aportes e as contribuies dos oramentos estatais propriamente ditos.
A sexta reflexorefere-se ao modo como a cultura est encontrando na
cidade, nas polticas locais e regionais, novas estratgias sociais para o fomento da
diversidade cultural. Mas no de uma diversidade cultural desenhada a partir
do eurocentrismo ou das publicaes de maior circulao apenas.
As polticas culturais locais fomentama diversidade e a pluralidade, isto ,
tanto possibilitama convivncia das mais diversas formas de expresso, a utilizao
de muitas linguagens expressivas, como tambm buscam a participao das
minorias, de todos os setores da sociedade civil.
Graas proximidade da rea de ao, as polticas culturais desenvolvidas
nas cidades so capazes de fazer emergir essa diversidade ali escondida, mar-
ginalizada, que muitas vezes, no pode ser observada a partir de polticas mais
distantes, centralizadas.
Essas polticas vm, ultimamente, voltando-se para os processos de excluso
e tm se ocupado da luta contra a pobreza e a violncia e de problemas que
afrontam a sociedade.
A cultura no a soluo para a violncia. A cultura no a soluo para a
pobreza. Mas sua contribuio para esses problemas importante e temos que criar
os instrumentos para medir a real repercusso dos efeitos das aes culturais.
preciso poder evidenciar a contribuio da cultura na soluo de problemas soci-
ais.
Algo cada vez mais importante no mundo globalizado que as polticas
culturais locais fomentam a recuperao das identidades culturais locais e terri-
toriais. preciso desenvolver em cada populao a auto-estima, a valorizao
daquilo de que dispem em termos de cultura.
Quando alguns de nossos prprios concidados no reconhecem o prazer
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 98
99
Cult ur a e cidade: Uma aliana par a o desenvolviment o A exper incia da Espanha
de viver emuma cidade de vida cultural intensa, comconcertos e tudo mais, vemos
que o trabalho que desenvolvemos comoutros grupos emrelao aos direitos e
deveres culturais dos cidados pode ser uma ferramenta importante para aumentar
o convvio entre os diferentes emnossa cidade.
Por outro lado, tambm percebo que as cidades que tm procurado a
convivncia equilibrada entre as diferentes culturas que nela se concentram por
fora do crescimento urbano e dos processos de migrao.
Eu vou colocar um exemplo de meu pas: outro dia, um anncio em um
jornal da Catalunha, que temgrandes plantaes, avisava que era tempo de colheita.
Por causa desse anncio, cerca de 400 pessoas deslocaram-se para a regio para
trabalhar no campo. Mas, dez dias antes da colheita, houve umtemporal de granizo
que destruiu toda a produo, criando uma situao bastante difcil para aquelas
pessoas que tinham chegado ao pequeno povoado de 250 pessoas. Eram 400
pessoas semdinheiro, semtrabalho, semteto, contribuindo para piorar a situao
dos habitantes tambm vitimados pela intemprie.
O prefeito, semcondies de solucionar o caso, foi televiso local reclamar
dizendo que no estava obtendo a imprescindvel ajuda de outras esferas de
governo para o problema. Quer dizer, no espao urbano, cada vez mais super-
povoado, e, portanto, no plano local, que o confronto e a convivncia entre
diferentes culturas se do, possibilitando o encontro do equilbrio.
Stima reflexo: as polticas culturais locais se encontramnuma encruzilhada
que no fazia parte dos nossos horizontes nos anos 1980, e s passou a fazer a
partir dos anos 1990. As polticas culturais da cidade se orientamna gesto da
dualidade entre a cultura direta e a cultura tecnolgica.
A cidade o territrio onde se d a cultura ao vivo, que jamais ser
substituda altura pela cultura virtual. Ir ao Museu do Louvre virtualmente ou
ver milhares de fotografias da Mona Lisa, ainda que emlivros da melhor qualidade,
no substitui a emoo de pisar emParis, atravessar as portas do Louvre e estar
diante da Gioconda.
A cidade o espao pblico onde se d a cultura ao vivo, o cenrio da
cultura ao vivo. E, neste aspecto, as polticas culturais locais devem ter a comu-
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 99
100
nicao emmbito local como uma preocupao prioritria. Sou muito categrico
quanto a isso: no se pode fazer poltica cultural local, semuma estratgia de
comunicao que introduza a possibilidade de trabalhar com a imprensa local,
com televises e rdios locais, para contrabalanar umpouco os efeitos da mdia
exercida pelos grandes monoplios.
Oitava reflexo: apesar do desenvolvimento, apesar de todo o processo de
inter-relao do valor agregado e de outros aspectos econmicos a que no quero
me referir, no gostaria de esquecer que toda a cidade temque definir a funo, o
papel do criador, o papel do artista.
No podemos falar de cultura sem considerar os processos expressivos
criativos e as pessoas que se manifestam, construindo e apresentando sua obra ao
pblico. Ocorre que, s vezes, emcertos discursos sobre cultura e desenvolvimento,
cultura e economia, perguntamos: Onde est a arte? J sabemos que a arte no
somente a cultura e que a cultura tem impactos econmicos, mas a questo
tambm deve ser: Onde est o artista?. E mais: Precisamos indagar por que a
integrao social da arte em nossas sociedades produziu um desequilbrio to
grande da oferta sobre a demanda? Por que as polticas locais contriburam
muitas vezes para o excesso da oferta sobre a demanda? E, sobretudo, por
que muitos artistas esto encontrando dificuldades de relacionamento como pbli-
co? No vou me estender sobre o assunto, mas precisamos ter isso emmente: o
espao local deve ser o espao dos criadores e toda poltica cultural deve con-
siderar o criador como seu agente prioritrio.
Depois de refletir sobre a funo e a necessidade da existncia de criadores
para criar desenvolvimento local, vamos voltar ao aspecto do conhecimento e
da avaliao do verdadeiro impacto da cultura. Qual o impacto da cultura? J
abordei o assunto antes. Realmente no se trata de aferir somente o impacto
econmico de uma ao cultural. Isso tem se tornado quase que uma obsesso.
Para mimd no mesmo que umresultado seja de 3%, 4% ou 5% do PIB do meu
pas. Se for de 3% j muito importante.
No descarto a importncia dessa aferio econmica, mas preciso avaliar
tambm outros impactos. Vou citar apenas alguns deles. Primeiro, a cultura
contribui comenormes mais-valias para outras atividades. E precisamos umdia
poder identificar e avaliar esse benefcio. Vou dar um exemplo muito evidente:
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 100
101
Cult ur a e cidade: Uma aliana par a o desenvolviment o A exper incia da Espanha
eu venho de um pas turstico. Na minha regio, 17% do PIB resultante do
que se costuma chamar turismo cultural. Eu no gosto dessa denominao, mas a
questo verificar de que modo a cultura vem contribuindo para a indstria do
turismo. Semos elementos culturais da regio, o impacto da atividade turstica
seria outro. H quem diga que, em Barcelona, onde a indstria turstica tem
muita importncia, a cultura diretamente responsvel por 30% dos negcios.
Se no tivssemos Gaud, se no tivssemos a Fundao Mir, o Museu
Picasso, o que seria?O turismo constitui um setor muito difcil porque espe-
culativo, mas onde se percebe claramente, mesmo a curto prazo, a contribuio
da cultura. Uma vez, ao falar comindustriais do turismo, eu reduzi a questo a essa
pergunta: O que aconteceria como negcio de vocs, se Barcelona no contasse
com toda a modernidade que a burguesia culta lhe auferiu, com os museus, o
futebol etc.?Umdeles, ento, respondeu que emvez de ficar quatro ou cinco dias
na cidade, hospedados emhotis, os turistas ficariamapenas umdia. Ento trs ou
quatro pernoites emumhotel podemservir como uma unidade-base do negcio
turstico para o qual a cultura contribui diretamente.
E o turismo, como vemcontribuindo coma cultura? Numa regio da
Espanha freqentada pelos reis, o governo de esquerda, muito atrevido, imple-
mentou esse ano pela primeira vez a ecotaxa: umeuro/ dia por turista e umeuro
vale aproximadamente um dlar. A implantao dessa taxa exigiu uma luta
feroz, pois a indstria do turismo integrada majoritariamente pela direita.
A idia agora reunir os recursos provenientes dessa taxa em um fundo a
ser investido na reduo do impacto que temo turismo sobre o patrimnio cultural
da regio. Nada mais justo, por exemplo, que emuma cidade de projeo interna-
cional, graas a seus bens culturais, o turismo e quemmais se beneficie deles devam
fazer investimentos na preservao desse patrimnio.
Uma cidade muitas vezes se identifica pelo que faz culturalmente. um
pouco do que foi dito pelo professor Jaume Pags com relao ao projeto do
Frum Universal das Culturas a realizar-se em Barcelona, em 2004. O projeto
constitui uma operao de projeo internacional, emque a cultura ser utilizada
como veculo de desenvolvimento para a cidade. Eis outra mais-valia da cultura.
A cultura capaz de fornecer a uma cidade o que se pode chamar de
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 101
102
city brand, quer dizer, um emblema de visibilidade internacional, um emblema
que situa uma cidade no mundo. Isso aconteceu, por exemplo, na Espanha
com Bilbao.
Bilbao no era uma cidade que se caracterizasse pela arte moderna ou
contempornea. Mas apostou em um projeto de grande arrojo arquitetnico
e interesse turstico, que a colocou no mundo da cultura: criar uma filial
europia do Museu Guggenheim. E o mais importante da operao foi que seu
retorno econmico amortizou todo o investimento feito. Esse tipo de benefcio
produzido por aes culturais muito importante, mas existemoutros de cunho
mais social.
A cultura, por exemplo, oferece emprego criativo aos desempregados ilustra-
dos, como costumo dizer. Encontramos na Espanha muitos jovens com excelente
formao que no conseguememprego emsua rea, porque o mercado de trabalho
se reduziu. Eles se deslocam, ento, para o turismo dito cultural.
O setor cultural tem funcionado na Europa como uma grande jazida
de empregos criativos, capaz de assimilar novos empreendedores, que possam
trabalhar com o que gostam. Tanto que o nmero de profissionais autnomos no
setor da cultura est crescendo duas vezes mais que em outros setores. Muitos
jovens montam a sua pequena empresa de produo etc., para dedicar-se ao
emprego criativo. Isso tambm mais-valia da cultura.
Outro benefcio da cultura a que gostaria de me referir diz respeito oferta
de lazer criativo e construtivo. Diante da indstria do lazer cada vez mais agres-
siva e violenta, a cultura pode significar um aumento da segurana. Os ingleses
fizeramestudos e verificaramque onde se colocamequipamentos culturais existe
vida noturna e a violncia e a insegurana sofrem reduo. Esse tipo de efeito
das polticas culturais muito comum e precisa ser avaliado, como eu dizia no
comeo da minha interveno.
Mas o setor cultural no reage com rapidez, atua at com certa pas-
sividade em relao s mudanas que vo acontecendo. E essa a crtica: obser-
vamos uma grande vitalidade das polticas dos anos de 1980 e 1990 e agora,
como se as idias tivessem desaparecido, no sabemos como reagir s polticas
j consolidadas na burocracia administrativa. No existe criatividade, no existe
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 102
103
Cult ur a e cidade: Uma aliana par a o desenvolviment o A exper incia da Espanha
inovao.
O interessante a passividade do setor cultural, ou seja, sabemos que os
tempos para a cincia e para a cultura so diferentes. H quem diga que um
cientista pode mudar em 24 horas e que um agente cultural precisa 25 anos
para mudar. Se demonstro a um cientista que a composio gua no H2O,
outra coisa, ele assimila rapidamente o novo conceito. No campo da cultura,
precisamos de muito mais tempo para assimilar mudanas.
Assim, observamos uma certa passividade no setor, a falta de criatividade
para superar as dificuldades econmicas. Uma mudana de mentalidade se faz
necessria para a abordagemda questo cultural, se vocs me permitem: precisamos
de uma nova cultura da gesto cultural, uma nova cultura organizativa, uma nova
forma da cultura.
A cultura temque fazer parte dos investimentos de risco. Hoje emdia
queremadministrar a cultura semcorrer riscos ou correndo pouco risco. Ora, o
mercado corre risco econmico. Mas tambm preciso considerar outros riscos: o
de oferecer oportunidades aos jovens, de dar espao para as novas linguagens e
as novas formas expressivas. A possibilidade do fracasso, a possibilidade do pouco
pblico existe; pormesse risco precisa ser assumido.
E para terminar, gostaria de mencionar duas coisas. Apesar de todas as desvan-
tagensque a elas possamser atribudas, as polticas locais devemvoltar a ocupar um
lugar central no desenvolvimento cultural. Meu colega Eduard Delgado fala muito da
centralidadecultural, que j no pode ser definida por aspectos como a posio geo-
grfica,a densidade populacional, a vontade poltica ou os centros de poder. Pode-
mosatribuir maior centralidade cultura a partir de cinco elementos fundamen-
tais.
O primeiro elemento entender a cidade como espao de criatividade
transfervel, de liberdade criativa. Um espao de troca entre o cidado e o de
fora, o habitante e o imigrante, o que tem papis e o que no tem.
O segundo elemento: atuar sobre os ns da informao. Converter as cidades
em grandes ns de informao, em produtoras e receptoras de informao e de
notcias do mundo e para o mundo.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 103
104
O terceiro o trabalho em rede, entender a cidade em rede, para encontrar
e aproveitar as experincias alheias.
O quarto elemento j mais difcil de explicar: a utilizao da cidade como
umlaboratrio para experincias de coeso social, como umlugar de testes para a
coeso social. Vou dar um exemplo: um dos projetos para Barcelona em que esta-
mos trabalhando mais no momento inclui a redao de uma Carta de Direitos e
Deveres Culturais do Cidado, em conjunto com todos os agentes sociais.
Esse projeto anterior Declarao de Direitos Culturais, que como vocs
sabem j circula h anos, mas nunca foi aprovada. Algum dia certamente ser.
Em todo caso, o que se pretende experimentar com os cidados uma Carta de
Direitos e Deveres. Em outros pases isso foi feito com crianas em convvio. A
idia transformar a cidade emumlugar onde se possamtestar frmulas de con-
vvio, umgrande laboratrio para experimentar contribuies da cultura para mel-
horar a qualidade de vida dos habitantes.
Nesse caso, tambm precisamos buscar indicadores de qualidade de vida.
Estamos, ento, utilizando um conceito til para nosso trabalho que so os
indicadores do clima cultural de uma cidade. Como definir esse clima? A que
elementos devemos recorrer?Que informaes procurar para verificar se o clima
favorvel, bom, ruim, criativo ou no criativo?Esse questionamento bastante
para indicar o quanto a cultura vemsendo preterida. No existecentralidadecultural.
E, para terminar, gostaria de ler uma citao do meu companheiro Eduard
Delgado que eu acho muito interessante. Depois de dez anos trabalhando com
polticas culturais locais, promovemos umencontro em1994, na Espanha, e ele
escreveu isso, que continua muito atual:
A cidade cultural um dos espaos mais vivos que hoje confirmam
nossa paisagemcoletiva. o espao da lngua, da sensibilidade, das atitudes
vivas do lazer e da comunicao. As mais-valias que se possam criar no
tm comparao com as que incidemno preo de qualquer outro produto.
Emcontraste como que ocorre em outros setores da vida social, as foras
que incidem nas estruturas culturais so muito mais variadas e democrti-
cas das que influem no urbanismo, na sade, na educao, etc. No estra-
nho que os projetos polticos que aspirama devolver ao cidado sua voz civil,
emharmonia comos princpios da democracia representativa e emluta con-
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 104
105
As especificidades de nosso patrimnio cultural edificado
Com o Seminrio Internacional sobre Polticas Culturais para o
Desenvolvimento, a Unesco e o Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA)
propem aos militantes do campo da cultura um desafio bastante oportuno,
mas extremamente complexo: discutir uma base de dados que venha a estruturar
um sistema brasileiro de informaes sobre cultura.
A oportunidade da discusso decorre da necessidade crescente de dados para
informar e estimular iniciativas culturais e, mais especificamente, para permitir o
planejamento adequado das estratgias de desenvolvimento e das polticas pblicas
no campo da cultura.
J a complexidade do tema determinada por numerosos fatores, dos quais
destacamos apenas os mais evidentes, como a diversidade das reas em que se
distribuemas atividades culturais; a especificidade das demandas de informaes de
cada uma; a multiplicidade de bens que compem nosso patrimnio cultural;
1
a
7. Preservao sustentada de stios
histricos: A experincia
do Programa Monumenta
PedroTaddei Neto
1
Uma simples consulta ao nosso texto constitucional basta para se aferir a abrangncia de tal patrimnio. Diz seu artigo
216: Constituem patrimnio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referncia identidade, ao, memria dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I as formas de expresso; II os modos de criar, fazer e viver; III as
criaes cientficas, artsticas e tecnolgicas; IV as obras, objetos, documentos, edificaes e demais espaos
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 105
106
necessidade de estabelecer padres nas nomenclaturas, mtodos de pesquisa e cole-
ta de dados etc.
Assim, diante dessas dificuldades e da delicada abordagem que o tema
nos impe, vamos restringir nossas consideraes ao mbito da experincia que
obtivemos nos ltimos seis anos, atuando no Programa Monumenta, uma parceria
entre a UNESCO, o Governo Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), com vistas proteo do patrimnio histrico edificado.
Antes de entrar mais exatamente no assunto dos dados e indicadores a
respeito de cultura, seria interessante situarmo-nos no contexto do Monumenta
e das muitas especificidades que apresenta.
A primeira delas diz respeito s caractersticas do bemcultural que constitui
o objeto do Programa. Diferentemente de outros bens dessa categoria, o
patrimnio histrico edificado agrega a seu valor simblico, inerente a todos os
bens culturais, valor imobilirio, isto , seu valor de mercado, que eminentemente
econmico.
Isso somado a outros atributos dos bens imveis, tais como a infungibilidade
2
e a durabilidade, torna esse patrimnio bastante diferenciado no mercado.
Queremos com isso demonstrar as dificuldades suplementares que essas
caractersticas nos impem. Cada edificao de valor histrico nica e precisa
ser preservada. No entanto, por ser durvel, esse bempode ser mantido fora do
mercado por tempo indeterminado, vinte, trinta anos, ou mais, semprejuzo de sua
essncia. Umautomvel, por exemplo, s poderia ser retirado do mercado espera
de uma alta do preo por alguns meses. Depois disso, ele vai se depreciando, ainda
que no haja inovao tecnolgica nenhuma.
Considerar esses aspectos condio para entendermos a questo em
profundidade. Tambm preciso observar que esse patrimnio edificado se insere
destinados s manifestaes artstico-culturais; V os conjuntos urbanos e stios de valor histrico, paisagstico,
artstico, arqueolgico, paleontolgico, ecolgico e cientfico".
2
So bens infungveis aqueles que no so substituveis por outros da mesma espcie, qualidade ou quantidade. Os bens
imveis, por exemplo, so legalmente considerados infungveis, uma vez que possuem elementos diferenciais.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 106
107
Pr eser vao sust ent ada de st ios hist r icos: A exper incia do Pr ogr ama Monument a
em um pas nico, de dimenses continentais que tomando emprestada a
feliz imagem de Gilberto Freyre conseguiu construir uma grande civilizao
nos trpicos, passados quinhentos anos do incio de sua colonizao.
Para revelar a dimenso do universo que nos concerne, basta citar alguns
nmeros. Hoje, temos quase seis mil municpios no Brasil, sem contar um nmero
significativo de ncleos urbanos, de distritos rurais com caractersticas urbanas.
Podemos afirmar, semgrande risco de erro, que pelo menos 10% desses seis
mil municpios mereceriamreceber proteo do Estado por seu interesse cultural,
pois guardam, sim, vestgios importantes da histria, almde manter edificaes e
monumentos representativos da expresso artstica dos diferentes povos envolvidos
na construo de nosso pas.
Desse acervo presumido de, no mnimo, seiscentos ncleos urbanos de
interesse cultural, cuja conservao deveria estar sendo garantida, o Governo Federal
s conseguiu estender a sua ao, o seu raio de proteo, a pouco mais de cemncleos.
As condies da proteo ao patrimnio cultural no Brasil:
exuberncia do acervo X escassez de recursos
Hoje, temos, salvo engano, apenas 102 reas, stios ou conjuntos de monu-
mentos urbanos tombados pelo Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico
Nacional (IPHAN). O centsimo segundo ncleo urbano, recentemente tombado,
a Vila de Paranapiacaba, no municpio paulista de Santo Andr.
Voltando, agora, anlise da dualidade que caracteriza o patrimnio cultural
edificado como portador de valor simblico-cultural e econmico simultanea-
mente, deparamo-nos comumparadoxo bastante intrigante. Vejamos: nosso maior
e mais significativo patrimnio histrico situa-se emreas que de alguma maneira
ficaramao largo do desenvolvimento econmico. Do contrrio, os monumentos e
edificaes teriamprovavelmente sido destrudos emnome de uma destinao mais
lucrativa dessas reas.
Porm, sabemos que, para conservar e perenizar nossas edificaes histricas,
dependemos de sua boa utilizao social e, emcontrapartida, da sua boa utilizao
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 107
108
econmica. Entretanto, esse patrimnio constitui-se de bens imveis que podem
a qualquer momento ser retirados do mercado, fechados, trancados, espera
de explorao econmica mais rentvel ou de uma mudana da legislao que
permita sua demolio para novas e mais valorizadas edificaes.
Esse processo bastante comum, principalmente nas reas centrais das
grandes cidades: muitas de suas edificaes so gradativamente abandonadas
espera de valorizao ou transmitidas sucessivas vezes por herana at acabarem
vinculadas a instituies de caridade, tais como as Santas Casas e as Ordens
Terceiras, que delas no podem estatutariamente se desfazer. Grande parte acaba
invadida ou mal-utilizada.
Almdisso, ao contrrio do que se imagina, 90% desses bens so relativa-
mente frgeis, alguns muito frgeis mesmo, embora muitos venham resistindo
h sculos.
Construdas com o uso de tecnologias tradicionais, essas edificaes
so cobertas por telhas artesanais, que se encharcam e se rompem facilmente;
o madeirame, almdo ataque de insetos, tambmsofre coma umidade das telhas;
as paredes emgeral emtaipa se deterioramrapidamente por causa das infiltraes
decorrentes dos telhados danificados. Assim, desaparecem muitas edificaes
degrande interesse histrico e cultural, semque possamos sequer aferir o processo
de degradao por que passam.
Foi para impedir essas perdas irreparveis, considerando-se a infungi-
bilidade dos bens em questo, que o legislador brasileiro estabeleceu como
obrigao constitucional da Administrao Federal, no apenas o fomento
cultura e difuso de seus produtos, mas tambm a misso expressa de
preservar os valores culturais, o patrimnio histrico edificado e os vestgios
da histria.
Conforme a previso constitucional,
3
compete ao Poder Pblico, isto ,
ao Governo Federal, bem como aos estaduais e municipais, a responsabilidade
3
O pargrafo 1 do artigo 216 da Constituio Federal, j citado anteriormente, estabelece que o Poder Pblico,
com a colaborao da comunidade, promover e proteger o patrimnio cultural brasileiro, por meio de inventrios,
registros, vigilncia, tombamento e desapropriao, e de outras formas de acautelamento e preservao.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 108
109
Pr eser vao sust ent ada de st ios hist r icos: A exper incia do Pr ogr ama Monument a
pela conservao das edificaes histricas. J a responsabilidade do proprie-
trio do imvel definida pelo Decreto-Lei n. 25/ 1937. No entanto, os
maiores encargos, evidentemente, sempre recaem sobre a Unio, mesmo quan-
do o tombamento concorrente com o tombamento do municpio ou do
estado.
Mas o que percebemos bastante inslito: milhares de processos so
movidos contra o IPHAN pelo Ministrio Pblico para exigir-lhe o cumprimento
daquela atribuio constitucional; no entanto, existe a impossibilidade concreta
de uma atuao mais efetiva por parte do IPHAN.
Forma-se, assim, uma espcie de crculo vicioso, um problema crnico.
Dispomos de um oramento para a rea da preservao de monumentos
incompatvel coma dimenso de nosso patrimnio. Mas, temos certeza de que
nenhumoramento daria conta da manuteno permanente dos stios j tombados
e ainda da recuperao daqueles que passassem, ao longo do tempo, a integrar
o patrimnio histrico edificado.
Neste contexto, vale destacar um aspecto relevante da poltica de cultura
do governo Fernando Henrique Cardoso, que se fundou basicamente em dois
grandes pilares.
O primeiro foi valorizar a diversidade da nossa cultura, isto , buscar a
conservao dos bens culturais representativos de todas as etnias, de todas as
pocas e ciclos econmicos brasileiros, nas diferentes regies do pas. preciso
compensar a preferncia que por muito tempo se deu preservao da cultura dita
branca, portuguesa e catlica h aproximadamente quinhentas igrejas catlicas
sob proteo federal ou do patrimnio de certas regies as cidades protegidas,
por exemplo, concentram-se em Minas Gerais e na Bahia.
O segundo pilar foi recorrer ao compartilhamento entre as vrias esferas
de governo e o setor privado na gesto das aes voltadas para a cultura, como
forma de enfrentar o problema crnico da falta de verbas.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 109
110
O Programa Monumenta e sua base de dados
Vejamos como isso repercutiu no mbito do Programa Monumenta, para
que possamos entender como ele foi desenvolvido e a base de dados e indicadores
que criou emsuas aes.
Na sua concepo, o Monumenta se inspirou em uma experincia precur-
sora em Quito, capital do Equador, que teve grandes reas e praticamente todo
o seu Centro Histrico destrudo por umterremoto, em1987. Utilizando um
financiamento do BID, a experincia da reconstruo hoje referncia de
preservao sustentvel. O projeto ali implantado provocou a revitalizao do
Centro Histrico da capital equatoriana, em decorrncia da valorizao de
seus imveis, e garantiu a autonomia financeira das reas recuperadas, graas
explorao comercial e turstica do patrimnio histrico edificado.
No incio do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso,
o Ministrio da Cultura, emparceria coma UNESCO e como BID, assumiu o
desafio de construir um programa de abrangncia nacional que servisse como
modelo na implantao de parcerias envolvendo organismos financiadores e
agncias multilaterais atuantes no campo da preservao do patrimnio histrico.
A implementao do Monumenta constituiu realmente um desafio, graas
ao ineditismo de seus objetivos: sustentabilidade, replicao ou reproduo dos
projetos e diversificao do patrimnio protegido.
Cada projeto implantado no mbito do Monumenta prescindiria de novos
aportes oramentrios para manter as caractersticas originais dos bens protegidos.
Desoneradas, as esferas governamentais poderiam, assim, atuar commaior eficin-
cia na parcela no-sustentvel do patrimnio histrico nacional.
Almdisso, at para que o Programa no se transformasse emmais umrgo
do Poder Executivo, a idia era a de gerar ummodelo e uma metodologia de ao
para permitir que novos projetos do mesmo tipo surgissemautonomamente.
E, finalmente, atendendo a umdos princpios bsicos da poltica cultural do
governo, a priorizao emproteger bens representativos de etnias, regies e pocas
da histria pouco valorizadas foi incorporada como umdos objetivos do Monumenta.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 110
111
Pr eser vao sust ent ada de st ios hist r icos: A exper incia do Pr ogr ama Monument a
O primeiro passo na implantao do Programa consistiu na criao de um
modelo institucional adequado tanto s particularidades de nossa legislao, como
ao estabelecimento de parcerias como setor privado. Para possibilitar o repasse de
recursos pblicos para os projetos, bemcomo a gesto compartilhada dos mesmos,
instituiu-se, ento, a figura do Fundo Municipal de Preservao a ser criado por
cada localidade inscrita no Programa.
Destinados a administrar os recursos de conservao permanente dos
investimentos do Programa, esses fundos so dirigidos por umConselho Curador,
composto paritariamente por representantes das trs esferas de governo e por
representantes da comunidade e da iniciativa privada locais.
O Conselho tem total autonomia na administrao dos recursos, mesmo
sobre a parcela de dinheiro pblico envolvidos no projeto cuja previso oramentria
depende de lei municipal. Seus limites so os do cumprimento da destinao
prevista para os recursos e as eventuais imposies do organismo financiador.
Quanto composio desses recursos, mais ou menos dois teros para a
implantao inicial do projeto so pblicos e umtero provmdas parcerias com
o setor privado. Essa composio pode variar, conforme a captao dos recursos.
Essa, no entanto, a meta mnima de participao do setor privado, estabelecida
pelo Programa.
Dentro dos dois teros de recursos pblicos, 70% so obtidos no Tesouro
Nacional, seja por dotao oramentria, seja por emprstimo do BID. O restante
so recursos locais, providos pela composio entre municpio e estado, e,
eventualmente, at por aportes privados.
O projeto de Recife, por exemplo, representa algo indito: para cada real nele
investido pelo Poder Pblico, temos outros R$ 3,00 captados no setor privado.
Mas, infelizmente, s os projetos referentes s grandes cidades tmesse potencial
de captao.
Para alcanar aqueles objetivos de replicao e de sustentabilidade na
manuteno das edificaes, stios ou conjuntos recuperados, o Monumenta no
pde ater-se exclusivamente s obras de restauro daquelas reas mais degradadas.
Foi preciso tambmprever incentivos atividade econmica e produo cultural
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 111
112
autctone, almde buscar o fortalecimento, seja dos rgos federais envolvidos,
seja dos rgos locais e at de gestores privados de atividades culturais, gestores de
grupos de teatro, de equipamentos, de museus etc.
Assim, o Programa teve de atuar at mesmo na formao de mo-de-obra
preparada para o restauro, para a recuperao de obras, mantendo sua integridade,
pois no se encontravamno pas especialistas necessrios.
O Programa viu-se, ento, na contingncia de criar centros de formao de
restauradores. Sero criados trs: emOlinda, emOuro Preto e no Rio de Janeiro.
Os instrutores desses centros foram selecionados em todo o Brasil, depois
enviados ao Centro Europeu de Veneza para uma atualizao.
Quanto s reas passveis deincluso no Programa, so apenas aquelas sob proteo
federal, as 102 reas j tombadas em84 dos municpios brasileiros. Mas essaconsti-
tui uma limitao de ordemlegal: como justificar a aplicao de recursosfederais a
fundo perdido na ordemde 70%, seno emreas de comprovadointeresse pblico?
Por essa razo, sequer os municpios que abrigam reas tombadas por
rgos estaduais congneres do IPHAN puderam ser includos no Monumenta,
o que seria perfeitamente salutar para o patrimnio cultural. Mas o impedimento
o da legislao vigente.
O Programa rene, atualmente, 26 cidades, emdezoito estados da Federao.
Sete entre essas cidades pertencem lista do Patrimnio da Humanidade da
Unesco. Mas teve-se o cuidado de no restringir os projetos a cidades histricas
que j so cones, como Olinda, Ouro Preto ou Salvador. Cidades como Ic, no
interior do Cear, ou Oeiras, antiga capital do Piau, representativas do Ciclo do
Couro, ou ainda So Francisco do Sul, em Santa Catarina, tambm foram
alcanadas, justamente para preencher as lacunas existentes emnosso patrimnio
histrico protegido, atribuindo-lhe maior representatividade.
Depois dessa extensa, mas necessria contextualizao, passemos aos
indicadores utilizados para a implantao do Monumenta.
O Programa necessitaria desenvolver indicadores consistentes que per-
mitissem o monitoramento das aes, no apenas para avaliar a eficincia na
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 112
113
Pr eser vao sust ent ada de st ios hist r icos: A exper incia do Pr ogr ama Monument a
conduo das aes, mas tambm para atender exigncia dos rgos
financiadores, Governo Federal e BID, para acompanhar por vinte anos cada um
dos projetos, aps a concluso dos trabalhos de recuperao da rea eleita.
Tivemos de buscar esses indicadores, que so muitos, como se ver a seguir,
a partir de uma metodologia imposta pelos prprios objetivos do Programa.
Os primeiros indicadores tmcunho essencialmente cultural. Antes de qual-
quer coisa, era preciso descobrir o grau de conhecimento da populao brasileira
acerca de seu patrimnio histrico e sua atitude perante esse patrimnio. Foi, ento,
elaborada uma pesquisa buscando basicamente essas informaes e as decorrentes
do seu cruzamento.
Emprimeiro lugar, utilizou-se uma lista como as das pesquisas eleitorais,
enumerando vinte locais de reconhecida importncia patrimonial, como Olinda,
Ouro Preto etc. O grau de conhecimento aferido foi de 12%. Fixamos, ento,
nossa meta para a prxima pesquisa: em cinco anos esperamos atingir os 25%,
duplicando esse grau de conhecimento.
Determinados detalhes merecem meno. A distribuio dos nmeros da
pesquisa varia, claro, em funo de mltiplos fatores. O mais bvio talvez seja
a proximidade da cidade em relao pessoa pesquisada; o menos bvio, a
distribuio por classes de renda.
Certos resultados surpreenderam. Por exemplo, o de que o grau de
conhecimento das cidades histricas seja to ruimentre pessoas da classe A, B ou E.
E mais: que a atitude perante o patrimnio histrico revelou-se mais positiva
entre as pessoas pesquisadas pertencentes s classes D e E. Isso porque elas
entendem a cultura como instrumento de ascenso social, isto , como uma
ferramenta de ascenso social.
A pesquisa tambm chegou a associar conhecimento escolar e cidades
histricas: Porto Seguro e Ouro Preto so consideravelmente mais conhecidas
em todo o pas, graas ao estudo, desde o ensino fundamental, de importantes
episdios de nossa histria, no caso, o descobrimento e a Inconfidncia Mineira.
O segundo indicador desenvolvido pelo programa muito mais tangvel:
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 113
114
quantos monumentos tmconservao auto-sustentvel, ou seja, que monumentos
dentro das reas sob a interveno do Monumenta conseguem manter suas
caractersticas originais, semnovos aportes de recursos federais. Isso ser avaliado
pela fiscalizao do IPHAN, que conta com uma metodologia prpria agora
organizada e em manuais, para cuja utilizao sero capacitados tanto os fiscais
do IPHAN, quanto os do estado e do municpio. Isso permitir a padronizao
dos procedimentos.
Temos tambm os indicadores por cidade, decorrentes dos projetos.
Vale lembrar que cada cidade includa no Monumenta tem seu projeto. Esses
indicadores so todos eles indiretos. Alguns dizemrespeito, por exemplo, ao afluxo
de turistas s reas de projeto ou de visitantes aos museus dessas reas, reduo
da rea ociosa dos conjuntos patrimoniais ou ao acrscimo nas receitas do
comrcio ali praticado.
Outros, essencialmente econmicos e financeiros, decorrem do prprio
estudo de viabilidade do projeto. Tanto se referem valorizao do estoque de
imveis da rea do projeto ou valorizao dos monumentos esta, avaliada
por uma espcie de aluguel virtual desses bens por dez anos , como tambm
receita de concesses de espao pblico, cobrana de ingressos etc.
Um indicador indito no campo da cultura importado dos estudos de
viabilidade das aes de proteo ambiental mede a disposio do visitante ou do
usurio em pagar pela existncia ou pelo uso do bem. Essa avaliao foi feita por
meio de pesquisa j realizada duas vezes, emmbito nacional, regional e local.
Mas entre os indicadores decorrentes dos projetos, o mais bsico o do
custo-efetividade. Ele permite decidir o que mais conveniente para a adminis-
trao pblica: investir na recuperao de uma rea contando com sua futura
sustentabilidade ou liberar verbas anuais para conservar o patrimnio histrico
edificado ali existente.
Contamos ainda comoutros dois indicadores, de cunho menos econmico
e mais financeiro. O primeiro afere a capacidade de gerao de poupana corrente
lquida pelos municpios ou estados executores dos projetos. Semessa informao,
o projeto corre o risco de sucumbir falta de verba municipal tanto para honrar
os aportes conveniados para a recuperao da rea protegida como para garantir
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 114
115
Pr eser vao sust ent ada de st ios hist r icos: A exper incia do Pr ogr ama Monument a
a qualidade na prestao dos servios urbanos de que a rea necessitar perma-
nentemente sob pena de se degradar, tais como limpeza urbana, calamento,
iluminao pblica etc.
E, por ltimo, umindicador muito objetivo: a sustentabilidade de umbem
cultural. Para avaliar essa capacidade, verificamos a quantidade de monumentos
conservados autonomamente, almde utilizar uma simulao matemtica a partir
da anlise do fluxo de receitas e despesas do Fundo Municipal de Preservao.
Esses so por hora os mecanismos de que dispomos para a monitorao
de nossas aes, permitindo o acompanhamento pelos prximos vinte anos de seus
resultados, que se anunciam como um avano efetivo no campo da conservao
do patrimnio cultural.
Indcios slidos disso esto na liberao de recursos pelo BID, constituindo-
nos precursores dessa experincia que hoje j se propaga por vrios pases, e
tambmnos sucessivos seminrios promovidos pelo BID e pelo Banco Mundial,
visando disseminar nossa metodologia de implantao no Monumenta.
Achamos oportuno destacar algumas das condies conjunturais de que
se valeu o Programa para atingir suas atuais propores. O Monumenta vemse
beneficiando, desde sua implantao, da estabilizao da moeda e da nova
sistemtica oramentria, o Plano Plurianual de Investimento do Avana Brasil.
Contou ainda com as vantagens decorrentes da entrada em vigor da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Sem essas novas e indispensveis condies, seria
impossvel cumprir metas essenciais do Programa: o planejamento de longo prazo
para reas de projeto e o estabelecimento de parcerias durveis com o setor
privado, com vistas proteo de nosso patrimnio histrico edificado.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 115
117
Havana, avis rarano panorama regional, essa cidade das cidades com
quase quinhentos anos de histria, cidade mestia onde o penoso processo de
transculturao ficou gravado no rosto empedrado da sua arquitetura e no carter
amvel dos que a habitam, pode nos dar hoje uma lio urbana e arquitetnica,
tornando-se paradigmtica aos tericos do novo urbanismo.
A cidade sobrevive ao desastre da especulao e ao protagonismo do
automvel, fenmenos que em outras cidades latino-americanas apagaram de um
golpe bairros tradicionais completos, ampliando a cor cinza do anonimato. Nunca
foi abafada por uma periferia marginal, nem teve tempo para tanto. Justamente,
na dcada tenebrosa, quando se desenvolvem as megalpoles regionais, em Cuba
ocorremmudanas radicais a partir do triunfo revolucionrio, emjaneiro de 1959.
Atualmente, Havana conserva, por trs das cortinas de um descuido que
paradoxalmente a salvou de males maiores, o esplendor que um dia a distinguiu.
Seu Centro Histrico foi declarado Patrimnio Cultural da Humanidade
em 1982, quando ocupou o nmero 27 na Lista do Patrimnio Mundial. Porm,
todos sabemos que seus valores estendem-se muito alm das fronteiras dessa
declarao e que no defendemos apenas os valores do colonial, mas, sim,
essa heterogeneidade funcional, espacial e social das zonas centrais da cidade.
A recuperao do seu Centro Histrico , portanto, o incio da rdua tarefa
na qual se depara nossa responsabilidade comas futuras geraes. As condies
globais emque est submetido o processo so imprevisveis e os cenrios que se
8. Centro Histrico de Havana:
Um modelo de gesto pblica
Patricia Rodrguez Alom
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 117
118
mostram na atualidade no esto isentos de ameaas. Para isso nos preparamos
fundamentando nosso labor nos princpios irrefutveis da cultura, da identidade
nacional e da justia social.
OS PLANOS QINQENAIS PARA A RESTAURAO
Com o comeo dos planos qinqenais, o Estado designa a Oficina del
Historiador da Cidade de Havana como responsvel pelo processo de restaurao
do Centro Histrico. As quantias designadas para o oramento permitemcomear
a enfrentar a reabilitao desde uma perspectiva urbana.
Naqueles anos estabeleceu-se uma estratgia de concentrao das aes
nas praas da Catedral, das Armas e seus arredores e Praa Velha, assim como
noseixos de interconexo Oficios, Mercaderes, Tacn e Obispo. Tambm foram
restaurados grandes monumentos que, apesar de no se encontrarem situados
nesses setores priorizados, constituem peas de incalculveis valores, como o
Convento de Santa Clara ou a titnica recuperao das fortificaes dos Tres
Reyes del Morro e de San Carlos de la Cabaa.
Entre os dois qinqnios foramreabilitadas mais de cinqunta edificaes
que emseu conjunto comearama dar uma idia da potencialidade que podia sig-
nificar a recuperao patrimonial, devolvendo uma nova imagem, demonstrando
que era possvel resgatar os prdios que a deteriorao ou a insensibilidade haviam
transformado at torn-los irreconhecveis.
Em 1990, apenas iniciado o terceiro dos planos qinqenais, comea a
sentir-se no pas o impacto da queda do bloco socialista, com o conseqente
agravamento da situao econmica interna, que provoca uma encruzilhada: por
umlado, o Estado cubano, que at o momento havia subvencionado centralmente
a recuperao do Centro Histrico, no se encontra emcondies de continuar
financiando essa atividade ante o agravamento de outros setores ainda mais
sensveis; por outro, o prprio Estado consciente da responsabilidade que
significa salvar um patrimnio que no somente pertence aos cubanos, mas
humanidade.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 118
119
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
O DESAFIO
1
O que se convm reconhecer como o Centro Histrico de Havana tem uma
rea de 2,1 km
2
, com um total de 3.744 edificaes, das quais a stima parte
de grande valor, quer dizer que ostenta grau de proteo I ou II, sendo pratica-
mente o restante, imvel de valor ambiental esse tipo de arquitetura de acom-
panhamento que torna possvel uma leitura homognea dentro da diversidade de
estilos e pocas.
O Centro Histrico de Havana tem um total de 66.742 habitantes,
segundo o Censo de Poblacin y Vivienda, realizado adhoc, em outubro de 1995,
e conta com 22.623 domiclios, dos quais um tero de apartamentos, sendo
que mais da metade situa-se emquarteires ou cidadelas. Uma quantidade similar
tem mezaninos. A densidade mdia est estimada em 600 habitantes por hectare.
No Centro Histrico, o habitat est caracterizado emgrande parte pelas ms
condies da moradia e o dficit quantitativo dos servios. A superlotao dos
imveis dedicados moradia, com conseqente deteriorao, provoca amontoa-
mento e favelizao. Por outro lado, temumgrande nmero de pessoas morando
empenses e que abandonaramsuas casas por razes de periculosidade.
O estado tcnico da construo de moradias apresenta quadros alarmantes:
44,3% tm falhas estruturais no teto; 42%, rachaduras nas paredes; 24,1%,
afundamento no piso; 51,4%, infiltraes no teto ou entre os andares; 37,8%,
infiltraes nas paredes; e 19,8%, outras deficincias. Em quase um tero das
moradias utiliza-se gua no-encanada e, na mesma proporo, armazena-se gua
emtanques semconexo coma rede.
Quanto existncia dos servios sanitrios importante acrescentar
que 21,1% das residncias no dispem desse servio bsico em condies ade-
quadas, e quando existe, ele utilizado emcomumcomoutras famlias. E mais:
39,2% tm esse servio sem instalao de gua e aproximadamente pouco mais
de uma emcada dez casas no tmbanheiro ou ducha. So de uso comum, ou esto
fora do recinto.
1
Extrado de Desafo de una utopa. Editora Bologna. Plan Maestro COAVN. Oficina del Historiador
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 119
120
A essa situao de moradia semdvida, o problema mais grave da Havana
Velha somamos o estado crtico das redes de infra-estrutura (antigas, sobrecarre-
gadas, semuma manuteno adequada) e o fato de ser umterritrio commais de
umsculo de marginalizao, onde os usos originais foramsubstitudos emgrandes
propores por outros agressivos e incompatveis, com o conseqente dano ao
patrimnio cultural, em que o panorama se torna ainda mais adverso.
Reverter o quadro para uma perspectiva de desenvolvimento integral emuma
situao to complexa, em meio a uma grave crise econmica, requer uma nova
mentalidade no enfoque da recuperao do Centro Histrico.
UMA SOLUO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
O foro legal especial
A crise econmica dos noventa impe umnovo desafio para a salvaguarda
da Havana Velha. Aos reconhecidos valores socioculturais do Centro
Histrico h que somar uma nova viso econmica. O patrimnio pode ser
produtivo, e uma eficiente explorao do mesmo, sempre sob uma tica cul-
tural e de desenvolvimento social, permite dar continuidade obra reabili-
tadora emsua dimenso mais integral.
2
Sob esses critrios, o Conselho de Estado promulga o Decreto-Lei n 143,
de outubro de 1993, que amplia as faculdades da Oficina del Historiador,
declarando ser o Centro Histrico zonapriorizadaparaaconservao, dotando-a de uma
nova autoridade que lhe permita desenvolver uma gesto autofinanciada de recu-
perao.
A partir da promulgao do Decreto-Lei, a Oficina del Historiador deixa
de ser uma instituio dependente do Governo da Provncia da Cidade e passa a
subordinar-se diretamente ao Conselho de Estado, o qual favorece uma agilizao
na tomada de decises; assentam-se as bases para fomentar fontes prprias de
financiamento, dotando-a de personalidade jurdica que lhe permite estabelecer
2
LEAL SPENGLER, Eusebio. Entrevista no jornal Tribuna de La Habana.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 120
121
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
relaes de diversos tipos, nacionais e estrangeiras, assimcomo cobrar impostos s
empresas produtivas instaladas no territrio para destin-los reabilitao, abrir e
operar contas bancrias, tanto em moeda nacional como estrangeiras, assim
como a possibilidade de importar e exportar provises materiais e equipamentos.
Tambm se lhe reconhece a capacidade para receber e dar destino s doaes e
projetos de cooperao que se estabeleam, objetivando a reabilitao da regio.
O Decreto-Lei n 143 amplia a autoridade da Oficina del Historiador (...)
e fortalece sua condio de instituio cultural compersonalidade jurdica
prpria, hierarquia adequada para obter os recursos financeiros necessrios
para a restaurao e conservao do territrio, para exercer faculdades admi-
nistrativas relativas planificao, ao controle urbano e gesto tributria
dentro do mesmo. Ainda, faculdades em relao com as quais a normativa
geral referida a esses temas dentro do ordenamento jurdico nacional, e em
particular o foro especial do territrio, constituem normas supletrias ou
simplesmente foram anuladas tacitamente pelo legislador.
3
Mais adiante, emnovembro de 1995, proclama-se o Acordo 2.951, do
Conselho de Ministros, no qual se declara o Centro Histrico zona degrandesig-
nificaoparaoturismoe se ampliamas faculdades da Oficina del Historiador, entre
outros aspectos, permitindo-lhe administrar questes relativas moradia e
criando uma imobiliria prpria, Fnix, para o aluguel de imveis, a partir de um
patrimnio que passa a pertencer Oficina del Historiador emumusufruto por
25 anos, prorrogveis por ummesmo tempo.
Essa autonomia econmica permite dar continuidade obra de reabilitao,
mesmo emmeio pior crise econmica pela qual tematravessado o pas. Obra que
no s compreende a recuperao dos edifcios, mas tambmimplica e dirigida
principalmente aos habitantes da Havana Velha assimcomo a toda a cidade.
projeo sociocultural que a Oficina vinha desenvolvendo se soma uma
viso econmica que torna possvel acelerar umprocesso que demanda agilidade
pela ndole e gravidade dos problemas acumulados. As novas circunstncias
3
ALVAREZ, Ramn. Estructura legal del territorio. In: Plan de Desarollo Integral de La Habana Vieja (Avance).
Oficina del Historiador. Direo do Plan Maestro. Novembro 1998.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 121
122
locais, nacionais e mundiais requeremuma maior eficincia no aproveitamento dos
recursos, uma melhor organizao coma inteno de multiplicar e provocar siner-
gias que garantama sustentabilidade dos processos.
Foi necessrio, ento, criar o Plan Maestro como uma entidade dinmicae
flexvel, interdisciplinar, que no se limitasse a uma etapa de estudo, mas
que fosse capaz de garantir a continuidade de umprocesso que baseie seu
desenvolvimento na capacidade de satisfazer tanto a operatividade de um
investimento pujante: o Plan proceso, quanto de gerar instrumentos capazes
de dirigi-lo de forma mais eficiente: o Plan documento, cuja filosofia se
baseia na participao de todos os cidados e as entidades cominfluncia no
territrio, para dessa maneira conseguir que se garanta um espao onde
confluam todos os atores; um Plano que, validado por todos os implicados,
constitua uma carta de navegacin, uminstrumentode gesto a servio das
autoridades responsveis pela sua execuo.
4
A partir de 1994, e comos novos instrumentos econmicos e legais, se pro-
duz o inesperado. Nos cinco anos transcorridos, triplicou-se a quantidade de
prdios reabilitados nos trs quinqunios anteriores. Incrementaram-se os
programas sociais e culturais emtodas as escalas e j se pode falar de 38%
do territrio recuperado, ou de umrduo processo de investimento.
5
A filosofia
A prpria evoluo natural dos conceitos, a variao dos cenrios nacionais
e internacionais, o avano nos campos das idias, das economias, a prpria
revoluo tecnolgica que incrementa as possibilidades de informao, o processo
de globalizao crescente e tendencioso tmmodificado nossos enfoques. Eusebio
Leal argumentava recentemente emuma entrevista para a imprensa nacional:
Confesso-lhe que somos formados como intelectuais puros, como especialis-
tas que, desde nossosgabinetes ou laboratrios, nos ocuparamos, prefe-
4
Plan de Desarrollo Integral de La Habana Vieja (Avance). Oficina del Historiador de la Ciudad. Direccin de Plan.
5
LEAL SPENGLE, Eusebio. op.cit.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 122
123
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
rentemente, dos museus, monumentos e stios arqueolgicos (...) A vida,
entretanto, nos levou a considerar e hoje afirmamos rotundamente que
emnossos pases, possuidores deumvasto legado patrimonial, impossvel
atuar nos campos da preservao se isso no contempla uma vocao de
desenvolvimento social e comunitrio.
Os valores da Havana Velha no s esto contidos nos edifcios que a con-
formam; seus habitantes lhe conferemumcarter singular e semeles o lugar
careceria de esprito. A paisagemurbana est indissoluvelmente ligada paisa-
gemhumana; envolver os habitantes no processo de reabilitao, e torn-los
partcipes e protagonistas dele, resulta umfato indiscutvel.
6
Nosso projeto tem, ento, uma clara vocao de flexibilidade. Trata-se de
utilizar mecanismos originais dentro do contexto cubano, que tenham em conta
elementos da economia moderna, porm, conduzidos pelos princpios de um
desenvolvimento social e cultural sustentvel.
... Acreditamos que para realizar umeficaz processo de reabilitao urbana
imprescindvel uma reabilitao social e econmica dos habitantes. A melhora
das condies de habitao deve ir indissoluvelmente ligada a uma reativao
econmica local que possibilite aos vizinhos incrementar suas rendas e
disponibilidade de recursos como base fundamental para sua participao
no resgate do Centro Histrico. Trata-se, ento, de criar uma base econmi-
co-social auto-sustentvel no tempo, vinculada ao carter cultural do terri-
trio, ao resgate das suas tradies e ao processo de recuperao dos seus
valores, coma conseqente gerao de empregos.
7
Por outro lado, considerando a salvaguarda patrimonial como umexerccio
de direito cidado e uma responsabilidade compartilhada, acreditamos que ser um
dever permanentea sensibilizao favorvel para to nobreempenho desdea infncia.
... Nossa experincia de abrir os museus s escolas de educao primria
rompem com preconceitos francamente elitistas. A criao de aulas no local
6
LEAL SPENGLE, Eusebio. op.cit.
7
Plan de Desarrollo Integral de La Habana Vieja (Avance). Oficina del Historiador de la Ciudad. Direccin de Plan.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 123
124
as chamadas aulas/ museus significam uma revoluo cuja conseqncia
imediata tem consagrado o princpio de apropriao dos bens culturais, em
primeirssimo lugar para a infncia.
8
O melhoramento paulatino das condies de vida dos habitantes umclaro
objetivo da Oficina del Historiador, dele do f os programas de apoio aos
sistemas municipais de sade pblica, educao, cultura e moradias. Para dirigir
o desenvolvimento integral do Centro Histrico estabeleceram-se cinco polticas
fundamentais que determinamprincpios irrenunciveis:
salvaguardar a identidade nacional a partir da pesquisa, promoo e
desenvolvimento da cultura;
proteger o patrimnio herdado reabilitando o territrio por meio de um
plano integral e contnuo, comfora legal, que concilie a conservao dos
valores culturais com as necessidades de desenvolvimento socioeconmico;
conservar o carter residencial do Centro Histrico, garantindo a
permanncia da populao residente, segundo os parmetros de habita-
bilidade, densidades e qualidade de vida que resultem mais apropriados;
dotar o territrio de uma infra-estrutura tcnica e de servios que
assegurem seu funcionamento em correspondncia com as necessidades
contemporneas;
alcanar um desenvolvimento integral autofinanciado que torne recupe-
rvel e produtivo o investimento na recuperao do patrimnio, impulsio-
nando uma economia local que garanta um desenvolvimento sustentvel.
Reconhecemos o turismo como uma das principais fontes de obteno de
recursos para o resgate do Centro Histrico, porm, este no deve comprometer-se
somente com esta atividade econmica, pois, um fato que a indstria turstica
volvel e est sujeita a bruscas flutuaes. Por outro lado, reconhecer ao
Centro Histrico unicamente valores tursticos traz consigo grandes riscos
8
LEAL SPENGLE, Eusebio. op.cit.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 124
125
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
que atentam contra sua prpria integridade: desequilbrio do setor tercirio,
perda do carter residencial popular, folclorismo, etc.
Muitos so os centros histricos que tiverama sorte de se veremtransfor-
mados emenormes cenografias preparadas expressamente para uma clientela vida
de consumir umpassado edulcorado; enormes Disney Worlds, onde a histria
foi falsificada ou exagerada para adaptar-se ao gosto do turista mdio, semcontar
que o verdadeiramente legtimo mostrar a vida tal como ela , recuperando
tradies sob uma tica de austeridade e expressando essa ptina natural emedif-
cios e hbitos que distingueme do signos de diferena.
A explorao do turismo em territrios altamente valiosos deve ir acom-
panhada de uma grande sensibilidade e conhecimento daquelas razes que so
as que precisamente os tornam atrativos. Todos os temas requerem, ento, um
tratamento especial, desde os sociais at os que competem ao mbito fsico,
que resgatados na sua justa medida e conciliados com sua poca, sejam capazes
de brindar umproduto genuno e no resultememms caricaturas que matema
galinha dos ovos de ouro.
A gesto atual
A Oficina del Historiador da Cidade de Havana temevoludo no tempo,
adquirindo cada vez mais responsabilidade e mais compromissos com o resgate
patrimonial. Desde uma posio de defesa herica em circunstncias muito
difceis, emque a cultura nacional era ameaada constantemente pela ingerncia
norte-americana, nas primeiras dcadas do sculo XX, at a gesto integral de
um desenvolvimento muito dinmico que garante a sustentabilidade do processo
de reabilitao.
Na atualidade, a Oficina del Historiador temuma estrutura ampla e diversi-
ficada que lhe permite assumir novas tarefas. Seis foram as premissas funda-
mentais na aplicao do novo modelo de gesto:
vontade poltica ao mais alto nvel que propicie a reabilitao do Centro
Histrico;
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 125
126
reconhecimento de uma autoridade nica institucional para conduzir
o processo de reabilitao;
existncia de um foro legal especial que ampare juridicamente a ao
da instituio;
capacidade para planificar o territrio estratgica e integralmente;
descentralizao dos recursos financeiros gerados no Centro Histrico;
disposio de um fundo imobilirio prprio.
A Oficina del Historiador conta com uma estrutura de apoio em que se
distinguem:
O Plan Maestro, organismo gestor das polticas, estratgias e regula-
mentaes do Centro Histrico, considerando umespao de debate para
implementar as pautas de desenvolvimento integral;
Grupos Especiais, que atendem, entre outros, trabalhos de carter
comunitrio ou de seguridade cidad;
Conselho de Assessores, meios de comunicao, principalmente represen-
tados pela emissora de Rdio de Havana;
umGrupo Negociador, que analisa a convenincia de diversas propostas de
investimentos comcapital misto, secretaria e rgo de relaes internacionais.
Temtambmsubordinado umSistema de Direes Especializadas, no qual
se destacam dois rgos fundamentais, pelas atividades que desempenham e
pela diversidade dos trabalhos subordinados a eles: a Direo do Patrimnio
Cultural e a Direo Econmica. Uma representa a cultura, princpio e finalidade
do nosso trabalho, e a outra, a administrao dos recursos financeiros. Esses devem
atuar, harmonicamente, na consecuo de umjusto equilbrio.
Existe, ainda, um Sistema Empresarial, que conta com um grupo de
entidades responsveis pela obteno dos recursos econmicos que asseguram o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 126
127
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
autofinanciamento do processo, vrias empresas construtoras responsveis pela
execuo dos projetos e uma Direo de investimento que executa os planos.
Uma das entidades deste sistema, a Companhia Habaguanex S.A., criada
a partir do Decreto-Lei n 143, tem possibilitado a arrecadao da maioria dos
recursos financeiros no territrio e que temsido investidos nos ltimos cinco anos.
Administra todo o sistema hoteleiro, extra-hoteleiro e comercial que vemrecupe-
rando o Centro Histrico, contando, atualmente, comumtotal de doze hotis e
hospedarias, comcerca de 300 quartos, cinco restaurantes emhotis e outros treze
especializados, 43 salas de caf, dez espaos livres, quatro sorveterias e sales de
ch, nove mercados e 22 estabelecimentos comerciais.
Entretanto, sefaz necessrio precisar as outras entidades responsveis pelaadminis-
traoe gerao de recursos financeiros que contribuemimpulsionando a economia
local que, a partir do setor pblico, tem dinamizado o processo de reabilitao.
A Imobiliria Fnix S.A. responsvel pelo aluguel de residncias de mdio
e alto padro, espaos para escritrios, locais comerciais diversos e gastronmicos,
estacionamentos. Oferece tambm servios de dedetizao, equipamentos de
escritrio, postos de gasolina, txis e aluguis de automveis. A Agncia de
Viagens San Cristbal presta servios informativos e promocionais e vende pacotes
tursticos. A Imobiliria urea aluga salas para escritrios e espaos de estaciona-
mento s lojas do comrcio.
A Direo Econmica a responsvel pela cobrana dos impostos s
entidades produtivas situadas no territrio (equivalentes a 5% sobre os ingressos
brutos, s empresas que operam em divisas e de 1% s empresas que reportam
em moeda nacional). responsvel tambm por controlar as exportaes e
importaes e centralizar os investimentos. Todas as entidades geradoras ou cap-
tadoras de recursos econmicos pagam tributos Direo Econmica, exceto a
Direo de Patrimnio Cultural e a Organizao Econmica do Museu da
Cidade, que destinamtudo que arrecadampara autofinanciar o desenvolvimento do
sistema cultural, tornando-o independente do plano de investimentos. Por isso,
cobramos servios especializados de conferncias, assessorias, arquivo, biblioteca e
fototeca, assim como a entrada ao sistema de museus. Tambm ingressa o gerado
nas entidades recreativo-culturais, tais como o Anfiteatro, o Parque Infantil, a
sala de concertos da Baslica de San Francisco, entre outras.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 127
128
O fato de que se tenha disposio as utilidades gerenciadas por uma
oficina econmica central, possibilitam que:
se possamharmonizar apriori as atividades de corte social e as obras
urbansticas requeridas para o melhoramento da rea;
pode-se conformar financial poolspara promover aquelas aes cujos efeitos
produzamsinergia.
9
Esse sistema empresarial temproduzido, desde a promulgao do Decreto-
Lei n 143 (outubro de 1993) e do Acordo n 2.951 at o ano passado, quase
US$ 100 milhes, que se investiram, em sua maioria, na obra reabilitadora.
O crescimento econmico foi progressivo e a cada ano prepara-se o oramento
para o ano seguinte, considerando o produzido. Nesses planos de investimentos
participa tambm o Governo Municipal de La Habana Vieja. Ali, analisam-se,
de acordo com as estratgias de desenvolvimento, as necessidades, as urgncias e
prepara-se um planejamento que equilibre os diferentes destinos dos recursos.
Assim, podemos dizer que mediando os ltimos trs anos destinou-se, nos planos
de investimento, 45% a projetos geradores de recursos e 35% a programas sociais,
enquanto que 20% foramcanalizados para o Estado Nacional e outros programas
de reabilitao urbanstica.
Todo o processo de reativao econmica gerou mais de oito mil empregos,
criando-se uma instituio, a Agncia de Empregos que distingue em primeira
instncia, a prioridade de emprego nos novos postos de trabalho para os residentes
de Havana Velha.
... Por sua vez, as utilidades que se derivamdos aportes que gera o alicerce
econmico da Oficina del Historiador (ingressos que crescema grande
velocidade, emtorno de uns 4 milhes de dlares em1994 a 40 milhes em
1998) tomamos seguintes destinos: o mais importante j vimos que era o
reinvestimento no prprio territrio ematividades produtivas e sociais e em
alguns subsdios diretos populao residente; o resto se distribui em
9
GARCA PLEYAN, Carlos; NEZ, Ricardo. La regeneracin en La Habana Vieja: Un modelo de gestin que
moviliza las plusvalas urbanas? Conferncia apresentada no VIII Encontro da Associao Nacional de Planejamento
Urbano e Regional, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 128
129
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
contribuies ao governo central (no ultrapassa 10% das utilidades);
provincial (por meio de aportes reabilitao de outras regies da cidade
como a de Malecn ou restauraes emredes pluviais ou emfinanciamento
da construo de residncias para habitantes de Havana Velha); e municipal,
emapoio financeiro direto ao oramento municipal e, ainda, a mltiplas e
diversas colaboraes comos setores desade(reconstruo deumlar materno),
educao (apoio biblioteca municipal), servios moradia e comunidade
(sistema de recolhimento de lixo, abastecimento de gua), basicamente.
10
Emnosso trabalho de reabilitao nos deparamos a cada dia coma difcil
situao de ter que eleger a que destinarmos os recursos comos quais contamos.
Considerando a quantidade de valores concentrados, o estado avanado de deterio-
raodos edifcios, o fato de que a cada trs dias ocorremdois desmoronamentos
de diversa magnitude, a grave situao da moradia e a ameaa permanente e anual
de umciclone, , portanto, de imaginar a angstia que produz a tomada de deciso
e a altssima responsabilidade que nos compete.
Porm, h uma realidade incontestvel. nossa responsabilidade tambm
gerar os recursos com os quais devemos solucionar os problemas. Isso conduz
a uma concluso evidente: nos primeiros anos temos que destinar um volume
importante dos fundos para os projetos que geremriquezas emumprazo relativa-
mente curto. Naturalmente, sem renunciar ao projeto cultural e sem deixar de
investir nos programas sociais, adotando, ento, uma estratgia de priorizar aqueles
que tenham um maior alcance, ou que beneficiem os setores mais vulnerveis.
Outra ttica tem sido a de concentrar os investimentos, para beneficiar
regies completamente reabilitadas e atrativas, que gerem, por sua vez, umefeito
multiplicador de novos investimentos e interesses. Existe tambmuma tendncia a
recuperar aqueles eixos que conectam essas regies ou outros que constituem
periferia, de tal forma que rodearemos todo o permetro do Centro Histrico para
uma ao posterior emdireo ao que chamamos La Habana Vieja profunda. Isto
j se pode apreciar numa extensa rea associada s praas da Catedral, das Armas,
San Francisco e Praa Velha, os eixos que vo sendo recuperados nas ruas dos
Ofcios, Mercaderes, Obispo. Na terminao da Avenida del Puerto at a Alameda
10
GARCA PLEYN, Carlos; NEZ, Ricardo. op.cit.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 129
130
de Paula, onde comea o Plano de Reabilitao Integral do Bairro de San Isidro,
e muito proximamente no Paseo del Prado, desde o Castelo de San Salvador da
Punta at o Parque de la Fraternidad. Existem casos excepcionais isolados,
nos quais se trabalha criando focos de ao em volta deles, tal qual o caso do
conjunto monumental de Beln.
Mesmo estando desenvolvendo um mecanismo de autofinanciamento com
resultados otimistas, a gravidade dos problemas de tal magnitude que o propsito
de salvaguardar se torna uma corrida contra o tempo. A cooperao e os aportes
internacionais sero sempre bem-vindos e agradecidos, pois, sendo o povo cubano
solidrio por princpio, sabe reconhecer o amigo que se une ao nosso esforo.
...Agradecemos em primeiro lugar UNESCO, que sempre favoreceu o
desejo da Havana Velha em recuperar seu patrimnio cultural, expresso
em mltiplas facetas. Graas s bolsas fornecidas a cubanos podemos hoje
contar com um excelente grupo de profissionais especializados nos diversos
segmentos da restaurao do patrimnio; (...) dotou nossas bibliotecas de
volumes e publicaes especializadas; providenciou consultores de alto nvel;
tempropiciado o intercmbio profissional e a celebrao de encontros inter-
nacionais, entre outras aes deste apoio extraordinrio, num verdadeiro
sentido da cooperao internacional: estimular as naes a construir seu
prprio caminho, a desenhar seu destino.
Temos que reconhecer tambm a cooperao vinda da Espanha, da Itlia
e da Comunidade Econmica Europia, incrementada ao longo dos anos e
assentada no crescente prestgio da obra de recuperao da Havana Velha.
11
NEOLIBERALISMO E PRIVATIZAO X GESTO PBLICA
A Cpula sobre a Cidade, ltima conferncia das Naes Unidas sobre os
Assentamentos Humanos, Habitat II, celebrada emIstambul, em1996, qualificou
o sculo XXI como O sculo das Cidades, pois se constatou que o processo
mundial de urbanizao trar como conseqncia que nos alvoreceres do terceiro
milnio mais da metade da populao mundial viver nas cidades.
11
LEAL SPENGLER, Eusebio. Entrevista em Gramma Internacional. Novembro de 1999.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 130
131
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
Considerando que vivemos em uma poca em que o desenvolvimento das
telecomunicaes e a informtica viabilizam, como nunca antes, o processo de
globalizao, torna-se imprescindvel o papel dos defensores da identidade
nacional, regional e local, que julgaram os centros histricos, espaos onde se
manifesta mais claramente a diversidade cultural dos povos emsuas distintas
expresses materiais e espirituais. O significado das reas centrais da cidade para
a coletividade, dentro de um panorama de globalizao, adquire, ento, uma
extraordinria importncia, principalmente quando so setores vitais da cidade
onde se continua construindo histria.
No novidade para ningum que o modelo neoliberal tem resultado em
fracasso; as estatsticas o confirmam. Os pases so cada vez mais dependentes,
mais pobres e isto se reflete nas cidades. A instncia nacional privatiza o rentvel
dando luz verde s multinacionais que se instalam impondo seus cdigos e
internacionalizando um produto prottipo que nos estranho, por outro lado
descentralizamo improdutivo e o subvencionado.
... A isto (precariedade dos servios de comunicao) se soma a deteriorao
fsica, simblicae funcional dos espaos diretos de construo social como
as praas, parques, ruas (...). As privatizaes primrias, a violncia urbana e
a primazia e transformao que assumemos meios de comunicao de massa
(televiso, imprensa e rdio), entre outros, arrastamatrs de si a progressi-
va eliminao ou mutao do espao pblico e cvico. (Se antigamente a
centralizao urbana se constitua e construa desde o pblico, o cvico e o
estatal (tendo a praa como elemento vertebral), na atualidade provm da
iniciativa privada e mercantil sendo sua ponta de lana o chamado shopping
center).
12
O protagonismo da cidade como concentradora de populao, a globalizao
da comunicao, a prpria crise urbana geramprocessos de sobrevivncia como
uma natural conduta de reao. Como nas antigas filosofias, e nas modernas, cada
elemento temseu par antagnico e ante a apario de padres homogeinizadores
surgemfrmulas de diversificao. Estamos assistindo tentativa de repensar a
forma de construir cidades. A nova viso dos planos de desenvolvimento nessa
12
CARRIN, Fernando. op. cit.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 131
132
escala, emsua tica integral, flexvel e conciliadora, a incluso de enfoques
estratgicos no planejamento, os espaos de participao cidad, que se vo esta-
belecendo nas diferentes cidades latino-americanas, vo criando uma expectativa
tranqilizadora.
... Semdvida que esta situao tende a potencializar-se pela redefinio do
papel e peso especfico das cidades que se est produzindo no contexto do
paradoxo atual, de globalizao das sociedades nacionais e dos processos de
descentralizao que se percebe emnvel mundial.
13
Perdidas no contexto de uma globalizao tendenciosa, as urbes se buscam
para o dilogo, impem-se uma necessria comunicao entre os nveis locais, uma
aproximao entre os cidados de diferentes cidades. Estender a verdadeira ponte
que permita ... passar de umlado a outro e ter a possibilidade de ir e vir, adqui-
rindonovos saberes, novos significados e conceitos. (...) ainda mais evidente neste
final de sculo que nos convida, emmeio ao desconcerto, (...) a repensar aes
sobre novos paradigmas.
14
umfato que ... a Amrica Latina temse convertido numcontinente de
cidades (...) na atualidade existemmais cidades, maior concentrao de populao
e as urbes cumprem novos papis, porm, no se pode desconhecer que esto
isoladas e dispersas.
15
Requer-se, ento, um movimento que aproxime as cidades em sua nova
realidade. Utilizar modernos instrumentos do poder para exercer a soberania
uma verdade inquestionvel. A perda do protagonismo da gesto pblica temde
recuperar-se comnovos parmetros de sustentabilidade, que tornemrentvel e pro-
dutiva a atuao desde o local e o pblico. Estamos obrigados a conhecer nossas
prprias capacidades de subsistncia e a dividir um destino comum de defesa
nacional, tendo como estandarte a recuperao consciente do Centro Histrico.
13
CARRIN, Fernando. op.cit.
14
AYALA MARN, Alexandra. La ciudad, escenario de comunicacin. Compilao a cargo de Fernando Carrin
e Drte Wollrad, FLACSO Ecuador, Friedrich Ebert Stiftung.
15
CARRIN, Fernando. op.cit.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 132
133
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
A preservao do patrimnio hoje emdia deve passar, indubitavelmente, por
umcompromisso poltico e uma vontade de sermos ns mesmos; trata-se de con-
solidar ummodelo prprio de independncia cultural, econmica e ideolgica, cuja
principal premissa seja a justia social.
Segundo tais princpios, que nunca deveria perder, corresponde ao setor
pblico assumir responsavelmente o papel protagnico, sob novas perspectivas de
sustentabilidade econmica. A administrao pblica pode e deve ser rentvel,
valendo-se para tanto de uma nova viso na forma de enfrentar o desafio.
... Posso assegurar-lhes que lutaremos fervorosamente no sentido de forta-
lecer nossos prprios meios, conscientes de que o patrimnio no deve ser
uma carga pesada sobre as costas dos povos pobres. Igualmente nos negamos
a aceitar que, para preserv-lo, deva ser vendido ou privatizado, arrebatando
no s o corpo, mas tambma alma de nossas naes.
16
Consideraes de replicabilidade
Analisando diversas dinmicas regionais de recuperao de centros histricos,
detectamos que o processo dificultado por vrios problemas, entre eles:
quantidade e diversidade de atores comcompetncia locais e nacionais
relacionadas ao patrimnio;
regime de propriedade do solo;
legislao dispersa e desatualizada;
falta de vontade poltica ao mais alto nvel (contradio entre os nveis
nacional e local, filiados a partidos polticos opostos);
processos dependentes das conjunturas eleitorais;
16
LEAL SPENGLER, Eusebio. Prefcio do livro Desafio de una utopa. Editora Bologna. Plan Maestro COAVN.
Oficina del Historiador.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 133
134
planos relacionados a perodos polticos relativamente curtos;
marginalidade e conflitos sociais agudos;
precariedade econmica;
crise econmica nacional.
A experincia que estamos aplicando no Centro Histrico de Havana tem
buscado enfrentar algumas dessas barreiras coma aplicao do modelo de gesto
descrito anteriormente. Em muitas ocasies, ouo dizer que nosso caso no
aplicvel a outras realidades regionais devido diferena de sistemas sociais.
No estou de acordo com esse argumento. Penso que h elementos essenciais
de nossa proposta que podemser adaptados perfeitamente emoutros contextos,
considerando, logicamente, as particularidades de cada caso, bastando para isso
uma condio sinequa non, a vontade poltica no mais alto nvel.
No existindo essa vontade, h fundamentos de peso e de convenincia
para que o Estado se interesse e apie uma gesto especial no Centro Histrico.
Moralmente lhe corresponde, como mximo responsvel da salvaguarda patrimo-
nial, facilitar sua recuperao e inclusive est obrigado no caso de se tratar de
um Centro Histrico declarado Patrimnio Cultural da Humanidade.
Almdo mais, a recuperao dos centros histricos constitui uma complexa
atividade que exige uma grande quantidade de recursos, considerando os graves
problemas que neles se concentram.
Existetambmumslido argumento diantedo qual os centros histricos podem
ser inscritos como zonas especiais de interveno: eles apresentam uma situao de
desastrepermanente de pequena intensidade e, geralmente, so reas de conflitos
sociais graves.
Essas reflexes conduzema pensar que seria de interesse para o Estado
apoiar umprocesso de reabilitao sustentvel que, commecanismos de autofinan-
ciamento e autogesto, possa, inclusive, reverter a situao: de ser uma atividade
subvencionada podendo contribuir coma Nao.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 134
135
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
A ao de recuperao sob a tutela de uma autoridade nica de carter
pblico temsido de sucesso emHavana Velha, e outra das frmulas de possvel
aplicao regional. Recomendamos que essa instituio seja autnoma e reconhe-
cida ao mais alto nvel, no qual, por sua vez, ter de prestar contas periodicamente
de sua gesto. Ao atuar localmente, ter tambm a obrigatoriedade de ajustar com
os principais atores locais suas polticas, estratgias e planos, informando-os
com regularidade os resultados de sua administrao. Dessa forma, se poder ga-
rantir uma ao transparente e estvel sobre o Centro Histrico, independente dos
diferentes interesses ou da insensibilidade que em determinadas circunstncias
possa existir.
imprescindvel contar com um foro legal especial, outro aspecto a consi-
derar, emsua essncia. So necessrias normas jurdicas especficas que facilitem,
especialmente, as questes relativas ao solo, legislando sobre a possibilidade de
expropriao ou compra preferencial, sobre crditos fceis e pagamentos a longo
prazo, etc., a favor da instituio responsvel pela recuperao, de forma a garantir-
lhe umfundo patrimonial prprio, como capital inicial, a partir de cuja explorao
eficiente possa ser incrementado. Dessa forma, uma entidade pblica seria pro-
prietria e administraria, ou participaria na administrao, ou alugaria seus ativos,
coma finalidade de garantir a sustentabilidade do processo de reabilitao.
Um dos argumentos mais usados para descartar o modelo de gesto apli-
cado no resgate da Havana Velha o de que a maior parte do solo em Cuba
propriedade estatal. Porm, o assunto no to simples como parece. Quanto
ao efeito da propriedade do solo, o conceito de Estado se torna abstrato, pois este
se traduz nas distintas entidades estatais que controlam seu patrimnio, como
direitos e deveres sobre ele, o qual gera conflitos de complexa soluo no momento
de efetuar uma troca de possesso, ou de uso.
Em tal situao, teria que se comear por identificar os distintos sujeitos
econmicos que se encontram por trs do abrangente conceito de Estado.
De acordo coma organizao poltico-administrativa do Estado cubano, em
uma primeira aproximao poderamos distinguir um sujeito nacional
(identificvel com o oramento nacional ou com empresas desse nvel)
outro provincial (no caso de Havana, cobre toda a regio metropolitana
da cidade) e outro municipal (maior que a regio histrica) tem-se que
reconhecer tambmcomo sujeito econmico (autorizado a realizar recebi-
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 135
136
mentos, cobrar impostos, efetuar investimentos...) a Oficina del Historiador
e seu sistema de empresas...
17
Sendo a Oficina del Historiador uma instituio estatal, os mecanismos para
a aquisio de solo passamregularmente por uma aquiescncia desde os mais altos
nveis de deciso do pas, que convencemou justificama necessidade de liberar
locais ou imveis emfavor da reabilitao, cedendo-os Oficina emusufruto por
25 anos, prorrogveis por ummesmo perodo. A Oficina no pode comprar o solo,
nemexpropri-lo s pessoas jurdicas estatais, pois no faz sentido que o Estado
exproprie o Estado, ou que se compre e se venda a si prprio. Emoutros casos
regionais, a aquisio do solo, a expropriao ou a cesso obrigatria seria por meio
de mecanismos regidos pelo mercado.
Poderiamtambmse incorporar mecanismos financeiros prprios, que se
somariamaos mtodos j mencionados, relacionados coma explorao do solo, as
possibilidades que brindama captao de mais-valias urbanas ou a implantao de
umsistema impositivo especial, entre outros procedimentos.
... Neste panorama torna-se imprescindvel e estratgico dispor de novas
formas financeiras como aporte ao desenvolvimento urbano. O retorno
prtica da captura de mais-valias urbanas resulta uma ao vlida ao permitir
a arrecadao de ingressos monetrios cuja disponibilidade favorece a conse-
cuo de projetos de reabilitao urbana. Paralelamente, essa prtica per-
mite a diminuio do risco financeiro dos atores privados, a atualizao e
modernizao da infra-estrutura e possibilita realizar uma melhor redis-
tribuio dos recursos imprimindo eqidade e eficincia ao desenvolvimento
urbano das cidades (...). Uma forma de enfocar o assunto pode ser identi-
ficar a mais-valia como os possveis maiores lucros, que podemobter as
empresas situadas numterritrio onde se verifica umprocesso de reabilitao
e revalorizao do tecido urbano....
18
Outro aspecto a considerar o estabelecimento de uma equipe interdiscipli-
nar, responsvel pela redao de umPlano de Desenvolvimento Integral que ser
ajustado com os diferentes atores que incidem no Centro Histrico, ou seja, as
17
GARCA PLEYN, Carlos; NEZ, Ricardo. op. cit.
18
GARCA PLEYN, Carlos; NEZ, Ricardo. op. cit.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 136
137
Cent r o Hist r ico de Havana: Um modelo de gest o pblica
diversas instncias da administrao pblica, as entidades mistas e privadas, a
populao residente e, que uma vez validado pelos mesmos, constitua uma carta
de navegao a servio dos administradores. O prprio escritrio de planeja-
mento deve ser compreendido como umespao para reunies permanentes e a
instrumentalizao de estratgias que tornem viveis o Plano. por meio dele
que, em sua filosofia, devem primar conceitos, tais como:
dinamismo: atuar permanentemente na gesto cotidiana do Plano, emcada
passo do processo de revitalizao;
flexibilidade: adaptar-se realidade diante de circunstncias variveis;
ajustes: conciliao comos diversos atores de tal forma que se produza uma
apropriao dos postulados do Plano;
operacionalidade: dar resposta imediata e eficiente s demandas cotidianas;
continuidade: no se limitar produo de umdocumento, mas, sim, a uma
permanente produo de instrumentos que permitamaperfeioar o trabalho;
integridade: atuar tanto no mbito fsico quanto no social, no econmico
e no legal;
participao: interveno de todos os cidados e entidades cominfluncia
no territrio;
gerenciamento: propor o que fazer a partir de diversas alternativas;
sustentabilidade: garantir um desenvolvimento sustentvel a partir da
explorao de meios prprios, semcomprometer o desenvolvimento futuro.
A importncia de incluir a planificao do territrio, no sistema desta
autoridade autnoma essencial, pois se reconhece que:
... Pode gerar mais-valias semnecessidade de realizar investimentos econmi-
cos (...) obvio que regulamentaes mais ou menos permissivas podem
no s criar ou desaparecer, ao permitir maior ou menor edificabilidade e
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 137
regular seu uso, seno que tambmentorpecer ou facilitar o funcionamento
(por outro lado se distingue) ... o papel que tem jogado as transfor-
maes de uso ao assegurar a insero de novas funes cujos efeitos tm
permitido: o reconhecimento e a elevao das rendas urbanas, o incremen-
to de fluxos monetrios, a consolidao de processos de aglomerao ou
clusters, a modificao das densidades e intensidade de uso e a recuperao da
imagemdos imveis e espaos abertos.
19
CONCLUSO
H exatamente dois anos, na cidade de Lima, surgiu uma idia que se
concretizou umano depois emHavana: a criao de uma Rede de Cidades da
Amrica Latina e Caribe com centros histricos em processos dinmicos de
recuperao. No documento de formalizao da Rede, consta que:
Essa rede se constitui como umncleo regional cominteresses e problemti-
cascomuns queassenta as pautas para assumir, potencializar esistematizar, desde
uma posio de unidade, o dilogo comos diversos atores internacionaisque
estejamcomdisposio de cooperar ou investir emnossos centroshistricos.
Temtambmcomo misso facilitar o conhecimento e reconhecimento de
nossos pontos fortes e de nossas fraquezas, como forma de se estabelecerem
vnculos, no interior das regies, que permitamassumir aes concretas con-
dizentes soluo ou mitigao dos problemas.
Pretende, assim, contribuir para a garantia da continuidade dos processos de
recuperao a partir do estabelecimento de novas ticas na relao entre
o nvel local e o nacional, entre o mbito tcnico e a tomada de decises.
Desde Havana queremos ... oferecer uma mensagemde alento e esperana
frente a umprocesso de globalizao de modelos alheios, levantar a bandeira
da singularidade como smbolo de identidade ante a pretendida imposio
de esquemas forneos (e expressar que) advogamos por ummundo semfron-
teiras, onde a cultura e o mtuo respeito estabeleam as pautas de um rela-
cionamento frutfero e enriquecedor entre nossos povos.
20
19
GARCA PLEYN, Carlos; NEZ, Ricardo. op. cit.
20
Leal Spengler, Eusebio. Carta de La Habana. Novembro 1999. Grupo para o Desenvolvimento Integral da Capital.
138
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 138
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 140
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 141
143
Para apresentar as atividades do Departamento de Estudos e da Prospectiva
(DEP), do Ministrio da Cultura da Frana, no que se refere aos indicadores
culturais, convm comearmos por uma breve introduo histrica.
Muitos j conhecemo DEP e a referncia sua histria se deve a uma razo
simples: se fosse criado agora, o DEP teria certamente caractersticas muito
diferentes. Qual seria, por exemplo, a sua posio institucional? De que modo
trataria a problemtica local?
O DEP conserva at hoje traos caractersticos do contexto em que foi
fundado, determinantes da sua originalidade e talvez dos limites da sua ao.
Ao caracteriz-lo, duas questes devemser tratadas commais nfase: a sua posio
institucional e o mito das enormes bases de dados. O exemplo do emprego
cultural demonstrar o modo de trabalho mais habitual no DEP, que o recurso
s fontes de informao existentes trabalho lento e minucioso.
O DEP enfrenta hoje dois grandes desafios resultantes das novas escalas
de reflexo e de ao cultural: o da integrao europia, que implica a necessria
harmonizao dos indicadores e a homogeneizao dos dados correspondentes o
da descentralizao e da desconcentrao.
9. Entre mito e realidade: Quarenta
anos de produo de indicadores
culturais na Frana
Sylvie Escande
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 143
144
O DEP: FILHO DO PLANEJAMENTO GAULLISTA
E DA MILITNCIA CULTURAL
As caractersticas da poltica de pesquisa desempenhada pelo DEP
remontam ao contexto da sua criao.
A dinmica do planejamento
O 4 Plano Econmico e Social da Frana aponta para a ausncia de dados
precisos sobre a cultura. Em1963, Jacques Delors, membro do Comissariado Geral
encarregado da preparao do 5 Plano, prope a criao de uma clula de estudos
e pesquisas no gabinete do jovemMinistrio da Cultura. Sua criao oficial s ir
se dar em1968, como nome de Servio de Estudos e Pesquisas (SER). Seu
primeiro diretor foi Augustin Girard, professor, tradutor e militante da educao
popular, discpulo de Joffre Demazedier, socilogo e diretor da Associao Peuple
et Culture.
Estabelece-se, assim, uma vinculao comos ideais de construo de uma
sociedade democrtica defendidos pela Resistncia Francesa.
Convergncia de interesses
Na primeira dcada da sua existncia 1960, o DEP exerce uma influncia
notvel sobre uma UNESCO ansiosa por ampliar o peso da cultura dentro da
Organizao, no s do ponto de vista financeiro, como tambmconceitual.
Nas propostas apresentadas por Pierre Moynot, ento diretor do Depar-
tamento das Artes e das Letras do Ministrio da Cultura, durante a 14 Sesso da
Conferncia Geral da UNESCO, em1966, l-se a inspirao de Augustin Girard,
membro da delegao francesa:
Umquadro estatstico especfico cultura necessrio. Permitir-nos-ia
estabelecer vnculos tanto coma educao, como coma economia ea com-
preender melhor a natureza eas modalidadesda demanda cultural. Sabemos
que grande, mas conhecemo-la muito mal. Se conseguirmos identificar os
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 144
145
Ent r e mit o e r ealidade: Quar ent a anos de pr oduo de indicador es cult ur ais na Fr ana
obstculos materiais e psicolgicos ao desenvolvimento cultural, as relaes
entre oferta e demanda, se conseguirmos analisar os novos canais econmicos
e sociais da vida cultural, seremos, ento, capazes de analisar os verdadeiros
meios de uma ao cultural e a prioridade que lhes deve ser dada, e de estu-
dar quais seriamas estruturas administrativas e financeiras, emnvel do
Estado, das comunidades locais e do setor privado.
Nesse excerto, a proposta bvia: fundar uma poltica cultural sobre um
conhecimento preciso e rigoroso de todas as dimenses da cultura. A viso
reformista e voluntarista: o desenvolvimento cultural enfrenta obstculos que,
uma vez conhecidos, podero ser vencidos.
Deve-se acrescentar que, emcontrapartida, a autoridade moral e cientficada
UNESCOajudou muito o DEP a promover as suas idias dentro do Ministrio.
A influncia europia
No perodo que corresponde aos anos 1960-1990, o DEP esteve muito
ligado ao Conselho da Europa e inspirou as polticas culturais de avaliao
desenvolvidas pela UNESCO. Essa avaliao consiste na complementaridade e no
contraste entre dois estudos umdesenvolvido pelo prprio Estado investigado,
outro por um grupo de peritos nomeados pelo Conselho da Europa. A Frana
o primeiro pas investigado, em 1988.
Comumgrupo de pesquisadores e documentaristas no mbito da poltica
cultural, Augustin Girard e o sueco Jarl-Johann Kleberg criam, em1984, uma rede
europia de centros de pesquisa e de documentao o Circle. Criada na estufa
do Conselho da Europa, essa organizao informal e militante se beneficiou de um
apoio operacional importante do DEP.
Do contexto da sua fundao e da personalidade do seu fundador, Augustin
Girard, o DEP conserva certos traos caractersticos: a hostilidade cultura de
massa, industrializao, comercializao de produtos culturais e ao relativismo
cultural; a reticncia a estudar reas fora das artes, como as culturas suburbanas,
jovens, desporto, msicas populares (apesar do xito de estudos publicados sobre
o rock) e, ainda, a reticncia a penetrar no contexto prprio da criao.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 145
146
Da sua origemna dinmica do planejamento, o DEP conserva a lgica do
mdio prazo (cinco anos) que influencia a pesquisa e a diferencia da temporalidade
do poltico.
O MODELO FRANCS DE PESQUISA PBLICA
O difcil equilbrio entre pesquisa e administrao
1
Uma arquitetura pragmtica
O programa do DEP organizado segundo os seguintes eixos: financiamento
pblico da cultura (sobretudo pelas coletividades territoriais); economia da cultura;
educao artstica e formao profissional; emprego cultural; pblicos e prticas
culturais; internacional; multimdia.
No DEP tambm se encontram os instrumentos necessrios pesquisa,
tanto interna como externa, tais como a base de dados estatsticos e o centro de
documentao.
A basededados centraliza informao interna, fornecida pelo Ministrio epelo
prprio DEP, mas, sobretudo, informao externaproduzidapor sindicatos profissionais,
sociedades de gesto do direito de autor, totalizando mais de 90 fontes externas.
Os resultados das pesquisas so difundidos por meio de publicaes, como
o boletimDveloppement culturel, comuma mdia de 18 mil exemplares por nmero;
o ChiffresCls, que uma seleo dos dados mais pertinentes para o pblico a partir
da base de dados estatsticos; as duas colees QuestionsdecultureeLestravaux du
DEP. Os livros da coleo Questionsdecultureso vendidos, mas ambos, o boletim
Dveloppement culturel e a coleo Lestravaux du DEP so distribudos gratuitamente
aos servios do Ministrio, a bibliotecas, a centros de documentao, a centros
universitrios de pesquisa etc.
1
A expresso do socilogo Antoine Hennion (autor de Figures de lamateur, La passion musicale, etc.): le grand
cart entre recherche et administration. Em francs, grand cart o nome de uma posio (com abertura mxima
das pernas) do bailarino ou do ginasta.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 146
147
Ent r e mit o e r ealidade: Quar ent a anos de pr oduo de indicador es cult ur ais na Fr ana
Uma navegaopermanente
Dos anos 1960 aos anos 1980, o DEP pertencia ao gabinete do ministro.
A sua situao atual, na direo da administrao geral, revela que considerado
mais como um servio comum aos diversos departamentos do Ministrio do que
como uma fonte de conselhos e de ajuda deciso para o poder poltico.
A mudana temcertamente a ver como novo contexto poltico criado pela
vitria da esquerda (1981) e talvez comuma percepo dos estudos no Ministrio
extremamente personalizada e vinculada a Augustin Girard.
O DEP est sujeito permanentemente a duas tentaes contraditrias, igual-
mente perigosas a de responder ao fluxo dos pedidos e das presses polticas, de
natureza diferente conforme provmdo gabinete do ministro ou dos departamentos
do Ministrio, e a de constituir-se em um centro de pesquisa autnomo com o
seu funcionamento e a sua coerncia prpria. Vivencia-se essa situao todos os
anos quando da elaborao do projeto deestudos por meio deencontros enegociaes
comas direes centrais do Ministrio.
A naturezado DEP duplaenecessariamenteambgua entreumalgicadepesquisa
eumalgicapolticaeadministrativa. Posio desconfortvel, mas umatenso necessria.
Houve conflitos. O inqurito sobre as prticas culturais de 1988 foi critica-
do por ter revelado uma reduo nas prticas de leitura e de freqncia aos museus.
No entanto, os pesquisadores queixam-se mais da falta de interesse dos polticos
nos resultados das pesquisas do que das intervenes deles.
Especificidadedos pesquisadores doDEP
Os pesquisadores do DEP desempenhammuitas tarefas, como pesquisa
prpria; administrao da pesquisa externa (conjunto das operaes cientficas e
administrativas vinculadas pesquisa: objetivos, contratos, gesto do calendrio,
avaliao, etc.); e fornecimento de informaes aos gestores culturais.
Existe um perfil tpico dos pesquisadores. Eles so recrutados geralmente
jovens, por vezes sem terem terminado o doutoramento. A formao deles
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 147
148
assegurada pelo Departamento. Antoine Hennion resume assim o paradoxo: S
o DEP consegue formar os seres hbridos de que necessita. S o DEP pode
empregar os seres hbridos que formou.
Esse fenmeno e os regimes trabalhistas dos pesquisadores do Ministrio da
Cultura tmpor conseqncias:
para as pessoas uma dificuldade para mudar de emprego e progredir
na carreira, que tempor efeito a sua permanncia no Departamento;
para o Departamento uma certa falta de sangue novo, de pesquisadores
comoutras formaes, outras problemticas e outros mtodos, mas tambm
comuma continuidade rara e uma fidelidade, a princpio, rigorosos.
No entanto, os antigos pesquisadores do DEP tmdesempenhado umpapel
importante na difuso e na reproduo do modelo no Departamento dos
Usos Sociais das Telecomunicaes do Centro Nacional de Estudos das
Telecomunicaes; na Biblioteca Pblica de Informao do Centro Georges
Pompidou; dentro das direes centrais do Ministrio, onde pequenos DEPs
tm surgido comumcampo de pesquisa mais reduzido (o da rea emque atuam:
o espetculo, a leitura pblica etc.) , mas comobjetivos e mtodos semelhantes.
Teromodelofrancsdepesquisacultural perdidoumapartedasuainflunciainternacional?
Depois da criao do Ministrio da Cultura por Andr Malraux, depois da
dcada de 1980, marcada pelas novas idias no estilo de Jack Lang, e da subida
prodigiosa das verbas da cultura no oramento do Estado, o modelo francs de
poltica cultural est passando por uma crise crticas ao Estado cultural,
dificuldades do processo de descentralizao e de desconcentrao de poder;
estabilidade da composio socioprofissional dos pblicos da cultura, apesar da
vontade poltica de alarg-los.
Em parte, essas dificuldades tm a ver com a crise do modelo estatal,
caracterizada, de umlado, pela emergncia poltica dos pases do centro e do leste
europeu, que procuramsolues e modelos emque a sociedade civil controle o
poder do Estado e, de outro, pela promoo, emvrios paises da Europa ociden-
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 148
149
Ent r e mit o e r ealidade: Quar ent a anos de pr oduo de indicador es cult ur ais na Fr ana
tal, de ummodelo pblico mais descentralizado, emque a fixao das regras e dos
critrios e a escolha dos beneficirios de subsdios sejam separadas.
O modelo francs de pesquisa cultural conhece um pouco a mesma difi-
culdade. Um valor atualmente mais aceito o da independncia dos organismos
de pesquisa emrelao ao Estado.
Produo prpria ou aproveitamento dos recursos existentes?
Embora os grandes inquritos de prticas culturais e de financiamento da
cultura talvez sejamo componente mais conhecido da produo do DEP, o
aproveitamento de recursos existentes a atividade mais habitual. O emprego no
setor da cultura fornece umexemplo pertinente a esse respeito.
As razes que tornamdifcil a produo de indicadores culturais para um
melhor conhecimento do emprego cultural so familiares: a pequenez do setor da
cultura e o risco, no caso de sondagem, de que as amostras no sejamrepresentativas;
a extrema atomizao do setor em unidades econmicas muito pequenas e a
freqente pluralidade de estatutos de ummesmo indivduo (assalariado e indepen-
dente).
Nota-se um contraste entre os meios estatsticos disponveis, que no
permitemuma avaliao detalhada, e a ambio poltica de provar, por meio de
nmeros, que a cultura uma mina de empregos, principalmente nas indstrias
culturais.
As fontes de informao pertencema duas grandes categorias:
os arquivos administrativos ou sociais, cuja finalidade no a de estudar o
emprego cultural;
os inquritos gerais sobre o emprego, que no dizemrespeito especifica-
mente cultura.
primeira categoria pertencemos arquivos da previdncia social e, por
exemplo, a declarao anual de dados, preenchida pelas empresas e associaes, com
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 149
150
informaes sobre o nmero de pessoas empregadas, a profisso delas, o nvel de
remunerao, mas s diz respeito aos seus assalariados.
Os dados da Caisse de Cong Spectacles,
2
que indeniza os profissionais
desempregados do espetculo ou do audiovisual, oferecem muitas informaes
sobre essas profisses e a precariedade do emprego que as caracteriza, mas um
sistema particular e limitado.
O recenseamento geral da populao exaustivo e contm perguntas sobre
o emprego (assalariado/ independente; tempo completo/ tempo parcial; etc.). No
entanto, o intervalo entre recenseamentos de nove anos, o tempo de tratamento
e de anlise dos dados de dois anos e s uma parte das respostas s perguntas
interessantes para os especialistas do emprego cultural codificada, ou seja,
existe uma carncia de representatividade.
O custo muito alto dos recenseamentos da populao faz com que os
pases europeus procurematualmente solues alternativas. Para a Frana seria a
combinao de arquivos administrativos e de um recenseamento contnuo.
J segunda categoria pertence o Inqurito Geral sobre o Emprego do
Instituto Nacional da Estatstica e dos Estudos Econmicos, o INSEE. Sendo,
no entanto, que apresenta um problema de representatividade geral e regional
sobre a cultura.
Alm da relativa inadequao das fontes de informao, existe o problema
da inadequao das nomenclaturas oficiais de atividades e de profisses. Este
problema no se refere apenas ao caso francs, j que as nomenclaturas so
harmonizadas ao nvel europeu e at mundial.
Sobre as estatsticas culturais, o Leadership Group (LEG) preconizou, no
seu relatrio final, a reforma das nomenclaturas europias de atividade NACE
e de profisso CITP. O nvel de agregao das rubricas nem sempre permite
isolar atividades estritamente culturais. Separar, por exemplo, as livrarias das
papelarias, ou isolar as escolas artsticas do meio do conjunto das escolas.
2
Frias dos profissionais da rea de espetculos, pertencentes ao teatro, cinema e music-hall .
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 150
151
Ent r e mit o e r ealidade: Quar ent a anos de pr oduo de indicador es cult ur ais na Fr ana
Enfim, mesmo juntas, as fontes exteriores mostram-se insuficientes. Per-
mitem apreciar as tendncias maiores, cifrar o nmero de pessoas empregadas seja
no setor da cultura, seja nas profisses culturais
3
e as suas caractersticas (sexo,
idade, qualificao, diploma e repartio geogrfica). No entanto, permanecem
lacunas, especialmente quando no existe um sindicato profissional, ou seja, no
setor no-comercial ou associativo da cultura.
Atualmente, o DEP est definindo um repertrio (register) exaustivo das
entidades que produzem bens e servios culturais. O arquivo correspondente da
INSEE, Sirene, s fornece parte dos dados e ignora, por exemplo, as escolas de
msica, as bibliotecas e os museus municipais.
Esse repertrio concebido como uma base para os inquritos, sejamestes
realizados pelo DEP, pelas direes centrais ou regionais do Ministrio. Servir
para estudar o emprego cultural, assimcomo as prticas culturais, a economia da
cultura e sua contribuio ao PIB.
OS NOVOS DESAFIOS
A dificuldade da harmonizao europia
No que diz respeito definio de indicadores comuns no quadro da
cultura, os estados-membros da Unio Europia apresentam disparidades
significativas.
As estruturas estatsticas so diferentes: na Frana, na Sucia e no Reino
Unido. A estatstica cultural compete ao Ministrio da Cultura na Frana e no
Reino Unido e uma organizao cultural descentralizada na Sucia. Na maior
parte dos outros pases europeus, no h organizao especfica e a estatstica
3
So consideradas profisses culturais as especficas das artes, dos espetculos ou da informao, totalizando 24
profisses entre as 455 da nomenclatura geral das profisses. So considerados empregos do setor da cultura todos
os empregos exercidos em empresas culturais ou estabelecimentos culturais, sejam os empregos especificamente
culturais ou no, como os secretrios, contabilistas, etc.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 151
152
cultural compete ao organismo nacional de estatstica. A ligao coma adminis-
trao encarregada da cultura mais ou menos prxima, conforme os pases.
A definio do mbito da cultura tambm diferente. O quadro das estats-
ticas culturais da UNESCO uma referncia comumpara vrios pases. Alguns
deles tm adaptado este quadro s suas especificidades nacionais ou aos seus
desenvolvimentos mais recentes. As divergncias principais tm a ver com o
esporte, includo no mbito da cultura pela Itlia e Portugal, o turismo, pela
Blgica, e a educao contnua, pela Blgica e Sucia. H divergncias tambm
no que diz respeito ao patrimnio e sua extenso.
Os pases europeus, no entanto, apresentamtambmcaractersticas similares.
A prioridade dada ao recolhimento de informaes identificadas pblicas ou
privadas. S se recorre a inquritos especficos quando necessrio criar uma infor-
mao que no existe, como, por exemplo, inquritos sobre a participao cultural
realizados pela Espanha, Finlndia, Frana e Sucia.
No h falta de dados. Pelo contrrio, h dados em abundncia, mas so
heterogneos, produzidos a partir de definies, mtodos e periodicidades difer-
entes. O conhecimento estatstico do setor pblico da cultura mais adiantado. Os
dados do setor privado so geralmente menos acessveis.
Existemduas reas emque os dados disponveis so insuficientes: o financia-
mento da cultura e o emprego cultural.
Em1997, foi criado pelo Eurostat (organismo de estatsticas da Unio
Europia) o Leadership Group (LEG), que tem a participao de doze estados-
membros e ir trabalhar as estatsticas culturais na Europa. Sua misso foi assim
definida:
definir umtronco comumde reas consideradas consensualmente como
culturais;
classificar as atividades culturais resultantes do cruzamento de uma funo
e de uma rea, a partir do quadro da UNESCO, tendo como objetivo
identificar entidades, empresas e associaes produtoras de bens e servios
culturais;
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 152
153
Ent r e mit o e r ealidade: Quar ent a anos de pr oduo de indicador es cult ur ais na Fr ana
definir indicadores que permitamdescrever a oferta e a demanda por ativi-
dades culturais.
Quatro grupos trabalharam sobre os seguintes eixos: metodologia geral
o que a cultura, quais reas a compem, o que atividade cultural; o emprego
cultural; o financiamento e os gastos comcultura; e a participao nas atividades
culturais.
A Task-force(metodologia utilizada pelo LEG), cuja tarefa de elaborao de
definies gerais era indispensvel para a produo de estatsticas comparveis,
chegou a uma uniformizao sobre a delimitao do setor da cultura.
Resolveu excluir a publicidade, as lnguas (por exemplo, o nmero de
locutores das lnguas nacionais, regionais ou estrangeiras que competem
estatstica nacional), o esporte, os jogos, o ambiente e a natureza. Resolveu
incluir parte da rea da arquitetura (o trabalho dos arquitetos) e as atividades
de comercializao dos bens e dos produtos culturais.
Foram definidas oito reas: patrimnio artstico e monumental; arquivos;
bibliotecas; livro e imprensa; artes plsticas; arquitetura; artes do espetculo; audio-
visual e multimdia; E seis funes: conservao; criao; produo; difuso;
comrcio; formao.
A metodologia Task-forcedefiniu uma primeira srie de indicadores rela-
tivos a quatro reas. Por exemplo, na rea dos museus, o nmero total de museus,
o nmero dos museus pblicos, repartidos entre os que pertencemao Estado e os
que pertencema outras entidades pblicas; a repartio dos museus entre artes e
cincias ou etnografia, etc. Tambmemitiu recomendaes, como a de uma reforma
das nomenclaturas europias de atividade e de profisso para uma melhor visibili-
dade da cultura.
Esses foramos resultados produzidos por alguns dos melhores especialistas
europeus da estatstica cultural aps dois anos de trabalho. O processo ser, com
certeza, ainda muito longo. No se deve, porm, diminuir a importncia do passo
dado. Ocorreu que responsveis de ofcios centrais de estatstica e responsveis
culturais do mesmo pas sentaram-se mesma mesa pela primeira vez.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 153
154
H sinais favorveis de continuidade do trabalho desenvolvido no LEG.
Foi criado umgrupo de trabalho permanente dentro do Eurostat que dever se
dedicar a trs componentes: o emprego cultural, o financiamento da cultura e a
participao nas atividades culturais. Pretende-se criar uma primeira srie de
indicadores, trabalhar para a harmonizao dos dados e para uma reforma das
nomenclaturas oficiais.
Se h uma concluso importante que se possa tirar dessa experincia que a
abertura dimenso internacional temde ser simultnea ao processo de criao de
uma estrutura de produo de dados culturais.
Convm cumprir preliminarmente duas tarefas: a explicitao das suas
prprias noes e dos seus valores implcitos e o recolhimento de indicaes sobre
o que constitui a maneira de pensar dos outros povos. Necessita-se, por exemplo,
familiarizar-se comas nomenclaturas que eles utilizam, como modo de observar e
classificar as atividades culturais.
Como exemplo podemos citar o caso francs no qual estamos atualmente
desenvolvendo um lxico da poltica cultural, da sociologia e da economia da
cultura. Este lxico ser provavelmente bilnge, francs e ingls, emuma primeira
fase, mas pretende-se abrir a outras lnguas europias.
Uma locuo bastante comum como indstrias culturais tem uma
abrangncia diferente segundo as duas lnguas. Emingls, inclui a publicidade, as
infra-estruturas, como, por exemplo, a produo de equipamentos e de materiais,
tintas e mquinas de impresso, que no so includas na definio francesa.
A definio inglesa to larga que corresponde mais quela elaborada pelo
Leadership Group para atividades culturais. Noes superficialmente to bvias
e to fundamentais, como a de patrimnio ou de cultura por exemplo, os ingle-
ses falamemcultureandthearts, tmde ser devidamente revistas.
A importncia indita da dimenso local
Desde o princpio da dcada de 1980, as leis de descentralizao tm
modificado muito as relaes entre o Estado e as coletividades territoriais ou,
para empregar uma palavra inglesa, local andregional authorities. Ao lado dos municpios
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 154
155
Ent r e mit o e r ealidade: Quar ent a anos de pr oduo de indicador es cult ur ais na Fr ana
e dos dpartements, criados na Revoluo Francesa, as leis criamnovas entidades
polticas: as regies comassemblia eleita por meio do sufrgio universal. O con-
junto dessas entidades corresponde s coletividades territoriais.
Talvez caiba aqui precisar o sentido das duas palavras descentralizao e
desconcentraoutilizadas pela lngua francesa.
O processo de descentralizao consiste na transferncia de competncias ou
de responsabilidades do Estado a entidades pblicas eleitas pelo sufrgio universal
regies, dpartements e municpios. O processo de desconcentrao, por sua
parte, consiste na transferncia de competncias do nvel central ao nvel regional
ou local do Estado.
A situao atual emtermos de financiamento da cultura que as coletivi-
dades territoriais desempenhamumpapel muito importante, j que participam
commetade dos gastos pblicos comcultura, emigualdade como Estado.
No de se admirar, ento, que se queiramconhecer melhor e avaliar os
efeitos desses gastos e que o aperfeioamento da produo de indicadores culturais
aparea para essas coletividades territoriais como uma meta importante.
Essa evoluo temsido acompanhada pelo processo de desconcentrao pelo
qual vempassando a administrao pblica francesa. Como conseqncias, as
direes regionais do Ministrio da Cultura administramatualmente verbas muito
mais importantes, atribuemsubsdios, colaboramcomas coletividades territoriais
para desenvolver projetos comuns, etc., enquanto que o papel das direes centrais
do Ministrio consiste na definio das orientaes e das regras e na avaliao das
polticas.
O caminho para a descentralizao no temsido fcil. Certas representaes
herdadas do passado permanecem. Emtraos grossos ecaricaturais, pode-sedizer que,
da parte do Estado, existe uma certa desconfiana quanto ao peso das presses polti-
caslocais sobre as orientaes, as nomeaes e as estatsticas. S o Estado poderia
garantir a perenidade, a objetividade e o rigor cientfico da informao produzida.
A especificidade do DEP a sua misso de mbito nacional e transetorial.
Quando estudou realidades regionais, como, por exemplo, o emprego cultural
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 155
156
ou o ensino da msica, o fez a ttulo de teste para verificar a exeqibilidade de
uma metodologia ou de uminqurito.
As regies, os dpartements, os municpios e as direes regionais do
Ministrio da Cultura, por sua parte, necessitaminformaes detalhadas, locali-
zadas e nominativas. Por exemplo, quais so os beneficirios dos subsdios, a
evoluo do gasto ano a ano, a localizao geogrfica do gasto.
, portanto, necessrio desenvolver o estudo e a produo de indicadores
locais e regionais para umconhecimento mais detalhado da economia da cultura,
do seu financiamento pblico, do emprego cultural, das prticas e dos pblicos,
para realizar as comparaes inter-regionais que atualmente no existem.
Umponto de conflito que reflete tambmvises opostas da descentrali-
zao saber se h ou no comunho de interesses regionais entre os servios do
Estado e as coletividades territoriais.
Impe-se definir umquadro nacional que fixe as regras, apesar do obstculo
que constitui a soberania de cada regio. Essa situao no se encontra somente
na Frana: o Reino Unido e a Espanha conhecem semelhantes evolues e
contradies.
Para voltar ao tema das bases de dados para a cultura ou para restringir o
campo para a poltica cultural, convmrecordar que uma base de dados no um
estudo ou uminqurito. Para que haja uma base de dados, preciso que haja
coerncia e permanncia dos dados recolhidos, o que implica uma seleo rigorosa.
Um sistema centralizado ideal produziria dados nacionais e esses dados no
so os mesmos a seremutilizados emcomparaes internacionais. Ele centralizaria
dados regionais e locais produzidos por suas delegaes regionais e produziria
dados para as comparaes inter-regionais.
O sistema assim definido complexo, exigente e oneroso. Em quarenta
anos de produo de informaes sobre a poltica cultural, o DEP no conseguiu
ou renunciou a construir um sistema to amplo, apesar da autoridade poltica e
dos recursos que lhe foramfornecidos.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 156
157
Ent r e mit o e r ealidade: Quar ent a anos de pr oduo de indicador es cult ur ais na Fr ana
Entre esse sistema centralizado e as carncias atuais, porm, h lugar para
muitas iniciativas. O importante a finalidade, os objetivos, as prioridades e
as regras. Deve-se comear sempre por um inventrio minucioso do que existe.
Depois poder ser desenhada uma estrutura, talvez com produtores descentraliza-
dos ou associados e procedimento contratual entre a autoridade responsvel e os
produtores.
Se me permitiremuma expresso mais pessoal, gostaria de me referir
dimenso latino-americana. Parece-me que esta no se deve manifestar apenas em
afirmaes de identidade comum origem, situao econmica, social e poltica ,
mas tambmno conhecimento recproco, no recolhimento de informaes e dados,
no esforo de formulao de definies comuns escala do seu continente, na
criao de indicadores que sejam capazes de descrever sua realidade cultural.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 157
159
Em seu ensaio Motsdepasse, Jean Baudrillard compara o mundo virtual com
a imagemde Borges de umpovo condenado ao ostracismo, desterrado ao outro
lado do espelho, e que s o reflexo do imperador que o temescravizado. Na
fbula borgiana, os povos presos no espelho fazemo possvel para assemelharem-
se cada dia menos ao seu dominador e assimretornarema este lado do espelho, ao
da realidade real. Umsistema de informao deve expressar a heterogeneidade, a
riqueza de vozes, facetas e oportunidades de umpas para que a diversidade cultural
mantenha toda a sua vivacidade.
Cultura, mercado e economia na globalizao
A irrupo das novas tecnologias na economia mundial est transformando
radicalmente a maneira de criar, produzir, distribuir e consumir os produtos
culturais. As telecomunicaes e a sua aplicao comercial nas empresas esto
originando o nascimento de novos setores industriais que obrigam a uma reviso
da definio clssica do produto cultural.
Essa globalizao das comunicaes, facilitada pelo desenvolvimento
espetacular das tecnologias da informao e a criao de redes mundiais, tem
potenciado enormemente os intercmbios de bens culturais. Esse fenmeno fez
10. A comunicao no fomento deprojetos
culturais para o desenvolvimento
1
Edgar Montiel
1
O autor agradece a colaborao de Dacia Viejo Rose, consultora da Unesco, na elaborao deste texto.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 159
160
comque o setor dos bens culturais se tornasse umdos ramos de maior crescimento
na economia mundial.
Prova disso que, de acordo como Relatrio da UNESCO 1980-1998, as
importaes de bens culturais, emnvel mundial, passaramde US$ 47,8 bilhes em
1980 para US$ 213,7 bilhes em1998. As exportaes, por sua vez, passaram, no
mesmo perodo, de US$ 47,5 bilhes para US$ 174 bilhes, ainda que esse fluxo
de bens culturais se concentre emumnmero limitado de pases. Em1998, ape-
nas treze pases, Estados Unidos, Japo, China e pases da Unio Europia, eram
responsveis por mais de 80% das importaes e exportaes. Os pases do hem-
isfrio sul so marginais nesse campo, mas so grandes consumidores. Apesar de
uma queda em seu mercado, os Estados Unidos seguem constituindo o mais
importante mercado de bens culturais.
A informao tem-se convertido emumimportante motor para a economia
mundial; situao que vem sendo utilizada pelas indstrias culturais, que encon-
tramuma atividade muito rentvel na difuso de filmes, CDs e vdeos, pginas de
internet e todo o imaginrio simblico contemporneo. Coma incorporao da
tecnologia, que se torna cada vez mais acessvel, chegando a amplos estratos
socioeconmicos, as sociedades tm-se visto abastecidas por uma oferta cultural
semprecedentes. Pode-se falar de uma cultura do virtual ou de cibercultura. Os
novos produtos da comunicao internet, os CDs ou os discos DVDs ,
constituem-se nos novos suportes de difuso da cultura. Esses esto sendo
especialmente utilizados pelos grandes museus que participam ativamente no
nascimento dessa nova indstria cultural.
Porm, essas novas formas de transmisso e assimilao do conhecimento
no esto ainda ao alcance da economia popular. necessrio assinalar que o
intercmbio de smbolos muitas vezes no eqitativo. Existemgrandes assimetrias
nos intercmbios de bens culturais entre os pases desenvolvidos e os pases em
vias de desenvolvimento.
Segundo o Relatrio do Instituto de Estatstica da UNESCO, o volume de
bens culturais exportados pelos pases desenvolvidos, que apenas representam23%
da populao mundial, correspondeu a US$ 122,5 bilhes em1998 contra US$
51,8 bilhes para os pases emvias de desenvolvimento, que representam77% da
populao mundial. Do mesmo modo, segundo a revistaFuentes, da UNESCO, a
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 160
161
oferta de filmes nos videoclubes latino-americanos est composta entre 70 a 90%
por cinema norte-americano e 70% das pginas da internet so igualmente de
origemestadunidense.
Esse comrcio multimilionrio de bens culturais concentrou-se em sete
grandes consrcios, que anualmente mobilizamUS$ 10 bilhes emnegcios. So
empresas muito prsperas. Esses grandes consrcios intervmemtodo o processo
da produo. No caso de umfilme, por exemplo, eles contratamo roteiro, os artis-
tasexclusivos, os cenrios, a produo e a distribuio. Compraram muitas salas
de cinema na Europa em Paris havia muitas salas de cinema onde se exibiam
pelculas cultas, de catlogo. Esses cinemas so cada vez em menor nmero.
Participam tambm dessa promoo milionria, o monoplio das pipocas, dos
chocolates, dos picols, dos sorvetes. Esses consrcios tambmmanipulamo rdio,
a televiso, as grandes cadeias de jornais, compraram quase toda a imprensa
europia.
A interveno desses grandes consrcios, no entanto, vai almdo processo
de produo e interfere tambmno mbito intelectual. O caso do filme O senhor dos
anis, umexemplo. Nos primeiros quatro meses de apresentao, comcemmilhes
de espectadores, pagando j os custos do filme, tempoderosos efeitos ideolgicos.
O autor do roteiro, John Ronald Reuel Tolkien, umhomemmuito criticado em
certos setores da literatura inglesa por suas posies de extrema direita. Suas men-
sagens vo sendo largamente difundidas. Nada feito de forma inocente.
O que acontece quando a difuso de produtos simblicos est monopoliza-
da por umgrupo de grandes consrcios? Como se podemcriar alternativas?
Trata-se de criar uma base econmico-social local auto-sustentvel no
tempo, vinculada ao carter cultural do territrio, ao resgate de suas tradies e ao
processo de recuperao de seus valores, comconseqente gerao de empregos.
Colocar emprtica circuitos de distribuio adequados e eficazes da oferta cultural
significa liberar os limites horizontais da cultura. Distribuir a oferta cultural mais
eqitativamente, comperspectiva de formao de novos participantes ativos na vida
cultural criativa. Isto implica criar e atrair novas audincias, aprofundar o conheci-
mento naquelas quej tmacedido a umconsumo artstico ecultural e, emparticular,
integrar as comunidades na animao, gesto, financiamento e promoo da cultura
e das artes.
A comunicao no f oment o de pr ojet os cult ur ais par a o desenvolviment o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 161
162
Os poderes pblicos e as grandes empresas de comunicao tmumpapel
essencial a desempenhar para manter o equilbrio entre a diversidade cultural e a
homogeneizao que conduz globalizao. Por razes de rentabilidade ligadas s
grandes massas, as indstrias culturais hegemnicas tendema impor umuniverso
simblico padronizado. A produo cultural industrializada destina massa de
consumidores mensagens fora do territrio, comcertos rasgos de identidade
denominados pelo antroplogo Renato Ortiz folclore internacional popular.
Os consumidores de diferentes regies do mundo so capazes de decifrar as
mensagens de ummundo imaginativo semfronteiras composto por umrepertrio
de smbolos modulados. A homogeneizao dos gostos, das linguagens e valoraes
permite s indstrias culturais criar mercados de consumo mais amplos para
seus produtos.
A criao cultural se converte em produo mercantil ou cultura comer-
cializada, uma atividade empresarial; conseqentemente, o consumo cultural se
faz consumo mercantil. A indstria de estilo hollywoodiana v-se beneficiada
quando a maior quantidade de indivduos no mundo assumem como vlidos
e desejveis suas estticas e modelos narrativos. Para conseguir esse objetivo, as
indstrias culturais dos pases desenvolvidos se valem de uma impressionante
parafernlia de recursos de seduo, desde os mais explcitos at os mais sutis,
extrados de estratgias de promoo e de marketing que tendem a produzir
uma massificao simblica.
Neste mbito, a publicidade tem-se convertido no setor que melhor sabe
promover um produto e impor a escala quase mundial, apesar das diferenas
culturais, sociais e econmicas. Os smbolos propostos pela publicidade so
conhecidos em quase todo o mundo. Seguindo o modelo das grandes empresas
de comunicao, a publicidade tem conseguido espalhar sua influncia no terreno
cultural. Graas a suas estratgias de marketing, tem conseguido impor em todos
os setores da vida social os mesmos cdigos e referncias culturais em todo o
planeta.
A publicidade, ao padronizar as interpretaes, possui o poder de orientar o
gosto e a sensibilidade das pessoas emqualquer setor da vida, aumentando a sua
capacidade de penetrao de maneira significativa nos ltimos anos, e isso se con-
firma, sobretudo, pelo estreito vnculo que existe entre os meios de comunicao
e a publicidade. Isto afirma a interdependncia entre ambos os setores.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 162
163
Assim, os gastos publicitrios mundiais multiplicaram-se por sete entre
1950 e 1996. Os lucros do setor da publicidade foram de US$ 429 bilhes em
1999, e se prev umaumento nos prximos anos.
A atividade crescente desse setor tem-se manifestado por uma tendn-
cia concentrao: do mesmo modo que os grupos de comunicaes, existem
agora cinco grupos no setor da publicidade que dominam o mercado mundial.
Resulta deste gigantismo publicitrio a difuso dos mesmos smbolos por
todo o planeta. E a dimenso da publicidade tal que nenhum campo de
experimentao escapa: agora quase tudo pode ser utilizado de maneira
simblica.
Qual o impacto de uma concentrao, como a que ocorre na publicidade,
nas nossas cabeas? Tudo isso gera uma revoluo no plano simblico, no compor-
tamento, nos hbitos de consumo, porque os consrcios de tecnologia e de publi-
cidade esto muito sintonizados, presentes em todo o mundo. Esse processo
de concentrao gerou uma nova ordem simblica, que nos assedia. Estamos
produzindo uma saturao de modelos.
uniformizao simblica da globalizao da mdia, no entanto, tem expe-
rimentado uma valorizao das culturas locais. Essa valorizao de danas,
comidas, lnguas e prticas tradicionais tem dado lugar a um renascimento do
pluralismo cultural. H que se aproveitar este momento para dar voz a essa plu-
ralidade de expresses e tradies de maneira que favorea e seja rentvel a seus
autores diretos, e no acabe como riqueza econmica nas mos de um par de
monoplios internacionais.
Para que essa criatividade seja rentvel para seus autores, para dar voz
difuso de outros smbolos h que se reconhecer e apoiar as pequenas produtoras,
criadores e distribuidores que tambmgeramriqueza, emprego, utilizando precisa-
mente as novas tecnologias da informao.
Se aquele que ocupa uma posio poderosa na sociedade tem o poder de
manipular smbolos e de estabelecer umconsenso a respeito do seu significado,
tambmaquele, o que cria esses smbolos, temesse tipo de poder. Por isso h que
se entregar o poder de produzir e distribuir suas criaes a todo artista, arteso,
criador de smbolos e imagens.
A comunicao no f oment o de pr ojet os cult ur ais par a o desenvolviment o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 163
164
Assim poder a Amrica Latina se centrar mais na divulgao dos seus
smbolos, costumes, valores, mentalidades, crenas, gostos, comidas, canes,
narraes, ou modas de todas suas regies. H que se devolver esfera cultural
seu aspecto relacional entre o indivduo e seu contexto imediato, uma vez que o
artista quemtraduz essa realidade de forma que se possa ver e melhor compreen-
der o que nos rodeia e nos abre caminhos.
O papel da informao cultural no desenvolvimento cultural
A criao de sistemas de informao cultural e de redes de bancos de dados
constitui uminstrumento-chave para as polticas culturais, a cooperao cultural e
o desenvolvimento da vida cultural. Essa circulao de informao se transforma
emquesito para atingir aes culturais macias e de impacto.
Chegado o momento de ampliar ou avaliar suas polticas culturais, os
governos necessitamter umconhecimento cuidadoso da realidade cultural dos seus
pases. Necessitam saber quais so os problemas presentes e as tendncias
previsveis, quais as necessidades e aspiraes culturais, os recursos e disposies,
quemso os atores e interlocutores comos quais se pode contar. Necessitamde
informao coerente, atualizada e confivel para assimpoderemcoordenar esforos
na preservao do patrimnio cultural, a promoo cultural e adaptarempolticas
e prioridades de acordo com as mudanas das realidades. Por intermdio de
um intercmbio de informao, os administradores de projetos podemou no se
beneficiaremdas experincias de sucesso.
Como adotar a legislao apropriada? Como identificar prioridades
estratgicas de uma poltica cultural plural e democrtica, ou como fazer o
melhor uso possvel dos escassos meios disponveis para a cultura se no temos
um sistema integral de informao sobre o que est se passando realmente
neste terreno?
Os profissionais da cultura, os artistas, as instituies e associaes tambm
necessitam saber onde podem obter apoio para suas iniciativas. Dependendo da
demanda e das tendncias do mercado, produtores e artistas devem se informar
quanto s expectativas do pblico para que suas obras se difundamlocal, nacional
e internacionalmente.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 164
165
O papel da informao cultural est ganhando importncia tendo em vista
a recente evoluo dos mercados culturais e as polticas de descentralizao na
ltima dcada, que temdado lugar ao surgimento de novos protagonistas na vida
cultural. Entre as transformaes mais importantes est o papel cada vez mais
relevante de autoridades locais e regionais, da sociedade civil, do setor privado e
de associaes e fundaes de todo tipo, organizaes profissionais, indstrias
culturais e de mercado. Apoiando-se nas possibilidades oferecidas pelas novas
tecnologias de comunicao, as indstrias culturais locais e transnacionais esto
fabricando e distribuindo produtos e servios culturais, cruzando fronteiras,
inseridas no processo de globalizao como pano de fundo.
Muitas das decises que afetama vida cultural no se limitamao prprio
setor cultural, mas tambms reas da poltica social, educao, comunicao,
desenvolvimento urbano erural, ultrapassando o alcancedos quetrabalhamempolticas
culturais. As polticas culturais do Estado tiveramque passar da interveno direta
para umsistema de coordenao e concentrao, monitoramento e regulao da
ao de mltiplos interlocutores e stakeholders. A nica maneira para as autori-
dades pblicas fazerem frente a esse processo mantendo-se continuamente
informadas das realidades empermanente mudana. Faz-se necessria a criao de
estruturas apropriadas para a pesquisa e informao cultural. H que se sublinhar
que umsistema de informao deve operar como uma estrutura baseada numa rede
de informao livremente acessvel e conectada a bases de dados profissionais.
A importncia de integrar a informao cultural em estratgias de
desenvolvimento
O enfoque da informao cultural deve transcender ao dos assuntos propria-
mente culturais. A reflexo feita pela UNESCO nos ltimos vinte anos, no marco
da Dcada Mundial da Cultura e Desenvolvimento e a Comisso Mundial sobre
Cultura e Desenvolvimento, temmostrado que o desenvolvimento humano dur-
vel, a prtica efetiva de direitos humanos e democracia autntica no podemser
alcanados quando se ignoram as complexas interaes desses processos com a
cultura, entendida emseu mais amplo sentido antropolgico:
O desenvolvimento umprocesso complexo, holstico e multidimensional
que vai alm do crescimento econmico (...) apenas pode assegurar-se um
A comunicao no f oment o de pr ojet os cult ur ais par a o desenvolviment o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 165
166
desenvolvimento equilibrado mediante a integrao dos fatores culturais
nas estratgias para atingi-lo; emconseqncia, tais estratgias deveriamcon-
siderar sempre a dimenso histrica, social e cultural de cada sociedade.
2
Dessa perspectiva, o papel da informao cultural adquire umsignificado
mais amplo e demonstra que o problema da informao cultural no pode ser
abordado unicamente de maneira setorial, tcnica ou instrumental.
No contexto da Dcada Mundial da Cultura e Desenvolvimento foram
organizadas vrias reunies acerca de sistemas de informao cultural e foram
iniciados dois projetos regionais e um internacional: o Sistema de Informao
Cultural para Amrica Latina e o Caribe (Siclac), o Sistema de Informao
Cultural para frica do Sul (Sacis); e a rede internacional Culturelink. Esses
esforos tinham como objetivo maior a harmonizao dos mtodos para
processar e intercambiar informao, o que era absolutamente necessrio.
Hoje, necessitamos avanar para que os sistemas de informao cultural
no fiquemapenas emagendas de atividades culturais, mas que se convertamem
verdadeiro instrumento de fomento de projetos, canalizando as energias empreende-
doras na cultura. Os sistemas de intercmbio e coleo de informao cultural
devemtambmadquirir uma qualidade de inventrio de idias que demlugar a um
consumo cultural e valorizao da cultura local. Dessa forma, podero tornar-se
promotores de projetos culturais, gerando atividades capazes de criar empregos e
de estimular a vida econmica e social ou fomentando, por outro lado, festivais,
feiras, desfiles de moda, gastronomia, artesanato, espetculos populares, etc.
Tal sistema poderia beneficiar no apenas aqueles j envolvidos ematividades
culturais, mas tambmtoda a populao, tendo assimumefeito multiplicador e
tornando-se instrumento eficaz, no s de desenvolvimento cultural, como tambm
da luta contra a pobreza e da integrao social pela via da cultura.
Todos sabemos das limitaes oramentrias das instituies culturais e
conhecemos, ao mesmo tempo, a efervescncia criativa, a quantidade de projetos
e iniciativas culturais da comunidade. Diante dessa assimetria convm recorrer
a solues imaginativas e prticas. A respeito, oportuno mencionar, como
2
Declarao do Mxico, Conferncia Mundial sobre Polticas Culturais (Mundiacult), Mxico,1982.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 166
167
experincia, as recomendaes da misso tcnica da UNESCO ao Plano Decenal
de Cultura proposto pelo governo da Repblica Dominicana. Sublinham-se alguns
aspectos referidos relao cultura e desenvolvimento, ao vnculo entre cultura,
economia e participao social.
1. Relao Cultura e Desenvolvimento. No se trata apenas do desenvolvi-
mento da cultura para o prprio setor cultural, seno que a cultura seja a alavanca,
o ponto de apoio, para atingir objetivos no plano do desenvolvimento econmico,
social e cultural. Nessa estratgia de luta contra a pobreza, imperativo superar
uma viso elitistae culturalistapara adotar umenfoque mobilizador daenergiacria-
tivada sociedade emtermos produtivos e empresariais. H que se irrigar a criatividade
da arte e da cultura para a educao, a poltica, a economia e a cincia.
2. Fomento da micro e da pequena empresa cultural. til elaborar um
inventrio de atividades de ndole cultural susceptvel de se transformarem em
atividades empresariais, como o turismo cultural, o fomento ao artesanato, empre-
sasde espetculos populares, agncias de turismo, galerias de arte, cursos de dana,
cursos de arte, edies populares de livros, de fitas cassetes e CDs, rdios comu-
nitrias, cursos de confeco comidentidade, farmcias tradicionais, gastronomia
local etc. Trata-se de fomentar iniciativas socioculturais que sejameconomicamente
sustentveis. A micro e pequena empresa a empresa ao alcance dos pobres.
3. Adequao institucional. A cultura uma atividade que requer cooperao
intersetorial, entre os ministrios que se ocupamda cultura, da educao, bem-estar
social, trabalho/ emprego, comrcio e economia. A cultura, estando no corao de
toda ao humana , indiscutivelmente, um tema transversal que toca muitos
mbitos. Ser necessrio adequar a estrutura institucional da Secretaria de Cultura
aos objetivos de desenvolvimento que se apresentam pela via da cultura. H que
fomentar intencionalmente a relao da cultura comos seguintes setores:
a) A vinculao orgnica entre cultura e educao: educao artstica,
educao cultural, criao da demanda social em massa etc. O fomento
macio de projetos culturaisa ser realizados por estudantes e professores.
necessrio gerar novos consumidores de smbolos, ou seja, dar s crianas
a possibilidade de discernir sobre o que esto vendo na televiso. A
UNESCO hoje defende que se ensinem culturas, no exclusivamente
geografia ou histria, mas que se ensine, por exemplo, a uma criana europia
A comunicao no f oment o de pr ojet os cult ur ais par a o desenvolviment o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 167
168
como conviver comuma criana mulumana ou coreana, que comemde forma
diferente e crememoutras crenas, mas que brincamjuntas no ptio da
escola. Os maiores nveis de conflito vmda falta de dilogo intercultural.
Essas crianas que ficamde sete a oito horas na escola precisamdesse apren-
dizado, no de forma terica, mas de forma prtica, para que na sua vida
futura vivamtranqilamente como seu vizinho.
b) A vinculao cultura e economia: programas de turismo, artesanato,
criao de empresas e instituies culturais etc. Essa unidade dever estar
conectada com as outras instncias econmicas do aparelho estatal
(Ministrio do Turismo, da Indstria e Comrcio, do Emprego, etc.).
c) A relao de cultura e qualidade de vida: sade, fomento dos estudos
culturais, incluindo uma Escola de Gesto da Cultura para formar quadros
com viso empresarial, e uma Unidade de Estatstica, que servir para a
tomada de decises nas aes de polticas culturais.
d) Criar uma unidade que capte, de modo permanente, recursos econmicos
externos de cooperativas, bancos, mecenas, empresas dominicanas do
exterior , visando procurar patrocinadores permanentes para os projetos
do setor cultural.
e) Criar um Fundo para o Desenvolvimento da Cultura e das Artes, com
uma concepo empresarial que rena recursos do Estado, do setor privado
e da sociedade civil.
4. Direito cultura. Os projetos tero maiores possibilidades de sucesso se
incorporaremo acesso macio cultura como varivel permanente. Trata-se de
ampliar a demanda e a oferta cultural, a cultura como umservio pblico e social,
mas, tambm, como uma experincia de vida. Seria conveniente elaborar programas
de participao emmassa para a juventude, como ocorre comas feiras de livros, em
concursos de msica, de pintura para os escolares, emvisitas aos museus, galerias e
espetculos, turismo cultural, concursos de gastronomia e umprograma nacional
de festividades: o dia nacional da msica, da dana, do livro, da inventiva, etc.
Procurar nessas atividades a participao em massa e o impacto econmico em
escala nacional. Uma recente experincia de turismo social no Peru mobilizou
trs milhes de pessoas durante um longo fim de semana.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 168
169
5. Vinculao com os setores sociais. Para uma maior participao e a
obteno de efeitos multiplicadores, o estabelecimento de vnculos srios e orgni-
cos com as ONGs altamente recomendvel. Deve ser considerada a proposio
de uma lei de fomento da vida associativa com fins culturais e educativos.
Algumas experincias da UNESCO
1. Por intermdio do PrmioUNESCOCidadespelaPaz, celebrado a cada dois
anos, possvel recompensar iniciativas municipais que permitam consolidar a
coeso social, melhorar as condies de vida nos bairros mais vulnerveis e
criar uma convivncia urbana harmoniosa. A UNESCO d visibilidade
internacional s iniciativas mais inovadoras efetivadas pelas cidades candidatas ao
inclu-las na base de dados A cidade: rededeculturas. As cidades candidatas ao Prmio
podem tambm participar da RedeUNESCO Cidades pela Paz, formada por
atores locais e outros interlocutores pertinentes. Essa rede permitir identificar,
avaliar e difundir informao sobre boas prticas, instituies de financiamento,
oficinas de formao, projetos de pesquisa, etc.
Essa maneira de administrar umprmio permite a criao de uma base de
dados de melhores prticas, projetos existentes, pessoas trabalhando no tema, e lhes
d a possibilidade de se contatarem. Por exemplo, os 45 projetos apresentados
por pouco mais de quinze cidades brasileiras desde comcios do Prmio, podem
ser consultados na base de dados do prmio disponvel pela internet. Pode-se,
assim, acessar a uma descrio do projeto e informao de contato com a
equipe municipal que o realiza. Emumprimeiro momento pensou-se estabelecer
redes regionais entre as cidades, pormessa idia inicial est-se tornando uma ini-
ciativa para criar uma rede que unifique observatrios regionais, incluindo-se as
prefeituras.
Como se pode ver, por intermdio do Prmio Cidades pela Paz, fazer uma
convocao ou um concurso para projetos uma forma de acumular informao a
respeito do que se est fazendo e ao mesmo tempo de promover projetos. Isso
ocorre igualmente quando se trata de projetos comumenfoque sociocultural. O
projeto Culturama, apresentado pela Cidade do Mxico ao Prmio Cidades pela
Paz 2000-2001 o exemplo de um projeto que tem como finalidade a criao
de uma rede de informao cultural. O Instituto de Cultura da Cidade do
A comunicao no f oment o de pr ojet os cult ur ais par a o desenvolviment o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 169
170
Mxico (criado em 1998) incluiu entre suas funes a de desenvolver e man-
ter um sistema de informao que difunde da maneira mais ampla possvel as
ofertas culturais pblicas e privadas na cidade.
2. A Aliana Global para a Diversidade Cultural promovida pela UNESCO
explora novos caminhos para garantir uma oferta de bens e servios culturais mais
variada e equilibrada. Por meio de acordos multilaterais entre scios Norte-Sul;
a Aliana Global articula-se emtorno de dois pilares estratgicos: o desenvolvi-
mento das indstrias culturais locais e a proteo do direito de autor. A Aliana
promove projetos de cooperao multilateral para destin-los ao apoio emescala
local do desenvolvimento das indstrias culturais, assim como a favorecer um
melhor cumprimento do direito de autor e dos direitos conexos, entre o setor
pblico, o setor privado e a sociedade civil.
3. Rede de Ctedras UNESCO sobre a gesto cultural e a administrao
de instituies culturais e a criao de uma rede entre observatrios da diversidade
cultural e de polticas culturais.
4. Projeto de cooperao UNESCO-Sida: Cultura emao para o desenvol-
vimento. De acordo comos princpios elaborados e o Plano de Ao de Estocolmo,
est se estabelecendo um programa de cooperao com a Agncia de Cooperao
Internacional Sueca. Esse projeto dar uma nfase importante em promover a
criatividade cultural como fonte de progresso humano e da diversidade cultural,
j que como tesouro da humanidade resulta essencial para o desenvolvimento.
O objetivo dessa cooperao ser implementar atividades que respondam
necessidade dos processos de desenvolvimento de estar ancorados na diversidade e
foras vitais inatas de culturas e sociedades, uma necessidade sublinhada pela
Comisso Mundial sobre Cultura e Desenvolvimento e a Conferncia Intergover-
namental de Estocolmo sobre as Polticas Culturais para o Desenvolvimento.
Essa cooperao, juntamente com os planos de trabalho da Seo de
Cultura e Desenvolvimento da UNESCO, implementa de maneira ativa e rele-
vante as recomendaes resultantes de Estocolmo pela estimulao da criao de
projetos socioculturais sustentveis e de um plano de pesquisa e capacitao
integral para os pases do Sul. A nivelao do desenvolvimento e da cultura no
deve acabar destruindo as duas partes nem deixando atrs um cataclismo. No
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 170
171
se trata de tirar mais dinheiro ainda dos rubros produtivos relacionados com a
cultura, nem de aumentar a capacidade de cada umpara adquirir cada vez mais
bens e servios artsticos e culturais como se se tratasse de consumir hamburguesas.
Desenvolvimento e cultura configuramumcasal que deve aumentar a nossa capaci-
dade de nos entendermos mutuamente, de nos assumir e de nos comportar como
nosso dever de seres humanos. A cultura tem que ser matria de superao
humana coletiva, como desejo de entender o termo coletivo como a possibilidade
de que todos participem. (AURA, Alejandro, Laculturacomodimensocentral do
desenvolvimento O programacultural daCidadedoMxico).
Necessidades tcnicas mnimas de um sistema de informao cultural
Umsistema de informao cultural, muito mais que uma coleo de dados,
temque ser umlugar de encontro. Coma participao da comunidade ao longo de
todo o processo a fimde adequar o sistema s necessidades dos beneficirios. Esse
dilogo com os beneficirios permitir desenvolver projetos mais eficazes e com
maiores probabilidades de durabilidade e impacto. Para favorecer essa durabilidade
esto as alianas que se precisa criar entre o setor empresarial e a sociedade civil
com as instituies pblicas para facilitar essa colaborao. Tambm, e para que o
intercmbio de informao no fique apenas no mbito do virtual, seria impres-
cindvel habilitar espaos de encontro e intercmbio que opere como quartel-
general para as atividades nas quais embarquemjuntos os diversos setores.
Seria tambmbenfico ter uma estrutura de pessoal e material que possa
monitorar e ser motor para o sistema.
Necessidades tcnicas de um sistema de informao cultural
Capacitao do manejo da equipe de informtica e das ferramentas de
desenvolvimento.
Necessidade de estabelecer contatos comentidades diversas para reunir
informao, adotar idias e sugestes, visando melhorar a quantidade e a
qualidade do contedo e manipular as ferramentas adequadas para o desen-
volvimento e manuteno do portal.
A comunicao no f oment o de pr ojet os cult ur ais par a o desenvolviment o
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 171
172
Mosaico coerente de expresses da diversidade cultural.
Incorporao das atividades culturais das organizaes civis.
Ummeio para expressar a vida cultural e o talento criativo do pas.
Estabelecer slidos enlaces permanentes entre os diversos atores entre
instituies educativas, dependncias governamentais, mecanismos de
financiamento, empresariais... a fimde promover as atividades que realizem
pela rede.
Difuso de eventos, de concursos, de possibilidades de financiamento.
Melhorar o conhecimento do patrimnio.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 172
173
Alguns dados
Pretendamos comear esta apresentao citando algumas cifras relativas
contribuio da cultura economia, como, por exemplo, dizer que nos Estados
Unidos, no Reino Unido e emvrios pases latino-americanos essa importncia
supera 5% do PIB, gerando taxas de emprego e renda mais altas que emoutros
setores importantes, como a indstria automotiva, a agricultura, etc. Mas
retomando parte do que disse Alfons Martinell, Ana Mara Ochoa e outros, a
cultura no vive apenas da economia. Tambm gera uma ampla gama de mais-
valias: identidades, coeso social, cio, segurana, antdotos contra o medo etc.
Ainda reconhecendo a existncia dessas mais-valias, pelo menos no contexto
latino-americano, apresenta-se o problema, como assinalou Garca Canclini, das
empresas transnacionais, que ficamcoma maioria dos lucros de algumas indstrias
culturais, o que significa que esse continente est se transformando em uma
espcie de maquiadora cultural, onde se explora no somente o trabalho das
pessoas e os recursos materiais, mas tambm seu patrimnio, sua memria e o
seu capital intelectual.
Diante dessa situao alarmante, evidente que os pases latino-americanos
tmde gerar polticas de regulao e incentivo para evitar essa explorao, que no
estruturalmente diferente das anteriores, feitas emoutros mbitos e comoutros
recursos. Razo pela qual se realizaram esforos na linha das bases de dados
econmicos, como constatamos nos trabalhos do Convnio Andrs Bello ou nos
11. Para umbanco dedados quesirva
George Ydice e Sylvie Durn
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 173
174
de Octavio Getino. Esses estudos se propema persuadir os governos para legislar
polticas de regulamentao e de incentivo, tomando como modelo os estudos
feitos nos Estados Unidos, no Reino Unido e emoutros pases europeus.
Essa premissa, de orientar umbominvestimento a partir essencialmente da
lgica de mercado, parte do que se teria de estudar mais a fundo, pois como
assinalamalguns autores, a cultura umsistema complexo e no se pode limitar ao
bomuso dos bancos de dados, aos enfoques que s do prioridade ao lucro e ao
emprego.
Pressupostos
A nossa interveno parte de vrios pressupostos:
1. os bancos de dados consistem em sistemasdecategoriasem relao aos quais
se capta informao;
2. os bancos e seus componentes categoriais so selees que permitemcriar
mapas teis de uma realidade cada vez mais complexa e que nos permitamnela nos
localizarmos de maneira pertinente, tomar decises ou assumir posies;
3. essa seleo no nunca neutra, mas est condicionada por necessidades,
interesses e tendncias especficas;
4. portanto, no se trata de instrumentos plenamente objetivos, mas que
servempara potenciar algumas instituies, comunidades indivduos, empresas,
manifestaes, etc. em sua visibilidade e na distribuio e no uso dos recursos
associados a eles;
5. essas caractersticas no invalidamos bancos de dados, mas proporcionam
as condies para assumi-los como instrumentos de persuaso, cujos componentes
e formas de operar so sempre questionveis e opinveis, ou seja, devemestar abertos
ao debate pblico;
6. portanto, requer-se a incorporao de opes flexveis no desenho e na
concepo dos bancos de dados, assunto que propomos na concluso.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 174
175
Par a um banco de dados que sir va
Passemos, ento, a discutir alguns casos emrelao a esses pressupostos.
As indstrias culturais
No primeiro caso, a promoo das indstrias culturais se baseia com
frequncia numa anlise de rentabilidade que se projeta a partir de umalgoritmo
que tem em conta os criadores de contedos, a infra-estrutura de servios
disponveis para a produo e distribuio, e o nmero de consumidores. Neste
caso, analisado por Luis Stolovich, a informao trata das condies mnimas
de disponibilidade e diversidade de artistas, empresas e consumidores. Fazendo o
clculo de possibilidades de desenvolvimento da indstria da msica emumpas
pequeno como o Uruguai, fica evidente, como argumenta Stolovich, que no se do
condies para atingir uma diversidade de manifestaes artsticas de qualidade
internacional, pois para isso se requer uma massa crtica de artistas e infra-estru-
tura que no existem. Trata-se do fator de escala. Esse mesmo fator explica que
no Uruguai s uma mnima porcentagem, 11%, do repertrio vendido ou difun-
dido nas emissoras de rdio corresponde ao repertrio nacional.
Frente a esse fator predominantemente mercadolgico, Stolovich considera o
fator poltico de protecionismo, que explica (s emparte, segundo ele) que o rock
nacional tenha tido tanta difuso nas emissoras de rdio argentinas durante a
guerra das Malvinas, quando foi proibida a msica emingls. Analogamente,
Stolovich argumenta que a Lei Sarney, que fomentou os descontos nos impostos
dos gastos de produo de artistas no Brasil, tornou possvel que a venda de
repertrio musical brasileiro duplicasse dos 30% para 65%. A capacidade de
difundir msica nacional emto grande escala como a brasileira explica tambm
que essa msica oferea maiores possibilidades de atingir qualidade inter-
nacional.
Esse esforo de sistematizao da informao no Uruguai centra-se, pois, no
mercado e nas indstrias culturais. Qual seria a necessidade, premissa ou objeto
que estruturamneste caso a sistematizao da informao?As categorias e estudo
proposto contrapem produo nacional e produo internacional. Poder-se-ia
interpretar que o objeto ou bemevidenciar os efeitos de determinadas leis prote-
cionistas ou bemdetectar e promover estratgias que fortaleamas oportunidades
de posicionamento no mercado da produo nacional emrelao internacional.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 175
176
Neste caso, a referncia para avaliar a competitividade quanto ao mercado
nacional; os elementos estratgicos e compensatrios que afetama competitividade
dessa mesma produo no mercado internacional exigiriam, possivelmente, outras
consideraes.
A anlise de Stolovich muito rica e revela outros fatores interessantes
que no cabe mencionar aqui. Interessa-nos assinalar que o marco analtico que
trabalha Stolovich est estruturado emduas grandes categorias: msica interna-
cional e msica nacional. Essas so apropriadas para adequar as possibilidades
de incidncia no mercado do disco e na radiodifuso, mas no para o conjunto
das outras atividades musicais, que geram mais-valias que no so puramente
econmicas ou que no coincidem com o mercado formal: msica nas frias,
concertos de amadores, produo de grupos tnicos ou minoritrios, produo
e distribuio independente, etc.
O quadro que nos apresenta Stolovich contrape, portanto, a viabilidade
da msica produzida e distribuda pelas empresas transnacionais, apoiada no
marketing, na aquisio de canais de distribuio e difuso, e inclusive na extorso
a DJs ou radioemissoras, a um potencial nvel nacional, que apoiaria algumas
expresses musicais desatendidas pelo mercado dominante das grandes corpo-
raes monoplicas, e nempor isso esgotaria as possibilidades musicais de uma
sociedade.
Se detalharmos o que se entende por msica nacional rock, msica
folclrica, msica tnica, etc. surgemoutras categorias que levama considerar
outras possibilidades de produo e difuso. Por exemplo, as msicas locais nas
emissoras comunitrias, que no se atma premissas internacionais ou nacionais.
O que predomina nessas emissoras so os assuntos locais de pouco interesse fora
do mbito local. Como se trata de iniciativas, que emsua grande maioria esto
arraigadas emcomunidades pobres, no est presente o marketing e, portanto, no
temdestaque na oferta promovida pelas empresas transnacionais. Por sua vez, nos
contedos dessas emissoras tampouco predomina ou de grande importncia o
cenrio nacional; prima o especificamente local.
O fato de que existamtantas emissoras comunitrias, como as milhares que
existem no Rio de Janeiro, as convertem em um instrumento apropriado para
difundir msicas e outras expresses locais. Mas, como se trata de umfenmeno
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 176
177
Par a um banco de dados que sir va
precrio muitas rdios desaparecem em breve tempo devido escassez de
recursos , requer-se a ao conjunta de vrios atores, desde os organizadores
comunitrios a simpatizantes dos meios at artistas reconhecidos que prestamseu
tempo por solidariedade para as ONGs que ajudam com seu know how. Andr
Midani, at pouco tempo presidente da Time Warner International Music, em
Nova York, voltou ao Rio de Janeiro justamente para ajudar essas emissoras
comunitrias a se profissionalizareme a se tornaremrentveis (MIDANI, 2002).
A rede que temajudado a criar se assemelha ao sistema de trocas e intercmbios
que descrevemos mais adiante no tpico sobre a Amrica Central.
No meio das rdios comunitrias, as categorias sugeridas por Stolovich
artistas, empresas e consumidores vem-se modificadas ou ampliadas. Por
exemplo, muito freqentemente, os mesmos ouvintes so os que proporcionam
os contedos. Portanto, no h uma separao entre artistas e consumidores.
Tampouco se pode pensar nessas emissoras como empresas no mesmo sentido
de uma grande ou inclusive de uma pequena empresa nacional como a Discos
Corasn, no Mxico, estudada por Ana Mara Ochoa.
Sobre essas ltimas, ainda que operemcomesse maior trao empresarial,
cabe dizer que o fato de que a Discos Corasn venda a maioria de seu repertrio
em feiras de artesanato isto , em mercados informais e, portanto, sem o tipo
de registro mais caracterstico das lojas especializadas permite refletir sobre
a relao entre dois aspectos importantes da indstria cultural: a prtica cul-
tural enquanto consumo estritamente vinculado ao mercado e economia, e
a prtica cultural que se sustenta vinculada a outras formas de circulao e
participao, como seria a prpria festa e, em geral, outros sinais e mecanismos
de identificao.
Nesses casos, vincula-se a atividade econmica comcomunidades estticas
especficas (OCHOA, 2002, p.4), que apenas, em parte, acomodam-se ao
conceito de nicho controlado nas indstrias culturais. Dito de outra forma se
vincula o consumo cidadania cultural, pois essa atividade se d emumcontexto
de participao cultural que transcende o mero fato de comprar umfonograma.
Poderamos refletir sobre essa observao e notar que categorias como
consumo e participao so, em realidade, complexos de atividades, que
necessrio desagregar para ter melhor e mais pertinente informao para atender
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 177
178
diferentes agendas e necessidades. Mais importante, ainda, a necessidade
de desagregar se quisermos obter dados para potencializar certas atividades e
mais-valias, que no caso de no se complementar ficam ocultas pelas categorias
escolhidas.
O Instituto Urbano nos Estados Unidos e a crtica aos
estudos de pblicos
justamente a ampliao das categorias predominantes nos bancos de dados
o que o Projeto de Indicadores Culturais do Instituto Urbano, dos Estados Unidos,
se prope para dar nfase quelas atividades comunitrias que no costumamse
registraremnos sistemas de informao tradicionalmente utilizados nesse pas. Esse
projeto toma como ponto de partida que a informao sempre deve servir para
objetivos especficos, pois as categorias que se manejam por exemplo, museus
e pblicos surgemde umtipo particular de atividade reconhecida. Portanto, as
categorias elaboradas a partir de uma prtica particular no necessariamente daro
luz sobre a intensidade de outro tipo de atividade.
Existem, por exemplo, muitos estudos de pblicos, tanto para mostrar que
os museus produzematividades e produtos para ser consumidos, quanto para
provar que tmefeito multiplicador j que esses pblicos pegamtransportes, se
hospedam em hotis e comem em restaurantes. O propsito desses estudos
avaliar se as instituies efetivamente proporcionamservios a toda a diversidade
demogrfica de umpas.
Como observa o Instituto Urbano, essa segunda caracterstica determinar
se h representatividade alenta o aspecto passivo do conceito de pblico, pois a
nfase recai na captao de pblicos (JACKSON, 1998, p.37-38), dado relevante
no contexto estadunidense porque a informao que se tem legitimado e se
considera necessria para convencer os financiadores (federais, estatais, regionais,
municipais e do terceiro setor) de que se est abrangendo a diversidade, con-
siderada em si como um bem em um pas multicultural.
Cabe explicar que a crtica a essa nfase na captao de pblicos emcontraste
coma participao ativa se d emumcontexto emque os financiadores pedem
prestao de contas, seguindo o modelo de custo/ benefcio que se limita a categorias
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 178
179
Par a um banco de dados que sir va
como nmero de exposies ou eventos artsticos, nmero de assistentes e servios
proporcionados.
Sendo importante essa informao para medir os benefcios econmicos ou
outros que se referemaos pblicos que assistemaos eventos, os bancos de dados
no costumamlevar emconsiderao a participao ematividades que no paream
ter efeitos econmicos ou que no se percebamou consideremcomo culturais
(como a jardinagem comunitria e outras atividades que reflitam identidades e que
determinadas comunidades consideram parte de sua prtica cultural). Tomando
como seu objetivo principal potencializar a participao cidad emtoda a sua varie-
dade (que eles tmtipificado, emqualquer caso), o Instituto Urbano elaborou um
conjunto de instrumentos para abrir o processo de definiodas categorias sobre
as quais se criamos bancos de dados. Igualmente, elaborou instrumentos para
medir resultados dessas atividades para convencer os patrocinadores de que as artes
e outras manifestaes culturais so uma alternativa aos desportos, polcia e
outras atividades nas quais se costuma investir. (JACKSON, 1998, p. 41)
Para servir a esses propsitos de maneira ampla, requer-se intervir no proces-
so de definio de categorias. No caso do Instituto Urbano, o trabalho realizado
sobre os indicadores culturais pertence a umprojeto mais amplo da democratizao
dos sistemas de informao (KINGSLEY, 1996). A metodologia que emprega
para este fim envolve grupos focais nas conversaes sobre as atividades que se
valorizamemsuas comunidades, gerando, dessa forma, categorias que suplementam
as mercadolgicas ou as vinculadas s artes sem fins de lucro (categoria que se
emprega nos Estados Unidos).
O Instituto Urbano considera importante reconhecer que essa agenda de
persuaso de agentes financiadores ou decisrios afinal de contas uma interveno
poltica que fundamenta a lgica de umesforo de sistematizao da informao.
Como dissemos no incio, isso no invalida a referida sistematizao, mas propor-
ciona as condies para requerer sua abertura na contestao e negociao poltica.
Amrica Central
A seguir, nos reportaremos a algumas situaes concretas vinculadas aos
meios culturais centro-americanos. Trata-se de pases pequenos com indstrias
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 179
180
culturais emergentes, de pequenos volumes de produo e diferenas de economia
de escala e de profissionalizao do meio cultural se comparados compases como
Argentina, Brasil ou Mxico, mas tambmColmbia e outros pases medianos.
Esses so alguns dos pases onde se est problematizando e refletindo a respeito da
cultura na Amrica Latina.
Porm, se grande o contraste de propores entre esses pases e os nossos,
maior ser se pensarmos e compararmos emnvel de globalizao, por exemplo,
como espao que se abre para ns como tratado de livre comrcio como Canad,
j aprovado, e operando na Costa Rica ou na rea de Livre Comrcio das Amricas
(ALCA), emnegociao emtoda a regio.
Trazemos tona referncias centro-americanas por que achamos que
poderiamser teis para pensar as pequenas partes de pases grandes, especialmente
das regies afastadas dos centros de poder econmico e cultural brasileiros.
Tomando como exemplo o Brasil, no esqueamos de que se trata de umconjunto
subcontinental anlogo emtamanho ao formado pelo resto da Amrica do Sul,
coma diferena de que est contido emuma unidade federal.
Podemos assumir que existemsemelhanas e contrastes dentro do Brasil
comparveis aos que se mostramno resto dos pases latino-americanos. Ou seja,
convivemfocos de desenvolvimento cultural, diferenciados: alguns tmpropores
tipo Mxico (ver grande So Paulo), outros, tipo Chile (Paran, por exemplo), e
outros, tipo Honduras (como Piau). Assim que a Amrica Central pode servir
de referncia s comunidades brasileiras entre o Piau e Santa Catarina, ou,
inclusive, de Minas Gerais de uns anos atrs quando ainda contava com dez
milhes de habitantes (como a Guatemala de hoje) e no contava ainda com
leis de incentivo fiscal como na atual Costa Rica. Possivelmente, essa aproximao
no seja cientfica, porm, pensamos que pode provocar nossa sensibilidade
ou lembrar-nos a complexidade de nossas realidades latino-americanas e, isso,
j til.
Voltando ao nosso tema, no caso centro-americano, achamos poucos e ainda
incompletos os esforos de sistematizao da informao e interpretao do meio
cultural. Os esforos realizados reproduzemuma condio estrutural: ignoram-se
uma grande porcentagem dos agentes e produes culturais devido a uma viso
eurocentral da institucionalidade acadmica e oficial que segue primando pelo
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 180
181
Par a um banco de dados que sir va
excessivo centralismo que temcaraterizado nossas polticas culturais ou juventude
e pequenez de ummeio ainda pouco formalizado e estruturado.
Essa omisso incluiu (situao que est comeando a mudar) o prprio setor
artstico j que os processos de profissionalizao da gesto cultural e de formali-
zao empresarial, associativa ou simplesmente profissional liberal dos setores
criativos so muito recentes. Por exemplo, na Costa Rica, o estatuto do artista no
existe claramente estipulado no regime de servio civil. Ou seja, de contratao do
Estado, ainda existindo companhias artsticas estatais desde mais de trs dcadas.
Tampouco est claro seu estatuto nem sua particularidade na classificao que
fazemas entidades de seguros para determinar por quanto assegurar uma perna de
umdanarino, entretanto, o tempara avaliar as pernas de umjogador de futebol.
Do mesmo modo, uma parte substantiva da economia de produo de um
artista cnico ou plstico se mantmsubmersa na informalidade, emlgicas de
troca e permutas que no so contabilizadas nempelo prprio criador nempelo
Ministrio da Fazenda e, conseqentemente, no refletemno regime de tarifas de
nossas bilheterias, de nossos espetculos, do custo hora de servio profissional
artstico ou de nosso pagamento de impostos. Muito menos nas contas do Estado.
Os elementos mencionados (tarifas, custos, etc.) definem-se emfuno de uma
combinao de hbitos prvios de cobrana e de pagamento determinados com
freqncia e arbitrariamente, da prova/ erro da sobrevivncia ou da tolerncia
dos pblicos, de algumas casualidades, arbitrariedades e caprichos, inclusive das
migraes de trabalhadores culturais de outros pases que podem ter o efeito
de aumentar os custos artsticos (ambos os casos j aconteceram).
Devido informalidade dessa economia, resolvida quase sempre por meio de
permutas e, geralmente, compouco investimento emcapital lquido, a situao de
certos setores criativos poderia se homologar mais adequadamente situao do
trabalho domstico ou agrcola das mulheres, ignorado e no-remunerado; ou
economia informal dos vendedores ambulantes ou s prticas de subsistncia rural,
altamente significativas como realidades econmicas emmuitos de nossos pases
mesmo quando escapamao registro e s formalidades institucionais.
Identificar a contribuio dessas atividades requeridas, emprimeiro lugar,
sua incluso no PIB como fenmeno econmico, porm, reconhecendo, como se
menciona no incio, que portamoutros benefcios de incluso e pertencimento
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 181
182
social, reticulao comunitria e outros. De novo, ilustramos comumexemplo para
mostrar a que pode corresponder essa variedade de mais-valias emummeio como
o nosso: a participao de uma cantora e danarina garfuna hondurenha nas festas
comunitrias no supe um pagamento j que o faz de forma voluntria, mas
implica umevidente reconhecimento como lder espiritual da comunidade comas
vantagens de prestgio e respeito implcitas. O fato de dedicar-se mesma atividade
na comunidade mestia prxima, numporto que serve de entrada turstica regio
atlntica, lhe supe ganhar algumdinheiro constante. Emumantro que opera
praticamente como bordel, o seu ritual movimento das cadeiras e a dana do casal
comritmo de ponta, to apreciada e respeitada na sua comunidade, serve tambm
para acompanhar as novenas e velrios, adquirindo outros sentidos. Como deter-
minar o valor social e material final, positivo ou negativo, de ambos os usos de uma
mesma manifestao cultural? Que indicadores seriam apropriados? Sobre que
paradigma ou compreenso do valor social dessa expresso?
Outro exemplo o de nossos cantores rurais ou de nossos calypsonian
afro-limonenses na costa caribenha costa-riquenha. Eles, verdadeiros cronistas de
suas comunidades, ficaram margemdo profissionalismo europia que se produz
coma formao acadmica. Hoje, depois de muitos anos de quase marginalizao
se expressa interesse pelo seu talento e produo porque resulta num produto
tursticocultural com potencial diferenciador.
Como vemos nesse ltimo caso, em contraste com as abundantes histrias
de deteriorao das condies de uma prtica cultural e da dignidade de seus
portadores e criadores, hoje parece que podemtentar-se alianas para dinamizar
investimentos e estabelecer relaes mais positivas com o mercado, de nossas
manifestaes endgenas. A correlao coma oferta turstica mais profissional e
identificada como aproveitamento sustentvel dos recursos naturais e culturais a
que hoje emdia est levantando o interesse pelo investimento pblico e privado
para recuperar diversas expresses de nosso patrimnio intangvel e tradicional
dos setores perifricos, que agregam valor como elemento diferenciador.
Umoutro exemplo a relao entre setor cultura e setor ecolgico: a
Amrica Central e, especialmente, a Costa Rica vendem biodiversidade com
sucesso h vrios anos, no s para o turismo, mas tambmpara o desenvolvimento
local, para a recuperao agrcola ou a venda de servios ambientais. Cada vez mais
se associa a diversidade cultural ao discurso sobre biodiversidade. Fala-se de formas
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 182
183
Par a um banco de dados que sir va
de gesto integral comcautela e do aproveitamento dos recursos com harmonia.
Com essa aliana h um importante potencial com o qual podemos ganhar
legitimidade e aproveitar suas estratgias de comunicao. H alguns anos a gesto
ambiental no era um tema relevante, hoje estamos por incorporar clusulas
ambientalistas nossa constituio.
Nesses casos culturaturismo e culturameio ambiente faz-se evidente
a utilidade, porm, tambm a necessria reflexo metodolgica e conceitual
sobre como gerar dados adequados para dinamizar essas alianas.
Entretanto, dados desse tipo ainda no so sistematizados nos catlogos
de recursos ou produtos comunicacionais que comissionamou realizamnossos
ministrios culturais, institutos de antropologia ou patrimnio, organismos
internacionais e, inclusive, muito mais recentemente, nos municpios.
Nossa informao precria e aquela j sistematizada ainda no est neces-
sariamente disponvel. A ausncia de informao tanto mais apressada quanto
pensamos, como dizamos no incio, que as naes centro-americanas se preparam
para assinar o mais rpido possvel com a ALCA o tratado de livre comrcio
com os Estados Unidos. Quer dizer, que vamos nos aventurar na ALCA, com
a capacidade de gesto apenas incipiente, sem ter resolvido minimamente o
problema da sustentabilidade de nossas pr-indstrias e produes culturais
em relao ao espao nacional, local ou regional; e semsistemas de informao
consistentes praticamente de nenhumtipo.
Emnossa reflexo sobre as necessidades de informao cultural na Amrica
Central, percebemos que devemos pular ou queimar etapas e misturar processos que
normalmente correspondem a diferentes momentos de maturidade de um meio
cultural. Costuma-se comear por catalogaes compreensveis de recursos.
Devemos, porm, somar antes de ter superado essa etapa:
1. estudos que detectemos modos de gesto ou os agentes ativos desses
recursos;
2. projees na base da economia j desentranhada desses agentes e modos
de gesto por parte dos setores formalizados (quer dizer que j tenhamevoludo
de nossa atual informalidade);
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 183
184
3. informao para desenhar estratgias de posicionamento emmercados
internacionais, movidos por lgicas e agentes distintos aos da vida cultural do
territrio onde se originaram.
A Guatemala e a Costa Rica iniciaram, por razes muito diversas, processos
de atualizao de suas polticas culturais. Perto da regio, a Repblica Dominicana
tambmperfila aes de atualizao. Todos eles, pases relativamente pequenos com
histrias e condies diferentes. Semelhantes e diferentes. Que eixos poderiamse
cruzar entre essas experincias de pases pequenos para melhorar nossas pro-
postas de sistemas de informao e facilitar a eventual aliana entre os nossos
processos? Umartista maia, boruca ou mestio, seja da Guatemala ou da provncia
costa-riquense de Heredia tem muitas coisas em comum para trocar e outras
tantas emcontradio.
Que eixos comuns podemos cruzar coma realidade de algumas populaes,
ou comunidades do Brasil, ou do norte-argentino, ou do sul-mexicano coma qual
j comeamos a integrar no marco do Plano Puebla-Panam, ou do Corredor
Biolgico Mesoamericano? O que teramos de medir/ contar sobre ns como
realidades pequenas ou emergentes emcontraste comas metrpoles latino-ameri-
canas de indstrias culturais mais desenvolvidas para posicionar nossos interesses
nas reunies internacionais, nas que se fala do conjunto latino-americano, mas que
somos quase ignorados frente a essas realidades? O que temos de medir/ contar
para somarmos entre latino-americanos, entre latino-americanos e europeus, entre
latino-americanos e outros sulistas de outros continentes para defender nosso
direito diversidade diante da Organizao Mundial do Comrcio (OMC) e
tentar amaciar o domnio monopolista do mercado das grandes corporaes?
So muitas as opes e necessidades estratgicas e um desafio organizar
umsistemadedados quenos encaminheatsetores queofereammaiores oportunidades
para nossa sustentao cultural. Como medir onde est a melhor oportunidade?
Parece que devemos iniciar umjogo de ida e volta entre risco e oportunidade
e as eventuais certezas que parte da informao nos esteja dando, aquela que con-
sigamoscapturar e sistematizar.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 184
185
Par a um banco de dados que sir va
Concluses
impossvel que possamos atender a todos os aspectos e vetores que movem
o campo cultural. Podem-se fazer muitas perguntas: Quanto dinheiro deve-se
investir para obter a informao que potencialize a capacidade de nossas produes
e nos permita umposicionamento emdiferentes mercados? Quanto, ento, no
se utilizar emestudar outras categorias de valor que os coletivos manejamsobre
suas manifestaes e processos culturais? Quanto emcomunicar ou contrastar a
informao com os agentes vinculados s diferentes manifestaes e formas de
reconhecimento de valor? Quanto deveramos gastar para detectar as prticas
que conseguem articular integralmente as diversas lgicas?etc.
Partindo do bsico de umsistema de informao quesirva, conclumos que:
1. a incluso impossvel, mas deve ser a meta;
2. a informalidade e a enorme diversidade dos setores vinculados cultura
dificultama sistematizao da informao, e nemsempre so comparveis a reali-
dades mais estruturadas;
3. umsistema de informao uma ferramenta essencialmente poltica e de
persuaso. Serve, de muitos modos, para dar presena ou neg-la. Para induzir
tomada de decises, sensibilizao e seleo de determinados aspectos e no a
outros. Essa a parte substantiva que deve discutir-se de forma transparente:
Qual a agenda poltica de umsistema de informao?Essa pergunta temde ser
traada e respondida explicitamente para se obter uma base de dados slida;
4. os bancos de dados orientados no sentido de fundamentar a tomada de
decises s podemoperar se se reconhecemde antemo os interesses estratgicos e
se se procuram os conhecimentos tcnicos e conceituais que faam possvel
discernir a informao necessria para defender esses interesses. E quanto
mais complexa a realidade, mais necessrio ser que o esforo de organizao da
informao seja precedido de uma premissa estratgica como hiptese;
5. umsistema que procure a incluso dever dar espao possibilidade de
discusso aberta, ao questionamento e ampliao de referncias emrelao aos
dois eixos mencionados:
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 185
186
a) que a captura da realidade est traada por quemdesenha e administra os
sistemas, e
b) que umsistema de informao uminstrumento de potencialidade, um
instrumento de poder;
6. isto necessrio para promover o debate pblico e a participao, h de
se estabelecer mecanismos para abrir os sistemas de informao e diversidade
cultural: esses mecanismos podem ser metodologias participativas, consultas
a especialistas tanto de corte acadmico quanto a especialistas gestores ou
empreendedores pragmticos do campo que tomamdecises a pulso e/ ou outros
recursos que propiciem a pluralidade das fontes, sensibilidades e geradores de
informao. Como cobrir tudo praticamente impossvel, as selees tm de
ser transparentes e negociadas nas dimenses nas quais se definam finalmente: a
poltica, segundo as cotas de poder e as negociaes das partes; e a estratgica, vin-
culada consecuo de objetivos especficos diante de problemas concretos;
7. o fato de que os bancos de dados devamessencialmente orientar os bons
investimentos emtermos de mercado apenas uma das linhas de interesse possveis.
Outros tipos de avaliaes e objetivos podemou devemse integrar;
8. o objetivo de um sistema de informao poderia formular-se nos
seguintes termos: incorporar e potencializar progressivamente a capacidade de
negociao dos diferentes atores indivduos, coletividades, pases, regies.
Especialmente aqueles menos vinculados ao poder em relao queles estados e
empresas queo detenham. O objetivo seria produzir e circular conhecimento para
melhor jogar e incidir no campo. Para dar mais poder a agentes que hoje jogam
commuita desvantagem.
Para encerrar, retomamos o argumento de Garca Canclini: talvez tenhamos
que nos ver mais como umbonito cadver umcaos de justaposies associadas
por lgicas diversas, complexas e irredutveis que como umquebra-cabeas atinge
sentido coerente e unificado. Neste contexto, realmente possvel consensuar uma
agenda comumdos agentes da diversidade cultural? No. Porm, umbanco de
dados serve na medida em que torna possvel ou facilita a resposta e a negocia-
o dos diversos interesses que se movem e se entrelaam no campo da cultura
transformando-o e dando-nos mltiplos sentidos na diversidade.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 186
187
Par a um banco de dados que sir va
BIBLIOGRAFIA
JACKSON, Maria Rosario. Arts and cultureindicators in community buildingproject
(research paper). Washington D.C.: The Urban Institute, 1 October. 1998
KINGSLEY, G. Thomas. Democratizinginformation (research paper). Washington,
D.C.: The Urban Institute, 1 March. 1996
MIDANI, Andr. Entrevista comSylvie Durn e George Ydice. Rio de Janeiro,
26 de agosto. 2002
OCHOA GAUTIER, Ana Mara. Latin american independents in the world music
market. Ponencia presentada en la Conferencia sobre Culture, Development &
Economy, Center for Latin American and Caribbean Studies, New York University,
11 de abril. 2002
STOLOVICH, Luis. Diversidad creativa y retricciones econmicas: La perspectiva
desde un pequeo pas. Pensar Iberoamrica, nmero 1, JunioSeptiembre. 2002
Disponvel em: http:/ / www.campus-oei.org/ pensariberoamerica/ ric01a03.htm
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 187
189
As informaes estatsticas sobre cultura existentes na base de dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) no esto disponveis de
forma organizada, assim como no temos um sistema de estatsticas ou de
indicadores de cultura j implementado.
Isto porque o IBGE temtrabalhado, nos ltimos anos, como objetivo de
construir umelenco de pesquisas que completemas informaes da chamada rea
social e populacional. Almdos seus produtos mais conhecidos nessa rea, como o
Censo Demogrfico e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD),
comseus suplementos temticos, o IBGE vemrealizando pesquisas nos registros
administrativos das instituies.
As pesquisas tmsido feitas combase emconvnios, sobretudo comreas
governamentais especficas setoriais, cujos registros institucionais oferecem um
quadro amplo e diversificado de informaes realmente importantes para a com-
posio de uma base de dados, com vistas formulao de estatsticas e indi-
cadores sociais.
Como exemplo, citamos o caso das informaes sobre os estabelecimentos
de sade no Brasil. Desde a dcada de 1970, o IBGE vemproduzindo combas-
tante freqncia, ainda semperiodicidade definida, uma pesquisa denominada
Pesquisa de Assistncia Mdico-Sanitria, que umcenso dos estabelecimentos de
sade do Brasil mostrando a oferta dos servios de sade no pas.
12. As bases dedados do IBGE
Potencialidades para a cultura
LusAntnioPintoOliveira
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 189
190
A pesquisa, que tem o apoio financeiro do Ministrio da Sade, feita
a partir da discusso com as equipes do Ministrio e com os pesquisadores
de sade em geral, e abrange a formulao dos instrumentos de coleta, os
questionrios etc.
Vem sendo retomada, tambm, uma pesquisa sobre saneamento bsico,
realizada comtodas as instituies prestadoras desse tipo de servio no Brasil, com
o apoio da Caixa Econmica Federal, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
da Presidncia da Repblica e da Fundao Nacional de Sade.
Esse apoio no se limita ao financiamento da pesquisa, mas contempla a
montagemdos questionrios, dos quesitos, dos indicadores, das anlises feitas por
tcnicos ligados a esses rgos e rea universitria acadmica.
Da mesma forma, esto sendo iniciados os procedimentos para a construo,
emparceria como Ministrio da Justia e coma Secretaria Nacional de Segurana
Pblica, de um Sistema de Indicadores de Criminalidade no Brasil. A construo
desse sistema depende, fundamentalmente, de gestes do Ministrio da Justia nas
secretarias de segurana dos estados para viabilizar o desenvolvimento de um
trabalho emconjunto como IBGE.
J no mbito da cultura no se vinha discutindo, como em outras
reas, a necessidade de realizar uma pesquisa no sentido de sistematizar
os dados necessrios, nem a respeito das bases em que ela poderia se desen-
volver.
S agora as discusses sobre o assunto esto comeando a se concretizar
e apontam no sentido da retomada de experincias anteriores, da reatualizao
de experincias anteriores para a construo de informaes sobre a nossa cultura,
emparceria como IBGE.
Na dcada de 1980, por iniciativa do Ministrio da Cultura, chegou-se a
produzir um inqurito sobre cultura no Brasil, chamado por alguns de Censo
Cultural. A pesquisa foi precedida por vrias articulaes e discusses entre
tcnicos do IBGE e os diversos segmentos da cultura, como cinema, radiodifuso,
editoras de livros e do Patrimnio Histrico. Houve vrias reunies para a
definio dos instrumentos de coleta.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 190
191
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
Operada pelo IBGE, a pesquisa foi a campo em 1988 e o material foi
entregue ao Ministrio da Cultura para posterior processamento e apurao. O
resultado, contudo, no chegou a ser divulgado em razo de mudanas insti-
tucionais ocorridas poca. O fato que essa foi a ltima iniciativa da esfera
federal no sentido da construo de bases de informaes, de bases de dados na
rea da cultura.
Entre 1995-1996, o Ministrio da Cultura contatou o IBGE sobre a possi-
bilidade de realizao de umnovo Censo Cultural ou inqurito cultural, mas a idia
no teve prosseguimento.
Emrelao atual base de pesquisas do IBGE, as informaes que de algum
modo podemter alguma relao comcultura, ou comindicadores de cultura, so
extremamente esparsas, dispersas, porque as pesquisas no forammontadas para
atender a essa demanda.
Podemos at obter algumas informaes a partir do Censo Demogrfico,
da PNAD ou da Pesquisa de Informaes Bsicas Municipais, mas, na realidade,
elas no bastariampara constituir umsistema de dados para a rea da cultura. So
indicadores, quesitos e informaes bsicas que constamde vrias pesquisas do
IBGE, voltadas para outras temticas, nas quais no houve nenhuma preocupao
emdefinir ou conceituar a cultura.
Extramos dessas pesquisas, para exemplo, somente as informaes que, de
alguma maneira, podemser relacionadas coma cultura. A primeira fonte diz
respeito s informaes constantes do Censo Demogrfico, da PNAD e a algumas
estritamente ligadas ao mercado de trabalho que integrama Pesquisa Mensal de
Emprego (PME).
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 191
192
Censo Demogrfico, PNAD e PME
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 192
193
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
Podemos, ento, eleger uma srie de ocupaes que esto relacionadas
cultura jornalistas, escritores, artesos etc. e outros setores de atividades
ligados a essas ocupaes, como as indstrias editoriais grficas, os servios de
diverso e de promoo de espetculos, os servios de radiodifuso e a televiso.
Essas informaes poderiamser correlacionadas a muitas outras variveis,
como sexo, cidade de domiclio, cor, instruo, renda, postos com carteira de
trabalho, posio na ocupao, ou seja, se empregado ou empregador, se trabalha
por conta prpria, entre outras, descendo ao mbito municipal, no caso do Censo
Demogrfico.
Nos censos e nas PNADs existemainda algumas informaes sobre a posse
de bens durveis no domiclio, ou a posse de bens durveis na famlia (rdio, video-
cassete, linha telefnica instalada, microcomputador, televisor, automveis).
Esses so basicamente os indicadores ou informaes, comalguminteresse
para o mbito da cultura, que se podemextrair dos censos demogrficos e das
PNADs, tal qual vmsendo feitas at hoje.
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 193
194
O IBGE tambm produz anualmente, desde 1999, a Pesquisa de
Informaes Bsicas Municipais. uma pesquisa que vai atualmente aos 5.561
municpios brasileiros e temo seu foco principal na gesto pblica municipal os
servios oferecidos pelas prefeituras, as capacidades instaladas. A pesquisa se refere
mais especificamente gesto e s finanas pblicas municipais.
Pesquisa de Informaes Bsicas Municipais
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 194
195
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
Na pesquisa encontramos algumas informaes que poderiam ser
aproveitadas para estudos emrelao questo cultural, tais como a existncia, no
municpio, de equipamentos culturais ou de lazer, como bibliotecas pblicas,
museus, teatros, cinemas, clubes, livrarias e outros.
A pesquisa tambm tem dados sobre todos os Conselhos Municipais
de Cultura instalados nos municpios, se so realizadas reunies desses conselhos,
a sua periodicidade e se so paritrios ou no. J na pesquisa sobre finanas pblicas,
alm do total das despesas, h informaes sobre as despesas com educao e as
despesas comcultura, segundo as rubricas dos municpios.
Para ilustrar, inclumos umpequeno resultado da Pesquisa Municipal de
1999, emque temos, emrelao existncia dos meios de comunicao, que: 9%
dos municpios brasileiros teriamgerao de imagemde TV; 7% teriamTV a cabo;
15%, provedor de internet; 34%, estao de rdio FM; em72% dos municpios
haveria circulao de jornal dirio; em44%, de jornal semanal; e em33%, de jor-
nais comoutras periodicidades.
Exi st nci a de Mei os de Comuni cao nos Muni cpi os (%)
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 195
196
Ainda, segundo as informaes prestadas pelas prefeituras quanto existncia
de equipamentos culturais ou de lazer, temos que em76% dos municpios haveria
biblioteca; em65%, ginsios poliesportivos; em64%, videolocadoras; em35%,
livrarias; em 35%, lojas de discos/ fitas/ CD; em16% haveria museus; em 14%,
teatros; em7%, cinemas; e em 6%, shoppings.
Exi st nci a de Equi pament os Cul t ur ai s nos Muni cpi os (%)
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Combase no Cartograma Municipal, podemos verificar que emmbito
nacional a existncia de salas de cinema est bastante rarefeita. H uma concen-
trao nos estados de So Paulo e do Rio de Janeiro, alguma coisa pelo sul de
Minas e na Regio Sul. J a existncia de videolocadoras encontra-se bastante dis-
seminada pelo Brasil inteiro.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 196
197
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
Exi st nci a de Ci nemas
Exi st nci a de Vi deol ocador as
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Tem
No t em
Sem inf or mao
Tem
No t em
Sem inf or mao
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 197
198
Emrelao s emissoras de televiso sintonizadas, a que est emprimeiro
lugar sintonizada em98% dos municpios brasileiros; a segunda, em88% deles,
e esse percentual segue decrescendo. A quarta emissora a rede pblica, comape-
nas 53%, e sua audincia est fortemente concentrada emSo Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, umpouco na Regio Sul e emalguns estados do Nordeste,
como no Cear.
Emi ssor as de Tel evi so Si nt oni zadas nos Muni cpi os (%)
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 198
199
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
Recepo da Pr i mei r a Emi ssor a do Pas
Recepo de Emi ssor a Pbl i ca
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Tem
No Tem
Sem I nf or maco
Tem
No t em
Sem inf or mao
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 199
200
Quanto aos provedores da internet h, tambm, uma forte concentrao nas
regies Sul/ Sudeste e grande rarefao no resto do pas.
Pr ovedor es da I nt er net
Font e: Pesquisa de I nf or maes Bsicas Municipais, 1999. I BGE.
Tem
No t em
Sem inf or mao
Uma outra pesquisa do IBGE de que podemos aproveitar dados para a
cultura a Pesquisa de Oramentos Familiares (POF), que fica um ano em
campo e faz a mensurao dos gastos familiares.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 200
201
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
Pesquisa de Oramentos Familiares ( POF)
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 201
202
As informaes sobre bens durveis constantes da POF so at mais com-
pletas que as do Censo Demogrfico e so representativas de todos os estados,
podendo ser relacionadas a sexo, idade, instruo, renda etc. Da POF tambm
podemos extrair as despesas correntes mensais das famlias com os servios e
equipamentos que, de alguma maneira, se relacionam com a questo cultural.
Por ltimo, temos a Classificao de Atividades Econmicas, definida pelo
Conselho Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), que relaciona as atividades
econmicas desenvolvidas no momento, das quais podemos destacar aquelas de
alguma maneira relacionadas cultura.
Temos, por exemplo, as atividades de emisso e impresso de jornais,
revistas, livros; de reproduo de materiais gravados, discos, fitas; de mquinas
e equipamentos eletrnicos de informtica. Essas atividades podemser relacionadas
como nmero de empresas, o nmero de empregos, de empregados, de trabalhadores
e massa salarial.
Classificao de Atividades Econmicas ( CNAE)
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 202
203
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
H ainda um grande elenco de classificaes de que se podem aproveitar
dados a respeito de atividades ligadas, de alguma maneira, rea cultural. Essas
classificaes abrangemumleque muito amplo de atividades, como se pode verificar
nos diversos quadros que seguem.
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 203
204
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 204
205
As bases de dados do I BGE Pot encialidades par a a cult ur a
E, por ltimo, merece meno o Curso de Desenvolvimento de Habilidades
em Pesquisa, por trs vezes realizado pela Escola Nacional de Cincia Estatstica
do IBGE. As pesquisas de final de curso abordaram temas diferentes, todos
voltados para a cultura. A primeira tratou dos hbitos culturais e de lazer dos
moradores das adjacncias do Museu da Repblica, no Rio de Janeiro (1998);
outra, sobre o uso do tempo por esses moradores (2001); e a terceira sobre o
conhecimento do Museu da Vida, tambm no Rio de Janeiro (2002).
O que se pode perceber, como mencionado de incio, que de fato no existe
uma base de dados organizada sobre estatsticas ou informaes culturais. Tudo o
que existe muito fluido, derivado de outras pesquisas que no tiveram como
finalidade especfica a construo de estatsticas ou de indicadores culturais.
Todo o processo de construo dessa base de dados vai depender de uma
longa, articulada e integrada discusso a respeito de conceitos, de metodologias
e de definio dos objetivos a serem perseguidos.
Comcerteza, o IBGE no se furtar a entrar nessa discusso e a participar
de umtrabalho desses, embora reconhecendo que a sua realizao depende, em
grande medida, da articulao da rea produtora cultural neste pas.
Font e: I BGE
Font e: I BGE
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 205
206
Obviamente, essas instituies e personalidades da rea de produo cultural
que teriam as condies de definir, com o IBGE e com os outros parceiros,
qual seria a configurao de um futuro inqurito na rea da cultura, ou de um
Censo Cultural ou, ainda, de umSistema de Registro de Informaes na rea cultu-
ral, modelo que, alis, consideramos o mais apropriado, por possibilitar a coleta
de informaes com periodicidade mais frequente e de maneira articulada com o
formato, os conceitos, e as classificaes que o comporiam.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 206
207
Primeiros passos na montagem do Sistema de Informaes Culturais
O Programa UNESCO/ IPEA, neste momento ainda esboado, vai almde
umsimples programa de montagemde umSistema de Informaes Culturais e j se
aventura a estabelecer, como proposies de trabalhos a seremexecutados, algumas
anlises e interpretaes.
A montagemdesse sistema constitui uma tarefa absolutamente essencial.
Como vimos, o IBGE, conforme Luis Antnio Pinto Oliveira descreve emAsbases
dedadosdoIBGE potencialidadesparaacultura, j possui uma base importante de dados
a partir da qual podemos garimpar informaes e comear nosso trabalho.
Tanto isso verdade que a primeira das linhas de pesquisa do Programa
UNESCO/ IPEA diz respeito exatamente estimativa do PIB cultural dos estados
e do Brasil, a partir de informaes disponibilizadas pelo IBGE.
certo que ainda no contamos comumcenso cultural. Entretanto, ir atrs
das bases de dados e promover as pesquisas de campo adicionais que se fizerem
necessrias so justamente as tarefas do pesquisador.
O Programa de Pesquisa UNESCO/ IPEA est delineado de uma maneira
ainda bastante preliminar, com exceo do ltimo ponto, que ser explicitado
mais adiante. Na realidade, foi estabelecido umleque de intenes.
13. Primeiras aes para umprograma
deinformaes culturais no Brasil
Gustavo Maia Gomes
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 207
208
A primeira etapa do programa diz respeito justamente realizao do
Seminrio Polticas Culturais para o Desenvolvimento bases de dados para
a cultura, idealizado com o objetivo de despertar a ateno para o tema e para
que o IPEA pudesse mostrar s pessoas interessadas no assunto que tem, sim,
a inteno de participar, de forma mais sistemtica, nessa rea de pesquisa, de
investigao.
Conforme Roberto Martins, presidente do IPEA, o Instituto, que temno
seu nome apenas a expresso pesquisa econmica aplicada, na verdade interpre-
ta a sua misso de forma bem mais ampla e tem atuado sistematicamente em
pesquisas sociais, especialmente empesquisas sobre desigualdades raciais.
Esperamos que este seminrio seja um marco importante, com nfase do
IPEA nessa sua nova rea de atuao, que a rea de estudos culturais; na relao,
sobretudo, do cultural com o econmico; na relao, tambm, do cultural com
o social.
So as seguintes as linhas de pesquisa que foram at esse momento delinea-
das para o Programa UNESCO/ IPEA: a estimativa do PIB cultural no Brasil
e nos estados; a estimativa dos gastos pblicos e privados com cultura; o Sistema
de Informaes como um dos elementos desse programa de pesquisa; e a reali-
zao de alguns estudos de caso sobre o tema das relaes das culturas, incluso
e desenvolvimento.
Sobre o PIB cultural temos que em1997/ 1998 a Fundao Joo Pinheiro,
emconvnio como Ministrio da Cultura, realizou umtrabalho como objetivo de
obter uma estimativa da participao das atividades culturais no Produto Interno
Bruto brasileiro.
O que propomos fazer, se possvel ainda este ano, resgatar boa parte da
equipe original da Fundao Joo Pinheiro que elaborou a pesquisa mencionada e
possui uma metodologia j testada, que pode ser aproveitada, passando apenas por
umaperfeioamento.
Emseguida, queremos fazer uma extenso daquele trabalho original, estadua-
lizando os PIBs tambm. Sabemos que j houve a inteno de se fazer isso, mas
o Ministrio da Cultura no pde financiar o trabalho.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 208
209
Pr imeir as aes par a um pr ogr ama de inf or maes cult ur ais no Br asil
J temos as infomaes sobre os PIBs estaduais, que so calculados pelo
IBGE. A idia agora fazer a desagregao do PIB cultural pelos estados. No
uma tarefa simples, mas, se contarmos coma riqueza de informaes que o IBGE
possui, no teremos dificuldades. Se foi possvel fazer isso em1998, no h por
que no faz-lo em2002/ 2003.
Dentro da mesma linha de pesquisa daquele trabalho de 1998 possvel ir
umpouco alm. A Fundao Joo Pinheiro j fez alguns exerccios, comeando a
gerar informaes derivadas e anlises.
Uma das concluses ou inferncias obtidas desse estudo anterior temsido
muito repetida: o clculo do impacto do investimento deR$ 1, ou deR$ 1 milho,
que seja, na cultura, na gerao de empregos e de produtos novos.
Esse um exerccio que pode ser feito desagregando a matriz de insumo-
produto para gerar uma linha comatividade cultural, que permitir uma anlise rica
emimplicaes e sugestes de polticas para a incorporao do segmento cultural
emestratgias mais amplas de desenvolvimento econmico e social.
A gerao de emprego ou de renda, associada a umcerto investimento tradi-
cional na rea cultural, tem uma implicao social bvia. O aumento de R$ 1 no
produto das atividades culturais temuma repercusso emcriao de empregos
provavelmente muito maior do que quase todas as demais aplicaes alternativas
desse mesmo R$ 1.
Essa uma informao importante para o formulador de polticas pblicas,
porque diz respeito criao de empregos, umimportante instrumento de incluso
social.
A tica que o IPEA privilegia a de estabelecer relaes entre a atividade
cultural e as suas implicaes econmicas e sociais. evidente que as anlises
especificas sobre a cultura, sobre a sua lgica interna, como um valor em si, tm
muita importncia, mas essa no a abordagemque o IPEA privilegia.
Por isso procuraremos dar umpasso alm, usando as informaes sobre
atividades culturais colhidas em trabalhos anteriores, sobretudo do IBGE, para
formular interpretaes umpouco mais complexas. Pretendemos mostrar o signifi-
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 209
210
cado da cultura enquanto atividade econmica, mostrar a repercusso da produo
cultural para as variveis econmicas e sociais.
Esse o nosso ngulo de observao e esperamos que seja til tambmpara
as anlises que no esto interessadas no aspecto estritamente econmico.
No que se refere aos gastos pblicos e privados, estamos mais uma vez
pretendendo retomar, aperfeioar e atualizar o trabalho realizado pela Fundao Joo
Pinheiro. Almdeestadualizar as informaes eseparar os gastos pblicos e privados
em cultura, pretendemos expandir ainda mais o estudo anterior. Queremos no
apenas identificar os gastos privados feitos com a utilizao das leis de incentivos
cultura, mas tambm aprofundar os estudos e verificar outras formas de gastos
privados em cultura. Por exemplo, vrias empresas fazem gastos em promoo
cultural com patrocnio. Essas informaes podero ser incorporadas ao trabalho.
Considerando que constitui misso do IPEA produzir anlises, interpretaes,
sugestes de polticas, natural que suas atividades se expandam e, a partir do
tratamento dessas informaes, passe a realizar estimativas de impactos de gastos
sobre emprego, sobre produo cultural etc.
Umsistema de informaes seria o terceiro componente desse programa
conjunto do IPEA coma UNESCO, cabendo ao IBGE a liderana emseu processo
de montagem. Entendemos no IPEA que a coleta e o processamento sistemtico de
informaes bsicas seria uma atribuio mais adequada ao IBGE. As discusses j
realizadas neste seminrio sobre as formas de se implementar esse sistema tambm
indicamisso.
Mas o IBGE no faria isso sozinho. No leque de colaboradores, o IPEA
certamente participaria, desempenhando uma funo til, mas auxiliar, da mesma
forma que as secretarias estaduais de Cultura. Possivelmente, outras entidades
que trabalham com o setor, como as ONGs, tambm se disporiam a colaborar
como IBGE na montagemdesse Sistema de Informaes Culturais.
Dentro dessas parcerias, os estados certamente tmo que oferecer. impor-
tante que haja uma definio clara dos indicadores de produo e de consumo de
bens culturais, e isso no pode ser feito de uma forma dissociada de quemproduz,
de quemest trabalhando diretamente no setor cultural.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 210
211
Pr imeir as aes par a um pr ogr ama de inf or maes cult ur ais no Br asil
E importante que consigamos imprimir umcarter permanente produo
dessa estimativa, com periodicidade regular e definida, para que a produo de
um censo cultural no setorneumevento isolado, ao qual por anos no seincorpore
qualquer informao complementar.
Enfatizamos que o IPEA temtodo o interesse e toda a disposio de partici-
par da montageme da alimentao de umsistema de informaes sobre atividades
culturais, produo, consumo, sobre a cultura de uma forma geral, enquanto ativi-
dade viva na economia brasileira, na sociedade brasileira, insistindo que o IBGE
deva assumir a liderana dessa tarefa, muito prxima da sua misso especfica.
Finalmente, nesse esboo de programa, j inclumos a realizao de alguns
estudos de caso. A nfase dada a esses estudos, tais como foram propostos
UNESCO, foi o tratamento das atividades culturais como atividades econmicas e
a verificao, na medida do possvel, das suas repercusses em vrias dimenses.
Pretendemos aferir as repercusses, por exemplo, na criao de empregos;
identificar as diferentes intensidades de atividade cultural; a comparar a quantidade
de empregos no setor cultural nos estados, entre vrios municpios e, principal-
mente, entender que tipo de promoo, de estmulo, ou de fomento pode ser
dado s atividades culturais para que se tornemumfator importante na promoo
do desenvolvimento econmico e social de regies, de estados ou de municpios.
Para os estudos de caso foramescolhidos cinco estados Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Par e o Distrito Federal. S a Regio Sul
no est representada nessa amostra. O objetivo dos estudos, nesse momento,
fazer um mapeamento geral das atividades culturais existentes nesses estados,
para tentar esboar uma resposta para dois tipos de questes.
Na Bahia, por exemplo, podemos eleger vrias atividades culturais que
adquiriram uma extraordinria expresso econmica e comercial. Procuraremos
entender o que tornou isso possvel.
No estamos, preliminarmente, interessados em discutir a qualidade
intrnseca de uma determinada forma de manifestao cultural. Estamos obser-
vando, por exemplo, o caso da msica baiana, que se tornou um negcio de
expresso nacional, que emprega muita gente, gera muita renda, muitos recursos.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 211
212
Ainda que alguns no consideremessa uma boa notcia do ponto de vista
cultural propriamente dito, ela constitui, semdvida, uma observao importante
para os que esto interessados nas relaes entre as atividades culturais e a
economia.
Podemos, no caso da Bahia, analisar quais foram os fatores diferenciais
que geraramesses resultados e comparar comoutros estados, como Pernambuco,
onde h manifestaes artsticas e culturais locais que, em princpio, tambm
poderiamter alcanado uma expresso comercial semelhante, mas onde isso ainda
no aconteceu.
O maracatu, por exemplo, como expresso de dana e de msica local, tem
elementos que podemtorn-lo umproduto muito mais importante do ponto de
vista comercial, o que pode significar que existe umespao de desenvolvimento
para cidades como Recife e Olinda. No entanto, esse potencial no est sendo
aproveitado at o momento.
Se, a partir da anlise da experincia baiana, por exemplo, pudermos inferir
as lies que nos permitamgerar algumas proposies de polticas pblicas para
tentar aumentar a explorao comercial de uma determinada atividade cultural ou
que permitamconhecer o potencial econmico de uma atividade como o maracatu,
emPernambuco, estaremos realizando umtrabalho socialmente til.
Esses estudos de caso sero realizados por solicitao da Fundao
Cultural Banco do Brasil e privilegiam a anlise sob o ngulo do desenvolvi-
mento municipal.
No esperamos, a partir desse trabalho, fazer nenhuma dissertao sobre o
assunto, mas apenas lanar umconjunto de idias que podemser mais utilizadas no
desenrolar de umprograma de pesquisas na rea de cultura, incluso e desenvolvi-
mento.
A pesquisa est sendo desenvolvida coma previso de que possamos voltar
aos lugares ora pesquisados e fazer estudos mais aprofundados. Alm disso,
temos a pretenso de abrir o leque de estados a serempesquisados e de aprofundar
estratgias que tornem possvel a explorao mais eficiente das oportunidades
econmicas hoje existentes.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 212
213
Pr imeir as aes par a um pr ogr ama de inf or maes cult ur ais no Br asil
Finalmente, registramos que o IPEA uma instituio que se preocupa
com o desenvolvimento, coma anlise da realidade econmica e, especialmente,
com a formulao de polticas para a promoo do desenvolvimento econmico.
O IPEA possui uma diretoria que trata, com nfase especial, as regies de
menor desenvolvimento. Assim, esperamos que, no desenrolar desse programa de
pesquisa, possamos ir mais a fundo e apontar caminhos que possameventualmente
produzir incentivos ao desenvolvimento de oportunidades que esto espera
de seremexploradas.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 213
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 214
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 215
217
14. Banco dedados: do inertecultural
cultura da vida
Teixeira Coelho
Emagosto de2002, a UNESCOno Brasil eo Instituto dePesquisa
Econmica Aplicada (IPEA), rgo do Governo Federal do Brasil,
promoveram, emRecife, umseminrio sobrea idia deumbanco
dedados para a cultura. Esteautor foi encarregado deredigir um
relatrio final deorientao do projeto decriao deumbanco
dessa natureza, o quefez nestedocumento a partir deobservaes
quejulgou as mais pertinentes dentreas apresentadas pelos par-
ticipantes do encontro edesuas prprias orientaes a respeito.
O momento dos bancos de dados
Os bancos de dados sobre a cultura, ou os esforos para constitu-los,
comeam a surgir quando se encerram, nos territrios que buscam cobrir, alguns
ciclos relativamente bem-definidos em sua histria da poltica cultural.
Uma das situaes hostis constituio desses bancos,
no muito distanciada no tempo, remete idia da ao cultural
praticamente como uma ao caritativa dispensada aos desvalia-
dospelo Estado, ou por particulares, quando e como possvel, e
de modo descontnuo, assistemtico. Nesse quadro, a ao cultural assume o
carter de medidasuplementar eeventual baseada em um conhecimento emprico e ime-
diatista, quase sempre subjetivo, de determinada situao social. Isso, porque
a prpria cultura vista como algo suplementar, no mximo complementar, a ser
obtida, proporcionada e desfrutada quando, esepossvel, num segundo ou terceiro
momento da vida individual e da comunidade.
Quandoos bancos de
dados sopossveis
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 217
218
A segunda situao ou ciclo que no favorece a elaborao dos bancos de
dados sobrea cultura, equemantmumforteelo deparentesco como anterior,
aquelamarcada pela concepo de que a poltica cultural uma operao de cunho
ideolgico com funo complementar ou subsidiria de um programa poltico
de governo ou partido. Sob esse aspecto, tanto quanto no primeiro caso, a definio
da poltica cultural no requer o conhecimento analtico da situao real da cultura,
baseado emdados individualizveis que digamrespeito, por exemplo, quilo que a
sociedade podeoferecer e quilo que ela quer consumir ou experimentar. Esses dados
so mesmo, neste caso, incmodos e indesejveis. Um parti prisideolgico define,
de cima para baixo, e do pequeno grupo para a larga massa, o que se deve produzir,
oferecer e consumir em termos de cultura. Indicadores culturais so, aqui, ampla-
mente desnecessrios: de fato, so indesejveis: elaboram-se planos de aocultural
e se procura em seguida implement-los em bases freqentemente voluntaristas.
H uma terceira situao, correspondente a um terceiro e mais
recente momento na histria da poltica cultural: aquele marcado
pelo abandono relativo da abordagemconteudstica da poltica
cultural, por se reconhecer a amplssima variao nas possibili-
dades culturais e por se admitir que a ao do planejador da cultura, geralmente o
Estado, mas hoje no mais apenas ele, deve limitar-se a oferecer as condiesformais
para que a sociedade invente a cultura que deseja. Nesse instante surge a neces-
sidade de conhecer-sequemafinal faz oque, onde, aquecustoequem, enfim, desejater acesso
aoque, seja o que isso for. O banco de dados surge nesse contexto como uminstru-
mento de empoderamento, viabilizando decises. H duas esferas a empoderar: o
Estado e talvez melhor: ou a sociedade civil.
Os bancos de dados que se estudam como modelos costumavam e ainda
costumam ser instrumentos de empoderamento do Estado. Um hbito cultural,
quase sempre inoportuno como muitos ou todos os hbitos culturais, mandava
dizer e pensar que o empoderamento do Estado significava automaticamente o
empoderamento da sociedade civil. No mais esse o entendimento predomi-
nante quando o assunto a cultura (e outros), mesmo em pases apresentados
como democrticos. Emtempos de diversidade cultural, asociedadecivil ograndesujeito
decultura. Ummesmo banco de dados pode acaso atender simultaneamente s neces-
sidades do Estado e da sociedade civil. Pode no faz-lo, porm. A escolha do
desenho desse banco, portanto a prioridade assumida, o dir. Vale lembrar, de
resto, que ingrata a tarefa de servir a dois patres. Talvez impossvel.
Polticas formalistas
eracionalidade
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 218
219
Banco de dados: do iner t e cult ur al cult ur a da vida
O Estado deve, ento, reconhecer, nesse instante, que o
dirigismo cultural que vinha exercendo no mais se justifica, no
mais corresponde aos desejos da sociedade democrtica neste ponto
da histria. A situao que se temagora a de uma sociedade civil
que se fortalece perante a sociedade poltica. O relativo afastamento
do Estado neste domnio para umplano secundrio de organizao e superviso
apenas e que no pode ser confundido com sua derrota pelo mercadocomo
simploriamente se anuncia corresponde a uma devoluo sociedade de seu
direito de decidir por si mesma em matria de cultura. O banco de dados, ento,
por meio das fotografias das possibilidades e desejos culturais, revela-se um
instrumento de empoderamentodasociedadecivil. No necessariamenteepor si s; quer dizer,
haver ainda foras considerveis na sociedade poltica que se oporo a esse
empoderamentodasociedadecivil. Mas uma alternativa e a alternativa a privilegiar.
Por certo, o banco de dados pode empoderar ainda mais o Estado. Mas o Estado,
como diz Godard, no pode amar. Se no pode amar, no tem o que fazer na
cultura e com a cultura. O banco de dados, ento, dever servir sociedade civil.
Essa sua grande finalidade ltima, sua maior justificativa. aqui e sob esse
aspecto que se realiza a grande mudana na histria da poltica cultural. Um
banco de dados no tudo e pode ser nada. Mas, se for alguma coisa ser um
instrumento de empoderamento da sociedade civil.
fato, de outro lado, que a viso formalista ou relativamente formalista
dapoltica cultural (relativamenteformalistaporque nenhum Estado abandona intei-
ramentesua preocupao comocontedode uma poltica para a rea) correspondente
a essa terceira situao tem-se revelado contempornea de ummomento histrico
emquea busca da racionalidade(leia-se: racionalidade econmica) preside a lgica
da ao governamental emtodos os setores, inclusive na cultura.
O Estado quer saber quanto gastar emcada setor, de onde viro os recursos
para isso, quemdeles ter usufruto, o que se conseguir comisso e, ainda, por quese
deve gastar comisso, significando que procura saber que benefcios, e quebenefcios
econmicosde modoparticular, isso que a cultura, no mais vista como umgasto,
mas como um investimento, pode trazer. Os dados, ento, indicadores de um
conhecimento analtico da dinmica sociocultural, so procurados. E no ape-
nas os dados soltos, mas os dados tal como podemconstituir umquadrosistmico.
Desnecessrio dizer que essavertente pode pr em risco a transformao do banco
de dados em instrumento de empoderamento da sociedade civil. Nada, aqui,
Significadomaior:
empoderamentoda
sociedadecivil.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 219
220
garantido apenas porque seprope um novo recurso de anlise e planejamento.
A ateno deve ser contnua.
Tanto mais quanto este terceiro entendimento da questo cultural
no , ainda, de todo incompatvel comaquele que marcou o ciclo
anterior. Umdeterminado Estado ou governo ainda pode querer
fazer da cultura, de algummodo e ainda que de maneira subsidiria,
um instrumento ideolgico complementar de sua ao de gover-
no, ainda pode preocupar-se como contedo cultural que entende adequado
realizao de seus fins por exemplo, o contedo cultural que construa ou
solidifique uma identidade nacional, por mais que este objetivo esteja hoje, acer-
tadamente, emcheque. Mas, fato, por outro lado, que esse estado ou governo
perseguir esse objetivo no mais a partir de uma posio inteiramente programtica,
de natureza terica e ideal, pormdesde uma abordagemmais pragmticada questo:
onde investir, comquemcontar para isso, a que custo, e tendo qual grau de certeza
de que aquilo que oferecer ser aproveitado. O que esse Estado busca a eficinciae
aeficciade sua ao, no quadro de uma interveno planejada e para isso o banco
de dados fundamental.
Essa ltima bempoderia ser a fotografia do conjunto de medidas que visou
dotar o Estado francs, a partir da dcada de 60 do sculo passado, de uminstru-
mento de ajuste fino de sua poltica cultural. Uminstrumento que temservido, se
no de modelo, pelo menos de inspirao para aqueles que procuram retirar do
campo da poltica cultural o carter incerto, por vezes obscuro e quase sempre
descontnuo, que marcou a histria desse domnio ao longo do sculo XX empases
como o Brasil, embora nemde longe apenas nesses.
Esse modelo, porm, no para ser aplicado mecanicamente.
O momento atual no mais corresponde, nemideologicamente nem
economicamente, quele que o viu surgir. O cenrio ideolgico
diverso, o quadro econmico outro e outras so as articulaes
no apenas entre as diferentes economias, como, sobretudo, entre
as culturas e entre as economias e as culturas. Para pases como o Brasil, a busca
da racionalidade tradicional como valor central de governo, na cultura, est sendo
superada, como se ver mais adiante, sem ter conseguido implantar-se. Assim,
mesmo esse princpio bsico da racionalidade, sobre o qual se assenta a construo
de um banco de dados, deve ser revisto.
Programtica
X
Pragmtica
Finalidade,objetivos,
prioridades,
procedimentos
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 220
221
Banco de dados: do iner t e cult ur al cult ur a da vida
A operao que levar existncia de um banco de dados realmente comea,
para ns, numoutro patamar. As experincias anteriores contam, mas no inteira-
mente; ajudam, mas no substituemuma nova reflexo. A primeira pergunta, ento,
ser: Tendo-se enunciado a meta ltima da criao de umbanco de dados (como,
de resto, de todo aspecto de uma poltica cultural) e que o empoderamento da
sociedade civil, surge emseguida a necessidade de saber paraquerealmentese quer, a
seguir, umbanco de dados. questo da finalidade, como insiste Sylvie Escande,
2
segue-se aquela que diz respeito aos objetivosimediatosaalcanar, uma terceira remete
sprioridadesadefinir e uma quarta corresponde definio dos procedimentosdetrabalho
edasregrasdoprocesso.
Finalidades de um banco de dados sobre a cultura
De umponto de vista imediatamente utilitarista, a existncia de dados sobre
a cultura justifica-se na medida emque possa contribuir para a identificao de
reas estratgicas do desenvolvimento nacional e dos setores que possamconduzir
ao desenvolvimentodoprpriosistemadaculturaentendido como umdos motoresdo desen-
volvimento maior. E o que esses dados devero permitir a formulao de polticas
culturais e polticas socioculturais que, na expresso de Nstor Canclini, promovam
oavanotecnolgicoeaexpressomulticultural denossassociedades, centradasnocrescimentodapar-
ticipaodemocrticadeseuscidados.
Por trs dessa colocao existe umconjunto de valores que
no ser o caso de debater aqui, mas, apenas, enunciar:
1. a idia da cultura como instrumento de desenvolvimento econmico e
social e no mais apenas como complemento ou suplemento do aprimoramento
espiritual, imaterial da sociedade;
2. a idia de que a cultura tratvel como componente indissocivel do
par sociocultural, isto , que a cultura no entendida apenas como um valor
emsi, mas como umvalor para outracoisa para o social , que a justifica;
Quatrovalores
2
Pesquisadora do Dpartment des tudes et de la Prospective, do Ministrio da Cultura da Frana.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 221
222
3. a idia de que nossas sociedades so multiculturais, no sendo mais pos-
svel falar emcultura, mas emculturasa reconhecer e para as quais abrir espao;
4. a idia de que a participao democrtica dos cidados na conduo
dos assuntos da sociedade deve ser buscada como meta prioritria, inclusive e
sobretudo na cultura.
Assimformulada, essa finalidade, para ser alcanada, dever levar
emconta os plos ou foras dos quais emanamos vetores culturais
no mundo atual, marcado pela globalizaoemdiferentes setores.
Esses campos ou plos sero diferentes para cada pas, embora um deles parea
ter hoje validade mundial e ser citado aqui a ttulo de exemplo: o das empresas
norte-americanas do audiovisual, em particular no campo da televiso, enquanto
produtoras de notcias e entretenimento. Isso significa que umelemento indispen-
svel na definio de uma poltica cultural hoje, para a qual o banco de dados deve
contribuir, aquele formado pelojogoqueseestabeleceentreaculturanacional eacultura
internacional, comtodos seus desdobramentos nas esferas da produo, distribuio
e consumo. Outro plo aquele definido pelo quadro dos acordosmultinacionais
regionaiscomo Mercosul, Pacto Andino e ALCA, emcujos contextosno se pode mais
buscar apenas normas comerciais de convivncia, pormprincpiosde coadunao
das culturas envolvidas, como propsito de respeitar (e aproveitar) o que comum
e o que diferente.
Essa primeira concepo da finalidade de umbanco de dados de
carter intenso se no exclusivamente econmico. Mas h outros
aspectos a considerar. Hoje, numpas como o Brasil, e diferente-
mentedo queocorria na Frana no momento emquecomeava a surgir o Dpartment
des Etudes et de la Prospective encarregado da produo de dados sobre a cultura,
o que os indicadores devemcaptar no so apenas nmeros que traduzamo mon-
tante de gastos e lucros coma cultura, nemapenas o nmero de empregos que ela
possibilita, mas tambm, emsua relao coma cultura, aquelasatividadesquenoparecem
ter efeitoseconmicos, pelo menos imediatos. A Frana no conhecia, naquele instante,
umproblema, para citar apenas um, hoje de dimenses gigantescasnesta parte do
hemisfrio sul: a violncia. Essa ser uma dimenso imaterial, em princpio no-
econmica, do banco de dados e da correspondente poltica cultural, dimenso que
pode, no entanto, ser formulada de modo claro. Sob esse aspecto, a cultura e as
artes so entendidas, assimcomo o faz Ana Ochoa pensando no caso da Colmbia,
Nacional e
internacional
Umvetor
no-econmico
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 222
223
Banco de dados: do iner t e cult ur al cult ur a da vida
como possibilidade de construodeespaosdeparticipao, como campodereconciliaoe
como antdotoaomedoeintolernciagerados pela violncia e pelos hbitos de dio e
preconceito por ela gerados.
Objetivos mediatos de um banco de dados
Se a finalidade ltima de umbanco de dados sobre a cultura
pode ser traduzida, resumidamente, na consecuo do aumento da
participao democrtica dos cidados nos processos de desenvolvi-
mento humano, os objetivos que se propemcomo outras etapas intermedirias
nesse percurso mostram-se sob diferentes aspectos e tendo diferentes naturezas,
muitos dos quais tampouco estavam presentes quando da proposio do modelo
inicial que hoje se discute e se procura adaptar.
Umdesses objetivos pode ser descrito como o da integraode uma cultura e,
portanto, do pas por ela representado, numa comunidade mais ampla, como
aquela representada pelos acordos como o Mercosul ou a ALCA, a exemplo do que
ocorre na Unio Europia. Emoutras palavras, umdos objetivos centrais de um
banco de dados feito para servir hojeest marcado pela dimenso internacional dos
processos culturais em regime de globalizao. A dinmica cultural interna de
um pas est agora estreitamente vinculada dinmica maior exterior coma qual
interage ou pretende interagir que aquela da qual, por vezes, sob certos aspectos,
depende. Os estudos de poltica cultural so estudoscomparadosou, a rigor, no existem.
Outro objetivo a considerar na elaborao de um banco de dados sobre a
cultura: intervir no campo formado no apenas pelas relaes entre culturaeeconomia
o mais evidente deles como tambm naquele resultante das relaes entre cultura
eeducao, culturaeecologia, culturaecidade, culturaepolticae outros que se revelempassveis
de representao e manipulao. Dito de outro modo, num momento anterior os
dados que interessavam a um banco sobre a cultura eramrelativos a objetos e a
procedimentos estritamente culturais, embora apanhados por vezes emsua dimen-
so econmica: diziamrespeito a objetosou obrasde cultura, produo de cultura,
ao consumo de cultura, ao gasto com a cultura.
Hoje, cultura entendida, antes de mais nada, umfeixe de relaesentrecampos
distintose, num nvel imediatamente superior, um feixe de relaesentreessasrelaes. A
Nacional e
internacional
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 223
224
poltica cultural contempornea, de cunho necessariamente formalista ou to
formalista quanto possvel se pretende manter seu compromisso coma diversidade
cultural e a democracia cultural atua sobre esses cruzamentosde setores distintos,
sobre esses ndulos de relaes. Os dados de umbanco cultural contemporneo
so, ento, complexos ou, para dizer o menos, multifacetados: no dizem mais
respeito apenas aos gastos com a cultura em si, mas aos gastos comaculturanosistema
deeducao, aoconsumodaculturanacidadee assim por diante.
Formulados esses dois objetivos acaso agora centrais dados para a anlise
e interveno no mbito nacional e no internacional; dados para a formulao de
polticas voltadas para dois ou mais campos simultaneamente , outros de natureza
mais tradicional se seguem: reunio de dados sistmicos sobre o financiamento
pblico cultura e o financiamento privado cultura; dados sobre o emprego cul-
tural; dados sobre os pblicos de cultura; dados sobre as prticas culturais;
dados sobre os diferentes modos da cultura e em particular sobre os novos meios
eletrnicos; dados sobre a educao artstica; dados sobre a formao profissional
em e para a cultura. O universo de anlise, se no infinito, amplo.
As prioridades no desenho de um banco de dados
Sendo, portanto, inmeras as possibilidades de investigao na rea,
a definiode prioridades se impe. No difcil imaginar que a
consecuo de cada um dos objetivos enunciados acima exigiria
uma soma considervel de tempo e energia. A definiodeprioridadesse impe. As
duas primeiras so a obteno de mapasdaeconomiainternadaculturae de indicadores
dosprocessosdeinteraoentrediferentesdinmicasculturaisnacionais. O sistema ideal pro-
duziria assim dadosnacionaise dadosnacionaispara ascomparaesinternacionais. E a essas
se acrescentar uma terceira linha: a obteno de dados para uma polticacultural de
descentralizaoedesconcentrao, como j est na pauta (pelo menos de discusso) de
alguns pases como a Frana. Neste caso, h que levar-se emconta que os indica-
dores vlidos para a esfera nacional nemsempre o so para a esfera local, regional
ou internacional e que a formulao mesma desses indicadores determina o que
podemou no captar e, portanto, o que podem ou no alimentar.
Pontos de vista centralizados e centralizadores tendema no apreender
uma vasta gama de atividades e prticas culturais ditas perifricas (ou locais) e
Ummeio:
a comparao
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 224
225
Banco de dados: do iner t e cult ur al cult ur a da vida
que, no entanto, podem revelar-se fundamentais quando vistas sob as lentes
preparadas para tratar mais das relaesculturaisentre campos variados (cultura e edu-
cao, por exemplo) do que das individualidadesculturais(as linguagens culturais tradi-
cionais emsi, o consumo cultural, a oferta, a demanda de cultura).
Por outro lado, para alguns de nossos pases ser preciso ter
em conta que descentralizao no quer dizer necessariamente
desconcentrao, e que por vezes importante descentralizar sem
levar a desconcentrao ao extremo. A existncia de pontos fortes no
interior de umsistema cultural (pontos de concentrao) pode dar
uma dinmica a esse sistema que ele no teria caso todos os pontos
tivessem o mesmo valor, a mesma fora expressiva. Sistemas culturais fortes
freqentemente tmcarros-chefe, como dois ou trs grandes museus nacionais ou
centros culturais ou plos cinematogrficos. So esses pontos fortes que gerama
massacrticade umsistema, sem a qual este no raro se torna pouco significativo,
pouco operante. essa massa crtica que fornece os exemplos, os estmulos para a
aplicao de investimentos, a pesquisa da inovao, a reproduo do sistema, enfim,
no devido grau de vitalidade. Os indicadores culturais devero levar emconta essa
necessidade, evitando-se, na formulao da poltica mais ampla da qual dependem,
o equvoco de tornar sinnimos os termos descentralizaoe desconcentrao. Uma das
falhas das leis de incentivo fiscal para a cultura no Brasil tem sido a de no tratar
diferentemente os desiguais, facilitando a criao de novas entidades de cultura ao
lado de outras j existentes, que definhamsemse ter garantias de que as novas se
afirmaro.
Procedimentos de trabalho e questes a enfrentar
Algumas questes ainda inevitveis a enfrentar antes de propor-se o desenho
de umbanco de dados so, a esta altura, clssicas. Por exemplo, oquecultura, hoje?
O queumaatividadecultural?O que interessa da cultura quando se monta umbanco
de dados? O rock amador de umgrupo de jovens do subrbio? O esporte? E se for
o caso discutvel de incluir-se o esporte entre as atividades culturais, deve-se
assimv-lo apenas do ponto de vista de quemo consome como pblico ou tam-
bmdo ponto de vista dos que o praticam? Por conseguinte, o que empregocultural
ou despesacultural?
Dados para
descentralizar,
desconcentrar e
concentrar
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 225
226
A luz conceitual a projetar sobre essas questes depende da finalidade
atribuda a umbanco de dados e dos objetivos que se procura alcanar. No h uma
resposta padronizada para essas questes, embora os procedimentos consagrados
possamservir como ponto departida. Asteoriasepropostasparaodesenvolvimentoeconmico
podemser fornecedoras de princpios para a determinao dos dados a obter e dos
indicadores a considerar. Os programas e ideologias adotados pelos movimentos
sociaisfornecero outros tantos dados e indicadores que no sero necessaria-
mente os mesmos daqueles que atendem idia da cultura como instrumento de
desenvolvimento econmico. E o recurso cultura como fornecedora de figuras
poticas para o entendimento e a redefinio da vida (funo transcendente da
cultura), com propriedades distintas das mostradas pela cultura vista sob os dois
pontos de vista anteriores, no pode ser considerado secundrio.
E como umdos objetivos hoje centrais de umbanco de dados o
de representar a inter-relao entre a cultura nacional e as culturas
exteriores, assimcomo entre a cultura central e as perifricas, uma
das questes fundamentais a considerar a da harmonizaodosindicadoresque permita
a homogeneizaodosdados.
Essas questes iniciais de certo modo se resumem da elaborao de um
lxicobsico, uma nomenclaturaresultante de um entendimento consensual de deter-
minadas noes-chave (como indstria cultural, prticas culturaisetc.)
Definir os meios que assegurema coernciadosdadosobtidoseaperenidadeemsua
coletaeinterpretaoso duas outras operaes preliminares essenciais.
Para que o desenho a ser adotado atenda finalidade e aos objetivos bsicos
determinados, surge como inevitvel a constituio de uma fora-tarefainicial, e uma
fora-tarefadecomposiointernacional, que enfrentaria estas questes preliminares em
particular, a da construo de umlxicocomalcance regional e possivelmente con-
tinental, se no mundial e que definiria uma outra providncia essencial: a
definio do perfil, da formao e da reciclagem no apenas dos pesquisadores
envolvidos na montagemdo banco de dados como daqueles que, numsegundo
momento, os utilizaro.
Funodolxico
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 226
227
Banco de dados: do iner t e cult ur al cult ur a da vida
Desnecessrio ressaltar que caberia a essa fora-tarefa a iniciativa de
definir as linhas mestras, mais que de um simples banco de
dados, de um verdadeiro SistemadeInformaesCulturaisa ser provavel-
mente dotado de umconselho consultivo integrado por profissionais de diferentes
reas, e de representantes da sociedade civil, capaz de propor um planejamento
estratgicopara o Sistema e de integrar as diferentes entidades cujos esforos sero
fundamentais para a iniciativa. Entre essas entidades, e para dar o exemplo do
caso brasileiro, figuramo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) e o
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), entidades de natureza executi-
va, e, como rgo de formao profissional, a Escola Nacional de Cincia
Estatstica (ENCE). Na esfera internacional, a UNESCO sera referncia, por
sua capacidade investigativa e pelas aproximaes que permite.
Pontos de partida
O programa de ao para o delineamento de um banco de
dados sobre a cultura enfrenta de incio um dilema: produzir os
dados necessrios abovo, sob medida, ou aproveitar omaterial por ventu-
raexistente. No uma deciso tranquila. De todo modo, mesmo o aproveitamento
dos recursos j existentes depende de uma prvia definio do que se pretende
alcanar a curto, mdio e longo prazos como futuro banco de dados. Apenas essa
definio preliminar pode evitar o acmulo de informao intil e a confuso
entre informao e significao. No seria demais lembrar, ainda, que todo
dado, toda informao produzida traz em si uma marca de origem, determinada
pelo objetivo inicial a que serviu e que nem sempre pode ser alterada ou elimi-
nada. Estessoalgunsdosaspectosquefazemcomqueoaproveitamentodedadosexistentessejafre-
qentementeantesumapartedoproblemadoqueumprincpiodesoluo.
Seja como for, o conhecimento do que existe uma etapa do processo inicial
de constituio de umbanco de dados. No h no Brasil, nemmesmo no mbito
do excelente IBGE, de forma organizada, dadossistmicossobre o tema. As informaes
so esparsas e retiradas de pesquisas comoutras finalidades. As fontes no Brasil
que, modificadas, podem ser de utilidade para o banco de dados so o Censo
Demogrfico, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domiclio, a Classi-
ficao das Atividades Econmicas e a Pesquisa de Oramentos Familiares.
Grau zero
O sistema
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 227
228
Um veculo de particular interesse no Brasil pode ser a Pesquisa
de Informaes Bsicas Municipais, realizada pelo IBGE, que
compreende, em sua ltima verso, 5.561 municpios.
3
Essa
pesquisa atraente por conter uma srie de dados relevantes, como a existncia
ou no de equipamentos culturais nas cidades, os servios culturais prestados, a
existncia de conselhos municipais de cultura, as despesas culturais, os meios
culturais disposio (se os municpios tm gerao de imagem de TV, TV a
cabo, provedor de Internet, jornais, rdios, salas de cinema etc.)
Essa pesquisa pode ser aindamaisimportantequando se considera a existncia
de umbanco de dados sob o prisma do empoderamentodasociedadequeelepermite. Se o
objetivo de um banco de dados for o de informar polticasculturaisdescentralizadase
dedesconcentrao, como a tendncia atual de democratizao da cultura nas sociedades
abertas, uma prioridade deve ser concedida para a realidadedascidades, o primeiro e
mais importante cenrio da existncia humana e diante do qual as realidades do
Estado (essa parcela da diviso poltico-administrativa do pas) e da Nao so,
para os efeitos prticos, distantes virtualidades, quando no puras fices.
O conhecimento da vida cultural como umtodo numpas ou numa regio,
emgeral e quase emabstrato (consumo de TV emgeral, hbitos de leitura emgeral,
prticas culturais preferidas emgeral), inevitvel. No h dvida, porm, de que
esse levantamento reflete o ponto de vista e os interesses da administrao central
e, frequentemente, de uma administrao centralizadora almde atender aos
interesses de corporaes privadas de alcance nacional, como as grandes redes
de TV, as maiores corporaes industriais e comerciais e as agncias de publici-
dade. Se a meta for o enraizamentodaculturana vida das pessoas, de modo a operar-
se a passagem da cultura do mundo, esse inertecultural, para a culturadavida, uma
prioridade deve ser dada ao conhecimento do universocultural dacidade. dele que vir
o impulso decisivo para o fortalecimento do sistema cultural de umpas, de uma
regio. Curiosamente, no ele, no entanto, que recebe as atenes primeiras
de um banco de dados.
Por certo, os dados no podem ser colhidos em outro cenrio que no o
das cidades. Mas entre essa inevitabilidade e o desenho de um sistema que inten-
3
Conforme relato de Luis A. P. de Oliveira, do IBGE.
Universoprivilegiado:
a cidade
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 228
229
Banco de dados: do iner t e cult ur al cult ur a da vida
cionalmente defina a cidade como fim primeiro a atender h uma distncia
grande. Mais uma vez, a questo central a definio das prioridades, dos
servios que um banco de dados deve prestar melhor, a definio daquelesaos
quaiso banco deve servir.
Mesmo que no seja o ideal, a quantidade de dados esparsos sobre a cultura
atualmente disponveis no Brasil ainda assim grande. E a tarefa de reunio e
sistematizao das informaes existentes seria igualmente enorme e talvez
irrealizvel. No mnimo retardaria o processo que se pretende implantar. Os dados
existentes poderiam servir na condiodefonteparaleladeconsulta. A melhor estratgia
provavelmente ser o desenhodeumsistemaoriginal, internamente coerente desde o
incio, definido para a obteno das metas selecionadas e capaz de chegar at elas
numperododetempoque no torne a existncia do banco uma inutilidade ou moti-
vo de descrdito. O tempo, na Amrica Latina, nosso maior adversrio. O que
no feito agora, quase sempre no feito mais.
A questodotempo, de fato, fundamental no desenho e na vida de um
banco de dados numpas como o Brasil. Se as premissas dessa proposta estiverem
corretas a existncia de novas articulaes entre economia e cultura nummundo
globalizado que procura se organizar por blocos regionais de desenvolvimento; a
necessidade de definio das reas estratgicas de desenvolvimento cultural e geral;
a imperiosidade da ampliao da participao democrtica das pessoas no processo
de desenvolvimento tecnolgico e humano o banco de dados que resultar dessa
iniciativa ser fruto de uma queima de etapas que lhe permita colocar-se emestdio
equivalente a outros existentes ou, mesmo, numestdio mais avanado. O que no
poder fazer revelar-se igual aos que foram os atuais bancos h quarenta anos.
Nesse vis, sobe para o primeiro plano do desenho desse banco a preocupao
comdados nacionais que permitam a comparao com dados internacionais,
ou, em outras palavras, a preocupao emcaptar a realidade da dinmica interna-
cional da cultura para fornecer cultura nacional a capacidade de com esta inte-
ragir dentroeforadopas o que dever incluir a capacidade de desenhar estratgias
de posicionamento da cultura nacional emmercados internacionais, como obser-
varam George Ydice e Sylvie Durand. Aomesmotempo, o que torna delicada a
tarefa desse banco, no possvel relegar para o segundo plano a realidade doms-
tica mais bsica: a das cidades. O banco de dados ter de esforar-se desde logo
para captar ambas dimenses culturais. Houve um tempo, no passado, em que
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 229
230
se recomendava ser necessrio pensar globalmente e agir localmente. Hoje, porm,
j estamos na era do pensar eagir localmenteeglobalmente. Dessa injuno o banco de
dados projetado no poder escapar.
Uma nota crtica de encerramento, emdois atos. O primeiro diz
respeito ao fato de que umbanco de dados no pode ocupar-se
apenas com a fase de produo desses dados. Se a finalidade lti-
ma de um banco de dados o empoderamento da sociedade civil, o sistema que
gera esses dados deve ocupar-se tambm com a distribuio deles e a orientao
para seu uso. H dois modos de consegui-lo: o inerte (como sempre, em cul-
tura) e o pr-ativo. No primeiro, disponibilizam-se os dados secos na inter-
net, por exemplo: quemquiser, l os encontrar. Provavelmente, isso no basta. De
acordo como outro modo, disponibilizam-se amplamente os dados e fornecem-se
suas chaves de leitura. Quemos produz deve tambmser capaz de apresentar-se
como os primeiros a faz-los entendidos.
Segundo ato desta nota crtica: Esforos como o deste encontro
para tratar de umtema como este tmumsignificado histrico
preciso que no se pode deixar de destacar e que se encontra na
resposta a esta pergunta: Por queeparaqueafinal queremosumbancode
dados, agora? A resposta a essa questo pode ter uma nuance
prpria emcada lugar. H, por certo, a finalidade ltima de empoderar-se a
sociedade civil. Isso no se consegue de imediato, porm: para alcan-lo, neces-
sita-se de tticas especficas. No caso do Brasil que, suspeito, ser pelo menos em
parte vlido para outros pases no possvel negar o fato de que os esforos de
criao de umbanco de dados da cultura que pessoas como ns esto desenvol-
vendo so feitos ainda, antes de mais nada, com o objetivo de fornecer instrumentos
de convencimentodogovernoedainiciativaprivadadequedeveminvestir emcultura, quetmumpapel
nocampodacultura.
Trata-se de convencer ambas essas esferas, bemcomo a sociedade civil emsua
totalidade, e por meio do recurso a nmeros duros e comprovveis, de que a apli-
cao de recursos na cultura temumsignificadoeconmicosensvel na dinmica do
desenvolvimento nacional (gerando empregos, trazendo divisas de fora, fornecendo
ocupao do tempo ocioso no raro desviado para atos de violncia comresultado
econmico negativo) e que, portanto, em segundo lugar, que essa aplicao de
recursos na cultura no deve ser entendida como umgasto(despesa), pormcomo
Funes imanentes
etranscendentes
da cultura
Uma nota crtica
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 230
231
Banco de dados: do iner t e cult ur al cult ur a da vida
investimento. E uminvestimento noapenassocial. Esse aspecto importa porque certos
organismos ditos de ajuda econmica internacional ainda relutam em aceitar,
quando firmamacordos decooperao econmica comos pases emdesenvolvi-
mento, que sejamfeitos gastossociaisou, mesmo, investimentossociais; permitemapenas
investimentos com retorno econmico lquido, certo e verificvel em nmeros
precisos.
E importa destacar esse aspecto, ainda, porque essa mesma lgica j se
acha na verdade internalizada no corpo poltico do pas, quase independentemente
da colorao ideolgica da cabea desse corpo (isto , quando esse corpo poltico
tem alguma cabea...). comesseobjetivotticoque se promove a defesa de um banco
de dados, hoje. No podemos, porm, nos iludir com nosso discurso ttico e acre-
ditar em tudo que ele diz. No podemos deixar de perceber que as justificativas
e procedimentos aqui apresentados, bem como os resultados prognosticados,
respondema umentendimento imanentista da cultura.
No creio que possamos nos esquecer por umsegundo sequer da cultura
como uma esfera transcendental, por isso mesmo passvel de ser vista como umpuro
dispndio, quer dizer, dispndio semretorno e semjustificativa. A cultura no serve
apenas ao econmico e ao social e no gera, necessariamente e sempre, vetores de
alimentao da identidade nacional ou pessoal (funesimanentesdacultura), assim
como no serve unicamente para combater a violncia e promover a incluso social
(nemfalo, aqui, de toda a dimenso de negatividade inerente cultura, nem de
seus pontos cegos onde ela deixa de ser igual a si mesma). A cultura tambmuma
reserva de sentidopara a vida e um motor do princpio de prazer e da busca da
felicidade (funestranscendentesdacultura) que toda poltica cultural deveria reconhe-
cer como indispensveis, semmais justificativas ou pretextos.
Dito de outro modo, h uma dimenso da culturapelacultura, assim como se
diz artepelaarte, que inquantificvel e no mensurvel e que nempor isso pode ser
afastada das consideraes da poltica cultural. Temosdeestar preparadosparafazer essa
defesadacultura, essa defesa da cultura assim entendida e a defesa da aplicao de
recursos na cultura (portanto do gastona cultura, porque disso que se trata), a
qualquer momento. Inclusivequando os recursos para a cultura faltarem.
Como sabemos que esse discurso ter fraco poder de persuaso ainda por
algumtempo, e como a obteno de indicadores da transcendentalidade da cultura
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 231
232
invivel, o recurso que temos para garantir a eficcia de nosso projeto quanto a
este seu real e final objetivo pensar na culturalizao de todas as esferas da vida
social (a educao, a cidade, a poltica, a economia) e assim propor um banco de
dados que capte a presena necessria da cultura em todos os cantos da vida,
nica medida de transpormos a distncia que vai da cultura acumulada, da cul-
tura do mundo que chamo de inerte cultural: a cultura dos museus, a cultura
das bibliotecas, a economia da cultura para a cultura da vida. Emoutras palavras,
ou operamos coma cultura assimcomo o movimento ecolgico faz coma natureza
(agir emtoda parte ou nada se consegue), ou no teremos sucesso em nossa tare-
fa. A cultura tem de estar em toda parte. Temos de ser capazes de encontrar indi-
cadores para essa cultura ampla, essa cultura da vida.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 232
233
Nota sobreos autores
Nstor Garca Canclini (Mxico)
Dirige o Programa de Estudos sobre Cultura Urbana da Universidade Autnoma
Metropolitana do Mxico. Foi professor visitante das universidades de Austin,
Barcelona, Buenos Aires, So Paulo e Stanford. Recebeu o prmio Casa das Amricas
por seu livro Las culturas popularesen el capitalismoe o prmio Book Award da
Associao de Estudos Latino-americanos pelo livro Culturashbridas. Entre suas
publicaes est tambm Laglobalizacin imaginade a mais recente Latino-americanos
buscandolugar emestesiglo(Editorial Paids).
Jaume Pags Fita (Espanha)
Catedrtico de mecnica, matemtica e automtica da Universidade de Mateixa,
Espanha, da qual foi vice-reitor e atualmente reitor. Foi secretario da seo de
engenharia da Sociedade Catal de Cincias Fsicas, Qumicas e Matemticas
(1976-1979). Fez anlise e resoluo dos problemas de controle e planejamento
de misses interplanetrias. Especialista em engenharia de sistemas. autor de
publicaes do tipo docente e de outras sobre resultados de pesquisa.
Helena Sampaio (Brasil)
Coordena, desde abril de 2002, o Programa Artesanato Solidrio, do Conselho da
Comunidade Solidria. Durante dez anos desenvolveu, na Universidade de So
Paulo (USP), pesquisas e estudos na rea de ensino superior. autora do livro
O ensinosuperior noBrasil: osetor privado. Entre 2000 e 2001, prestou consultorias ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/ MEC) e foi
membro do Conselho Consultivo do Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB).
Christiano Lima Braga (Brasil)
atualmente coordenador nacional do Programa Cara Brasileira do Servio
Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional). Foi coorde-
nador tcnico de Programa no Sebrae-Bahia (1997-2001), e scio-proprietrio
da empresa Dossi Pesquisa de Mercado e Marketing Ltda no perodo de 1993-
1997. Participou por quatro anos nos projetos de pesquisa Anlise da Estrutura
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 233
234
de Mercado e Anlise Comparativa do Endividamento do Setor Qumico-
Petroqumico (BA).
Ana Maria Ochoa Gautier (Estados Unidos)
Pesquisadora, na rea da antropologia, trabalha no Instituto Colombiano de
Antropologia e Histria e no Centro Nacional das Artes, Mxico. Seus temas de
pesquisa abordam: Polticas culturais, cultura e conflito; relao estado
-sociedade civil; patrimnio intangvel, direito autoral e indstria da msica.
Atuou em arquivos e na criao de bases de dados culturais como diretora
do Centro de Documentao das Artes do Ministrio de Cultura da Colmbia
(1998-2000); assessora na criao do Sistema Nacional de Informao Cultural na
Colmbia; na elaborao de arquivos de msica tradicional, Universidade de
Indiana (1990-1992). Suas publicaes incluem: Entrelosdeseosy losderechos. Polticas
culturais, diversidady conflictoarmadoen Colombia, editados pelo Instituto Colombiano de
Antropologia e Histria.
Alfons Martinell (Frana)
Presidente da Fundao Interarts, professor titular da Ctedra UNESCO: Polticas
Culturais e Cooperao da Universidade de Girona. Especialista no campo das
polticas culturais territoriais e da formao de gestores culturais.
Pedro Taddei Neto (Brasil)
Coordenador nacional, no perodo de 1997-2002, do Programa Monumentado
Ministrio da Cultura. Foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-
SP), vice-presidente da Caixa Econmica do Estado de So Paulo e presidente da
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).
Patrcia Rodrguez Alom (Cuba)
Vice-diretora do Plano Maestro da Oficina del Historiador da cidade de Havana,
Cuba. Teve a seu cargo a apresentao do documento dedicado anlise de uma
amostragem significativa da prtica da gesto emvrios centros histricos: Havana,
Mxico, Quito, Recife e Montevidu.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 234
235
Sylvie Escande (Frana)
Trabalhou, desde 1997 at recentemente, como editora no Departamento dos
Estudos e da Prospectiva (DEP) do Ministrio da Cultura da Frana. editora do
Circular (n 7-12), o jornal do Circle. Foi responsvel pela concepo de progra-
mas/ novos centros dos recursos de multimdia e umprograma interativo para a
segurana nos museus e nos monumentos Forsecia no Ministrio de Cultura da
Frana.
Edgar Montiel (Frana)
Professor universitrio, pesquisador e diplomata. Chefe da Seo de Cultura e
Desenvolvimento (Diviso de Polticas Culturais) da UNESCOParis. Foi
Conselheiro de Cultura da UNESCO para os pases do Mercosul. Autor de diver-
sos livros, dentre os mais recentes El humanismoamericano. Filosofiadeunacomunidadede
naciones(FCE, Lima 2001).
Sylvie Elena Durn Salvatierra (Costa Rica)
Presidente da Associao Cultural Incorpore e atualmente assessora do
Ministrio de Cultura, Juventude e Desportos da Costa Rica. Foi consultora em
projetos de produo artstica e de cultura e desenvolvimento para instituies
pblicas, organismos internacionais e outras entidades culturais, profissionais
e comunitrias na Amrica Central.
George Ydice (Estados Unidos)
Diretor do Centro de Estudos Latino-americanos e Caribe da Universidade de
New York, onde tambmleciona. Dirige o programa Privatization of Culture:
Project for Research on Cultural Policy and the Inter-American Cultural Studies
Network. Autor, entre outros, de: Theexpediency of culture(Duke UP, no prelo, janeiro
de 2003); Laconvenienciadelacultura: losusosdelaculturaen laglobalizacin eCultural policy,
emcolaborao comToby Miller (Sage Publications, no prelo, agosto de 2002).
Luis Antonio Pinto de Oliveira (Brasil)
Analista especializado da Fundao IBGE. Chefe do Departamento de Populao
e Indicadores Sociais (DEPIS) diretor Nacional do Projeto IBGE/ UNFPA.
Responsvel pelo lanamento da srie Tendncias Demogrficas: Uma Anlise a
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 235
236
partir das Informaes dos Censos Demogrficos e da Contagemda Populao de
1996. Coordenador da Sntese de Indicadores Sociais, coletnea anual, lanada
pela Fundao IBGE.
Gustavo Maia Gomes (Brasil)
Diretor de Estudos Regionais e Urbanos do Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada (IPEA) no perodo de 1995-2002. Lecionou nas universidades de So
Paulo, Campinas (SP) e Federal de Pernambuco. Publicou, entre outros, os livros:
Therootsof stateintervention in thebrazilian economy(New York, Praeger, 1986) e Velhassecas
emnovossertes(Braslia, IPEA, 2001).
Jos Teixeira Coelho (Brasil)
Professor titular da Universidade de So Paulo (USP), onde coordenador da linha
de ensino e pesquisa emAo Cultural e do Observatrio de Polticas Culturais.
Ex-diretor do Museu de Arte Contempornea de So Paulo e do Centro de
Informao e Documentao Artstica (Idart), de So Paulo. Recebeu, entre outras,
a bolsa da Fundao Fulbright e foi professor visitante da Universidade de
Maryland, EUA, e da ITESO, Mxico. Entre suas obras esto Dicionriocrticode
polticacultural, Usosdaculturae Modernops-moderno. Como romancista, autor de
Niemeyer: umromancee Fliperamasemcreme, entre outros.
Miolo POLITICAS OK 10/7/03 11:04 AM Page 236
Você também pode gostar
- 1 4972335203956555883Documento67 páginas1 4972335203956555883Alberico MedeirosAinda não há avaliações
- O Papel Do TeólogoDocumento7 páginasO Papel Do Teólogomslinda91100% (1)
- Teologia PráticaDocumento42 páginasTeologia PráticaJuliano P. Abreu100% (1)
- FlashCards América Do SulDocumento10 páginasFlashCards América Do SulPriscila FialhoAinda não há avaliações
- Walter D. Mignolo - Histórias Locais - Projetos Globais - Colonialidade, Saberes Subalternos e Pensamento Liminar (2003, UFMG) - Libgen - LiDocumento523 páginasWalter D. Mignolo - Histórias Locais - Projetos Globais - Colonialidade, Saberes Subalternos e Pensamento Liminar (2003, UFMG) - Libgen - LiMario RuferAinda não há avaliações
- SPINDLER - Realismo MágicoDocumento12 páginasSPINDLER - Realismo MágicoCarol Bianco100% (3)
- Edgardo Lander (Org.) A Colonialidade Do SaberDocumento130 páginasEdgardo Lander (Org.) A Colonialidade Do SaberMarina Mesquita100% (1)
- A DIMENSÃO SOCIAL DA CIDADANIA - Bryan RobertsDocumento19 páginasA DIMENSÃO SOCIAL DA CIDADANIA - Bryan RobertsLorena CaminhasAinda não há avaliações
- Geografia Atividade 4 8c2b0 AnoDocumento4 páginasGeografia Atividade 4 8c2b0 AnoRosianeAinda não há avaliações
- Uesb 2 2011 - 1 PDFDocumento16 páginasUesb 2 2011 - 1 PDFMateusOliveiraAinda não há avaliações
- Artigo de Danilo Martuscelli - O Conceito de Golpe de Estado No Debate Sobre o Neolpismo Na América Latina ContemporâneaDocumento20 páginasArtigo de Danilo Martuscelli - O Conceito de Golpe de Estado No Debate Sobre o Neolpismo Na América Latina ContemporâneaDouglas AlvesAinda não há avaliações
- Literatura e Política Libro de Manuel Julio Cortázar. Adriane A. Vidal CostaDocumento20 páginasLiteratura e Política Libro de Manuel Julio Cortázar. Adriane A. Vidal CostaClaudia GilmanAinda não há avaliações
- Religiao Literatura PDFDocumento114 páginasReligiao Literatura PDFHugo MirandaAinda não há avaliações
- Globalização e Regionalização - Rogério Luis Reolon AnéseDocumento11 páginasGlobalização e Regionalização - Rogério Luis Reolon AnéseConhecerAinda não há avaliações
- 17094-Texto Do Artigo-72527-1-10-200910259Documento16 páginas17094-Texto Do Artigo-72527-1-10-200910259eduardo moraisAinda não há avaliações
- Livro de ResumosDocumento164 páginasLivro de ResumosJuan MadridAinda não há avaliações
- Perspectivas para A Implementação Do Socioambientalismo, v. IIDocumento300 páginasPerspectivas para A Implementação Do Socioambientalismo, v. IIDireitoSocioambiental.orgAinda não há avaliações
- Muniz Sodré - EntrevistaDocumento9 páginasMuniz Sodré - EntrevistathalesleloAinda não há avaliações
- Expedição 5 América - Países Emergentes Percurso 17 México, Argentina e Brasil - Industrialização Tardia e PopulaçãoDocumento24 páginasExpedição 5 América - Países Emergentes Percurso 17 México, Argentina e Brasil - Industrialização Tardia e PopulaçãoRosânia PereiraAinda não há avaliações
- Access International May-June 2013Documento76 páginasAccess International May-June 2013NOIVODALAGOAAinda não há avaliações
- Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável 2013Documento60 páginasAgroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável 2013Raul JuniorAinda não há avaliações
- Brunomarcelino, Elaine Silveira Mello Silva1Documento19 páginasBrunomarcelino, Elaine Silveira Mello Silva1jhnenniferjhenniAinda não há avaliações
- A Educação Popular Latino-Americana e Suas Contribuições para A Mudança SocialDocumento4 páginasA Educação Popular Latino-Americana e Suas Contribuições para A Mudança SocialJoão ColaresAinda não há avaliações
- DE LULA A BOLSONARO Trajetorias Politica PDFDocumento131 páginasDE LULA A BOLSONARO Trajetorias Politica PDFÉvila SáAinda não há avaliações
- 2 Bim em - 8 - Ano - HistóriaDocumento37 páginas2 Bim em - 8 - Ano - Históriawanderlucia.soaresAinda não há avaliações
- Frases de Che GuevaraDocumento11 páginasFrases de Che GuevaraIsabel Cunha LopesAinda não há avaliações
- A Recepção Bíblico-Pastoral Das Conferências Episcopais Na Al e A Leitura Popular Da BíbliaDocumento18 páginasA Recepção Bíblico-Pastoral Das Conferências Episcopais Na Al e A Leitura Popular Da BíbliaMauriPerkowskiAinda não há avaliações
- RESUMOS - Plano 1Documento11 páginasRESUMOS - Plano 1bodevelhovelhoAinda não há avaliações
- FILME B18 - Com TiagoDocumento1 páginaFILME B18 - Com TiagoBeatriz LeiteAinda não há avaliações
- Trabalho e Cidadania Ativa para MulheresDocumento149 páginasTrabalho e Cidadania Ativa para MulheresHeloisa Lemes SilvaAinda não há avaliações