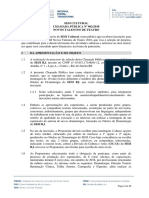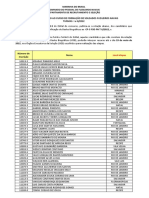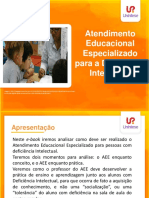Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF
ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF
Enviado por
pedropomez2Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF
ARTIGO - Troca e Relação Na Estética Relacional PDF
Enviado por
pedropomez2Direitos autorais:
Formatos disponíveis
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
Troca e relao
na esttica relacional
Manoel Silvestre Friques
Resumo
O presente artigo prope uma reexo a respeito da
esttica relacional, desenvolvida na dcada de 1990
pelo crtico e curador francs Nicolas Bourriaud.
Para tal, elege-se como contraponto o pensamento
de Marcel Mauss, especicamente seu ensaio sobre
a ddiva, a m de se perceber as semelhanas e
diferenas entre as abordagens dos dois autores
para os conceitos de relao e de troca. A indagao
que motiva este texto assim elaborada: os modelos
de sociabilidade propostos por Bourriaud reforam e
reproduzem a lgica do capitalismo de consumo ou
lhe sugerem alternativas?
Palavras-Chave
Esttica Relacional. Arte Contempornea.
Modelos de Sociabilidade. Sociologia da Arte.
1 Introduo
Em meio exibio de fotos da cole Nationale
Suprieure des Beaux-Arts Instituio da
qual fora designado diretor havia poucos
meses Nicolas Bourriaud
1
comentou
brevemente que havia uma aproximao entre
sua esttica relacional e a sociologia. No foi
informada, no entanto, a natureza de vnculo
que sua formulao terica, que tem no livro
homnimo publicado em 1998 a sua principal
fundamentao, estabeleceria com tal campo do
saber. O conjunto de obras e artistas analisados
por Bourriaud congurariam uma arte
sociolgica seja l a que tal expresso possa
se referir ou seu estudo se inscreveria em
uma sociologia da arte? De todo modo, o breve
comentrio suscitou a possibilidade de se buscar
um entendimento da esttica relacional sob
uma perspectiva especca das cincias sociais:
o conceito de ddiva desenvolvido por Marcel
Mauss em seu Ensaio sobre a ddiva forma
e razo da troca nas sociedades arcaicas. A
nfase dada aos conceitos de relao e troca
tanto por parte de Bourriaud quanto por parte
Manoel Silvestre Friques | manoel.friques@gmail.com
Mestre em Artes Cnicas pela Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO). Doutorando no Programa de Histria Social da
Cultura pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio). Professor da Escola de Engenharia de Produo da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
1/12
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
de Mauss motivou o presente artigo, operando
como prisma analtico para a reexo a seguir.
2 A Esttica Relacional
Ao justicar o surgimento da esttica relacional
sendo esta especca arte dos anos 1990 ,
Bourriaud esboa o seguinte quadro histrico geral:
Essa histria [da arte], hoje, parece ter tomado
um novo rumo: depois do campo das relaes
entre Humanidade e divindade, a seguir entre
Humanidade e objeto, a prtica artstica agora
se concentra na esfera das relaes inter-hu-
manas, como provam as experincias em curso
desde o comeo dos anos 1990 (BOURRIAUD,
2009, p. 39-40).
Note-se que tal quadro marcado por uma
lgica sequencial, na qual o carter relacional
intrnseco da obra de arte (BOURRIAUD, 2009,
p. 39-40) desloca paulatinamente o seu foco at,
por m, repousar na esfera das relaes humanas.
Sem nos atermos ao modelo historiogrco
adotado pelo autor, observemos apenas que
este, caracterizado por fases que se sucedem e/
ou substituem, parece encontrar suas razes em
uma lgica teleolgica, progressiva e, por isso,
prxima narrativa mestra que Arthur Danto
havia dado como encerrada na dcada de 1960.
Ao lado disso, observa-se que a esttica relacional
no representa a presena da relao na arte
em contraposio a sua ausncia nas criaes
artsticas anteriores. O carter relacional
inerente obra de arte. A diferena crucial entre
a produo artstica de outrora e a produzida
a partir dos anos 1990 reside na nfase que a
segunda concede a um tipo especco de relao,
a saber, as experincias inter-humanas. Mas o que,
de fato, signica isso?
Signica dizer que a produo artstica dos
ltimos 20 anos procura criar, em museus e
galerias, modelos de sociabilidade nos quais
o espectador deve participar ativamente. Na
realidade, os artistas no criam tais modelos
mas, como DJs e internautas, se apropriam de
elementos pr-existentes e os deslocam para os
espaos de arte. Trata-se de uma arte da ps-
produo, assim denida por Bourriaud em livro
que a continuao de sua esttica relacional:
A prtica do DJ, a atividade do internauta, a atu-
ao dos artistas da ps-produo supem uma
mesma gura do saber, que se caracteriza pela
inveno de itinerrios por entre a cultura. Os
trs so semionautas que produzem, antes de
mais nada, percursos originais entre os signos
(BOURRIAUD, 2009b, p. 14).
Como um semionauta, o artista contemporneo
se baseia em modelos de sociabilidade
encontrados no dia a dia jantares, festas,
encontros, contratos, trocas comerciais etc. e
2/12
1
Em 2012, Bourriaud esteve no Rio de Janeiro para duas palestras: a primeira se deu na PUC-Rio em 13 de abril e teve como
tema As escolas de Arte no sculo XXI; a segunda, cujo ttulo era Radicante, por uma esttica da globalizao, ocorreu no MAM
no dia seguinte. Participei do primeiro encontro no qual o curador francs nos informou a respeito de seu novo cargo: diretor da
cole Nationale Suprieure des Beaux-Arts, em Paris.
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
os reformula no contexto de uma galeria de
arte. Tais propostas tm como justicativa a
necessidade de resposta uniformizao dos
comportamentos e padronizao do vnculo
social em meio ao caos cultural atual. A esttica
relacional seria a sada contra a previso de
Bourriaud, para quem em breve, as relaes
humanas no conseguiro se manter fora dos
espaos mercantis (BOURRIAUD, 2009, p. 12).
O inimigo, portanto, claro: a reicao das
relaes humanas. Contra esta tendncia
de mercantilizao do vnculo social, um
conjunto especco de artistas
2
trataria de
criar interstcios sociais, entendidos como
um espao de relaes humanas que, mesmo
inserido de maneira mais ou menos aberta e
harmoniosa no sistema global, sugere outras
possibilidades de troca alm das vigentes nesse
sistema (BOURRIAUD, 2009, p. 22, grifo nosso).
A exposio, com isso, torna-se um interstcio
no qual uma determinada coletividade ser
constituda de modo efmero. As obras de arte
no so, portanto, produtos, mas momentos de
sociabilidade. Um domnio de trocas particular
institudo a partir das instrues, ou dos
objetos produtores de sociabilidade, propostos
pelo artista. Mas de que forma tais domnios
so alternativos s trocas comerciais (e aqui se
chega a um dos pontos nevrlgicos deste texto)?
O argumento de Bourriaud tem por base uma
nfase nas relaes humanas, em especial
nas trocas entre indivduos, como forma de
constituio de sociabilidades. Resta-nos
perguntar de que modo isso feito, a partir da
descrio e da anlise de algumas experincias
produzidas por artistas mencionados pelo crtico
francs. Antes, porm, de analisarmos algumas
criaes de Rirkrit Tiravanija artista tailands
considerado o expoente da esttica relacional
e Carsten Hller, passemos compreenso
das relaes e da troca sob um ponto de vista
sociolgico especco, de Marcel Mauss. A hiptese
que nos leva a realizar esta passagem a seguinte:
a ddiva, enquanto forma arcaica da troca, impe
limites precisos abordagem de Bourriaud,
permitindo o desenvolvimento de um discurso
crtico em relao s noes elaboradas pelo autor.
3 A troca-ddiva
Em seu trabalho mais justamente clebre e
aquele de inuncia mais profunda (LEVI-
STRAUSS, 2003, p. 23), Mauss debrua-se sobre
as formas arcaicas da troca encontradas em
diversas sociedades, em especial, nos melansios,
polinsios e americanos.
3
A ddiva-troca apresenta
um conjunto de obrigaes como elementos
caractersticos: obrigao de dar, obrigao de
receber e obrigao de retribuir. Se a primeira
3/12
2
Rirkrit Tiravanija, Vanessa Beecroft, Douglas Gordon, Andrea Zittel, Angela Bulloch, Gabriel Orozco, Liam Gillick, Dominique
Gonzalez-Foerster, Jorge Pardo, Phillipe Parreno, Maurizio Cattelan, Jes Brinch, Christine Hill, Carsten Hller, Noritoshi Hirakawa,
Pierre Huyghe e Felix Gonzalez-Torres so os nomes recorrentes na exposio de Bourriaud.
3
Mauss observa tambm os costumes da ddiva nos direitos romano muito antigo, hindu, germnico, cltico e chins.
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
a essncia do potlatch (MAUSS, 2003, p. 243),
a ltima o plenamente ( todo o potlatch)
(MAUSS, 2003, p. 249). Dar, neste contexto, a
maneira pela qual um chefe conserva a autoridade
sobre a sua tribo: ele no pode provar essa fortuna
a no ser gastando-a, distribuindo-a, humilhando
com ela os outros, colocando-os sombra de seu
nome (MAUSS, 2003, p. 244). Percebe-se neste
ponto um aspecto que diferencia a ddiva-troca da
troca comercial: no sistema de prestaes e contra-
prestaes que o potlatch, em casos extremos,
o prestgio a ser conservado pelo chefe e seu cl
obriga, no a manuteno da riqueza, mas a sua
destruio completa. uma disputa, observa
Mauss (2003, p. 238), de quem ser o mais rico e
tambm o mais loucamente perdulrio.
Quando uma ddiva oferecida, no se
pode recus-la. A rejeio representa a
incapacidade de retribuio, a aceitao de
uma desigualdade e, consequentemente, uma
espcie de nivelamento e perda de prestgio e
autoridade. A obrigao em receber tambm
um comprometimento: recebe-se uma ddiva
como um peso nas costas. Faz-se mais do que se
beneciar de uma coisa e de uma festa, aceitou-
se um desao (MAUSS, 2003, p. 248). Tal desao
conduz inevitavelmente terceira obrigao, a
retribuio, que surge quando o donatrio recebe
a ddiva com esprito de reciprocidade.
Dois elementos conexos permeiam as trs
obrigaes acima: a rivalidade e o risco. Para
explicar tais presenas, convm esclarecer que a
ddiva-troca ocorre entre cls, tribos, famlias, em
suma, coletividades. As trocas so realizadas entre
pessoas morais e envolvem, a todo o momento, o
risco de perda de autoridade, honra e prestgio. H,
com isso, sempre um conito latente na ddiva que
pode vir a resultar, caso as obrigaes voluntrias
no sejam realizadas, em combate: recusar dar,
negligenciar convidar, assim como recusar receber,
equivale a declarar guerra; recusar a aliana e a
comunho (MAUSS, 2003, p. 202).
O trio de obrigaes que congura a ddiva-
troca constitui a base do potlatch, mencionado
anteriormente e denido como um gnero de
instituio especco, chamado de prestaes
totais de tipo agonstico. Um sistema de
prestaes totais , por sua vez, um regime de
trocas que possui as caractersticas descritas
acima e no qual no se trocam coisas teis
economicamente, mas
[...] amabilidades, banquetes, ritos, servios
militares, mulheres, crianas, danas, festas,
feiras, dos quais o mercado apenas um dos
momentos, e nos quais a circulao de rique-
zas no seno um dos termos de um contrato
bem mais geral e permanente (MAUSS, 2003,
p. 191).
Tais sistemas so observados em fatos sociais
totais (ou gerais), assim denominados por
colocar em ao a totalidade da sociedade
e suas instituies (MAUSS, 2003, p. 309).
A mistura o elemento crucial destes: todas
as instituies, sejam elas religiosas, morais,
econmicas ou jurdicas, se revelam nestes
4/12
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
fatos complexos. Esta mistura tambm faz
coincidirem pessoas e coisas e, neste ponto,
vale recorrer, uma vez mais, voz de Mauss
(2003, p. 212):
Trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as
almas nas coisas, misturam-se as coisas nas
almas. Misturam-se as vidas, e assim as pes-
soas e as coisas misturadas saem cada qual de
sua esfera e se misturam: o que precisamente
o contrato e a troca.
Se a forma arcaica da troca j foi aqui
descrita, a razo de sua existncia pode ser
compreendida a partir da mistura das almas
nas coisas e das coisas nas almas. Mais acima,
observou-se a presena do risco da perda
de autoridade e prestgio: trata-se de uma
preocupao moral transversal ddiva-troca
diretamente associada ao esprito da coisa
dada, fora das coisas dadas que constrangem
o donatrio a retribu-las. O mana (hau) deve
ser entendido como uma virtude no uma
propriedade fsica dos bens trocados mas uma
espcie de fonte de energia (a personalidade
da coisa) que funciona como eixo deste
sistema de trocas.
A troca no , portanto, realizada no interior de
um sistema de compra e movida por um interesse
individual utilitarista, mas por meio de ddivas
feitas e retribudas, motivadas pelo mana. A
mistura inerente este sistema aquilo que marca
tambm o regime social, congurando-lhe um
permanente movimento contnuo que atravessa a
vida social e tambm lhe seu smbolo:
Tudo se conserva e tudo se confunde; as coi-
sas tm uma personalidade e as personalidade
so, de certo modo, coisas permanentes do cl.
Ttulos, talisms, cobres e espritos dos chefes
so homnimos e sinnimos, de mesma natu-
reza e mesma funo. A circulao, dos bens
acompanha a dos homens, das mulheres e das
crianas, dos festins, dos ritos, das cerimnias
e das danas, mesmo a dos gracejos e das in-
jrias. No fundo, ela a mesma. Se coisas so
dadas e retribudas, porque se do e se retri-
buem respeitos podemos dizer igualmente
cortesias. Mas tambm porque as pessoas
se do ao dar, e se as pessoas se do, por-
que se devem elas e seus bens aos outros
(MAUSS, 2003, p. 263, grifos do autor).
4 A troca na esttica relacional
Na concluso de seu ensaio, Mauss estabelece
nitidamente uma diferena entre a forma-ddiva
e o regime de compra e venda. Neste momento de
sua argumentao, o autor esfora-se por observar
vestgios ou mais do que isso deste tipo
arcaico de troca em nossas sociedades. Talvez no
possa encontr-lo plenamente, mas no se abstm
de dizer que a moral constituinte da ddiva e
que se traduz em sua forma tripla de obrigao
motivada pelo mana (a alma da coisa) reaparece
em algumas sociedades, correspondendo,
inclusive, a um retorno ao direito. De fato, so
os velhos princpios que, em nossos dias, reagem
s abstraes, inumanidades e rigores de nossos
cdigos (MAUSS, 2003, p. 295).
Assim, a atmosfera em que ddiva, obrigao e
liberdade se misturam no est apenas distante
de ns, em sociedades arcaicas. Ela se estende
5/12
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
a nossas vidas e a partir desta extenso
4
que
devemos retomar o trabalho de Bourriaud. Deve
estar claro que o objetivo aqui no vericar se a
esttica relacional se adequa ou no ao sistema de
trocas descrito por Mauss. Neste caso a resposta
seria uma s: no. Estas duas abordagens da
troca so aproximadas a partir das desconanas
e questionamentos que ambos os autores fazem
em relao ao regime econmico utilitarista: se
em Mauss ele se contrape economia da ddiva-
troca, em Bourriaud ele se torna o responsvel
pela mercantilizao das relaes humanas.
Para que a aproximao proposta seja realizada,
faz-se necessrio recorrer a algumas experincias
da esttica relacional, a m de vericar a sua lgica
e funcionamento. Neste ponto, um esclarecimento:
a noo de Bourriaud no um programa esttico,
nem se congura como um manifesto denidor
de uma identidade estvel de um grupo de
artistas. Trata-se de uma aventura terica cuja
fundamentao est no trabalho de um conjunto
especco de criadores como Rirkrit Tiravanija,
Vanessa Beecroft, Douglas Gordon, Andrea Zittel,
Gabriel Orozco, Liam Gillick, Dominique Gonzalez-
Foerster, Phillipe Parreno, Maurizio Cattelan,
Carsten Hller, Pierre Huyghe e Felix Gonzalez-
Torres, para car nos nomes mais recorrentes. As
criaes produzidas por esta amostra de artistas
so as mais diversas e, surpreendentemente,
ocupam poucas pginas do livro de Bourriaud.
Com exceo de anlises breves e pontuais, a
meno aos trabalhos, a despeito da disponibilidade
de informaes sobre eles, vem desprovida de
descries e investigaes a respeito de sua forma,
moral e razo, para colocar nos termos de Mauss.
H, com isso, uma diferena crucial quanto ao rigor
metodolgico que move os dois escritos. Se Mauss
se debrua sobre os fatos sociais, observando
concretamente a vida social em uma descrio por
vezes exaustiva das dinmicas que caracterizam
as formas arcaicas da troca, Bourriaud apressa-
se por uma generalizao da condio artstica
contempornea, sem que isso venha acompanhado
de convincentes e fundamentadas anlises.
Desse modo, a esttica relacional institui um domnio
de trocas, insucientemente descrito para que se
possa perceber as linhas gerais, e fundamentais, de
seu funcionamento. Na tentativa de vislumbrar tais
forma e razo, recorre-se, neste artigo, a produes
artsticas de dois expoentes da esttica relacional:
Rirkrit Tiravanija e Carsten Hller. Antes, porm,
convm no cometer injustias e comentar o captulo
dedicado obra de Felix Gonzalez-Torres.
5
O artista
cubano considerado uma espcie de precursor da
6/12
4
No que concerne nossa distncia temporal em relao s sociedades arcaicas, vale lembrar, conforme Argan (2003, p. 21), que
a pr-histria no possui limites cronolgicos precisos.
5
Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) foi um artista cubano, naturalizado americano. Co-presena e disponibilidade: a herana
terica de Felix Gonzalez-Torres o nico ensaio dedicado a um artista em Esttica Relacional. Em Ps-produo, no captulo Uso
das formas, so realizadas anlises breves, porm mais detidas, sobre alguns criadores. De um modo geral, o olhar de Bourriaud
para as obras cuidadoso, porm tais estudos parecem funcionar mais como anlises crticas isoladas do que fundamentaes da
tese do autor, para quem a arte marcada pela esttica relacional e/ou pela ps-produo.
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
esttica relacional, pois sua obra cria um espao
baseado na intersubjetividade, que precisamente o
que ser explorado pelos artistas mais interessantes
[mencionados acima] da dcada seguinte [anos
1990] (BOURRIAUD, 2009, p. 72). A tese do autor
que a homossexualidade em Gonzalez-Torres no se
reduz apenas ao horizonte temtico de suas obras,
6
constituindo, sobretudo, o seu aparato formal.
Trata-se de uma dualidade sem oposies que prev
um encontro, uma vida em comum, uma coabitao.
Perfect Lovers elucidativo do argumento acima:
dois relgios iguais, dispostos lado a lado e parados
exatamente na mesma hora evocam, mais do que
uma sincronia, uma perfeita sintonia.
Se os trabalhos acima so analisados pela
perspectiva de uma perfeita coabitao, so
em obras como Untitled (Portrait of Ross in
L.A.), 1991, e Untitled (Blue Mirror), 1990,
que pode ser observada uma forma especca
de troca. No primeiro caso, oitenta quilos de
balas esto dispostos no canto da sala de
uma galeria, disponveis aos visitantes. Ross,
namorado de Gonzalez-Torres, morrera de
AIDS e a quantidade de balas corresponde ao
peso ideal do companheiro saudvel. Com o
tempo, a instalao tende a desvanecer em
um movimento paralelo ao enfraquecimento e
posterior desaparecimento de Ross. Em Blue
Mirror, uma pilha de papel azul, igualmente
disponvel ao visitante, disposta na galeria.
O risco de sua dissipao semelhante. Em
ambos os casos, o visitante, ao optar por levar
consigo a unidade constituinte da instalao,
participa do prprio aniquilamento da obra de
arte. Ele leva uma parte da obra e, ao fazer isso,
a torna incompleta e cada vez mais prxima de
seu momento de extino. Em Portrait of Ross,
o ato se reveste, inclusive, de uma dimenso
alegrica pois cada bala uma parte do corpo do
companheiro, sendo a sua debilidade associada
desmaterializao da instalao.
Tais obras, sem dvida alguma, no so fatos
complexos movidos por uma ddiva-troca. No
esto comprometidas pessoas morais, mas
indivduos, tampouco abalam a autoridade
de nenhuma das partes envolvidas. O conito
existente em tais obras se d pelo objeto
simblico que cada visitante pode se apropriar
sem, no entanto, haver obrigatoriamente o
esprito de reciprocidade. Talvez nem a obrigao
em dar ou em receber possam ser vistas, pois
o que existe a disponibilidade gratuita de
elementos (balas, folhas de papel etc.) que
podem, ou no, ser tomados pelo visitante. No
aceit-la no signica perda de autoridade e a
obra de arte, que desaparece materialmente, na
realidade sempre se renova, pois as quantidades
so repostas periodicamente (do exato modo
como Gonzalez-Torres prescreveu).
6
So mencionadas obras como Untitled (March 5th) #2, 1991; Untitled (March 5th) #1, 1991 e como Untitled (Perfect Lovers),
1991. Duas lmpadas, dois espelhos e dois relgios so os elementos respectivos a cada obra mencionada.
7/12
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
A oferta de alimentos tambm caracteriza algumas
manifestaes artsticas do tailands Rirkrit
Tiravanija. Untitled (Free/Still), de 1992, o
trabalho que muitos consideram como o marco de
sua carreira: o artista fez da galeria de arte (303
Gallery, Nova York) um espao de convvio, no qual
cozinhou e ofereceu aos visitantes, gratuitamente,
uma receita tailandesa de arroz com curry. Assim
como as obras acima comentadas de Gonzalez-
Torres, em Free, o visitante est livre para aceitar
a oferta do artista, porm sem haver o risco de
desaparecimento da obra. Neste caso, Tiravanija,
alm de oferecer algo palpvel (a comida) constri
tambm um lugar de convivncia que rene e
aglutina os participantes. A obra de arte funciona,
com isso, como um pretexto para que as pessoas
possam interagir umas com as outras. Mais do que
aceitar o alimento, um indivduo deve se relacionar
com os demais: este o propsito do trabalho,
cuja experincia foi assim relatada por Jerry Saltz
(apud BISHOP, 2012, p. 122):
Na 303 Gallery eu geralmente me sentava
com algum ou era acompanhado por algum
desconhecido e era timo. A galeria virou um
lugar para compartilhar, um lugar alegre para
conversar com sinceridade. Tive maravilhosas
rodadas de refeies com galeristas. Uma vez
Paula Cooper e eu comemos juntos e ela re-
contou um pedao longo e complicado de uma
fofoca prossional. Outro dia, Lisa Spellman re-
latou em detalhes hilariantes a histria de uma
intriga sobre um colega galerista que tentava,
sem sucesso, roubar um de seus artistas. Mais
ou menos uma semana depois David Zwirner
me acompanhou. Encontrei-o por acaso na rua
e ele disse nada est dando certo hoje, vamos
ao Rirkrit. Ns fomos e falamos sobre a falta de
emoo no mundo da arte novaiorquino. Outra
vez fui acompanhado por Gavin Brown, o artista
e galerista que falou do colapso do SoHo s
para consider-lo bem vindo e dizer que j era
hora porque as galerias andavam mostrando
muita arte medocre. Em outro momento uma
mulher no identicada me acompanhou e um
clima de paquera curiosa pairava no ar. E teve
ainda uma outra vez conversei com um jovem
artista que morava no Brooklin e tinha tido ver-
dadeiros insights sobre as mostras que tinha
acabado de ver.
O depoimento de Saltz, rotulado por Claire
Bishop de tagarelice informal, revela
precisamente a natureza das experincias
propostas por Tiravanija. Se a galeria se
transforma em um espao de convvio no qual
os indivduos podem se reunir e interagir,
o domnio de trocas institudo ali entre
galeristas e apreciadores de arte, em uma
atmosfera de bar que permite com que se faam
contatos prossionais. Nada mais adequado
ao mercado de arte, portanto. Mesmo que o
alimento seja compartilhado (e a respeita-se a
sua natureza)
7
ele o em um contexto em que as
relaes humanas motivadas por esta partilha
tratam de conrmar a ideia de comunidade
cujos membros identicam-se uns com os outros
porque tm algo em comum: o interesse pela
arte que se traduz em fofocas, conversas sobre
exposies e paquera (BISHOP, 2012).
8/12
7
Diz Mauss: da natureza do alimento ser partilhado, no dividi-lo com outrem matar sua essncia, destru-lo para si e
para os outros (MAUSS, 2003, p. 282).
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
Uma possvel contra-argumentao posio de
Bishop associaria a oferta de comida thai realizada
por Tiravanija s refeies de cerimnia descritas
por Lvi-Strauss. Anal de contas, o que o artista
tailands faz dar uma recepo. O arroz, por sua
vez, um alimento que possui para os tailandeses
dupla importncia sagrada e econmica , fato
que faz com que a oferta do artista adquira um
sabor especial. Na cozinha tailandesa, entretanto,
o arroz nunca est ausente. Alm disso, a receita
de Tiravanija congura-se propriamente como
um menu cotidiano, distanciando-se, com
isso, das rich food que caracterizam as refeies
de cerimnia. Apesar disso, Free prope uma
situao em que estranhos se encontram, havendo
aquela tenso entre a norma da solido e o fato
da sociedade (LVI-STRAUSS, 1982, p. 99). A
tagarelice informal no conrma, todavia, um
encontro entre desconhecidos, muito pelo contrrio.
A possibilidade de se instaurar um ambiente hostil
parece estar fora do espao da galeria: em seu
interior, deve-se, livre e compulsoriamente, praticar
a cordialidade entre os pares, pois tudo timo,
alegre, maravilhoso.
8
O ltimo caso aqui mencionado semelhante:
as obras Carrossel (1999) e Valrio I e II (1998)
de Carsten Hller. Nestes trabalhos, o artista
belga instala na galeria de arte um carrossel e
um escorregador, respectivamente. Brinquedos
encontrados em parques de diverses so,
portanto, deslocados para o espao de uma galeria
de arte. Exibido na 28 Bienal de So Paulo,
Valrio I e II causou imenso rebulio entre os
frequentadores, minimizando a tenso provocada
pelo segundo andar vazio do evento. Em entrevista
curadora Ana Paula Cohen, Hller arma que
no d, j tarde demais para mudar a lgica
de consumo que fez com que o sistema de arte
contempornea se tornasse comparvel a eventos
de massa, como grandes festivais de indstrias do
entretenimento. Se a mudana no vivel, resta
transformar literalmente o espao de exibio
em um parque de diverses. Do ponto de vista de
quem recebe a experincia proposta, h, como
no caso de Tiravanija, um conforto sereno, sem
antagonismos. Em outras palavras, beneciamo-
nos da festa sem o risco da guerra; aceitamos o
alimento e a diverso, sem desaos.
A ausncia de conito nas propostas artsticas
levadas em conta neste artigo
9
o indicador
que mais parece colocar em xeque a tentativa
da esttica relacional de construir um espao
9/12
8
curioso o fato desta obra de Tiravanija Free possuir o mesmo ttulo de um livro recente de Chris Anderson. Em sua obra,
este autor defende a ideia de que as empresas podem conquistar mais receitas se oferecem os produtos aos clientes e no cobram,
a exemplo da internet. Para ele, estamos em um momento histrico no qual a economia pode ser construda em torno da ideia do
grtis. A relao entre a exposio e um livro que divulga uma nova estratgia de negcios constata que Bourriaud se esfora
em criar uma leitura da produo artstica totalmente aderente realidade de consumo contempornea. A gura do semionauta
realiza, por exemplo, uma perfeita identidade entre o artista e este personagem do consumo tecnolgico que o internauta.
9
O trabalho de Gonzalez-Torres parece escapar a este diagnstico. Aquilo que desperta interesse em sua obra no
motivado, no entanto, pela esttica relacional. O mesmo pode ser dito para produes de Vanessa Beecroft, Gabriel Orozco,
Maurizio Cattelan e Pierre Huyghe.
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
alternativo s trocas institudas.
10
Assim, se
esta est baseada na esfera das relaes inter-
humanas, h que se perguntar que tipo de relao
os artistas e suas obras criam para o pblico. A
participao de frequentadores, e sua perfeita
comunho, est mais prxima de imagens de
massas do que uma comunidade preocupada
com a sua constituio e validade. A descrio
de obras produzidas por cones do movimento
como Hller e Tiravanija nos permite vislumbrar
que, por mais que espaos de convvio sejam
propostos, os domnios de troca mais reforam
e reproduzem a lgica do capitalismo de consumo
do que resistem ou propem alternativas a ela.
Se j tarde demais, talvez valha a pena recorrer,
uma ltima vez, a Mauss (2003, p. 299), para
quem essa moral [que faz com que o cidado
tenha um senso agudo de si mesmo, dos outros e
da realidade social] eterna.
Referncias
ARGAN, Giulo Carlo. Histria da Arte Italiana 1: da
Antiguidade a Duccio. So Paulo: Cosac e Naify, 2003.
BISHOP, Claire. Antagonismo e esttica relacional.
Revista Tatu, n. 12, 2012. Disponvel em: <http://
revistatatui.com/secao/revista/tatui-12/>. Acesso
em: 23 jun. 2012. Originalmente publicado na revista
October, n. 110, 2004.
BOURRIAUD, Nicolas. Esttica relacional. So Paulo:
Martins Fontes, 2009a.
BOURRIAUD, Nicolas. Ps-produo: como a arte
reprograma o mundo contemporneo. So Paulo:
Martins Fontes, 2009b.
DANTO, Arthur C. Aps o m da arte: arte
contempornea e os limites da histria. So Paulo:
Odysseus Editora, 2006.
HLLER, Carsten. Entrevista a Ana Paula Cohen.
28
a.
Bienal de So Paulo: guia. So Paulo: Fundao
Bienal de So Paulo, 2008.
JAMESON, Fredric. Virada cultural: reexes
sobre o ps-modernismo. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2006.
LVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares
do parentesco. Petrpolis, RJ: Vozes, 1982.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia.
Introduo de Claude Lvi-Strauss. So Paulo: Cosac e
Naify, 2003.
RANCIRE, Jacques. Poltica da arte. Revista
Urdimento Revista de Estudos em Artes Cnicas, n.
15, out. 2010.
10/12
10
Claire Bishop e Jacques Rancire parecem concordar aqui. Enquanto a primeira estabelece um contraponto ntido esttica
relacional ao denir o antagonismo relacional, o segundo valoriza o dissenso em detrimento do consenso das propostas relacionais,
encaradas como veleidades polticas de uma arte sada de si na direo das tarefas polticas de proximidade e de medicina social
onde se trata, nos termos do terico da esttica relacional, de consertar as falhas do vnculo social (RANCIRE, 2010, p. 57).
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
Exchange and relation in
relational aesthetics
Abstract
This paper proposes a reection on relational
aesthetics, developed in the 90s by the French critic
and curator Nicolas Bourriaud. To this end, elects as
a counterpoint Marcel Mauss thought, specically
his essay on the gift, in order to understand the
similarities and differences between the approaches
of the two authors to the concepts of relationship and
exchange. The question that motivates this text is well
prepared: sociability models proposed by Bourriaud
reinforce and reproduce the logic of consumer
capitalism or suggest alternatives to it?
Keywords
Relational Aesthetics. Contemporary Art.
Models of Sociability. Sociology of Art.
Intercambio y relacin en la
esttica relacional
Resumen
Este artculo propone una reexin sobre la esttica
relacional, desarrollada en los aos 90 por el crtico y
comisario francs Nicolas Bourriaud. Para ello, se elige
como contrapunto el pensamiento de Marcel Mauss,
especcamente su ensayo sobre el don, con el n
de comprender las diferencias y similitudes entre los
enfoques de los dos autores a los conceptos de relacin
e intercambio. La pregunta que motiva este texto es:
los modelos de sociabilidad propuestos por Bourriaud
refuerzan y reproducen la lgica del capitalismo de
consumo o sugieren alternativas a la misma?
Palabras-Clave
Esttica relacional. Arte Contemporneo.
Sociabilidad Modelos. Sociologa del Arte.
11/12
Recebido em:
24 de abril de 2013
Aceito em:
18 de fevereiro de 2014
R
e
v
i
s
t
a
d
a
A
s
s
o
c
i
a
o
N
a
c
i
o
n
a
l
d
o
s
P
r
o
g
r
a
m
a
s
d
e
P
s
-
G
r
a
d
u
a
o
e
m
C
o
m
u
n
i
c
a
o
|
E
-
c
o
m
p
s
,
B
r
a
s
l
i
a
,
v
.
1
6
,
n
.
3
,
s
e
t
.
/
d
e
z
.
2
0
1
3
.
www.e-compos.org.br
| E-ISSN 1808-2599 |
12/12
CONSELHO EDITORIAL
Afonso Albuquerque, Universidade Federal Fluminense, Brasil
Alberto Carlos Augusto Klein, Universidade Estadual de Londrina, Brasil
Alex Fernando Teixeira Primo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
Ana Carolina Damboriarena Escosteguy, Pontifcia Universidade Catlica do
Rio Grande do Sul, Brasil
Ana Gruszynski, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
Ana Silvia Lopes Davi Mdola, Universidade Estadual Paulista, Brasil
Andr Luiz Martins Lemos, Universidade Federal da Bahia, Brasil
ngela Freire Prysthon, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Antnio Fausto Neto, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Antonio Carlos Hohlfeldt, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Brasil
Antonio Roberto Chiachiri Filho, Faculdade Csper Lbero, Brasil
Arlindo Ribeiro Machado, Universidade de So Paulo, Brasil
Arthur Autran Franco de S Neto, Universidade Federal de So Carlos, Brasil
Benjamim Picado, Universidade Federal Fluminense, Brasil
Csar Geraldo Guimares, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Cristiane Freitas Gutfreind, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Brasil
Denilson Lopes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Denize Correa Araujo, Universidade Tuiuti do Paran, Brasil
Edilson Cazeloto, Universidade Paulista , Brasil
Eduardo Peuela Caizal, Universidade Paulista, Brasil
Eduardo Vicente, Universidade de So Paulo, Brasil
Eneus Trindade, Universidade de So Paulo, Brasil
Erick Felinto de Oliveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Florence Dravet, Universidade Catlica de Braslia, Brasil
Francisco Eduardo Menezes Martins, Universidade Tuiuti do Paran, Brasil
Gelson Santana, Universidade Anhembi/Morumbi, Brasil
Gilson Vieira Monteiro, Universidade Federal do Amazonas, Brasil
Gislene da Silva, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
Guillermo Orozco Gmez, Universidad de Guadalajara
Gustavo Daudt Fischer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Hector Ospina, Universidad de Manizales, Colmbia
Herom Vargas, Universidade Municipal de So Caetano do Sul, Brasil
Ieda Tucherman, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Ins Vitorino, Universidade Federal do Cear, Brasil
Janice Caiafa, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Jay David Bolter, Georgia Institute of Technology
Jeder Silveira Janotti Junior, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Joo Freire Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
John DH Downing, University of Texas at Austin, Estados Unidos
Jos Afonso da Silva Junior, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Jos Carlos Rodrigues, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil
Jos Luiz Aidar Prado, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, Brasil
Jos Luiz Warren Jardim Gomes Braga, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Juremir Machado da Silva, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, Brasil
Laan Mendes Barros, Universidade Metodista de So Paulo, Brasil
Lance Strate, Fordham University, USA, Estados Unidos
Lorraine Leu, University of Bristol, Gr-Bretanha
Lucia Leo, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, Brasil
Luciana Panke, Universidade Federal do Paran, Brasil
Luiz Claudio Martino, Universidade de Braslia, Brasil
Malena Segura Contrera, Universidade Paulista, Brasil
Mrcio de Vasconcellos Serelle, Pontifcia Universidade Catlica de Minas Gerais, Brasil
Maria Aparecida Baccega, Universidade de So Paulo e Escola Superior de
Propaganda e Marketing, Brasil
Maria das Graas Pinto Coelho, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Maria Immacolata Vassallo de Lopes, Universidade de So Paulo, Brasil
Maria Luiza Martins de Mendona, Universidade Federal de Gois, Brasil
Mauro de Souza Ventura, Universidade Estadual Paulista, Brasil
Mauro Pereira Porto, Tulane University, Estados Unidos
Nilda Aparecida Jacks, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
Paulo Roberto Gibaldi Vaz, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Potiguara Mendes Silveira Jr, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil
Renato Cordeiro Gomes, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil
Robert K Logan, University of Toronto, Canad
Ronaldo George Helal, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
Rosana de Lima Soares, Universidade de So Paulo, Brasil
Rose Melo Rocha, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil
Rossana Reguillo, Instituto de Estudos Superiores do Ocidente, Mexico
Rousiley Celi Moreira Maia, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Sebastio Carlos de Morais Squirra, Universidade Metodista de So Paulo, Brasil
Sebastio Guilherme Albano da Costa, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Brasil
Simone Maria Andrade Pereira de S, Universidade Federal Fluminense, Brasil
Tiago Quiroga Fausto Neto, Universidade de Braslia, Brasil
Suzete Venturelli, Universidade de Braslia, Brasil
Valerio Fuenzalida Fernndez, Puc-Chile, Chile
Veneza Mayora Ronsini, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
Vera Regina Veiga Frana, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Expediente
A revista E-Comps a publicao cientca em formato eletrnico da
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
(Comps). Lanada em 2004, tem como principal nalidade difundir a
produo acadmica de pesquisadores da rea de Comunicao, inseridos
em instituies do Brasil e do exterior.
E-COMPS | www.e-compos.org.br | E-ISSN 1808-2599
Revista da Associao Nacional dos Programas
de Ps-Graduao em Comunicao.
Braslia, v.16, n.3, set./dez. 2013.
A identicao das edies, a partir de 2008,
passa a ser volume anual com trs nmeros.
COMISSO EDITORIAL
Adriana Braga | Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil
CONSULTORES AD HOC
Adriana Amaral, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Alexandre Rocha da Silva, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
Arthur Ituassu, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Brasil
Bruno Souza Leal, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Elizabeth Bastos Duarte, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
Francisco Paulo Jamil Marques, Universidade Federal do Cear, Brasil
Maurcio Lissovsky, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil
Suzana Kilpp, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Vander Casaqui, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil
EDIO DE TEXTO E RESUMOS | Susane Barros
SECRETRIA EXECUTIVA | Juliana Depin
EDITORAO ELETRNICA | Roka Estdio
TRADUO | Sieni Campos
COMPS | www.compos.org.br
Associao Nacional dos Programas de Ps-Graduao em Comunicao
Presidente
Eduardo Morettin
Universidade de So Paulo, Brasil
eduardomorettin@usp.br
Vice-presidente
Ins Vitorino
Universidade Federal do Cear, Brasil
ines@ufc.br
Secretria-Geral
Gislene da Silva
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
gislenedasilva@gmail.com
Você também pode gostar
- Carder ComprasDocumento12 páginasCarder ComprasRafael84% (44)
- Aprenda Ingles Sozinho 2021 - 015426Documento61 páginasAprenda Ingles Sozinho 2021 - 015426vps poteAinda não há avaliações
- YanomamiDocumento15 páginasYanomamiManoel FriquesAinda não há avaliações
- Controle de Chão de FábricaDocumento22 páginasControle de Chão de FábricaGiuliana Caselli100% (1)
- Diploma - Even Gleice Santos de Oliveira 2Documento2 páginasDiploma - Even Gleice Santos de Oliveira 2Even gleiceAinda não há avaliações
- O Voo Sobre o Oceano PDFDocumento53 páginasO Voo Sobre o Oceano PDFManoel FriquesAinda não há avaliações
- 11º Frei Luís de Sousa - SínteseDocumento31 páginas11º Frei Luís de Sousa - SínteseJoão Santos100% (1)
- Artigo de Matemática-PesquisaDocumento17 páginasArtigo de Matemática-PesquisaMarco LívioAinda não há avaliações
- Cad Erno FinalDocumento15 páginasCad Erno FinalManoel FriquesAinda não há avaliações
- Servidão e Escravidão Tiveram Significados Diferentes Nos Mundos Antigo e MedievalDocumento2 páginasServidão e Escravidão Tiveram Significados Diferentes Nos Mundos Antigo e MedievalSérgio RodriguesAinda não há avaliações
- Ffeb 2012-1Documento782 páginasFfeb 2012-1Manoel FriquesAinda não há avaliações
- Anibal Machado - Marcia Azevedo CoelhoDocumento238 páginasAnibal Machado - Marcia Azevedo CoelhoManoel FriquesAinda não há avaliações
- João Roberto Lopes PintoDocumento3 páginasJoão Roberto Lopes PintoManoel FriquesAinda não há avaliações
- Morfologia Do Trabalho - Ricardo ANtunesDocumento17 páginasMorfologia Do Trabalho - Ricardo ANtunesManoel FriquesAinda não há avaliações
- Cara de CavaloDocumento25 páginasCara de CavaloManoel FriquesAinda não há avaliações
- 97 Rodrigo Espinha Baeta PDFDocumento15 páginas97 Rodrigo Espinha Baeta PDFManoel FriquesAinda não há avaliações
- Francisco Lisboa AleijadinhoDocumento26 páginasFrancisco Lisboa AleijadinhoManoel FriquesAinda não há avaliações
- SESIDocumento15 páginasSESIManoel FriquesAinda não há avaliações
- 16 49 2 PB PDFDocumento22 páginas16 49 2 PB PDFManoel FriquesAinda não há avaliações
- Material de Apoio Ao Fórum3Documento3 páginasMaterial de Apoio Ao Fórum3Regnon LarisseAinda não há avaliações
- Trabalho - Linha Do Tempo História Da EJA No Brasil - Helio AlvesDocumento1 páginaTrabalho - Linha Do Tempo História Da EJA No Brasil - Helio AlvesHelio AlvesAinda não há avaliações
- Roadmap Versao18 Winthor 89193Documento6 páginasRoadmap Versao18 Winthor 89193Alexandre VieiraAinda não há avaliações
- Resultado Preliminar VDBDocumento12 páginasResultado Preliminar VDBSalomao BatistaAinda não há avaliações
- Márcia Laner - Catedral Metropolitana Florianópolis Alterações - Retrospectiva Histórica Das Intervencoes PDFDocumento220 páginasMárcia Laner - Catedral Metropolitana Florianópolis Alterações - Retrospectiva Histórica Das Intervencoes PDFStefani DiasAinda não há avaliações
- Minuta Contrato Turma Direito FCG 2017Documento3 páginasMinuta Contrato Turma Direito FCG 2017Liziane BerrocalAinda não há avaliações
- PSA - ED Revisional - Etapa 1Documento6 páginasPSA - ED Revisional - Etapa 1mariacarla611Ainda não há avaliações
- Planilha de CustosDocumento8 páginasPlanilha de CustosArtêmisa MoreiraAinda não há avaliações
- 16 Eng - Porto Alegre - 2010Documento112 páginas16 Eng - Porto Alegre - 2010EvelinBiondoAinda não há avaliações
- Centro Universitário FaveniDocumento14 páginasCentro Universitário FaveniLaura Freitas VictorAinda não há avaliações
- CANOAS - Riservatto - Olaria - BELMAISDocumento11 páginasCANOAS - Riservatto - Olaria - BELMAISEduarda MatarazzoAinda não há avaliações
- Valdevino de Albuquerque Júnior - Fronteirassemânticas - o Dialogismo Das Linguagens Rituais Pentecostaise Umbandistas - Uma Análise Das Expressões Gestuais, 2019Documento255 páginasValdevino de Albuquerque Júnior - Fronteirassemânticas - o Dialogismo Das Linguagens Rituais Pentecostaise Umbandistas - Uma Análise Das Expressões Gestuais, 2019fotografia_Ainda não há avaliações
- Arquitetura EcléticaDocumento71 páginasArquitetura EcléticaJoão Gabriel Silva AraújoAinda não há avaliações
- Edital Conarci Academico v2Documento5 páginasEdital Conarci Academico v2Cleiton JúniorAinda não há avaliações
- Versao Final Trabalho PSEDocumento57 páginasVersao Final Trabalho PSEIP RodriguezAinda não há avaliações
- Filosofia de Benjamin FranklinDocumento5 páginasFilosofia de Benjamin FranklinRoberto SantosAinda não há avaliações
- Gestão Cultural, Construindo Uma Identidade Profissional - Maria Helena Cunha PDFDocumento15 páginasGestão Cultural, Construindo Uma Identidade Profissional - Maria Helena Cunha PDFFran ReisAinda não há avaliações
- Sacra VirginitasDocumento19 páginasSacra VirginitasWilson da SilvaAinda não há avaliações
- 04 Ocupacao Do Interior Da Colonia PDFDocumento6 páginas04 Ocupacao Do Interior Da Colonia PDFJulieta RomeroAinda não há avaliações
- 708 2266 1 PBDocumento8 páginas708 2266 1 PBAndrea CabralAinda não há avaliações
- Doenças Crônica OMS PDFDocumento36 páginasDoenças Crônica OMS PDFEdnei FernandoAinda não há avaliações
- Texto GeografiaDocumento1 páginaTexto GeografiaMary ZanandreaAinda não há avaliações
- Aee DiDocumento21 páginasAee DiMônia Gonçalves CoelhoAinda não há avaliações