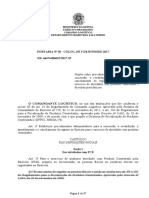Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo Produção Financas
Artigo Produção Financas
Enviado por
Janaina OliveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo Produção Financas
Artigo Produção Financas
Enviado por
Janaina OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DA ROTINIZAO FLEXIBILIZAO: ENSAIO
SOBRE O PENSAMENTO CRTICO BRASILEIRO
DE ORGANIZAO DO TRABALHO
Mario Sergio Salerno
Departamento de Engenharia de Produo da Escola Politcnica da USP,
Av. Prof. Almeida Prado, travessa 2, n. 128, CEP 05508-900, So Paulo, SP,
e-mail: msalerno@usp.br
v.11, n.1, p.21-32, jan.-abr. 2004
Recebido em 23/3/2003
Aceito em 12/12/2003
Resumo
O artigo visa a reavaliar a produo brasileira sobre organizao do processo de trabalho ("diviso do trabalho")
a partir de alguns trabalhos de referncia, fundadores dessa discusso nos anos 70 e 80. Trata-se de uma anlise a
posteriori, relacionando algumas obras, temas e contexto econmico-poltico-social, e no de uma sntese ou resumo.
Obviamente, h grandes lacunas em textos como o aqui proposto, mas julgamo-los fundamentais para o (re)pensar de
prticas e abordagens de pesquisa e interveno. Pode-se notar que a temtica muito relacionada ao ambiente em
cada momento da sociedade, simbolizando suas preocupaes, a correlao de foras sociais e o estado do
desenvolvimento das foras produtivas. No final do texto, proporemos algumas questes para aprofundamento.
Palavras-chave: organizao do trabalho, processo de trabalho, diviso do trabalho, reestruturao produtiva, trabalho,
mudana social.
1. Introduo
O Brasil um dos pases do Hemisfrio Sul com maior
produo cientfica sobre trabalho e processo de trabalho.
Acompanhando eventos e revistas latino-americanas, como
o Congresso de Sociologia do Trabalho, a Revista LatinoAmericana de Sociologia do Trabalho, bem como aqueles
de circulao mais ampla (Congressos do European
Operations Management Association EUROMA,
Production Operations Management Society/EUA POMS,
Groupe d'tudes et de Recherches Permanent sur l'Industrie
et les Salaris de l'Automobile GERPISA, International
Journal of Operations & Production Management, entre
inmeros outros), percebe-se a presena quase sistemtica
de autores brasileiros.
Muitos desses trabalhos talvez a maioria so
descritivos ou utilizam conceitos da literatura internacional
para discutir um caso. So poucos os trabalhos que criaram
conceitos e que se tornaram referncias, sendo esses que
procuraremos privilegiar.
Enfocaremos aqui apenas a produo sobre organizao
do trabalho que estamos denominando de "crtica". Neste
corte, entendemos por crtica a literatura que estuda a
organizao e o trabalho em uma perspectiva implcita ou
explcita de transformao social. Isso exclui os trabalhos
voltados apenas anlise da organizao sob o prisma da
empresa ou dos negcios (como os manuais ou textos que
discutem uma tcnica ou sistema do ponto de vista da
eficincia do processo em si, etc.).
O campo dos estudos organizacionais muito mais
amplo do que aquele da organizao do trabalho. No
pretendemos discutir todo o campo organizacional. No
consideraremos, por exemplo, o trabalho interessante e
crtico de muitos pesquisadores em ergonomia/anlise
ergonmica do trabalho, h textos que j lanaram tal
debate (nmero especial da Revista Produo, 2000), nem
22
Salerno Da Rotinizao Flexibilizao: Ensaio sobre o Pensamento Crtico Brasileiro de Organizao do Trabalho
aqueles sobre anlise organizacional, cultura, escolas
administrativas, ou outros.
A anlise crtica da literatura aqui proposta jamais poder
cobrir o objeto como um todo, ainda mais se considerarmos
todas as infinitas interfaces, nuanas e meandros que o tema
trabalho e processo de trabalho evoca. Assim, o presente
texto explicitamente corre srios riscos. Todavia, julgamos
que vale a pena serem corridos, pois outros trabalhos
subseqentes podero contribuir para minorar os problemas
deste.
2. Os primrdios
Os anos 50 e 60 assistiram a um enorme esforo de
industrializao do Brasil. O Pas aumentou seu parque
txtil, incorporou refinarias, siderrgicas, metalrgicas,
indstrias de qumica bsica, de bens de consumo no
durveis, eletrodomsticos e montadoras de automveis que,
j na poca, simbolizavam a transformao da sociedade
e de seus processos de produo.
Buscava-se, portanto, entender o processo de industrializao em curso, seus efeitos sobre a sociedade, bem como
entender a emergncia de um novo velho ator, ou seja, o
operariado. Nesta perspectiva inserem-se, de certa forma,
trabalhos como os de Lopes (1964, 1968) e de Rodrigues
(1970) poca. O tema a transformao social induzida
pela indstria e pelo operariado; o trabalho ou o processo
de trabalho propriamente ditos no esto no centro das
preocupaes ou dos questionamentos, visto que a questo
principal entender o operariado, uma classe em formao.
Nos anos 70, a hegemonia da produo deu-se no entorno
da fbrica e do trabalho, ou seja, na discusso das caractersticas da economia brasileira (Oliveira, 1972) e de sua
insero no processo global de acumulao capitalista, com
a contribuio da categoria/teoria da marginalidade
(Kowarick, 1975; Paoli, 1973). A estrutura sindical tambm
est no centro das atenes, basicamente discutindo a
regulamentao estatal sobre a atividade sindical (sindicato
nico, imposto sindical, enquadramento sindical, liberdade
e autonomia sindical, etc.) e os empecilhos por ela colocados
ao desenvolvimento sindical e social (Morais Filho, 1962;
Weffort, 1973; Troyano, 1978). Emprego, desenvolvimento
econmico, sindicalismo e estrutura sindical so os temas
dominantes; o trabalho em si no est no centro das
preocupaes. A questo a configurao geral da sociedade,
seja pela discusso de sua insero no processo internacional
de acumulao, seja pelas caractersticas prprias de excluso
social, tendo a sociologia brasileira e a latino-americana
introduzido no centro do debate a categoria/teoria da
marginalidade, seja pela configurao institucional das
relaes de trabalho, dado o cerceamento que a ditadura
militar impunha s atividades sindicais, e pela estrutura
sindical vigente h dcadas baseada na carta del lavoro,
introduzida na Itlia durante o regime fascista de Mussolini,
atrelando o Sindicato ao Estado; o que s viria a ser
parcialmente modificado com a Constituio de 1988.
Trabalho e processo de trabalho s passariam a protagonizar o debate aps a obra pioneira de Fleury (1978), que
gerou inmeros desdobramentos e forjou um campo na
academia brasileira, como veremos a seguir.
3. A crtica da diviso do trabalho
chega ao Brasil: Afonso Fleury e a
rotinizao
At onde o autor tem conhecimento, a obra pioneira
sobre processo de trabalho no Brasil, no esprito da "crtica
da diviso do trabalho", a tese de doutorado de Fleury
(1978). Fleury escreveu extensa obra, sendo um dos
principais autores brasileiros na rea de organizao e
gesto (Arkader, 2003, p. 78). A obra em foco aqui, cuja
sntese foi publicada posteriormente na Revista de
Administrao de Empresas (Fleury, 1980, 1982) e em
captulos de livros (Fleury & Vargas, 1983), sistematiza
as "escolas" de organizao do trabalho (clssica/taylorista;
relaes humanas/enriquecimento de cargos; sociotcnica/
grupos semi-autnomos). Estas so estudadas a partir das
autoconsideraes que fazem sobre o incremento da
produtividade. Fleury (1978) elabora, assim, um modelo
de contingncia para a organizao do trabalho na empresa
industrial: conforme o ambiente de referncia dos negcios
da empresa e conforme a caracterstica de sua base
tecnolgica (automatizada, semi-automatizada, "artesanal") haveria uma "escola" mais adequada para o
aumento da produtividade. Mas a investigao de campo
no validou a hiptese, o que o levou construo do
indito conceito de rotinizao do trabalho. Na base do
conceito, a idia de que, paradoxalmente, as empresas no
estariam to interessadas no aumento da produtividade,
posto que implementam apenas parcial e limitadamente
o que seriam os princpios da escola clssica (ou melhor,
os "princpios de administrao cientfica" apresentados
por Taylor, 1978, e interpretados pelo autor), mas, sim,
em manter o controle social na fbrica, evitando a ecloso
de conflitos, principalmente pelo recurso da rotatividade
do trabalho: "os Centros de Decises sacrificam a
eficincia para evitar problemas com a mo-de-obra"
(Fleury, 1983, p. 106). Pelo conceito de rotinizao, o
trabalho seria planejado at possibilitar a independncia
do processo produtivo em relao ao trabalhador, sendo
este uma pea intercambivel e, apesar do planejamento
da tarefa ser externalizado em relao aos executantes,
no haveria a busca da "tarefa tima" via estudo de tempos,
mtodos e semelhantes, o que inibiria o aumento de
produtividade segundo o receiturio clssico.
A tese teve e ainda tem enorme repercusso. Tornou-se
referncia em inmeros estudos de engenharia, sociologia,
GESTO & PRODUO, v.11, n.1, p.21-32, jan.-abr. 2004
administrao e psicologia do trabalho. Pode-se dizer que
a obra clssica sobre processo de trabalho no Brasil. Trouxe
ao primeiro plano o debate a respeito do trabalho e sua
organizao, debate este ento em curso nos Estados Unidos
e nos pases "centrais" (no sentido econmico-poltico) da
Europa, mas relativamente ausente no Brasil. Apresentou e
sistematizou de forma simples e direta os princpios
tayloristas. Discutiu criticamente a proposta de
enriquecimento de cargos, concluindo que "no balana o
barco" taylorista. Difundiu amplamente a idia da
sociotcnica e dos grupos semi-autnomos. Mesmo havendo
autores de inspirao sociotcnica ou que utilizavam conceitos
dessa abordagem, como Peter Spink e Arakcy Martins
Rodrigues, foi Afonso Fleury, a partir de sua tese de doutorado
e publicaes subseqentes, quem sistematizou e contribuiu
mais diretamente para uma srie importante de estudos sobre
organizao do trabalho e novas formas de organizao do
trabalho (como os de Nilton Vargas, Heitor Mansur Caulliraux
e Silvio Tavares, na UFRJ; os de Fabio Luiz Zamberlan,
Mario Sergio Salerno, Mauro Zilbovicius, Roberto Marx e
outros, na USP; apenas para citar aqueles que figuram na
coletnea de 1983 e seguiram a carreira acadmica, alm de
outros na UFRJ, UFSCar, UNICAMP, etc.), criando uma
referncia e um campo de pesquisa e ensino na universidade.
Ao contrrio de muitos trabalhos da poca e posteriores, o
de Fleury no apenas analisa uma situao baseada em
conceitos de organizao ou de processo de trabalho enquanto
processo de produo de excedente (como o faz, por exemplo,
Vargas, 1979), mas cria conceitos ("rotinizao"), sugere
interveno (baseada na sociotcnica).
Cabe, portanto, tomar a obra citada como referncia para
anlise crtica. No empreitada fcil, tanto por sua
importncia quanto pelo fato de o prprio autor deste artigo
ser dela tributrio. Inicialmente, o contexto. O movimento
de maio de 1968 na Frana e semelhantes posteriores em
pases como Itlia (autunno caldo de 1969) e Alemanha
colocaram na ordem do dia, para parcelas importantes da
intelectualidade, a questo do trabalho e suas formas, que
ligada mas no se confunde com a questo do emprego.
A questo do trabalho e a resistncia operria a determinadas
formas clssicas de trabalho pareciam diretamente ligadas
transformao social, a uma sociedade mais igualitria,
da mesma forma que, nos anos 60, a industrializao
brasileira e a constituio de um operariado mais numeroso
estariam ligadas ao desenvolvimento da sociedade. Discutir
o trabalho significava, para muitos autores e interessados,
discutir mudana social, discutir o mago das relaes de
poder e de classe na sociedade. Entre outros, os livros de
Braverman (1974) e de Coriat (1979), as coletneas
organizadas por Gorz (1980) e Erber (1982), alm da prpria
releitura de captulos escolhidos de O capital (Marx, 1980
principalmente, na edio citada, os captulos "processo de
trabalho e processo de produzir mais valia", "conceito de
mais valia relativa", "cooperao", "diviso do trabalho e
manufatura", "a maquinaria e a indstria moderna"),
23
contriburam para inserir o processo de trabalho na ordem
do dia tambm no Brasil.
Paralelamente, as greves operrias no ABC, questionando
a estrutura sindical, lanam luz sobre os acontecimentos no
interior das fbricas. Articulao operria, movimentos
diversos de resistncia ditadura (movimento estudantil de
1977, movimento contra a carestia, sees de discusso nas
reunies da Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia
(SBPC), Comunidades Eclesiais de Base engajando-se na
luta pela democratizao do Pas, etc.), em uma fase ainda
de crescimento econmico (rompido no Brasil em 1981,
anteriormente nos pases centrais): estava formado o caldo
de cultura para a crtica da diviso do trabalho vigente nas
empresas, e o texto de Fleury se desenvolve nesse ambiente,
atraindo um nmero importante de seguidores, influenciando
a produo acadmica e a ao sindical (via DIEESE e,
posteriormente, Sindicato dos Metalrgicos de So Bernardo
do Campo e Diadema, hoje Sindicato do ABC).
A situao poltica e social favorecia as anlises de
processo de trabalho em termos de controle da fora de
trabalho. Ainda que tal abordagem seja tpica da sociologia
(vide, por exemplo, Silva, 1981, 1991; Humphrey, 1982,
1989; Le Ven, 1988), ela permeia muitos trabalhos de
engenharia, como o de Fleury e outros.
Outra caracterstica da poca, que se reflete no trabalho
de Fleury, a pouca ateno dada s formas concretas como
as empresas realizam seus negcios, relao entre processo
de trabalho e lucratividade e relao entre gesto da fbrica
e gesto do negcio. Assume-se a lgica fabril clssica, que
associa diretamente uma taxa de produo por hora (entendida
implicitamente como produtividade) ao aumento da eficincia
e, por conseguinte, associando taxa de produo/hora, em
uma relao linear, lucratividade, ainda que esse termo esteja
ausente em boa parte dos textos da poca. No por acaso,
no discutido o conceito de produtividade, central no texto
de Fleury. Na interpretao trazida pelo conceito de
rotinizao, as indstrias, independentemente de seu nvel
tecnolgico e do ambiente de referncia, no se "esforavam"
para introduzir mudanas organizacionais. Mesmo a proposta
clssica (Taylor), que poderia ser adequada a determinadas
situaes e levaria na interpretao do autor a maior
produtividade (em relao medida tradicional, produo
por homem/hora ou assemelhados), no se verificava no
campo. Haveria, pois, um problema na racionalidade
empresarial: a produtividade no estava no centro das
preocupaes. Para contornar logicamente tal problema,
lana-se mo do controle.
A discusso "eficincia" x "controle" vem de longa data
e permeia muitos estudos contemporneos, mesmo de forma
implcita ou subjacente. O "controle", para muitos, seria um
entrave ao desenvolvimento das foras produtivas (ou,
tomado de forma restritiva, da "eficincia"). Parece haver
um dilema: o capital precisa de eficincia em seus meios
para reproduzir-se, mas para isso e para garantir a
continuidade da reproduo preciso controlar a fora de
24
Salerno Da Rotinizao Flexibilizao: Ensaio sobre o Pensamento Crtico Brasileiro de Organizao do Trabalho
trabalho. Estudos mais recentes (Castro & Guimares, 1991;
Guimares, 1998), inspirados em Burawoy (1979), vo
considerar que preciso conseguir o "consentimento" da
fora de trabalho. Sob outra perspectiva, podemos
considerar que da sntese entre controle/consentimento e
necessidade de eficincia resulta o processo de trabalho e
o processo de acumulao concreto em cada sociedade, em
cada poca e em cada empresa.
Sob essa tica sinttica, possvel pensarmos hoje que
o esquema de rotinizao foi (ou ) absolutamente racional,
no s do ponto de vista de sua lgica instrumental enquanto
controle social, mas tambm do ponto de vista da lgica de
negcios vigente nos anos 70. Generalizando: a) um mercado
"comprador" e crescente de forma relativamente previsvel,
de concorrncia oligopolista, protegido da competio externa
de forma bastante forte (barreiras tarifrias e extratarifrias);
b) inexistncia de rupturas de inovao de produto e processo
no ambiente concorrencial que propiciem ganhos extras ou
novos lucros de monoplio a determinadas empresas; c)
movimento social, particularmente o operrio-sindical,
sufocado pela conjuntura poltica: a questo central para a
empresa exatamente "no sacudir o barco"; d) um padro
de financiamento da produo que induziu a sua verticalizao (via, por exemplo, juros negativos), dado um tecido
industrial em expanso e consolidao; e e) a ideologia e a
poltica de primeiro deixar crescer o bolo para depois repartilo, como se crescimento e distribuio de renda e de riqueza
fossem antagnicos.
Assim, repartio do excedente pende para o lado
empresarial, haja vista o milagre brasileiro de obter taxas
substantivas de crescimento da produo (PIB) e de
concentrao simultnea de renda, o que no se verificou,
grosso modo, durante o ciclo de crescimento do ps-guerra
nos pases centrais. Com poucos instrumentos efetivos de
defesa e luta, os trabalhadores tinham pouca possibilidade
de aumentar sua participao na renda, seja em uma
empresa, seja em termos nacionais. Assim, a rotatividade
associa no s o controle social em si, mas tambm
incorpora uma lgica econmica, ainda que possamos julgla igualmente perversa.
3.1 Rotinizao enquanto sntese: uma
reinterpretao do conceito
Nessas condies, pode-se reinterpretar a rotinizao, do
ponto de vista do capital, como uma forma de controlar
(reduzir) custos do trabalho e, em um mercado comprador,
dominado por oligoplios, com a possibilidade de repassar
aumento de custos para preos (via Conselho Interministerial
de Preos CIP), de tendncia estvel e em um ambiente
social em boa parte "controlado" pela ditadura, diminuio
de custos significa aumento de lucros. A rotinizao prestase para pender a balana da repartio da renda para o lado
empresarial, visto que, alm da funo de controle social na
empresa, tambm atua para diminuir a massa relativa de
salrios e inibir a luta por seu aumento. a forma
organizacional por excelncia do ento "milagre brasileiro"
de crescer concentrando renda. Considerando a acumulao
como a questo de fundo que move as empresas e, por
conseguinte, delineia as formas organizacionais, o trabalho
organizado no para que seja definida uma "tarefa tima"
(menor tempo-padro de execuo), mas para que a
acumulao seja "tima" (maior acumulao). Muitas vezes,
tarefa "tima" tem alta correlao positiva com acumulao
"tima", como ocorre em casos com linhas de montagem sem
muita variao de produto e volume. Mas, outras vezes, a
acumulao privada pela empresa pode ser incrementada por
outro ingrediente, a ao sobre o preo da fora de trabalho,
no sentido de rebaix-la relativamente, via rotatividade e
amordaamento sindical. Rotinizao, assim revista, passa
a ser uma categoria de sntese do processo de trabalho, no
qual ocorre a sntese das necessidades de eficincia/
acumulao com as de controle social.
Obviamente, somos tentados a pensar se no seria
possvel manter o mesmo "nvel" de controle social e
promover a racionalizao da produo, aumentando a
produtividade (em seu sentido clssico de vazo, ou produo/homem-hora). Aqui cabem questes importantes,
dadas possveis armadilhas colocadas pelo (sub)texto de
Fleury (1978):
A) Implicitamente, supe-se que os tempos de cada operao
esto abaixo do que poderiam, pois no foram totalmente
aplicados os princpios da administrao "cientfica". H,
aqui, certa idealizao do potencial da receita clssica.
Quando a realidade comparada ao preceito taylorista,
este , implicitamente, considerado superior, pois sua
aplicao literal levaria a um patamar superior de
produtividade. Daqui abrem-se possibilidades para
interpretaes que confundem categorias de anlise com
objeto de anlise. Como categoria de anlise temos a
reinterpretao dos princpios de Taylor, isto , uma
construo intelectual que visa a explicar ou formalizar
determinada receita ou mtodo de projeto do trabalho,
o taylorista/clssico, que aplicado levaria a um patamar
superior de produtividade em determinadas contingncias
de tecnologia e dinamismo ambiental. Como objeto temos
o trabalho operrio e a organizao do processo de
trabalho nas fbricas brasileiras pesquisadas. Visto de
outra maneira, a receita clssica (os princpios de Taylor)
e sua promessa so tomadas como uma supra-realidade
passvel de ser alcanada. Mas uma empresa no vive de
reduzir os tempos-padro das operaes de trabalho, mas,
sim, de vender seus produtos procurando cobrir seus
custos e obter um excedente sobre eles.
B) Pode-se dizer que, em termos lgicos, h o suposto no
explcito de que a aplicao desses princpios e das
tcnicas correntes que lhes so associadas poderia
colocar em cheque o controle social na fbrica. Se assim
no fosse, no se justificaria a anlise de oposio entre
produtividade (ou eficincia) e controle do conflito. A
GESTO & PRODUO, v.11, n.1, p.21-32, jan.-abr. 2004
poca, nesse caso, condiciona a anlise, visto que o
movimento sindical, o ento chamado "novo sindicalismo", era um dos smbolos mais fortes do avano social
e da luta pela democratizao das relaes de trabalho
e do Pas. Controle social faz parte da lgica da produo
capitalista (no s dela), e a literatura internacional, que
evoca controle, ou mesmo a brasileira de outras reas
alm de processo de trabalho, no utiliza a categoria
rotinizao: Braverman (1974), por exemplo, estuda o
controle a partir dos preceitos "tayloristas", no dos da
"rotinizao"; Marglin (1980) o faz a partir da anlise
da diviso manufatureira do trabalho e do papel da
hierarquia (chefia); outros, como Silva (1981, 1991),
associam FGTS e fim da estabilidade ao controle da
fora de trabalho.
Essa discusso pode ser estendida para grande parte da
literatura sobre processo de trabalho, dada a dificuldade que
apresenta para analisar e compreender o "negcio" de cada
empresa, o determinante econmico em cada perodo e
como ele se relaciona com a organizao e a gesto do
trabalho e da produo. Essa dificuldade permeia boa parte
da discusso posterior ao trabalho de Fleury (1978).
4. Novas formas de organizao do
trabalho, automao e o "modelo
japons"
O trabalho de Fleury canalizou a ateno para o que ocorre
dentro das fbricas e escritrios, para as formas concretas
de como se d o processo de trabalho. Introduziu no Brasil
a discusso sobre processo de trabalho, bastante em voga na
Europa e nos Estados Unidos como reflexo das manifestaes
de 1968-70. Sua citao em textos de sociologia do trabalho
e administrao de empresas d a dimenso de sua influncia
extradisciplina original (engenharia de produo).
O incio dos anos 80 no Brasil palco de movimentos
simultneos e complementares, que se estendem at hoje.
Emerge a discusso do que poca foi chamado de "novas
formas de organizao do trabalho", que, inspirada no
esquema de grupos semi-autnomos, buscava alternativas
opo taylorista, no sem um enorme grau de idealismo
(no sentido de abstrao das determinantes econmicas,
sociais e polticas do processo de trabalho) e simplificao
da realidade. Voltaremos ao ponto mais adiante.
digna de nota tambm a srie de pesquisas sobre a
introduo de tcnicas e da compreenso da lgica do assim
chamado modelo japons (CCQ, just in time/kanban,
qualidade total, etc.), j nos anais do Encontro Nacional de
Engenharia de Produo de 1983. H enorme diversidade
de trabalhos, muitos absolutamente pontuais, muitos
buscando semelhanas e diferenas com o esquema taylorista/
fordista clssico, ou buscando entender o movimento relativo
"qualidade", difuso das prticas "japonesas" na indstria
e nos servios. Na literatura internacional h inmeros textos
que pautaram o debate aqui no Brasil, como a polmica entre
25
Paul Adler e Christian Berggren em vrios nmeros da Sloan
Management Review.
Boa parte da literatura crtica sobre o "modelo japons"
procura mostrar a intensificao do trabalho e o
aprofundamento da lgica clssica (taylorista, fordista) que
esquemas tipo just in time introduziriam.
Houve mudana de qualidade a partir da consolidao
do ento Grupo de Trabalho (GT) "Processo de Trabalho e
Reivindicaes Sociais" na Associao Nacional de Pesquisa
e Ps-Graduao em Sociologia (ANPOCS) e da contribuio
de Hirata (1983, 1993). ela a idealizadora de eventos que
marcaram poca, como os seminrios interdisciplinares sobre
trabalho e processo de trabalho j em 1988 (DA-FEA-USP/
DS-FFLCH-USP/DEP-EPUSP, 1988; DA-FEA-USP/DSFFLCH-USP/DEP-EPUSP, 1989; ABET/USP, 1991) e dos
seminrios interdisciplinares "Os estudos do trabalho" de
1999/2000 (com textos sendo publicados pela editora
SENAC a partir de 2001). A mudana de qualidade se d
com a insero na anlise de temas como diviso sexual do
trabalho, subjetividade, cultura, poder, condicionantes
simblicos da eficincia, conflitos intergerenciais, etc.,
introduzindo no Brasil autores como Philippe Zarifian e
Michel Freyssenet.
A automao microeletrnica, que nos anos 80 esteve
no centro das atenes, proporcionou grande debate sobre
qualificao do trabalho. Por exemplo, Tauile (1984), ao
estudar a introduo de mquinas-ferramenta de comando
numrico no Brasil, considera haver uma desqualificao
do trabalho, enquanto Leite (1988 e posteriores), ento
pesquisadora do SENAI, faz considerao contrria. Os
dois textos tm limites claros, pois desconsideram o
"determinante tecnolgico" (notar bem, determinante, no
determinismo) e o determinante organizacional. Tauile
analisa a primeira gerao de comando numrico (CN),
que no possua memria, ficando o programa armazenado
em uma fita perfurada que precisava ser permanentemente
lida para guiar o movimento das ferramentas; Leite analisa
a gerao CNC, com capacidade de armazenar programas
na memria e permitir sua edio, o que facilita que o
operador possa realizar a programao. Facilitar significa
uma possibilidade, no um imperativo: muitos estudos
relatam que, mesmo em ambientes CNC pesquisados,
operadores no programavam as mquinas, e em alguns
casos isso era expressamente proibido (Salerno, 1991;
Dieese, 1994; Leite, 1994).
A polmica sobre qualificao se sofistica com o tempo.
Kern & Schumann (1989) reposicionam o debate, assim,
surge a noo de competncia. Hirata (1994) sintetiza a
evoluo do debate, abrangendo qualificao/desqualificao, polarizao de qualificaes, requalificao, e o
chamado modelo da competncia, que viria a ser conceituado de maneira mais precisa por Zarifian (2001). Uma
viso "otimista" do processo de reestruturao produtiva,
buscando qualificao e democratizao das relaes de
trabalho, pode ser vista em Gitahy (1994) e outros. J uma
26
Salerno Da Rotinizao Flexibilizao: Ensaio sobre o Pensamento Crtico Brasileiro de Organizao do Trabalho
viso um pouco mais ctica pode ser vista em Leite (1991,
1993).
O que nos transparece do debate, seja sobre qualificao/democratizao das relaes de trabalho, seja
sobre o "modelo japons" ou outros, certa fluidez dos
conceitos de base. Conforme o que se considere
"qualificao" ou "democratizao das relaes de
trabalho", pode-se chegar a qualquer lugar. Para alguns,
aumento da escolaridade formal dos assalariados passa
a ser indicador dessa democratizao, apesar de o caso
coreano estar a para derrubar a tese. Genericamente
falando, um dos problemas de fundo da produo local
sobre trabalho, processo de trabalho e ramificaes a
relativa baixa produo terica. Muitas anlises apiamse em conceitos/teorias da literatura internacional,
buscando explicar ou compreender determinados
fenmenos ou situaes analisadas. No h nenhum
problema nesse procedimento, o problema a restrio
a esse procedimento. Notemos que boa parte da literatura
brasileira que introduziu saltos e rupturas no conhecimento
e no instrumental analtico est associada no explicao
de situaes com base em conceitos j difundidos
internacionalmente, mas em explic-los a partir da criao
de conceitos e teorias originais: vide conceitos e teorias
de marginalidade, dependncia, rotinizao e outros.
A literatura brasileira sobre processo de trabalho se
diversifica, novas abordagens e novos objetos vo surgindo,
mas no surgem conceitos inovadores sobre o trabalho.
Podemos dizer que tal diversificao significou, paradoxalmente, o abandono relativo das preocupaes sobre
processo de trabalho, o abandono da crtica da diviso do
trabalho. Os estudos so enriquecidos em suas dimenses,
mas perdem fora ao abandonarem o eixo "processo de
trabalho" ou "crtica da diviso do trabalho".
5. A promessa sociotcnica
tradicional e sua no concretizao
Outro subproduto do trabalho de Fleury (1978) foi a srie
de pesquisas sobre sociotcnica e trabalho em grupos semiautnomos. Estes comeam a ser vistos como alternativas
ao receiturio clssico e alienao no trabalho, mas poucos
trabalhos de campo relatam sua introduo nas empresas
brasileiras nos anos 70 e 80.
Do nosso ponto de vista, a sociotcnica no vingou nos
anos 70 e 80, em nenhum lugar (no Brasil ou no exterior,
Sucia e pases nrdicos includos), sem a adeso sindical
porque no relaciona diretamente organizao e lucratividade, ou, em outras palavras, no integra a dimenso
fsica da produo com a dimenso financeira do negcio.
Os conceitos da sociotcnica clssica (Emery & Trist,
1969; Davis & Taylor, 1972; Herbst, 1974; Cherns, 1979),
que lastrearam direta ou indiretamente quase toda a
literatura brasileira pertinente, so bastante vagos nessa
relao, apoiando-se sobretudo na necessidade de flexibi-
lidade para fazer frente a ambientes turbulentos. Sua
difuso no incio dos anos 70 em pases como a Sucia,
Noruega, Dinamarca, Alemanha e Itlia deve-se crise
do trabalho e resistncia operria s formas clssicas de
organizao, sobretudo greves selvagens e sabotagens
(Pastr, 1983; Leite, 1991; Texier, 1995). A regulao
social-democrata existente na poca nos pases nrdicos
e na Alemanha possibilitou que conquistas virassem lei,
como a co-gesto alem, o direito sindical de veto na
Sucia (Leite, 1991) e a presso social direta que levou
ao Estatuto dos Direitos dos Trabalhadores na Itlia
(Ferreira et al., 1992). Mas as experincias de referncia,
ou ficaram limitadas s sedes das empresas, no sendo
aproveitadas em outros pases nos quais o ambiente sciopoltico no as exigiam (como no caso da Volvo, cujas
fbricas fora da Sucia so convencionais, com linhas de
montagem, mesmo na Blgica), ou sofreram rpida regresso com a crise de meados dos anos 70 e posterior enfraquecimento dos sindicatos, como na Itlia e Alemanha.
Na Frana, a institucionalizao deu-se mais em termos
de condio de trabalho, com a criao da obrigatoriedade
de anlise ergonmica nas empresas para que elas
obtivessem financiamentos oficiais para reestruturao
produtiva. Vm desse panorama institucional a grande
difuso dos conceitos da ergonomia francesa e a enorme
dificuldade de sua difuso em larga escala nas empresas
no Brasil.
Sem o ambiente institucional criado a partir das movimentaes e lutas operrias do final dos anos 60 e incio
dos anos 70, dificilmente estaramos discutindo grupos na
Volvo ou na Mercedes-Benz (atual Daimler-Chrysler) em
So Bernardo do Campo, anlise ergonmica da atividade
ou anlise do trabalho italiana (ver Bresciani, 1994;
Salerno, 1991).
No final dos anos 90, a sociotcnica volta tona, no
mais como instrumento de melhoria das condies de
trabalho, forjado em lutas operrias, mas como instrumento
de eficincia produtiva, dado o ambiente que demandava
flexibilidade dos sistemas de produo, no mbito da assim
chamada reestruturao produtiva. So sintomticas, nesse
sentido, duas publicaes, com um autor em comum, que
abordam grupos semi-autnomos. A primeira (Zilbovicius
& Marx, 1983), Autonomia e organizao do trabalho,
discute conflitos na produo siderrgica causados pela
tenso entre o esquema de grupos e a manuteno do
planejamento do trabalho centralizado na gerncia/corpo
tcnico, o qual restringe a autonomia operria. O trabalho
operrio est no centro do debate, como tema, como objeto
de estudo e como ator. J o livro publicado por Marx em
1998, Trabalho em grupo e autonomia como instrumentos
da competio, discute o emprego de grupos semiautnomos para fins de competitividade. O trabalho
continua no centro, mas no como tema, o qual passa a ser
a eficincia, e a organizao aparece como meio para obter
tal tema. Algo semelhante ocorre no livro de Salerno (1999),
GESTO & PRODUO, v.11, n.1, p.21-32, jan.-abr. 2004
que introduz conceitos da chamada "sociotecnologia
moderna", revisando categorias sociotcnicas tradicionais
que carecem de solidez (conceitos de subsistema tcnico
e social e conseqente "otimizao conjunta", por exemplo)
e ampliando o foco do grupo de trabalho para uma
organizao mais ampla. Esses autores, entre outros,
buscam, a partir da crtica da diviso clssica do trabalho,
a construo de mtodos de projeto de trabalho alternativos
ao clssico e mais operacionalizveis que os sociotcnicos
tradicionais. De certa maneira, o trabalho coadjuvante,
no ator principal, posto que os autores propem uma
alternativa metodolgica supostamente passvel de ser
utilizada nas empresas contemporneas de ponta, o que
necessariamente leva em conta a eficincia.
Tais exemplos mostram o impacto das mudanas nos
ambientes poltico, econmico e social nos anos 90, no
s para empresas e trabalhadores, mas tambm para
enquadramento de muitas pesquisas.
6. Uma panormica da produo ao
final dos anos 90: flexibilizao e
precarizao
Baseado na sntese elaborada por Salerno (1998), e
tomando por base textos apresentados em eventos tpicos
relativos a trabalho, processo de trabalho e organizao,
como II Congresso Latino-Americano de Sociologia do
Trabalho (Alast, 1997), Encontros da Anpocs (1996, 2001),
Anpocs, 1997 (resenha das teses e dissertaes em cincias
sociais) e Encontros Nacionais de Engenharia de Produo
a partir de 1997, bem como publicaes diversas, podemos
notar concentrao temtica ao redor dos seguintes eixos:
a) reestruturao produtiva e sua relao com precarizao
e flexibilizao das condies de trabalho e emprego
(com certa nfase para questes de terceirizao);
b) mudanas na qualificao/formao profissional dos
trabalhadores;
c) anlise das mudanas organizacionais, com nfase para
programas derivados do chamado "modelo japons",
como qualidade total, just in time, etc. e para mudanas
nas relaes entre empresas e seus impactos no trabalho;
d) diviso sexual do trabalho e trabalho feminino;
e) anlise de novos arranjos de fbricas e sua relao com
fornecedores, particularmente no setor automotivo
(consrcio modular, condomnio industrial, etc.).
Uma breve anlise dessa produo revela ou confirma
alguns pontos interessantes. Inicialmente, verifica-se que
o movimento de reestruturao da produo medido pela
introduo ou tentativa de introduo de tcnicas, como
qualidade total e kanban parece ter larga abrangncia
espacial. Vrios trabalhos discutem a adoo de novos
modelos de organizao e gesto da produo baseados no
"modelo japons", na produo frutcola e na nova indstria
27
de confeces no Nordeste. O difcil depreender dos textos
a profundidade e a solidez dessas mudanas. A oposio
entre gesto da qualidade e baixos salrios, que simbolizam
baixa qualidade de vida, est presente, assim como a
resistncia introduo de inovaes pelas chefias
intermedirias.
A afirmao de que h mais resistncia das chamadas
chefias intermedirias do que dos trabalhadores, quanto
introduo de programas de qualidade e de mudanas
organizacionais diversas (como a introduo de grupos
semi-autnomos), altamente disseminada no meio acadmico e empresarial. Isso sugere uma caracterstica
particular das relaes de trabalho no Brasil, seu histrico
altamente autoritrio: as chefias diretas foram, durante
muitos anos, personificaes do poder desptico, demitindo
para reduzir a massa salarial ou como forma de inibir o
desenvolvimento de movimentaes operrias no interior
das fbricas. As chefias intermedirias foram agentes diretos
de gesto do trabalho moldado pela organizao "rotinizada", para retomar o conceito reelaborado de rotinizao.
Contudo, a democratizao formal do sistema poltico
brasileiro deve-se, tambm, s lutas contra o autoritarismo
nas fbricas. Atualmente, o autoritarismo das chefias chocase com o discurso ou com as polticas de maior participao
e autonomia dos trabalhadores diretos implementadas, basicamente, pelas empresas lderes de seus setores ou com pretenses a tal. Assim, ganharam os trabalhadores que restaram
nestas empresas, perdendo os ex-chefes e os desempregados
por movimentos de recesso, desindustrializao, terceirizao, racionalizao, automao, etc. A ligao entre
organizao do processo de trabalho e condies sciopolticas um dos elos perdidos nas anlises crticas mais
recentes. No centro do palco, entre o final dos anos 70 e
meados dos 80, a "globalizao" dos 90 induziu boa parte
dos analistas a considerarem um imperativo de "competitividade", muitas vezes tomado de forma genrica, sem
aderncia ao caso analisado. Nem todas as empresas sofrem
competio internacional e esta no se d sempre da mesma
forma, o ambiente de negcios no o mesmo para todas
as empresas. Isso obscurece outros condicionantes, principalmente os scio-polticos relativos s relaes de trabalho
tomadas em sentido amplo (e no apenas em seu sentido de
relaes sindicais formais).
Tambm muito difundida na literatura brasileira recente
a considerao de polarizao entre trabalhadores "includos"
e "excludos" do ncleo central, qualificado, das empresaslderes. Assim o fazem Ruas & Antunes (1997), Bresciani
(1997), Carleial (1997) e Leite (1997). constatao de que
ocorre movimento de relativa estabilizao de parcela da fora
de trabalho (h vrios indicadores da reduo dos nveis de
rotatividade em muitas atividades produtivas) e de aumento
das atividades de treinamento e qualificao profissional,
contrape-se a constatao de que h um movimento de
aprofundamento da segmentao e precarizao no mundo
28
Salerno Da Rotinizao Flexibilizao: Ensaio sobre o Pensamento Crtico Brasileiro de Organizao do Trabalho
do trabalho, em razo da terceirizao de atividades, subcontratao e flexibilizao dos contratos de trabalho. Na
realidade, poderamos dizer que so duas faces da mesma
moeda, que h uma relao ntima entre incluso e excluso,
surgindo, assim, o conjunto da produo, resultando a sntese,
o panorama do trabalho.
Retomando a questo da qualificao e a viso de Leite,
que, estudando a cadeia automotiva (uma montadora, um
fornecedor direto e fornecedores de segundo nvel, ou seja,
que fornecem para os fornecedores diretos), conclui: "de
forma bastante geral, pode-se dizer que, se a tendncia
requalificao da mo-de-obra bastante evidente para uma
parcela importante dos trabalhadores, ela est longe de ser
universal. Pelo contrrio, para uma quantidade significativa
de trabalhadores, entre os quais se encontra a quase
totalidade de menores e mulheres, o processo de qualificao
pfio. Vale destacar a esse respeito a enorme diferena na
integrao de tarefas para homens e mulheres: enquanto
para eles o processo tende a enriquecer o trabalho, para elas
significa quase somente intensificao do mesmo, tendo
em vista a natureza das tarefas que se integram, em geral
destitudas de contedo (...). A comparao entre o que
ocorre, por exemplo, com a integrao de tarefas para o
trabalho masculino e feminino nas injetoras de plstico
um dos poucos tipos de mquina em que h uma certa
concentrao de mulheres elucidativa: enquanto para
os homens integra-se a operao com trabalhos mais
complexos de preparao de mquina, para as mulheres
operao tendem a serem integrados trabalhos mais simples,
como os de rebarba ou de montagem" (Leite, 1997, p. 18).
Portanto, "incluso", grosso modo, diz respeito queles
trabalhadores (homens) que guardam relao de emprego
formal, que no tiveram suas condies de trabalho e de
remunerao degradadas em relaes quelas que passaram
a ser percebidas pelos trabalhadores(as) "expulsos" do ncleo
central de uma empresa, de um setor. E como as condies
de trabalho variam conforme o setor, empresa ou mesmo parte
da empresa, seria preciso qualificar melhor o movimento
incluso/excluso com casos concretos.
A rigor, a reestruturao produtiva em curso bastante
complexa e aponta para diferentes direes quando observada
sob a tica do trabalho e da organizao do trabalho.
7. A crise dos anos 90, a falta de
perspectivas transformadoras e
seus reflexos na produo
conceitual: questes abertas
O panorama dos anos 90 bastante conhecido: abertura
dos portos s multinacionais amigas, ataque aos sindicatos
pelo governo do partido rotulado como "social-democrata"
(lembrando do tratamento dado greve dos petroleiros, do
final das cmaras setoriais, da poltica do governo Fernando
Henrique Cardoso de desqualificar o interlocutor
"neobobos" , da relao com os sindicatos durante o
processo de privatizao, etc.), guerra fiscal, juros altos,
desemprego, ausncia de polticas ativas fora as de atrao
de capitais e de privatizao.
O refluxo do movimento operrio e o conseqente aumento de poder das empresas em sua relao com os trabalhadores manifesta-se na produo crtica sobre processo de
trabalho e sobre o trabalho de maneira geral, de forma bastante
intensa. Relaes de trabalho "sai de moda". Da discusso
de organizao do processo de trabalho e qualificaodesqualificao-requalificao, passa-se de "formao
profissional", no sem esquecer que recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) foram usados para financiar
vrios estudos acadmicos e programas sindicais.
H tambm a perspectiva do estudo do trabalho a partir
da cadeia produtiva. Ou melhor, tratar do trabalho coletivo
fora dos muros da fbrica. Tal perspectiva foi sobremaneira
impulsionada pela terceirizao levada a cabo pelas empresas.
O trabalho se desagrega, o sindicato perde base (e poder) e
o pesquisador crtico tenta entender o processo. Leite,
Guimares (anteriormente com sobrenome Castro) e Abramo
so algumas das socilogas que se dedicam ao tema. Fleury
(1997), por sua vez, busca entender a diviso internacional
do trabalho nas multinacionais, estudando quais atividades
de engenharia tendem a permanecer no Pas e quais tendem
a ser recentralizadas nas sedes ou centros de excelncia.
Vrios trabalhos discutem a relao fornecedoresclientes
produtivos, como o consrcio modular e os condomnios
industriais na indstria automotiva, buscando entender lgicas
organizacionais mais amplas.
Um salto ocorrido no perodo 1978-2000, alm de
aumentar a quantidade de estudos, de pesquisadores e da
diversidade temtica, tentou entender determinantes do
processo de trabalho via anlise do negcio da empresa ou
de determinaes outras e procurou inserir o processo de
trabalho de uma empresa na cadeia produtiva como um todo.
Contudo, so enormes os desafios abertos:
a) Pouco se conhece sobre as relaes entre a produo e
a determinante financeira, a no ser o bvio (reduo de
estoques reduz custo financeiro, presso por lucratividade
que cubra os custos de oportunidade relativos aplicao
financeira, etc.). A questo financeira unanimidade, mas
carece de aprofundamento. A relao entre mercado
acionrio, fundos de investimento e de penso, recursos
pblicos (como, por exemplo, os destinados pelos
governos estaduais para implantao de indstrias, cuja
face mais charmosa so as automobilsticas), incentivos
fiscais, financiamentos estatais (BNDES, outros bancos
estatais, governos estaduais e municipais) e a produo
ainda bastante obscura. Quais as condicionantes que
a "questo financeira" coloca para o processo de trabalho? Qual a relao com terceirizao? H alguns
esforos para discutir o tema. Zilbovicius (1999) aborda
as relaes entre sujeito administrao/finanas e o objeto
fbrica/trabalho, lanando luz sobre a questo. A
GESTO & PRODUO, v.11, n.1, p.21-32, jan.-abr. 2004
imbricao entre bens e servios, muito falada, pouco
avaliada sob o ponto de vista das condicionantes que esta
introduz na gesto da empresa e, por conseguinte, sob
o processo de trabalho e o trabalho. preciso desenvolver
mais pesquisas sobre o tema.
b) A lgica econmica (ou de "negcios") de determinadas
formas de organizao no est clara. Os estudos clssicos sobre processo de trabalho baseiam-se na primazia
da produo como fonte de lucro (notar bem, de lucro,
no de valor), mas as operaes financeiras das empresas
relativizam tal primazia, a menos que seja em um curto
espao de tempo. Este um problema recorrente nos
estudos, em parte pela dificuldade de pesquisa do assunto
em si (dados sigilosos, poucas empresas com balanos
publicados, subordinao de filiais s regras da matriz,
etc.), em parte pela limitao dos prprios pesquisadores
(h certo desprezo pela "microeconomia" entre os
pesquisadores "crticos"). Por exemplo, onde est o
"negcio" nas empresas de autopeas nos novos arranjos
(condomnios industriais), nas empresas ligadas Internet,
nas prestadoras privadas de servios pblicos?
c) A administrao direta do Estado no tem sido objeto de
estudo. Discutir reforma do Estado deveria implicar
discutir sua organizao, a organizao do processo de
trabalho e da prestao de servios pblicos. algo
premente. muito interessante notar como a discusso
brasileira crtica sobre taylorismo e burocracia (no sentido
weberiano) ocorre fundamentalmente na grande indstria
e em determinadas atividades de servios (bancos, por
exemplo), sendo praticamente ausente na administrao
pblica e nas pequenas empresas. Talvez isso se explique
pelo dinamismo tanto do capital quanto do sindicalismo
nas grandes empresas, particularmente metalrgicas: o
capital como agente de mudana ("reestruturao
29
produtiva"), assim como o trabalho organizado, ao menos
no panorama do final dos anos 70 e 80 (novo sindicalismo,
comisses de fbrica, etc.).
d) Buscar os novos germes de mudana na sociedade e nas
organizaes. Para o segmento de pesquisa e pesquisadores considerado neste artigo, a atratividade dos
estudos de organizao e trabalho nos anos 70 e 80 estava
muito alicerada sobre a possibilidade de transformao
social, simbolizada pelo movimento operrio e pela
perspectiva de transformaes no processo de trabalho.
Localizar os germes de mudana social no regressiva
um desafio; localizar as contradies que podem impulsionar mudanas outro. Parece claro que o estudo do
processo de trabalho, segundo a tradio inaugurada em
O capital, de Marx, buscava compreender o processo de
explorao, entender o processo de criao de valor na
sociedade (valor subentendido como valor-trabalho),
denunciar condies de trabalho, germes de mudana na
resistncia operria, etc. O arrefecimento do mpeto do
sindicalismo e a emergncia de novos movimentos sociais
que no tm no trabalho seu tema central parecem ter
contribudo para a disperso das anlises sobre processo
de trabalho.
e) H necessidade de um salto na qualidade terica e metodolgica. A literatura abundante, mas muito descritiva
e/ou analtica a partir de teorias dadas. Poucos conceitos
so propostos, o que leva saturao dos estudos: pouca
novidade emerge. Evidentemente, tal crtica aplica-se
tambm ao autor deste ensaio. Ser que processo de
trabalho algo completamente compreendido? No h
nenhum aspecto a ser descoberto? Os tpicos anteriores
nos sugerem que muito h para ser construdo, evidentemente, para aqueles que acreditam que o trabalho ainda
um valor central, estruturante, de nossa sociedade.
Referncias Bibliogrficas
ABET & USP, Seminrio Interdisciplinar da Associao
Brasileira de Estudos do Trabalho: modelos de organizao
industrial, poltica industrial e trabalho. Anais... So Paulo:
ABET/USP, 1991.
ABEPRO Associao Brasileira de Engenharia de Produo.
Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produo,
diversos anos.
ALAST Associao Latino-americana de Sociologia do
Trabalho. O mundo do trabalho no contexto da globalizao
desafios e perspectivas. Livro de Resumos. guas de Lindia,
dez. 1996.
ALVES FILHO, A. G.; MARX, R.; ZILBOVICIUS, M.
Fordismo e novos paradigmas de produo: questes sobre
a transio no Brasil. Produo, v. 2, n. 2, p. 113-124, 1992.
ANPOCS Associao Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa em Cincias Sociais. BIB Revista Brasileira de
Informao Bibliogrfica em Cincias Sociais, Rio de
Janeiro/So Paulo, Dumar/ANPOCS, n. 43, 1997.
ANPOCS. Programa e resumos do XX Encontro Nacional.
Caxambu, out. de 1996.
ARKADER, R. A pesquisa cientfica em gerncia de operaes
no Brasil. Revista de Administrao de Empresas, So Paulo:
EAESP-FGV, v. 43, n. 1, p. 70-80, 2003.
BRAVERMAN, H. Trabalho e capital monopolista. Rio de
Janeiro: Zahar, 1974.
BRESCIANI, L. P. Flexibilidade e reestruturao: o trabalho
na encruzilhada. So Paulo em Perspectiva, v. 11, n. 1, jan./
mar. 1997, p. 88-97.
30
Salerno Da Rotinizao Flexibilizao: Ensaio sobre o Pensamento Crtico Brasileiro de Organizao do Trabalho
BRESCIANI, L. P. Os desejos e o limite: reestruturao industrial
e ao sindical no complexo automotivo brasileiro. In:
LEITE, M. P. (Org.). O Trabalho em movimento:
reestruturao produtiva e sindicatos no Brasil. Campinas:
Papirus, 1997.
BRESCIANI, L. P. Tecnologia, organizao do trabalho e ao
sindical: da resistncia contratao. 1991. Dissertao
(Mestrado) Departamento de Engenharia de Produo,
Escola Politcnica, Universidade de So Paulo. (Publicao
posterior: So Paulo, CNI-SESI/DN, 1994, p. 19-20. Srie
Indstria e Trabalho, n. 3, 1. Concurso Sesi de Teses
Universitrias.)
BRUNO, L.; SACCARDO, C. (Coords.). Organizao,
trabalho e tecnologia. So Paulo: Atlas, 1986.
BURAWOY, M. Manufacturing consent: changes in the labour
process under monopoly capitalism. Chicago: University of
Chicago Press, 1979.
CARLEIAL, L. Reestruturao industrial, relao entre firmas
e mercado de trabalho: as evidncias em indstrias
selecionadas na regio metropolitana de Curitiba. In:
CARLEIAL, L.; VALLE, R. (Orgs.). Reestruturao
produtiva e mercado de trabalho no Brasil. So Paulo: Finep/
Hucitec, 1997.
CARVALHO, R. Q. Tecnologia e trabalho industrial. Porto
Alegre: LPM, 1987.
CASTRO, N. A.; GUIMARES, A. S. A. Alm de Braverman,
depois de Burawoy: vertentes analticas na sociologia do
trabalho. Revista Brasileira de Cincias Sociais. Ano 6, n.
17, p. 44-52, out. 1991.
CHERNS, A. The principles of sociotechnical design. In. Using
the social sciences. London: Routledge & Kegan Paul, 1979.
Cap. 16, p. 310-40. (H uma traduo condensada em
portugus: "Princpios" scio-tcnicos de planejamento do
trabalho. So Carlos, UFSCar/DEP, s.d. mimeografado).
CORIAT, B. El taller y el cronometro. Madrid: Siglo Veintiuno,
1979.
DA-FEA-USP/DS-FFLCH-USP/DEP-EPUSP. Seminrio
Internacional Padres Tecnolgicos e Polticas de Gesto:
Comparaes Internacionais. Anais... So Paulo, 1989. So
Paulo: DA-FEA-USP/DS-FFLCH-USP/DEP-EPUSP, 1989.
DA-FEA-USP/DS-FFLCH-USP/DEP-EPUSP. Seminrio
Padres Tecnolgicos e Polticas de Gesto: processos de
trabalho na indstria brasileira. Anais... So Paulo, 1988.
So Paulo: DA-FEA-USP/DS-FFLCH-USP/DEP-EPUSP,
1988.
DAVIS, L.; TAYLOR, J. C. (Eds.). Design of jobs.
Harmondsworth: Penguin, 1972.
DIEESE. Boletim DIEESE. Seo Linha de Produo. So
Paulo: vrios nmeros a partir de 1983.
DIEESE. Trabalho e reestruturao produtiva: 10 anos de
Linha de Produo. So Paulo: DIEESE, 1994.
EMERY, F. E.; TRIST, E. L. Socio technical systems. In:
EMERY, F. E. (Ed.). Systems thinking. Harmondsworth:
Penguin, 1969. p. 281-296.
ERBER, F. (Org.). Processo de trabalho e estratgias de classe.
Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
FERREIRA, C. G.; HIRATA, H.; MARX, R.; SALERNO, M.
S. Alternativas sueca, italiana e japonesa ao paradigma
fordista: elementos para uma discusso sobre o caso
brasileiro. In: SOARES, R. M. S. (Org.). Gesto da qualidade: tecnologia e participao. Braslia: CODEPLAN,
cadernos CODEPLAN, n. 1, 1992. p. 157-178. (Publicado
anteriormente nos Anais do Seminrio Interdisciplinar da
Associao Brasileira de Estudos do Trabalho: modelos de
organizao industrial, poltica industrial e trabalho, So
Paulo: ABET/USP, 1991. p. 194-228.)
FLEURY, A. Estratgias, organizao e gesto de empresas
em mercados globalizados: a experincia recente do Brasil.
Gesto & Produo, So Carlos: UFSCar-DEP, v. 4, n. 3,
p. 264-277, dez. 1997.
____. Organizao do trabalho na indstria: recolocando a
questo nos anos 80. In: FLEURY, M. T. L.; FISCHER,
R. M. (Orgs.). Processo e relaes de trabalho no Brasil.
So Paulo: Atlas, 1985, Cap. 2, p. 51-66.
____. Rotinizao do trabalho: o caso das indstrias mecnicas.
In: FLEURY, A.; VARGAS, N. (Orgs.). Organizao do
trabalho: um enfoque multidisciplinar. So Paulo: Atlas,
1983, Cap. 4, p. 84-106.
____. Organizao do trabalho em pequenas e mdias empresas
do setor mecnico. Revista de Administrao de Empresas,
Rio de Janeiro: FGV, v. 22, n. 4, p. 17-27, out./dez. 1982.
____. Produtividade e organizao do trabalho na indstria.
Revista de Administrao de Empresas, Rio de Janeiro:
FGV, v. 20, n. 3, p. 19-28, jul./set. 1980.
____. Organizao do trabalho industrial: um confronto entre
teoria e realidade. 1978. Tese (Doutorado) - Departamento
de Engenharia de Produo, Escola Politcnica, Universidade
de So Paulo, So Paulo.
FLEURY, A.; VARGAS, N. (Orgs.). Organizao do trabalho:
um enfoque interdisciplinar. So Paulo: Atlas, 1983.
FLEURY, M. T. L.; FISCHER, R. M. (Orgs.). Processo e
relaes de trabalho no Brasil. So Paulo: Atlas, 1985.
GITAHY, L. Inovao tecnolgica, subcontratao e mercado
de trabalho. So Paulo em Perspectiva, So Paulo: SEADE,
v. 8, n. 1, p. 144-153, 1994.
GORZ, A. (Org.). Crtica da diviso do trabalho. So Paulo:
Martins Fontes, 1980.
GRN, R. Japo, Japes: algumas consideraes sobre o papel
dos conflitos intergerenciais na difuso das novidades
organizacionais. In: SOARES, R. M. S. (Org.). Gesto da
qualidade: tecnologia e participao. Cadernos CODEPLAN,
Braslia: CODEPLAN, n. 1, p. 61-82, 1992.
GESTO & PRODUO, v.11, n.1, p.21-32, jan.-abr. 2004
GUIMARES, A. S. A. Um sonho de classe: trabalhadores
e formao de classe na Bahia dos anos oitenta. So Paulo:
HUCITEC/USP, 1998.
HERBST, P. G. Socio-technical design: perspectives in multidisciplinary research. London: Tavistock, 1974.
HIRATA, H. Da polarizao das qualificaes ao modelo da
competncia. In: FERRETTI, C. et al. (Orgs.). Novas
tecnologias, trabalho e educao: um debate multidisciplinar.
Petroplis: Vozes, 1994.
HIRATA, H. (Org.). Sobre o modelo japons: automatizao,
novas formas de organizao e de relaes de trabalho. So
Paulo: EDUSP/Aliana Cultural Brasil-Japo, 1993.
HIRATA, H. Receitas japonesas, realidade brasileira. Novos
Estudos CEBRAP, n. 2, 1983.
HUMPHREY, J. Novas formas de organizao do trabalho na
indstria: suas implicaes para o uso e controle da mode-obra no Brasil. In: Seminrio Internacional Padres
Tecnolgicos e Polticas de Gesto: Comparaes
Internacionais. Anais... So Paulo, 1989. So Paulo: DAFEA-USP/DS-FFLCH-USP/DEP-EPUSP, 1989. p. 325359.
HUMPHREY, J. Fazendo o "milagre": controle capitalista e
luta operria na indstria automobilstica brasileira.
Petrpolis: Vozes/CEBRAP, 1982.
KERN, H.; SCHUMANN, M. La fin de la division du travail?:
la rationalisation dans la production industrielle l'tat actuel,
les tendances. Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 1989.
KOWARICK, L. Capitalismo e marginalidade na Amrica
Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
LE VEN, M. M. O cotidiano fabril dos trabalhadores da FIAT
Automveis de Betim: 1978/84. In: Seminrio Padres
Tecnolgicos e Polticas de Gesto: Processos de Trabalho
na Indstria Brasileira. Anais... So Paulo: DA-FEA-USP/
DS-FFLCH-USP/DEP-EPUSP, 1988. p. 526-92.
LEITE, E. M. Inovao tecnolgica, emprego e qualificao na
indstria mecnica. In: Seminrio Padres Tecnolgicos e
Polticas de Gesto: Processos de Trabalho na Indstria
Brasileira. Anais... So Paulo: DA-FEA-USP/DS-FFLCHUSP/DEP-EPUSP, 1988. p. 760-785.
LEITE, M. P. (Org.) O trabalho em movimento: reestruturao
produtiva e sindicatos no Brasil. Campinas: Papirus, 1997.
LEITE, M. P. O futuro do trabalho: novas tecnologias e
subjetividade operria. So Paulo: Scritta, 1994.
LEITE, M. P. Novas formas de gesto da mo-de-obra e sistemas
participativos: uma tendncia democratizao das relaes
de trabalho? Educao e Sociedade, Campinas: Papirus, n.
45, ago. 1993. p. 190-210 (tambm publicado na Revista
Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Mxico: Casa
Abierta al Tiempo, ano 1, n. 1, p. 135-154, 1995.)
LEITE, M. P. O modelo sueco de organizao do trabalho. In:
LEITE, M. P.; SILVA, R. A. (Orgs.). Modernizao
tecnolgica, relaes de trabalho e prticas de resistncia.
So Paulo: Iglu/Ildes/Labor, 1991.
31
LOPES, J. R. B. Sociedade industrial no Brasil. So Paulo:
Difuso Europia do Livro, 1964.
LOPES, J. R. B. Desenvolvimento e mudana social. So
Paulo: Nacional, 1968.
MARGLIN, S. Origem e funes do parcelamento das tarefas
(para que servem os patres?). In: GORZ, A. (Ed.). Crtica
da diviso do trabalho. So Paulo: Martins Fontes, 1980.
p. 37-77.
MARONI, A. A estratgia da recusa. So Paulo: Brasiliense,
1982.
MARX, K. O capital: crtica da economia poltica. 6. ed. Rio
de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980. Livro 1, v. 1.
MARX, R. Trabalho em grupo e autonomia como instrumentos
da competio. So Paulo: Atlas, 1998.
MARX, R.; ZILBOVICIUS, M.; SALERNO, M. S. The modular
consortium in a new VW truck plant in Brazil: new forms
of assembler and supplier relationship. Integrated
Manufacturing Systems. The International Journal of
Manufacturing Tecnology Management, v. 8, n. 5-6, p. 292298, 1997.
MORAIS FILHO, E. O sindicato nico no Brasil. Rio de
Janeiro: Noite, 1962.
NOBLE, D. F. Forces of production: a social history of
industrial automation. Oxford: Oxford University Press,
1986.
OLIVEIRA, F. A economia brasileira: crtica razo dualista.
Estudos CEBRAP, n. 2, p. 3-82, 1972.
PAOLI, M. C. P. M. Desenvolvimento e marginalidade. So
Paulo: Pioneira, 1973.
PASTR, O. Taylorisme, productivit et crise du travail. Travail
et emploi, n. 8, p. 43-70, oct./dec. 1983.
PRODUO. Dossi: organizao do trabalho e ergonomia.
Belo Horizonte: ABEPRO, Nmero especial, ago. 2000,
p. 43-115.
PROENA, A. Manufatura integrada por computador e
organizao do trabalho. Produo, v. 1, n. 2, p. 97-106,
mar. 1991.
RODRIGUES, L. M. Industrializao e atitudes operrias:
estudo de grupos de trabalhadores. So Paulo: Brasiliense,
1970.
RUAS, R.; ANTUNES, E. Gesto do trabalho, qualidade total
e comprometimento no cenrio da reestruturao. So Paulo
em Perspectiva, v. 11, n. 1, p. 42-53, jan./mar. 1997.
SACOMANO NETO, M.; TRUZZI, O. M. S. Perspectivas
contemporneas em anlise organizacional. Gesto &
Produo, v. 9, n. 1, p. 32-44, abr. 2002.
SALERNO, M. S. Projeto de organizaes integradas e flexveis:
processos, grupos e gesto democrtica via espaos de
comunicao-negociao. So Paulo: Atlas, 1999.
SALERNO, M. S. Restructuration de la production et travail
dans les entrprises installes au Brsil. Revue Tiers Monde,
v. XXXIX, n. 154, p. 305-328, avr./juin 1998.
32
Salerno Da Rotinizao Flexibilizao: Ensaio sobre o Pensamento Crtico Brasileiro de Organizao do Trabalho
SALERNO, M. S. Essncia e aparncia na organizao da
produo e do trabalho das fbricas 'reestruturadas'.
Produo, v. 5, n. 2, p. 191-202, nov. 1995.
SALERNO, M. S. Flexibilidade, organizao e trabalho
operatrio: elementos para anlise da produo na indstria.
1991. 232 p. Tese (Doutorado) Departamento de
Engenharia de Produo, Escola Politcnica, Universidade
de So Paulo, So Paulo.
SALERNO, M. S. Produo, trabalho e participao: CCQ e
kanban numa nova imigrao japonesa. In: FLEURY, M. T.
L.; FISCHER, R. M. Processo e relaes de trabalho no
Brasil. So Paulo: Atlas, 1985.
SILVA, E. B. Refazendo a fbrica fordista. So Paulo: Hucitec/
FAPESP, 1991.
____. Poltica empresarial de controle da fora de trabalho:
rotatividade como dominao. 1981. Dissertao (Mestrado)
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas,
Universidade de So Paulo, So Paulo (na poca, a autora
assinava como Elizabeth Silva Sztutman).
SPINK, P. Democracia no local de trabalho: ou a gerncia sabe
o que melhor? Psicologia Atual, v. 5, n. 28, p. 34-41,
out. 1982.
TAUILE, J. R. Employement effects of microelectronic equipment
in the Brazilian automobile industry. Rio de Janeiro: Instituto
de Economia Industrial, texto para discusso n. 64, dez. 1984.
TAYLOR, F. W. Princpios de administrao cientfica. 7. ed.
So Paulo: Atlas, 1978.
TEXIER, J. (Org.). La crise du travail. Paris: PUF, 1995b.
(Collection Actuel Marx Confrontation).
TROYANO, A. A. Estado e sindicalismo. So Paulo: Smbolo,
1978.
WEFFORT, F. C. Origens do sindicalismo populista no Brasil.
Estudos CEBRAP, n. 4, abr./jun., 1973.
VARGAS, N. Organizao do trabalho e capital: um estudo
da construo habitacional. 1979. 142 p. Dissertao
(Mestrado) COPPE, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro.
ZARIFIAN, P. Objetivo competncia: por uma nova lgica.
So Paulo: Atlas, 2001.
ZILBOVICIUS, M. Modelos para a produo, produo de
modelos. So Paulo: Annablume/Fapesp, 1999.
ZILBOVICIUS, M.; MARX, R. Autonomia e organizao do
trabalho: o caso da indstria siderrgica. In: FLEURY, A.;
VARGAS, N. (Orgs.). Organizao do trabalho. So Paulo:
Atlas, 1983, p. 124-145.
FROM "ROTINISATION" TO "FLEXIBILISATION", AN ESSAY ON BRAZILIAN
CRITICAL STUDIES ON WORK ORGANISATION
Abstract
The paper aims to review the critical Brazilian literature on work organisation ("division of labour") based on some
key papers that have inaugurated the discussion in the 70/80s. It is an analysis a posteriori by relating papers, questions,
and social and economical and political environment. It is neither a synthesis nor a rsum of the literature. Obviously,
the task means that large omissions will occur; anyway, such kind of papers are considered necessary to rethink
practices and approaches in the field. We can perceive that the thematic is very connected to the societal environment
of each period, representing questions, social actors in dispute, and development stages of forces of production. In the
end, we propose some questions on the subject.
Key words: work organisation, work process, division of labour, productive restructuring, labour, social change.
Você também pode gostar
- Como Elaborar Propostas Técnicas e Comerciais para Projetos de ConsultoriaDocumento3 páginasComo Elaborar Propostas Técnicas e Comerciais para Projetos de ConsultoriaAparecido Rodrigues da Silva100% (1)
- 2.5 Teste Seus Conhecimentos - Revisão Da TentativaDocumento54 páginas2.5 Teste Seus Conhecimentos - Revisão Da TentativaBruno GonçalvesAinda não há avaliações
- Trabalho Conclusão de Curso Engenharia Mecânica TCC..Documento21 páginasTrabalho Conclusão de Curso Engenharia Mecânica TCC..Bruno SouzaAinda não há avaliações
- Livro GT - 8 (Doi)Documento227 páginasLivro GT - 8 (Doi)Thiago MoraesAinda não há avaliações
- Procedimento de ImparcialidadeDocumento16 páginasProcedimento de ImparcialidadeRodrigo NunesAinda não há avaliações
- Exercício Avaliativo - Módulo 3 - Revisão Da TentativaDocumento4 páginasExercício Avaliativo - Módulo 3 - Revisão Da TentativaAldo L. OliveiraAinda não há avaliações
- Grupo7br Proposta Comercial - Morada Goiá IIDocumento3 páginasGrupo7br Proposta Comercial - Morada Goiá IIAndré MachadoAinda não há avaliações
- Avaliação Dos Riscos Ambientais Dos Canteiros de Obras - CasofiocruzDocumento18 páginasAvaliação Dos Riscos Ambientais Dos Canteiros de Obras - CasofiocruzFelyppe BlumAinda não há avaliações
- Editado - Modelo Termo de ReferênciaDocumento12 páginasEditado - Modelo Termo de ReferênciaRegiane MBAinda não há avaliações
- COSTA. A Racionalização Do Processo de Trabalho Na Construção Civil.Documento16 páginasCOSTA. A Racionalização Do Processo de Trabalho Na Construção Civil.Pedro FernandesAinda não há avaliações
- 12 Lei #7.410-2018 - Transporte Escolar PDFDocumento18 páginas12 Lei #7.410-2018 - Transporte Escolar PDFSME Biritiba MirimAinda não há avaliações
- ROF - PDF Final Atualizado 19.09.2023Documento65 páginasROF - PDF Final Atualizado 19.09.2023Ricardo FerreiraAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos Sla e SLMDocumento12 páginasConceitos Básicos Sla e SLMMarcelo RibeiroAinda não há avaliações
- GADREY Emprego Produtividade Avaliação Desempenho ServiçosDocumento39 páginasGADREY Emprego Produtividade Avaliação Desempenho ServiçosDuarte Rosa FilhoAinda não há avaliações
- Colaborar - Aap2 - Legislação Social e TrabalhistaDocumento3 páginasColaborar - Aap2 - Legislação Social e TrabalhistaFrancieleMoraesAinda não há avaliações
- Snvs Compilado de Procedimentos PDFDocumento191 páginasSnvs Compilado de Procedimentos PDFpatymagalhaesAinda não há avaliações
- Manual de Normas e Procedimentos de Controle Versao Final 19 02 2019Documento29 páginasManual de Normas e Procedimentos de Controle Versao Final 19 02 2019Hélcio FlávioAinda não há avaliações
- Sap MM 132-197Documento66 páginasSap MM 132-197Rafael LunaAinda não há avaliações
- Portifolio Grupo SamechDocumento9 páginasPortifolio Grupo SamechNilson SantosAinda não há avaliações
- Sensibilizar Ciberseguranca PDFDocumento19 páginasSensibilizar Ciberseguranca PDFspykid24Ainda não há avaliações
- Texto Base Atividade 1Documento9 páginasTexto Base Atividade 1Caio PhilipiAinda não há avaliações
- Administração de Unidades de Alimentação e NutriçãoDocumento34 páginasAdministração de Unidades de Alimentação e NutriçãoPlaster HouseAinda não há avaliações
- AUTOEMPREENDEDORISMO - Inclusão Social Pelo TrabalhoDocumento15 páginasAUTOEMPREENDEDORISMO - Inclusão Social Pelo TrabalhoElias Samuel EspindolaAinda não há avaliações
- Modelo de Reclamação Trabalhista Baixa No CNIS e CAGED 2019Documento6 páginasModelo de Reclamação Trabalhista Baixa No CNIS e CAGED 2019Maria Karla LiraAinda não há avaliações
- Legislação Armas - Portaria #56 - CologDocumento57 páginasLegislação Armas - Portaria #56 - CologMarcio FloresAinda não há avaliações
- Ebook BPO FinanceiroDocumento11 páginasEbook BPO FinanceiroMonique Godinho100% (1)
- 09 Producao Antecipada ProvasDocumento50 páginas09 Producao Antecipada ProvasROMULO CAVALLI DE MELOAinda não há avaliações
- Novo Codigo de Etica Sebrae Versao NormativaDocumento10 páginasNovo Codigo de Etica Sebrae Versao NormativaTiago AntunesAinda não há avaliações
- Carta de Anuencia Prorrogação 2Documento1 páginaCarta de Anuencia Prorrogação 2JeneferAinda não há avaliações
- Direito Do Trabalho, Indústria 4.0 e (Des) Centralidade Da Pessoa Humana Que TrabalhaDocumento14 páginasDireito Do Trabalho, Indústria 4.0 e (Des) Centralidade Da Pessoa Humana Que TrabalhaGabriel GomesAinda não há avaliações