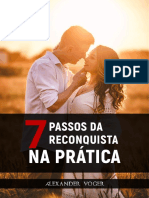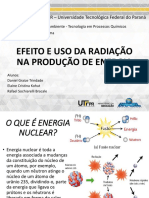Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Os Manuais de Cinema e TV e As Diversas Formas de Realização Audiovisual - Eduardo - Baggio
Os Manuais de Cinema e TV e As Diversas Formas de Realização Audiovisual - Eduardo - Baggio
Enviado por
Marcelo LopesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os Manuais de Cinema e TV e As Diversas Formas de Realização Audiovisual - Eduardo - Baggio
Os Manuais de Cinema e TV e As Diversas Formas de Realização Audiovisual - Eduardo - Baggio
Enviado por
Marcelo LopesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
55
OS MANUAIS DE CINEMA E TV E AS
DIVERSAS FORMAS DE REALIZAO AUDIOVISUAL
Eduardo Tulio Baggio*
RESUMO: Os manuais de realizao flmica e televisiva, amplamente utilizados em cursos de
cinema e televiso, tanto de ensino superior, como em cursos livres, refletem modelos de
realizao baseados em premissas da narrativa do cinema clssico, segundo a perspectiva
expressa por David Bordwell. Ainda, basicamente, estabelecem os mesmos processos para se
chegar a esse discurso narrativo clssico. Os manuais de produo de roteiro apontam caminhos
conforme as bases da histria e da trama da narrativa clssica em que o personagem o agente
causal preponderante. Em complemento, os manuais cinematogrficos de produo,
propriamente dita, tambm buscam o caminho da narrativa clssica, especialmente por sua
preocupao com a forma de apresentao das relaes de espao e tempo, explicitados nas
tcnicas de decupagem, na formao da equipe para a realizao, nos procedimentos no set e na
continuidade espao-temporal. Este trabalho discute trs pontos essenciais: Como possvel
perceber que os manuais de realizao flmica e televisiva direcionam seus ensinamentos para o
modelo da narrativa clssica? Existem diferenas significativas entre os modelos apontados nos
manuais de realizao para cinema e para televiso? Por que so excludos outros modelos de
produo que no levem em conta o modelo clssico?
PALAVRAS-CHAVE: narrativa clssica, produo de cinema, produo de televiso.
ABSTRACT: The manuals of making of film and television, widely used in courses of cinema
and of television, both in Graduation courses, as well as in free courses, are considered models
based on the narrative of classic cinema, according to the perspective expressed by David
Bordwell. Such manuals basically establish the same processes to reach this classic narrative.
The manuals of screenplay aim different ways of writing screenplays according to the bases of
the history and of the plot of the classic narrative in which the character is the causal
predominant agent. In addition, such cinematographic manuals of production also look for the
classic narrative, specially their worries with the form of showing the relations of space and
time, set out in the techniques of decoupage, in the formation of the staff in set and in the
continuity space and time. This work discusses three fundamental points: how it is possible to
understand that the manuals of film and television making go towards their teachings of the
model of the classic narrative? Are there meaningful differences between the models pointed in
the manuals of film making and of television making? Why some other models of making films
and television are not included if they are not the classic one?
KEYWORDS: classic narrative, the making of cinema, the making of television.
*
Mestre em Comunicao e Linguagens pela UTP, professor de cinema na Faculdade de Artes do Paran
e na Universidade Positivo. Trabalhou em televises, rdios, agncias de publicidade e produtoras de
cinema. Teve seus vdeos e filmes independentes exibidos em festivais nacionais e internacionais, com
premiaes no Brasil e no exterior.
56
INTRODUO
Como professor de ensino superior nas reas de cinema, televiso e vdeo
especialmente em disciplinas chamadas de prticas , tenho observado diferentes
formas de trabalhar com o ensino voltado para a realizao audiovisual. Como
conseqncia disso, algumas questes tm sido recorrentes para mim, uma delas a
adequao dos modelos de realizao com as intenes tericas, estilsticas e
contextuais que envolvem a vida acadmica e profissional de quem estuda os meios
audiovisuais.
Uma forma, parcial, mas muito comum de trabalhar o ensino da prtica de
realizao audiovisual, a utilizao dos manuais de realizao flmica e televisiva.
Neste texto, meu objetivo mostrar que esses manuais, amplamente utilizados em
cursos de cinema e televiso tanto de ensino superior, como em cursos livres, refletem
modelos de realizao baseados em premissas narrativas e estilsticas do cinema
clssico. Essas premissas podem ser observadas nos manuais principalmente por sua
preocupao com a forma de apresentao das relaes de espao e tempo, explicitados
nas tcnicas de decupagem, na formao da equipe para a realizao, nos procedimentos
no set e na continuidade espao-temporal.
Outro ponto que pretendo destacar, mesmo que de maneira breve, que a
metodologia de realizao em TV , segundo os manuais de realizao, muito
semelhante a metodologia cinematogrfica, especialmente no que define os aspectos
narrativos e de estilo na realizao audiovisual.
O mais importante nessas constataes, notar que tais manuais no se
apresentam como destinados realizao de filmes ou programas de televiso nica e
exclusivamente de estilo clssico, sugerem a idia de que toda realizao
cinematogrfica e tambm a realizao televisiva passam, necessariamente, pelos
caminhos que esses manuais apontam. Assim, no esto contempladas outras formas de
realizao, que exeram qualquer tipo de modelo que no o cannico modelo que se
destina aos produtos audiovisuais de estilo clssico.
Mesmo no sendo o foco desta comunicao, vale lembrar que mesmo os
manuais de realizao de roteiros apontam caminhos conforme as bases da histria e da
trama do cinema clssico, em que o personagem o agente causal preponderante e que
seu percurso passa por obstculos que permitem as articulaes de uma trama que
desenvolve uma histria.
Como objetos de anlise, elegi dois manuais de realizao cinematogrfica: O
cinema e a produo de Chris Rodrigues e Direo de cinema: tcnicas e estticas de
Michael Rabiger. E ainda, um manual de realizao televisiva: Televiso: manual de
produo e direo, de Valter Bonasio. Assim, importante salientar que esse um
estudo de caso, cabendo ainda anlises sobre outros manuais e, principalmente, sobre
outras formas de ensino de realizao audiovisual.
O CLSSICO NO CINEMA
As definies de narrativa clssica e/ou estilo clssico no cinema so mais ou
menos uniformes e, em geral, correspondem a um modelo de construo narrativa e de
caractersticas de linguagem que buscam o naturalismo e o ilusionismo em meios
57
audiovisuais. Alm disso, tais definies tendem ao esquema que determina uma srie
de relaes causais do(s) personagem(ns) que formam uma trama e uma histria1, e, que
tal histria s existe em funo da trama. Neste trabalho, considero o clssico no cinema
segundo as definies de David Bordwell em The classical Hollywood style, 1917-60,
captulo do livro The classical Hollywood cinema, e em O cinema clssico
hollywoodiano: normas e princpios narrativos, captulo do livro Teoria
Contempornea do Cinema: documentrio e narratividade ficcional, organizado por
Ferno Pessoa Ramos. Vou utilizar, especialmente, as trs proposies gerais com
relao ao estilo clssico presentes neste ltimo. So elas:
1 Em seu conjunto, a narrao clssica trata a tcnica cinematogrfica como
um veculo para a transmisso sobre a fbula pelo syuzhet. (BORDWELL, 2005, p.
291) Lembrando que aqui podemos entender, para simplificar, fbula como histria e
syuzhet como trama. Ou seja, as manifestaes da tcnica cinematogrfica devem estar
a favor das informaes da histria transmitidas pelos personagens.
2 Na narrao clssica, o estilo caracteristicamente estimula o espectador a
construir um tempo e um espao da ao da fbula que seja coerente e consistente.
(BORDWELL, 2005, p. 292) Portanto, as relaes espao-temporais entre os planos e
as cenas sero mais claras possvel.
3 O estilo clssico consiste em um nmero estritamente limitado de
dispositivos tcnicos especficos organizados em um paradigma estvel e classificados
probabilisticamente de acordo com as demandas do syuzhet. (BORDWELL, 2005, p.
293) Desta maneira possvel encontrar abrigo no repertrio da maior parte do pblico.
E sobre isso Bordwell complementa, A invisibilidade do estilo clssico
hollywoodiano resulta no apenas de dispositivos estilsticos altamente codificados, mas
tambm de suas funes codificadas no contexto do filme. (BORDWELL, 2005, p.
293)
A partir dessas trs definies bsicas e essenciais, me proponho a identificar as
caractersticas clssicas presentes nos manuais de prtica cinematogrfica e,
posteriormente, fazer sua aproximao com o modelo de prtica televisiva, tambm
presente em manuais de realizao.
O CLSSICO NOS MANUAISDE REALIZAO CINEMATOGRFICA
Com relao primeira das trs definies de Bordwell para o estilo clssico,
tanto Chris Rodrigues como Michael Rabinger, em seus manuais, apresentam idias
relacionadas ao condicionamento do fazer flmico e da constituio de uma linguagem
(aqui entendida como sistema de signos) em favor da plena compreenso da narrativa,
ou seja, o plano da expresso est subjugado ao plano do contedo, levando ao que
conhecemos como discurso transparente2. Est , claramente, uma caracterstica tpica
1
David Bordwell, assim como outros autores norte-americanos, usam o termo syuzhet para designar o
que chamamos de trama e utiliza fbula no lugar de histria. Tais opes esto fundamentadas na origem
lingustica de alguns desses autores.
2
Discurso transparente segundo a definio de Ismail Xavier, em que a articulao do discurso
cinematogrfico busca evitar que os procedimentos narrativos tornem-se opacos e, portanto, perceptveis
para os espectadores. Ou seja, esse tipo de discurso busca aproximar o espectador do plano do contedo e
afast-lo do plano da expresso. (Xavier, 2005)
58
do cinema clssico e oposta a muitos outros filmes que se caracterizam pela busca de
um discurso opaco.
Exemplo disso todo o segundo captulo de O cinema e a produo, chamado A
linguagem cinematogrfica, onde o autor lista alguns conceitos relacionados narrativa
cinematogrfica, como diesege, elipse e unidades espao-temporais, de maneira ampla.
Mas depois se dedica a uma srie limitada de tcnicas de enquadramentos, movimentos
e ngulos de cmera voltados sempre para a transmisso de informaes da histria
atravs da trama. Assim, est enfatizando os procedimentos tpicos da configurao
discursiva clssica, em que os recursos expressivos esto subordinados ao contedo e,
este, deve ser articulado como uma trama.
No caso do manual Direo de cinema: tcnicas e estticas, tambm um captulo
inteiro exemplar da busca da utilizao da tcnica cinematogrfica em favor da
relao de causa e efeito tpica do cinema clssico, trata-se do captulo 29, chamado de
mise-en-scne. Dentro desse captulo, no segundo tpico, intitulado viso geral do
filme, o autor diz:
Transforme cada cena de seu filme em uma descrio breve do contedo;
depois, anote o que voc quer que o pblico sinta em relao a elas, e ter
um bom comeo. Se possvel, transforme a lista em um grfico ou
storyboard que mostre o que o pblico deve sentir de uma cena para outra;
depois, voc pode pensar em como o Contador de Histrias deve narrar o
conto para fazer isso acontecer. Quando tiver uma estratgia geral, pode
passar para o projeto de cenas individuais (RABINGER, 2007, p. 192)
Portanto, esta tambm uma indicao clara de que segundo os ensinamentos
desse manual, o realizador deve, necessariamente, colocar o contedo da sua histria
como fator preponderante e, at, desconsiderar os aspectos formais no que diz respeito
as suas funes estticas.
Ainda no manual de Rabiger, logo no incio do livro, no tpico direo e
apresentao dramtica h a seguinte afirmao:
Os espectadores de hoje esperam que os personagens na tela sejam to reais
quanto as pessoas filmadas sem aviso em um documentrio. Ento, a menos
que o filme busque um ambiente a ser percebido subjetivamente (como no
cinema expressionista alemo dos anos 20 e 30 ou em qualquer gnero norealista moderno, como terror ou comdia pastelo), o pblico espera
encontrar pessoas reais se comportando de forma real em situaes reais.
(RABINGER, 2007, p. 27)
As excees feitas pelo autor se referem a filmes dos anos 20 e 30, de uma
vanguarda histrica e extremamente distanciada de hoje, ou ento a filmes que
subvertem o que ele chama de real em favor de um tipo de histria especfica, ou seja, a
tcnica em favor da histria, mesmo quando subverte o naturalismo no a expresso
que est em destaque, mas sim o contedo, como no exemplo do terror ou comdia
pastelo.
Quanto a segunda definio de Bordwell, talvez a mais fcil de identificar como
fundamento do cinema nos manuais de realizao, possvel destacar dois pontos de
maior relevncia e mais recorrentes:
1o - a busca da coerncia espao-temporal atravs da prtica da continuidade,
59
anunciada como essencial no cinema e no apenas em um tipo especfico de cinema.
No livro O cinema e a produo h um tpico chamado Continuidade de
Cena, nele est escrito:
Outro problema que cada gesto ou movimento de plano para plano deve ter
a mesma continuidade do plano anterior da cena. (...) Os detalhes tambm
so importantes: se no plano geral ele est com uma camisa de mangas
curtas e por qualquer razo a filmagem interrompida at o dia seguinte, e
no prximo plano ele filmado de mangas compridas ou outro padro de
cor, todos os que assistem ao filme imediatamente notaro um grave erro de
continuidade. (RODRIGUES, 2002, p. 42)
Essa a explicao de como se deve agir para obter o que comumente chama-se
apenas de continuidade. Mas sabemos que essa no uma prerrogativa de todo filme,
apenas uma forma de faz-los buscando uma relao natural com o mundo fsico em
que vivemos. Essa relao natural tem como princpio a lgica de que o modo de
percepo das relaes espao-tempo s quais estamos acostumados a viver no dia-a-dia
do nosso mundo fsico devem ser repetidas no mundo do discurso flmico, mesmo
sabendo que o processo de filmagem promove interrupes na relao espao-tempo do
mundo fsico. Mais uma vez, a transparncia discursiva o norte.
O livro Direo de cinema: tcnicas e estticas tem um captulo especfico
sobre continuidade, alm de diversas citaes esparsas sobre o trabalho do continusta.
No captulo Continuidade, o autor dedica tpicos para a importncia da cronologia, da
continuidade fsica e de figurinos e objetos, portanto, destaca, apesar de no
explicitamente, a busca da coerncia espao-temporal com o mundo fsico. Tambm
cita a diferena entre continuidade direta (sem intervalo de tempo entre as aes da
histria e os planos) e a continuidade indireta (com intervalo de tempo entre as aes da
histria e os planos), sendo que na ltima seria necessrio marcar a passagem do tempo
nos aspectos fsicos do personagem, como roupa amarrotada, cabelo despenteado etc.
(RABINGER, 2007, p. 291-293)
Ambos os autores designam o continusta tambm com o nome de supervisor de
roteiro, deixando implcita a idia de que o roteiro que ser filmado por essa equipe s
se destina a esse tipo de filmagem, portanto o prprio roteiro teria sido feito prevendo
uma realizao clssica.
2o a busca da coerncia espacial pela determinao do eixo de cmera.
Segundo Chris Rodrigues, A criao de um eixo de cmera tem por finalidade
orientar o espectador em relao ao espao filmado e criar uma continuidade de ao.
(RODRIGUES, 2002, p. 42) perceptvel, outra vez, que no decorrer do trecho citado,
ou mesmo antes antes dele especificamente, no h meno ao fato de essa ser uma
estratgia associada um tipo de prtica cinematogrfica, e no obrigatria para todo tipo
de filme.
J Michael Rabiger apresenta, em vrios pontos do seu manual, referncias a
utilizao do eixo, desde a sua associao natural ao modo de perceber o mundo por
parte dos seres humanos (RABINGER, 2007, p. 37), at um tpico especfico chamado
evite cruzar o eixo da cena (RABINGER, 2007, p. 269) e tcnicas para que se possa
cruzar o eixo sem que se cause problemas de orientao espacial, ou seja, sem que o
espectador perca a referncia coerente dos espaos na cena. Essa tambm uma
caracterstica tpica dos filmes clssicos.
60
Em relao terceira definio de Bordwell, fica evidente o nmero limitado de
dispositivos tcnicos especficos classificados para uso na trama. Um exemplo so as
consideraes de Chris Rodrigues sobre o foco dramtico:
Entendemos por foco dramtico o ponto ou ao de uma cena a que se quer
atrair a ateno do espectador. A ateno do espectador ser voltada para os
seguintes pontos: o personagem que estiver falando; o personagem que se
movimentar; personagem mais bem iluminado ou com roupa mais clara;
personagem em foco; personagem em primeiro plano; ponto brilhante em
uma cena mais escura e ponto escuro em uma cena brilhante. O diretor
poder utilizar outros recursos para atingir seus objetivos, como cenografia,
perspectivas, luz, lentes, ngulos de cmera etc. (RODRIGUES, 2002, p. 61)
A limitao desses procedimentos apresentados pelo autor e o interesse inerente
no destaque ao personagem so evidncias do estilo clssico. Alm disso, no que diz
respeito a essa terceira definio de Bordwell, a falta de uma srie de dispositivos, ou
seja, a restrio nos que so apresentados, deixa perceber a proposta de uma realizao
ao modelo clssico. Por exemplo, nenhum dos dois manuais sequer cogita a
possibilidade de o foco dramtico no estar no personagem individualmente; no fazem
meno possibilidade do uso da descontinuidade espao-temporal como recurso
estilstico ou at narrativo; no apresentam a possibilidade dos personagens no agirem
segundo uma lgica natural de causa e efeito; e, no abrem a possibilidade para a
construo de um discurso que no seja transparente.
3 O CLSSICO NOS MANUAIS DE TELEVISO E A APROXIMAO COM OS
MANUAIS DE CINEMA
Neste ponto, vou destacar apenas o manual chamado Televiso: manual de
produo e direo, de Valter Bonasio, apesar de existirem no Brasil alguns outros,
porm, a maioria com propostas muito parecidas, como o caso do Produo e Direo
para TV e Vdeo de Cathrine Kellison.
Em alguns pontos, como o modelo de financiamento, os oramentos, a
distribuio e at questes tecnolgicas, o manual televisivo apresenta muitas diferenas
em relao aos dois manuais de cinema analisados. Mas quando a questo a estrutura
narrativa e o estilo, torna-se fundamental notar que se parecem muito em suas
determinaes e indicaes.
A primeira definio de Bordwell pode ser percebida em Televiso: manual de
produo e direo da mesma forma e com o mesmo sentido limitador que nos manuais
de cinema, a linguagem audiovisual deve ser estruturada em favor do contedo a ser
narrado, e o discurso deve ter um padro transparente.
Tanto quanto nos manuais de cinema citados, tambm no de televiso, a
preocupao com a orientao espao-temporal dos espectadores em relao trama
demonstra a tendncia em relao ao clssico que esse tipo de instruo tem. Isso se d
tanto na lgica da continuidade espao temporal, quanto no posicionamento de cmera
buscando manter o eixo.
Por fim, com relao terceira definio de Bordwell, assim como nos manuais
61
de cinema, o manual de televiso de Valter Bonasio estabelece uma srie limitada de
procedimentos tcnicos destinados transmisso de informaes da histria atravs da
trama.
5 CONSIDERAES FINAIS
Minha inteno com este trabalho no desmerecer os manuais de realizao
audiovisual aqui citados, nem criticar a realizao em estilo clssico, mas chamar a
ateno para o fato de que esses manuais descrevem a realizao ao estilo clssico como
a nica possvel em um universo muito amplo de estticas, modelos, histricos, escolas
e movimentos audiovisuais. Tambm, procuro demonstrar que ao nos determos nesses
manuais percebemos que do ponto de vista narrativo e de estilo, eles no apresentam
diferenas entre a realizao cinematogrfica e a realizao televisiva, permitindo uma
aproximao que no , de forma alguma, negativa, mas sintomtica de uma poca e de
um contexto de realizao.
Essas duas constataes servem para uma srie de reflexes sobre o ensino da
realizao audiovisual. Que modelos de realizao audiovisual so ensinados hoje nas
escolas superiores e livres brasileiras? Por que a escolha desses modelos? Essa a nica
forma de realizao? Essa a melhor forma de realizao? Essa a forma que mais
interessa para o audiovisual no Brasil? O que devemos pensar e, eventualmente, mudar
no ensino da realizao audiovisual?
Fernando Mascarello, em considerao sobre os estudos de cinema no Brasil
afirmou a predominncia do modernismo.
() o que denominamos determinismo textual o conceito sobre o qual se
funda toda a arquitetura terica modernista ps-68, apregoadora do trabalho
formal de desconstruo do cinema mainstream com fins revolucionrios.
Segundo esta diretriz conceitual, o texto o constituidor unilateral de seu
espectador, restando a este ltimo a insignificante tarefa de avalizao
fenomenolgica da obra e, evidentemente, a condio de objeto de
posicionamento pelo discurso flmico. (MASCARELLO, 2000, pg. 102)
Se por um lado, na historiografia do cinema feita no Brasil, sofremos com o
excesso de consideraes e at de louros para os cinemas de rupturas, em especial aos
cinemas modernistas, estranho que nos ensinos de realizao audiovisual a pauta seja
to restrita ao modelo clssico. Essa dualidade entre o ensino da histria audiovisual
baseada nas grandes afirmaes formais e o ensino da prtica to focado no plano do
contedo aponta um problema a ser melhor examinado.
Para encerrar, quero lembrar que os dois autores dos manuais cinematogrficos
aqui citados, no incio de seus livros, fazem menes histricas e, nelas, Chris
Rodrigues aponta para o expressionismo, para o surrealismo, para o dogma 95 etc.
(RODRIGUES, 2002, p. 13) Michael Rabinger cita os filmes independentes americanos
e Festa de Famlia, entre muitos outros filmes de ruptura em relao ao estilo clssico.
(RABINGER, 2007, p. 18) Isso sugere uma dualidade entre a historiografia do cinema
feita por eles, mesmo que muito superficialmente, pautada pelas rupturas, enquanto o
modelo de realizao apresentado extremamente pautado pelo estilo clssico. Talvez
essa seja uma viso em escala de boa parte do ensino de audiovisual no Brasil, em que
62
se faz muita referncia histrica e terica s rupturas e, por outro lado, se ensina a
realizao clssica.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BONASIO, Valter. Televiso: manual de produo e direo. Belo Horizonte: Leitura,
2002.
BORDWELL, David. O cinema clssico hollywoodiano: normas e princpios
narrativos. In: RAMOS, Ferno Pessoa (org.) Teoria Contempornea do Cinema:
documentrio e narratividade ficcional. So Paulo: Senac, 2005.
______. The classical Hollywood style, 1917-60. In: The classical Hollywood cinema:
film style & mode of production to 1960. Nova York: Columbia University Press, 1985.
______. The way Hollywood tells it: story and style in modern movies. Berkeley:
University of California Press, 2006.
KELLISON, Cathrine. Produo e Direo para TV e Vdeo. Rio de Janeiro: Campus,
2006.
MASCARELLO, Fernando. De cinthique a Maffesoli: propostas para a superao da
nostalgia modernista pelo erudito e pelo poltico em teoria do cinema. In: Revista
FAMECOS. Porto Alegre, n.12, junho de 2000.
RABIGER, Michael. Direo de Cinema: tcnicas e esttica. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007.
RODRIGUES, Chris. O Cinema e a Produo. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
XAVIER, ISMAIL. O Discurso Cinematogrfico: a opacidade e a transparncia. 3 ed.
So Paulo: Paz e Terra, 2005.
Você também pode gostar
- Reconquista Na Prática PDFDocumento62 páginasReconquista Na Prática PDFjose80% (5)
- AdensamentoDocumento67 páginasAdensamentoPedro SouzaAinda não há avaliações
- 04 Capitulo 2Documento118 páginas04 Capitulo 2Ton DIniz Moro BretasAinda não há avaliações
- Efeitos e Uso Da Radiação Na Produção de EnergiaDocumento27 páginasEfeitos e Uso Da Radiação Na Produção de Energiaquimica510Ainda não há avaliações
- Lista 2a - Física IIDocumento2 páginasLista 2a - Física IIIanca FontouraAinda não há avaliações
- Centro de Material e Esterilização PDFDocumento9 páginasCentro de Material e Esterilização PDFBianca MilskiAinda não há avaliações
- A2 Movimento de Projéteis Parte 1Documento7 páginasA2 Movimento de Projéteis Parte 1Laysla CastroAinda não há avaliações
- Fórmulas Calcular Velocidade Que o Tiro É DisparadoDocumento3 páginasFórmulas Calcular Velocidade Que o Tiro É DisparadoRhamadan FerrazAinda não há avaliações
- Cinematic ADocumento26 páginasCinematic AJoao Carlos FerreiraAinda não há avaliações
- Mec. Aplic. Maq. Parte I-ADocumento60 páginasMec. Aplic. Maq. Parte I-AFabson OliveiraAinda não há avaliações
- Astrologia MedievalDocumento147 páginasAstrologia MedievalSónia Fernandes FragosoAinda não há avaliações
- Atividade Interdisciplinar - Complementação PedagógicaDocumento3 páginasAtividade Interdisciplinar - Complementação PedagógicaPaulo Cec FigueredoAinda não há avaliações
- Física Básica - Nicolau e ToledoDocumento41 páginasFísica Básica - Nicolau e ToledoJorje Joao100% (1)
- Blueprint PortuguesDocumento55 páginasBlueprint PortuguesAdelar Pilger100% (2)
- Física - Pré-Vestibular Impacto - Resistores Elétricos IIDocumento2 páginasFísica - Pré-Vestibular Impacto - Resistores Elétricos IIFísica Qui100% (1)
- Os 22 Caminhos Da KabalaDocumento77 páginasOs 22 Caminhos Da KabalaAPCosta100% (1)
- Relatório de Polímeros - DSCDocumento20 páginasRelatório de Polímeros - DSCJ. GirotoAinda não há avaliações
- Euler Joao PTCC - Corrigindo 1 Editando...Documento32 páginasEuler Joao PTCC - Corrigindo 1 Editando...Éuler JoãoAinda não há avaliações
- MGB - Lista 1Documento2 páginasMGB - Lista 1VitorAffonsoAinda não há avaliações
- Dimensionamento & Carga TérmicaDocumento70 páginasDimensionamento & Carga TérmicaCarlos Silva67% (3)
- Revisão Do 1º AnoDocumento4 páginasRevisão Do 1º AnoAndrey TeixeiraAinda não há avaliações
- Proteção em MT R02Documento166 páginasProteção em MT R02Francisco Santos100% (1)
- Diodo Zener RelatorioDocumento14 páginasDiodo Zener RelatorioWellington JúnioAinda não há avaliações
- Lista FQT I T1 O Gás IdealDocumento3 páginasLista FQT I T1 O Gás IdealHaroldo CandalAinda não há avaliações
- Vibração Forçada Harmonicamente Com Amortecimento ViscosoDocumento26 páginasVibração Forçada Harmonicamente Com Amortecimento ViscosoLeandro BorbaAinda não há avaliações
- Monografia Hugo Marlon Cecc DemcDocumento38 páginasMonografia Hugo Marlon Cecc DemcUsuário ReframaxAinda não há avaliações
- EXAME FÍSICO GERAL - Propedêutica IDocumento9 páginasEXAME FÍSICO GERAL - Propedêutica IJuliana BarrosAinda não há avaliações
- Nema10 Cav U4 Minit4Documento2 páginasNema10 Cav U4 Minit4Carla PintoAinda não há avaliações