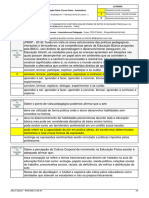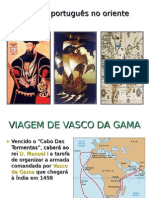Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Generos Discursivos Do Ensino Da Linguagem
Generos Discursivos Do Ensino Da Linguagem
Enviado por
ducciniDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Generos Discursivos Do Ensino Da Linguagem
Generos Discursivos Do Ensino Da Linguagem
Enviado por
ducciniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
REVISTA LETRA MAGNA
Revista Eletrnica de Divulgao Cientfica em Lngua Portuguesa, Lingstica e Literatura - Ano 04 n.06-1 Semestre de 2007
ISSN 1807-5193
GNEROS DISCURSIVOS E O ENSINO DE LINGUAGEM
Neilton Farias Lins1
Resumo: Com base na Anlise da Conversao, este artigo tem como objetivo propor uma
reflexo sobre a contribuio dos gneros discursivos nos ensino de lngua materna e uma breve
exposio sobre a teoria de gneros discursivos. Essa pesquisa estudo foi realizada dentro de uma
perspectiva scio-interacionista. Nesse sentido, a anlise esteve embasado nas teorias propostas
por Bakhtin (1992), Halliday (1885), Koch (1993), Marcuschi (2003), Rojo (2004), Shneuwly
(1997), Dozl (1997) , Castilho (1998), autores que compartilham do princpio, segundo o qual o
homem transforma o mundo atravs da utilizao de instrumentos e atribuem linguagem o
papel de instrumento essencial para essa atuao transformadora. O interacionismo sciodiscursivo constitui a base terica sobre a qual est calcada a presente indagao, e atribui
linguagem e interao o papel de instrumentos essenciais na construo do conhecimento e na
formao dos indivduos. As idias dos autores citados esto intimamente relacionadas e tm
como vrtice a linguagem enquanto agente construtor de conhecimento e, portanto, transformador
da atividade humana no mundo.
Palavras-chave: gneros discursivos, linguagem, texto
Abstract: Based on Analysis of the Conversation, this text has the objective to propose a
reflection about the contribution of the discursives genders in the teaching of maternal language
and an brief exhibition on the theory of discursive genders. This research study is based on the
perspective partner-interactionty. In that sense, the analysis was based in the theories proposed by
Bakhtin (1992), Halliday (1885), Koch (1993), Marcuschi (2003), Rojo (2004), Shneuwly
(1997), Dozl (1997), Castilho (1998), authors that believe that man transforms the world through
the use of instruments and they attribute to the language the paper of essential instrument for that
performance transformer. The socio discursive interactionism constitutes the theoretical base on
which is stepped on to present inquiry, and it attributes to the language and the interaction the
paper of essential instruments in the construction of the knowledge and in the individuals'
formation. The mentioned authors' ideas are related intimately and they have as vertex the
language while building agent of knowledge and, therefore, transformer of the human activity in
the world.
Key-Words: discursive genders, language, text.
Gneros do discurso
1
Graduado em Letras pela FAMASUL (FACULDADE DE FORMAO DE PROFESSORES DA MATA SUL) e Especialista em Lngua Portuguesa pela
FAMASUL
REVISTA LETRA MAGNA
Revista Eletrnica de Divulgao Cientfica em Lngua Portuguesa, Lingstica e Literatura - Ano 04 n.06-1 Semestre de 2007
ISSN 1807-5193
A palavra gnero sempre foi bastante utilizada pela retrica e
pela literatura com acepo designadamente literria. Segundo Todorov (1978), essa palavra tem
sido usada desde Plato, cujo objetivo era distinguir o lrico, em que apenas o autor falava; o
pico, em que o autor e personagem falam; o dramtico ,em que apenas a personagem falava.
Brando (2001, apud Santos, 2004) dizia que o estudo de gneros foi uma constante temtica,
interessava aos antigos... tanto na retrica quanto s pesquisas em , semitica literria e teorias
lingsticas.
Os gneros aparecem na perspectiva da fala e da escrita dentro de
um continuum tipolgico das prticas sociais de produo textual. Embasamo-nos em Bakhtin
(1992/1979), Marcuschi (2003), Rojo (2004), Shneuwly e Dozl (1997), dentre outros tericos.
Optamos pelos tericos cuja discusso relativa lngua falada e escrita no toma posio
favorvel dicotomia. Marcuschi (2003. p. 17), diz: a oralidade e a escrita so prticas e uso da
lngua caracterstica prpria, mas no to suficiente oposta para caracterizar dois sistemas
lingsticos. Ramos (1997) tem a mesma concepo quando assume que a correlao entre fala e
a escrita est num continuum das prticas sociais. Os pontos tericos dos autores citados acima
sobre gneros discursivos sero expostos logo a seguir.
Antes de tecermos qualquer comentrio sobre Gneros discursivos (G.D.), , desejamos
ressaltar que Bakhtin (1995) define a enunciao como um produto da relao social e completa
que qualquer enunciado far parte de um gnero. Defende ainda que, em todas as esferas da
atividade humana, a utilizao da lngua realiza-se em formas de enunciado (orais e escritos),
concretos e nicos. Esse autor agrupa os gneros em dois grupos: os gneros primrios ligados
s relaes cotidianas (conversa face a face, linguagem familiar, cotidiana etc; em um ngulo
mais direto, esses gneros so os mais comuns no dia-a-dia do falante e os secundrios mais
complexos (discurso cientifico, teatro, romance etc.), referem-se a outras esferas de interao
social, mais bem desenvolvidas.
Seguindo essa linha de pensamento, Bakhtin (1995. p.248) v os
GD como: coeres estabelecidas entre as diferentes atividades humanas e o uso da lngua nessas
atividades, ou seja, as concepes das prticas discursivas:
REVISTA LETRA MAGNA
Revista Eletrnica de Divulgao Cientfica em Lngua Portuguesa, Lingstica e Literatura - Ano 04 n.06-1 Semestre de 2007
ISSN 1807-5193
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que
sejam, esto sempre relacionadas com a utilizao da lngua. No
de se surpreender que o carter e os modos dessa utilizao
sejam to variados como as prprias esferas da atividade humana,
o que no contradiz a unidade nacional de uma lngua.
A caracterstica do enunciado entendida por esse terico como todo enunciado que
refuta, confirma, complementa, retoma e reavalia outros enunciados; baseia-se neles; enfim, levaos em conta, de alguma maneira. Assim, para Bakhtin (1979), os gneros so aprendidos no curso
de nossas vidas como participantes de determinado grupo social ou membro de alguma
comunidade. Logo, tem-se que gneros so padres comunicativos, que, socialmente utilizados,
funcionam com uma espcie de modelos comunicativos globais que representam em
conhecimento social localizado em situao concreta.
Rojo (2000) acentua que a definio de um gnero discursivo est relacionado a uma
esfera da comunicao. Segundo essa autora, o falante estaria impossibilitado de criar,
modificar, alterar um gnero. Apia em Bakhtin (1997), o qual defende que no pode haver
conceitos preestabelecidos, ou modelos precisos e que no necessitem de acabamento, tendo em
vista que mesmo fixa a incluso de um determinado gnero em um domnio discursivo sucinto,
esse ser sempre inconcluso. Isso se deve ao fato de alguns fatores dificultarem sua conceituao,
como, por exemplo, o gnero textual carta pessoal em sua integra visto como um gnero
discursivo, cujas caractersticas estruturais e funcionais diferem, se fizermos incluso desse
mesmo gnero carta pessoal no gnero discursivo romance. O gnero romance forar a perda
das caractersticas inerentes ao gnero carta pessoal, tendo em vista que gnero romance ter
supremacia sobre carta pessoal, isso implica a mudana do sentido do gnero discursivo carta
pessoal. Essa negociao de sentido ser construda pelo leitor.
Antes de analisar questionamentos feitos por Marcuschi sobre gneros dos discursos,
precisamos esclarecer algumas noes de texto, discurso, domnio discursivo e tipos textuais,
uma vez que, ao longo do texto de Marcuschi (2000) encontramo-lo usando tais palavras. Koch e
Fvero (1988) dizem:
REVISTA LETRA MAGNA
Revista Eletrnica de Divulgao Cientfica em Lngua Portuguesa, Lingstica e Literatura - Ano 04 n.06-1 Semestre de 2007
ISSN 1807-5193
(...) o texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que
forma um todo significativo e independente de suas extenso. Trata-se,
pois, de uma unidade de sentido, de um contnuo comunicativo
contextual que se caracteriza por um conjunto de relaes responsveis
pela tessitura do texto (...).
Halliday (apud Koch 1992) considera o texto (oral ou escrito) como a manifestao concreta
do discurso, uma unidade de anlise inserida numa perspectiva scio-semitica, na qual os
significados so entendidos como criados a partir de escolhas de unidades discretas significativas,
que so estruturalmente organizadas, disponveis no sistema lingstico e motivadas socialmente.
Segundo Kress (1985) 2 discurso constitudo por:
(...) jogos sistematicamente organizados de declaraes que do
expresso aos significados e valores de uma instituio. Um discurso
prov um jogo de possveis declaraes sobre uma determinada rea...
Nisso prov descries, regras, permisses e proibies sociais e aes
individuais.
Nessa perspectiva, o discurso e gneros so formados nas
estruturas e processos sociais - discurso deriva das instituies, e gnero das ocasies sociais
convencionalizadas em que a vida social acontece. Os textos so, portanto, duplamente
determinados: pelos sentidos do discurso que aparecem no texto e pelas formas, significados e
construes de um gnero especfico. Os domnios discursivos, segundo Marcuschi (2000),
designam uma esfera ou instncia de produo discursiva ou de atividade humana. Tais domnios
no so categoricamente textos, nem discursos, todavia proporcionam condies para
aparecimento de discursos bastante especficos. Do ponto de vista dos domnios, produzimos
discurso jurdico, discurso jornalstico, discurso religioso etc., visto que tais discursos no
abrangem um gnero especfico, pois originam vrios outros gneros; j os tipos textuais
designam uma espcie de construo terica definida pela natureza lingstica de sua
composio. Os tipos textuais abrangem cerca de meia dzia de categorias conhecidas como:
narrao, argumentao, exposio, descrio e injuno.
2
traduzido por ns
REVISTA LETRA MAGNA
Revista Eletrnica de Divulgao Cientfica em Lngua Portuguesa, Lingstica e Literatura - Ano 04 n.06-1 Semestre de 2007
ISSN 1807-5193
Quando trata de gnero discursivo, Marcuschi (2000) opta pela
expresso Gneros Textuais, uma vez que se trata de aspectos que so constitudos da natureza
emprica, sejam inseparveis ou extrnsecos da lngua. Tal denominao tambm justificada por
se tratar de algo realizado numa situao discursiva, entretanto se a opo for a de gnero
discursivo, refere-se situao realizada no campo do discurso, isto , a uma situao discursiva,
como o contexto alude o seu aspecto scio-comunicativo. Esse terico (op.cit., 29-30) assinala a
designao de gneros comunicativos.
Marcuschi (2000) defende que o ensino que focalize o aprendizado da lngua portuguesa,
a explorao dos gneros textuais nas modalidades da lngua falada e escrita sero
presumivelmente mais bem-sucedidos, visto que os alunos obtm capacidade de se expressar
distintamente nas manifestaes s quais sejam expostos.
Bibliografia
BAKHTIN, Michail. Esttica da Criao verbal. So Paulo, Martins Fontes [1979]. 1992.
BRANDO, Helena Nagamine (org). Gneros do discurso na escola, 2 ed. So Paulo, Cortez.
2001.
CASTILHO. Ataliba Texeira de. A lingua falada no Ensino de Portugus. So Paulo. Contexto,
1998.
DOLZ e SCHENEUWLY, B. Genres et progressio em expression orale et crite : elements de
rflexion pros dune experince romande. Enjeux . Traduo de Roxane Rojo, (1996)
____________.Os Gneros escolares- das prtica de linguagem aos objetos de ensino.Traduo
de G.S. Cordeiro. Revista Brasileira de Educao, 11 maio/agosto. 1997.
HALLIDAY, M.A.K. (1985) An Introduction to Functional Grammar. London.
HALLIDAY, M.A.K. e HASAN, R. (1985) Language, Context, and Text: Aspects of Language
in a Social-Semiotic Perspective. Oxford. Oxford University Press.
KOCH, I.G.V. (1987) Argumentao e Linguagem. So Paulo, Editora. 1987.
___________. A inter-ao pela linguagem. So Paulo: Contexto, 1993.
KOCH, I.G.V. e Travaglia, L.C. A Coerncia Textual. So Paulo. Editora Contexto. 1990.
MARCUSCHI, L.A. Da fala para a escrita: atividade de retextualizao- 4 ed So Paulo,
Cortez, 2003.
REVISTA LETRA MAGNA
Revista Eletrnica de Divulgao Cientfica em Lngua Portuguesa, Lingstica e Literatura - Ano 04 n.06-1 Semestre de 2007
ISSN 1807-5193
________. A repetio na lngua falada e sua correlao com o tpico discursivo. Recife, UFPR,
1990, (mimeo).
________. A repetio na lngua falada: formas e funes. Recife,Universidade Federal de
Pernambuco Departamento de Letras, 1992, (mimeo).
________. A repetio na lngua falada como estratgia de formulao textual. In: KOCH, Ingedore
G. Villaa (org.) Gramtica do portugus falado. 2. ed. rev . Vol. VI : Desenvolvimentos, Campinas,
Editora da Unicamp,2002.
RAMOS. Jania M. O espao da oralidade na sala de aula. So Paulo Martins Fontes. 1997.
ROJO, R.H.R. A prtica de linguagem em sala de aula: Praticando os PCNs, So Paulo. EDUC.
Campinas: Mercado das Letras. 2004.
SANTOS. M.F.O. Gneros Textuais: Na Educao de Jovens e Adultos em Macei, Macei
AL, FAPEAL, 2004
___________.Professor-Aluno, As Relaes de Poder,Curitiba, PR HD Livros, 1999.
___________. A Interao em Sala de Aula. Recife PE, Bagao, 2004
SWALES, J.M. (1990) Genre Analysis - English in Academic and Research Settings. Cambridge
- Cambridge Iniversity Press.
TODOROV, T. Os gneros do discurso. So Paulo, Martins Fontes, 1980.
Você também pode gostar
- LIVRO - Aprenda Falar ChinêsDocumento164 páginasLIVRO - Aprenda Falar ChinêsTalita BarrosoAinda não há avaliações
- Europass CurriculumDocumento6 páginasEuropass CurriculumEduardomdn100% (1)
- Direitos Fundamentais Virgilio AfonsoDocumento142 páginasDireitos Fundamentais Virgilio AfonsoMayron Muniz100% (2)
- Era Uma Vez... Ser Criança Grupo 05Documento2 páginasEra Uma Vez... Ser Criança Grupo 05Lívia FrançaAinda não há avaliações
- François Zourabichvili - Deleuze e A Questão Da LiteralidadeDocumento14 páginasFrançois Zourabichvili - Deleuze e A Questão Da LiteralidadeTomaz Tadeu da SilvaAinda não há avaliações
- EcomatematicaDocumento207 páginasEcomatematicamarcelo100% (1)
- Variedades LinguisticasDocumento32 páginasVariedades LinguisticasPatricia GemmeAinda não há avaliações
- EFA Actividades IntegradorasDocumento16 páginasEFA Actividades Integradorasdulcesasilva2554100% (2)
- Estruturas Do Português - Joaquim Mattoso Camara JRDocumento78 páginasEstruturas Do Português - Joaquim Mattoso Camara JRDaniel SouzaAinda não há avaliações
- O Legado de Foucault PDFDocumento10 páginasO Legado de Foucault PDFLeila GiovanaAinda não há avaliações
- Comunicação Ao Encarregado de Educação Sobre o Horário de AtendimentoDocumento2 páginasComunicação Ao Encarregado de Educação Sobre o Horário de AtendimentoorlandocorreiaAinda não há avaliações
- A Caminho Da Cidade Migração Interna AngolaDocumento82 páginasA Caminho Da Cidade Migração Interna AngolaCledione de FreitasAinda não há avaliações
- 01 CED Introdução Carta ComercialDocumento2 páginas01 CED Introdução Carta Comercialapi-3709599100% (1)
- Aporías de La Vanguardia. H.M. EnzensbergerDocumento18 páginasAporías de La Vanguardia. H.M. EnzensbergeraupairinblueAinda não há avaliações
- Bataille, o Pensador Do CorpoDocumento4 páginasBataille, o Pensador Do Corpom-viannaAinda não há avaliações
- Dramaturgia Da PerformanceDocumento3 páginasDramaturgia Da PerformanceJackSantoS21Ainda não há avaliações
- O Sagrado Resumo - CópiaDocumento18 páginasO Sagrado Resumo - CópialeonmachAinda não há avaliações
- Exercícios de Literatura ColonialDocumento15 páginasExercícios de Literatura ColonialsavioosirisAinda não há avaliações
- Henrique Waldemar 3 Pontos Rituais PDFDocumento10 páginasHenrique Waldemar 3 Pontos Rituais PDFlicmusAinda não há avaliações
- Universidade Estadual de Feira de Santana Colegiado de PsicologiaDocumento16 páginasUniversidade Estadual de Feira de Santana Colegiado de PsicologiafannymacedoAinda não há avaliações
- Resumos SIDGDocumento223 páginasResumos SIDGkrafyaAinda não há avaliações
- RevisaoDocumento5 páginasRevisaoCris BragaAinda não há avaliações
- Francisco José - Cristianismo e Positividade No Jovem HegelDocumento128 páginasFrancisco José - Cristianismo e Positividade No Jovem HegelPatrick CoimbraAinda não há avaliações
- A Diferença Entre Os Termos Hebraicos Betulah e 'AlmahDocumento5 páginasA Diferença Entre Os Termos Hebraicos Betulah e 'AlmahJosé Mauro CorrêaAinda não há avaliações
- Império Português Do OrienteDocumento16 páginasImpério Português Do OrienteFabioAinda não há avaliações
- 2007 Relatório Técnico Ser Criança Araçuaí - MG (FEV-MAR-07)Documento42 páginas2007 Relatório Técnico Ser Criança Araçuaí - MG (FEV-MAR-07)CPCDAinda não há avaliações
- Atividade A População IndígenaDocumento2 páginasAtividade A População IndígenaTatiane GonçalvesAinda não há avaliações
- Conhecimentos Gerais 3 PDFDocumento19 páginasConhecimentos Gerais 3 PDFWat handsAinda não há avaliações
- Arte Cibernetica 2019Documento19 páginasArte Cibernetica 2019lidia nicoleAinda não há avaliações
- 3 Dissertação para QualificaçãoDocumento58 páginas3 Dissertação para Qualificaçãocristina santis da mataAinda não há avaliações