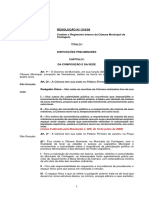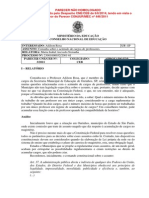Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
8627 41403 1 PB
8627 41403 1 PB
Enviado por
Renato IzidoroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
8627 41403 1 PB
8627 41403 1 PB
Enviado por
Renato IzidoroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DOI: 10.5433/1679-0383.
2010v31n2p241
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
The countercurrent: the Clastresian thought in Political Philosophy
1
Tdney Moreira da Silva
Resumo
Este artigo estuda a obra de PIERRE CLASTRES (1934-1977), filsofo e antroplogo francs cujos
estudos etnolgicos centraram-se em Antropologia Poltica, com vistas investigao do poder nas
ditas sociedades primitivas, e operaram uma alterao na determinao do objeto de estudo dessa
cincia. O trabalho destina-se exposio da construo de sua antropologia poltica geral, voltada
que est a desmitificar as sociedades indgenas como sociedades sem Estado, para encar-las como
sociedades contra o Estado, opostas organizao estatal que caracteriza a comunidade poltica europeia
e grande parte das sociedades influenciadas (ou determinadas) por sua cosmoviso. O artigo divide-se
em duas etapas: a primeira est voltada s sociedades contra o Estado, acerca das quais dissertou o
filsofo-antroplogo, buscando trilhar o caminho que o levar a expor a necessidade de uma revoluo
copernicana nos estudos da origem do poder. A segunda parte o retorno dos estudos etnogrficos e
etnolgicos Filosofia Poltica, trata dos inominveis que somos, aqueles que abdicaram da liberdade
para aderir ao modelo de opresso, que superaram a animalidade indesejvel, mas se desnaturaram em
servos de outros homens, seus iguais.
Palavras-chave: Filosofia Poltica. Antropologia poltica. Poder. Sociedades indgenas. Chefia indgena.
Etnocentrismo.
Abstract
This paper studies the work of PIERRE CLASTRES (1934-1977), a French philosopher and
anthropologist whose ethnological studies focus on Political Anthropology seeking the investigation
of power within the so-called primitive societies, by making a change in the determination of the study
subject matter of this science. It intends to show the construction of his general political anthropology
aimed to demystify Indigenous societies as societies without State, and to view them as societies against
the State, opposed to the state organization which characterizes the European political community and
most societies influenced (or determined) by their cosmovision. This paper is split into two stages: the
first is dedicated to societies against the State, which the philosopher-anthropologist discussed about,
seeking to trail the road that would lead him to expose the need of a Copernicus revolution in the studies
on the origin of power. The second stage deals with the return of ethnographic and ethnologic studies
to Political Philosophy, examining our characteristic of being unnamable, those who have forgone
freedom in order to abide by a model of oppression, those who overcame undesired animality, but
denatured themselves into vassals of other men, their equals.
Keywords: Political philosophy. Political anthropology. Power. Indigenous societies. Indigenous
leadership. Ethnocentrism.
Advogado. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Filosofia pela
Faculdade de Cincias Humanas e Sociais da Universidade So Judas Tadeu.
241
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-257, jul./dez. 2011
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
Introduo
Este artigo1 destina-se ao estudo da etnologia
empreendida por Clastres e prope-se a dialogar
com aspectos centrais da Filosofia Poltica, como
a definio de poder poltico e seus agentes. Para
tanto, valemo-nos da leitura de duas obras centrais
de seu trabalho etnolgico (A sociedade contra o
Estado e Arqueologia da Violncia), bem como
de outras obras filosficas com as quais travou
contato e sero sero pormenorizadas ao longo do
texto. Isso porque, o filsofo-antroplogo estava
voltado construo de uma antropologia poltica
geral que abarcasse, em seu contedo, tambm as
concluses obtidas por meio da anlise do poder nas
ditas sociedades primitivas. No entanto, podem-se
inferir as profundas alteraes que essas concluses
produziram no acervo conceitual da Filosofia
Poltica tradicional que, em geral, prescinde de
caractersticas como coercibilidade e hierarquia,
para delimitar o que se identifica socialmente como
poder.
Alis, por essa identificao (entre poder e
coero), opem-se as sociedades civilizadas das
chamadas primitivas ou arcaicas, de sorte que
somente as relaes sociais de comando e obedincia,
bem como as hierarquizadas, que puderam ser
valoradas como sendo verdadeiramente polticas.
Esta valorao, alis, consentnea ao
movimento de determinao das sociedades
primitivas3 por caracteres de pura negatividade:
so sociedades sem escrita, satisfeitas por uma
economia de subsistncia (como economia precria
e quase insuficiente s demandas da coletividade) e,
principalmente, so sociedades sem Estado uma
vez que por meio da organizao estatal que as
2
relaes verdadeiramente polticas (isto , relaes
de comando e obedincia) puderam ser identificadas
na Histria.
conhecido entre ns, por exemplo, o mote
sem f, sem lei, sem rei, usado pelos viajantes dos
sculos XVI e XVII, que se reporta s sociedades
indgenas e sua conceituao pela negao dos trs
pilares de formao dos Estados modernos.
O espao ocupado pelo poder poltico nas
sociedades primitivas , pois, quase nulo ou,
contrariamente, exacerbado. A ausncia do poder de
coero e de relaes hierrquicas nessas sociedades
qualifica-as como sociedades na infncia dos povos,
do mesmo modo como sua presena sempre foi
vista como exemplo de pura selvageria: a exata
medida do exerccio desse poder no lhes tangvel,
colocando-as sempre s margens da posio central
que ocupamos.
Por essa razo, a afirmao de Clastres (2003,
p. 60) de que [...] o poder exatamente o que as
sociedades quiseram que ele fosse. impe-nos
logo um desconcerto evidente: a questo do poder
poltico no se subsume a uma frmula universal.
Assim, no so as sociedades as que se dividem
em dois grandes grupos de sociedades com e sem
poder mas, sim, a forma como os modos diversos
de exerccio do poder poltico que se encontram-se
representados num binmio, pois um poder se que
realiza com ou sem coero.
Formado em Filosofia pela Sorbonne, Pierre
Clastres (1934-1977) iniciou seus estudos
etnolgicos durante a licenciatura, freqentando
os cursos do antroplogo Claude Lvi-Strauss,
ministrados no Collge de France a partir de
Este artigo foi apresentado, sob forma monogrfica e, portanto, mais aprofundada, Faculdade de Cincias Humanas e Sociais,
da Universidade So Judas Tadeu (SP), como condio obteno do ttulo de bacharelado em Filosofia, no ano de 2010.
A utilizao de expresses tais como sociedades primitivas, originrias e mesmo sociedades indgenas, desde j, coloca-nos
a dificuldade lingstica intrnseca para se versar seriamente sobre tais comunidades, respeitando-se, pois, suas organizaes
poltica, econmica, cultural e social. Isto porque todas elas esto eivadas de certo evolucionismo que dispe as sociedades
em graus de desenvolvimento diversos, tendo-se o ltimo patamar (mais elevado) representado pela civilizao ocidental da
qual fazemos parte. Ainda, esta qualificao generalizante suprime a diversidade existente, nivelando todas as sociedades por
caractersticas que so to-somente circunstancialmente semelhantes. Superada, entretanto, a discriminao que poderia provir
destas expresses, utiliz-las-emos em consonncia escrita clastriana e ao discurso poltico tradicional que se deseja investigar.
242
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
1960. Ele realizou sua primeira experincia de
campo acompanhado de sua esposa, Helne
Clastres, entre os Guayaki, no Paraguai, j em
1963. Sua tese foi defendida em 1965 (La Vie
sociale dune tribu nomade: les Indiens Guayaki
Du Paraguay), lecionando, posteriormente, na
cidade de So Paulo, no Departamento de Cincias
Sociais da Universidade de So Paulo. Seus ensaios
ulteriores, provenientes de pesquisas realizadas em
comunidades indgenas da Amrica do Sul, entre os
anos de 1965 e 1968, so reunidos em suas obras
conhecidas dentre elas, A Sociedade contra o
Estado.
Outras pesquisas de campo foram efetuadas por
Clastres na dcada de 1970. Pode-se mencionar sua
passagem pela regio amaznica venezuelana (de
1970 a 1971), com os Yanomami, bem como sua
estadia com os Guarani, em So Paulo, no ano de
1974. As investigaes desse perodo foram reunidas
num volume intitulado Arqueologia da violncia:
pesquisas em antropologia social, publicado em
1980, sendo, pois, uma obra pstuma, dado seu
falecimento, ocorrido em 1977, num acidente
automobilstico.
No fosse a inesperada interrupo causada
por sua morte, Clastres teria realizado o percurso
que o conduziria a um retorno Filosofia (muito
embora, frise-se, fosse de seu interesse primordial
a constituio de uma antropologia poltica geral).
De fato, seus estudos etnolgicos tm proveito
no to-somente Antropologia especialmente
Antropologia Social mas tm repouso no mbito
da Filosofia Poltica, j que a revoluo copernicana
que propusera em A Sociedade contra o Estado
revoluo que transformaria a concepo
tradicional unilateral de poder poltico como sendo o
mero exerccio final da violncia entre dominantes e
dominados surtiria efeitos para alm das fronteiras
daquela cincia social.
Basta relembrarmos a concepo hobbesiana de
organizao da sociedade, que tinha por fundamento
e justificativa o medo recproco entre os seus
membros, que eram iguais. A natureza humana,
repleta de imperfeies ocasionadas por paixes e
egosmos, urge por um controle externo, ainda que
por todos pactuado. Assim,
[q]uando se faz um pacto em que ningum cumpre
imediatamente a sua parte, e uns confiam nos
outros, na condio de simples natureza (que
uma condio de guerra de todos os homens contra
todos os homens), a menor suspeita razovel torna
nulo esse pacto. Mas se houver um poder comum
situado acima dos contratantes, com direito e fora
suficiente para impor o seu cumprimento, ele no
nulo (HOBBES, 2008, p. 118).
Esta legitimao do uso da violncia pelo
Estado possibilitou a sua confuso com a natureza
do poder poltico, negando-se s sociedades
primitivas o status de sociedades polticas, quando
no so policiadas. Em verdade, justamente por
reconhecer a essncia do poder como violncia que
as sociedades indgenas contrapem-se ao Estado,
como escolha genuinamente poltica, isto , as
sociedades primitivas no desconhecem o poder
coercitivo, mas optam por no exerc-lo.
No so estas as nicas concluses crticas
reflexo poltica a que chega Clastres. Mesmo
concepo marxista de poder poltico o pensamento
clastriano o autor apresenta seus argumentos
contrrios. Afirma-se no Manifesto Comunista,
por exemplo (que fora publicado em Londres, no
final de fevereiro ou incio de maro de 1848, por
Marx e Engels), que [o] poder poltico o poder
organizado de uma classe para a opresso de outra
(ENGELS; MARX, 2007, p. 59). O Estado moderno,
enfim, teria resultado duma luta de classes com a
vitria da burguesia, como classe revolucionria
que . Assim, afirmam Marx e Engels, [...] com o
estabelecimento da grande indstria e do mercado
mundial, conquistou, finalmente, a soberania poltica
exclusiva no Estado representativo moderno. O
executivo no Estado moderno no seno um
comit para gerir os negcios comuns de toda a
classe burguesa (ENGELS; MARX, 2007, p. 42).
Clastres contrrio ao argumento de que as
243
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
relaes de hierarquia, mando e subordinao
proviriam de relaes econmicas desiguais. Afinal,
no a partir da luta de classes marxista que se
deve tentar localizar os fundamentos e o espao do
poder poltico. Antes, o inverso: da instaurao do
poder poltico coercitivo averiguamos as relaes de
desigualdade serem instaladas, em todos os nveis
da vida social, no s no econmico.
Por essas razes, trata-se efetivamente da
revoluo copernicana o que se pretende operar ante
a tradio da Filosofia Poltica, j que se desloca o
poder poltico daquele centro unicamente vinculado
coero (CLASTRES, 2004, p. 146).
Dessa tarefa Clastres incumbiu a Antropologia
Social que, ademais, deveria comear por se
desprender da velha convico ocidental,
concernente ao evolucionismo, [...] de que a
histria tem um sentido nico, de que as sociedades
sem poder so a imagem daquilo que no somos
mais e de que a nossa cultura para elas a imagem
do que necessrio ser (CLASTRES, 2003, p. 34).
Desfeitos esses pressupostos, poder-se-ia constituir
uma antropologia poltica geral, que abarcasse a
totalidade dos fenmenos polticos nas sociedades
ditas civilizadas ou primitivas, perquirindo-se, desta
feita, seriamente a respeito do poder poltico.
Porm, no decorrer de seus estudos etnolgicos
(e de suas reflexes propriamente filosficas),
Clastres desvenda um problema (outrora, em outros
termos, j enaltecida por La Botie) que, entretanto,
restar sem soluo: afinal, quais circunstncias
ou elementos permitiram a criao do Estado? Se
, enfim, um construto na histria, como fenmeno
limitado no espao e no tempo, o que o criara, o que
o mantm e mesmo o que o manter? Se o poder
poltico pode ser exercido sem coero, o que fez com
que determinadas sociedades optassem pela relao
comando-obedincia? Em resumo, questiona-se: o
que a sociedade? O que a histria?
O empreendimento de Pierre Clastres deveras
ambicioso, mas inevitvel, caso se queira investigar
com seriedade o lugar do poder poltico. Trata-se,
pois, de uma tarefa que se circunscreve alm dos
limites da cincia antropolgica e requer do filsofo
poltico uma reflexo acerca dos fundamentos de
sua argumentao e dos efeitos a gerados. Justifica
a afirmao anterior o fato de o etnocentrismo da
cultura e civilizao ocidentais, que marca o prprio
ato de pensar, ser tambm, no mais das vezes,
etnocida: na nsia por delimitar as sociedades
primitivas como lugares da opresso ou selvageria,
veda-se-lhes o direito diferena.
Trata-se, pois, de construir e fazer valer uma
contracorrente (CLASTRES, 2004, p. 201) ao
tradicionalismo filosfico, em consonncia at
aos escritos de Montaigne e de La Botie no que
diz respeito intangvel origem do Estado ou, em
melhor exposio, estranha separao do poder da
sociedade que o deveria fundamentar.
Para compreendermos o movimento realizado
pelo filsofo e antroplogo, desenvolveremos o
texto em duas etapas. A primeira trata de seus estudos
etnolgicos, identificando o poder no-coercitivo
nas sociedades primitivas, como contrapostas
ao Estado. Depois, num segundo movimento,
tentaremos ressaltar os pontos que conflitam com
o bojo conceitual da Filosofia Poltica tradicional,
ressaltando nos escritos clastrianos as crticas e
reflexes que podem ser realizadas civilizao e
cultura ocidentais.
A Sociedade Contra o Estado
A tradio filosfica-poltica unnime em
reconhecer no poder a capacidade de se fazer valer a
vontade daquele que o detm sobre os demais, dentro
duma relao de comando e obedincia. Assim, no
contato com povos indgenas na Era das Navegaes,
entre os sculos XV e XVII, as especulaes acerca
de sua origem, estado de sua humanidade, no
podiam desvincular-se desta verdade: as sociedades
indgenas, que em sua grande maioria no estavam
estruturadas sob regimes de poder poltico coercitivo,
no detinham, efetivamente, a qualidade de serem
polticas, pois seus chefes eram chefes sem poder.
244
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
Os escritos dos viajantes e cronistas do conta
desta realidade abstrusa: o que h de mais estranho
a um indgena dar e receber ordens. Dois so,
portanto, os regimes atribudos organizao
das sociedades primitivas: um regime poltico
desptico, tirnico, que foi prprio da antiga
civilizao incaica, e outro anrquico, estagnado,
no qual grande parte das sociedades indgenas se
enquadra, especialmente aquelas localizadas no
interior da regio amaznica, apenas como exemplo
comum Amrica do Sul. Justapostas no excesso ou
na falta, as sociedades indgenas esto, de qualquer
modo, beira da medida exata do poder poltico.
Dentro dessa macro-tipologia dualista,
relevante identificao do poltico ocorrer nas
sociedades policiadas (tpicas da cultura ocidental
europia), isto , naquelas em que o poder somente se
exerce por meio da violncia, acatada pelos demais
membros como algo institucionalizado, estando
todos insertos numa classificao hierarquizada
(CLASTRES, 2003, p. 30-31).
A apreenso das sociedades indgenas dentro
dessas duas categorias espraia-se no pensamento
antropolgico, que passa a estud-las sob critrios
de arcasmo, e firma tambm a perspectiva filosfica
de que o poder s se pode exercer nas relaes de
coero. Eis a orientao de Jean-William Lapierre,
em seu Essai sur le fondement du pouvoir politique,
a qual se ope Pierre Clastres. Ao investigar o
fundamento do poder poltico nas sociedades
primitivas, aquele antroplogo utiliza-se de
terminologias que deixam claros seus pressupostos
cientficos: so sociedades em estado embrionrio
do poder poltico, que pode desenvolver-se, elevarse (CLASTRES, 2003, p. 31). Esses argumentos
de cunho biolgico descrevem bem a viso das
sociedades indgenas como aqum do verdadeiro
poder.
Essa compreenso fruto do etnocentrismo,
considerado uma propriedade formal de toda
formao cultural (CLASTRES, 2004, p. 86). Para
o filsofo e antroplogo, [c]hama-se etnocentrismo
essa vocao de avaliar as diferenas pelo padro
da prpria cultura e [...] aparece ento como
a coisa do mundo mais bem distribuda e, desse
ponto de vista pelo menos, a cultura do Ocidente
no se distingue das outras (CLASTRES, 2004,
p. 85-86). Mas, se justificvel a permanncia do
etnocentrismo para padres culturais, no o do
ponto de vista da pesquisa cientfica e da reflexo
filosfica (CLASTRES, 2003, p. 36).
Os estudos etnolgicos aproximam-nos das
sociedades primitivas e desvendam a os contornos
de um poder que se exerce sem violncia, se
pudermos, como afirma Clastres, apontar dois modos
de exerccio do poder: coercitivo e no-coercitivo,
dado que, de qualquer modo, o poder poltico
imanente ao social e, pois, universal (CLASTRES,
2003, p. 37). O poder poltico como coero um
caso particular que no tem razo cientfica para
ser privilegiado como [...] o princpio de explicao
de outras modalidades diferentes (CLASTRES,
2003, p. 37), pois, [p]odemos pensar o poltico sem
a violncia, mas no podemos pensar o social sem o
poltico; em outros termos, no h sociedades sem
poder (CLASTRES, 2003, p. 38).
Neste primeiro tpico, portanto, deter-nos-emos
na investigao etnolgica de Clastres acerca do
modo de exerccio do poder poltico nas sociedades
primitivas, localizadas eminentemente na Amrica
do Sul, fazendo breve resumo de suas concluses.
De posse delas, vamos dialogar a seguir com as
bases da Filosofia Poltica, presentes no segundo
tpico.
Papel da chefia indgena
Uma caracterstica notvel da chefia indgena,
j descrita pelos cronistas e viajantes dos sculos
XVI e XVII, a completa ausncia de autoridade.
De fato, a funo poltica no parece diferenciarse das demais que se levam a cabo no interior da
vida social. Em alguns povos at, como os Ona e
os Yahgan da Terra do Fogo, a instituio da chefia
inexiste, assim como na lngua dos Jivaro no h
245
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
vocbulo que designe o chefe (CLASTRES, 2003,
p. 47).
Para investigar este fenmeno, Clastres retomar
o trinmio de caracteres da chefia indgena levantado
pelo antroplogo australiano Robert Harry Lowie
(1883-1957), num artigo seu publicado no ano de
1948 (Social Organization), o qual tem por base
sua recorrncia nas culturas dos diversos povos
indgenas do continente americano. So, pois, trs
as qualidades intrnsecas do titular chief (conforme
a terminologia utilizada por Lowie): a) capacidade
de moderao de conflitos e a conseqente diviso
do poder em civil e militar; b) generosidade no
provimento e na repartio de bens e, por fim, c)
boa oratria, configurando-se seu discurso como
uma garantia da no-violncia.
Para alm do trinmio essencial, a poliginia
aparece como uma quarta caracterstica recorrente
nas chefias indgenas dos povos amerndios, muito
embora no seja ela de ordem interna, mas externa,
de sorte que se torna muito mais um critrio objetivo
de identificao do chefe, como contraprestao
da comunidade generosidade e oratria, que
um princpio individual de seu nimo e esprito.
Vejamos, pois, cada trao que contorna e define os
chefes.
Primeiramente, preciso salientar que a direo
do grupo dar-se- distintamente em tempos de guerra
e em tempos de paz, de modo que a bipartio do
poder em civil e militar uma constante. comum
que, no curso de uma empreitada militar, o lder
ou chefe indgena disponha de um poder quase
absoluto de comando sobre os guerreiros, dada a
ameaa que o prprio grupo sofre nessas situaes
excepcionais. Entretanto, essa potncia logo cessar
terminada a expedio, uma vez, portanto, que
o grupo [...] esteja em relao somente consigo
mesmo (CLASTRES, 2003, p. 48), como soem
demonstrar os exemplos histricos concernentes aos
Tupinambs e aos Jivaro, na Amrica do Sul.
O poder, tal como comumente se exerce,
fundamentado no consenso dos membros da
coletividade, de modo que cabe ao seu lder,
pois, a funo de pacificar as disputas internas e
manter a harmonia grupal, sem se valer da fora,
cuja ilegitimidade seria auferida, porm apenas de
suas virtudes e de seu prestgio. Essa fragilidade
permanente do seu poder exigir, como dependente
dela, a boa vontade do grupo.
A generosidade apontada por Lowie como um
dos traos marcantes da chefia indgena acaba por se
caracterizar como sua servido obrigao de dar e,
consequentemente, um compromisso com um quase
direito da comunidade [...] de submet-lo a uma
pilhagem permanente (CLASTRES, 2003, p. 48).
Claude Lvi-Strauss, por exemplo, descreveu
de modo meridiano o lugar da generosidade no
cumprimento das obrigaes que competem ao
chefe indgena dos Nambikwara, no Estado de Mato
Grosso, pois:
[a] recusa em dar ocupa ento mais ou menos o mesmo
lugar, nessa democracia primitiva, que o voto de
confiana num parlamento moderno. Quando um chefe
chega a dizer: Basta de dar! Basta de ser generoso!
Que outro seja generoso em meu lugar!, tem de estar
realmente seguro de seu poder, pois seu reinado est
passando pela mais grave crise (LVI-STRAUSS,
2004, p. 293-294).
O dom da oratria , por fim, outra qualidade
intrnseca presente chefia indgena, j que a palavra
(estendendo-a ao dilogo, como conversao
e recurso para a mediao) apresenta-se como
meio no-opressivo de resoluo de conflitos e,
conseqentemente, [...] se a linguagem o oposto
da violncia, a palavra deve ser interpretada, mais do
que como privilgio do chefe, como o meio de que o
grupo dispe para manter o poder fora da violncia
coercitiva, como a garantia repetida a cada dia de
que essa ameaa est afastada (CLASTRES, 2003,
p. 62). Desse modo, pode-se afirmar que, ao chefe,
a fala no transparece como um direito advindo de
seu poder, mas antes um dever dele derivado, pois
aquele que se destina a ser chefe deve ser hbil no
domnio das palavras.
Curiosamente, [a] palavra do chefe no dita
246
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
para ser escutada (CLASTRES, 2003, p. 171) e
esse paradoxo resolve-se ao afirmar-se que, por ser
o discurso do chefe um discurso de poder, e estar
aquele separado deste na sociedade primitiva, a sua
obrigao de submeter-se fala no se confunde
com comandos de autoridade (CLASTRES, 2003,
p. 172).
qual dependem para serem considerados valiosos,
seja pela especificidade do fabrico como arcos e
flechas para guerreiros e caadores.
Se, por um lado a capacidade de moderao,
a generosidade e a oratria transparecem como
smbolos do prestgio de que gozar o chefe indgena,
no sero, por outro e por igual modo, smbolos
duma relao desigual em termos de sobreposio do
indivduo sobre os demais ou de aquisio material
de bens que oponha o lder comunidade.
por isso que da mesma forma como a poliginia
se d em apenas um sentido (da coletividade para
o chefe), a generosidade tambm, mas no sentido
contrrio (do chefe para a coletividade). A relao,
contudo, evidentemente desigual. Afinal, a
sociedade abdica de seus valores essenciais (que so
as mulheres) em troca de escassos bens produzidos
pelo chefe. Como explicar essa circunstncia se o
poder nas sociedades primitivas no se define por
relaes de hierarquia e coero que justificaria a
desigualdade instaurada?
Isso ocorre, num primeiro momento, porque a
funo poltica s pode manifestar-se efetivamente
se imanente for ao grupo, no havendo espao
para tal hierarquizao entre os membros dele.
A prpria idia de acumulao de riquezas e de
lucro avessa importncia poltica atribuda s
atividades econmicas nas sociedades primitivas.
Por fim, a interpretao do poder sob a lei da troca
demasiado insuficiente, pois levaria a um paradoxo.
A resposta est na prpria negatividade que
se atribui ao poder, sempre controlado pela
comunidade. Se o trinmio de Lowie (generosidade,
moderao e boa oratria) constitui os pontos
fulcrais de caracterizao das chefias indgenas,
no menos correto afirmar-se sua total submisso
sociedade a que se destina, vislumbrando-se um
poder que se exerce no em razo do indivduo que
o detm, mas do grupo que o possui.
Ainda que se considere a generosidade um
smbolo de distino da chefia indgena, por
exemplo, preciso reconhecer que as exigncias
da coletividade para se ver satisfeita excedem, em
muitas ocasies, a capacidade de o lder suprilas. A poliginia, dessa sorte, ingressaria nesta
relao como uma contraprestao do grupo pela
generosidade e oratria do chefe no exerccio de suas
funes polticas. A mulher , pois, um valor nestas
comunidades, principalmente entre os Nambikwara
referidos.
Em resumo: a impotncia da chefia indgena est
na recusa de um poder exterior sociedade, de tal
sorte que a palavra, como exposto, no seja uma
ordem, mas um discurso voltado moderao ou,
no mnimo, um discurso improfcuo, se autoritrio
for; que a autoridade seja constantemente posta
prova e que o poder no seja violncia.
Poder-se-ia cogitar a possibilidade de colocao
das mulheres disposio do lder como mosde-obra para suprimento do quanto exigido pelo
grupo aproximando-se, desta feita, do poder como
comando-obedincia. Mas certos objetos requeridos
no podem ser produzidos seno pelo lder, seja
pela legitimidade da autoridade que os constri, da
Outro mecanismo de neutralizao da violncia
inerente ao poder o simples riso. Mas essa
simplicidade no se reporta, por certo, tarefa que
desempenha, como smbolo de desmistificao
do medo e do respeito que inspira outra figura de
autoridade nas sociedades primitivas: o xam, ao
qual se atribuem poderes sobrenaturais, importantes
O riso: desmistificao do medo inspirado
pelos Xams
247
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
nos mecanismos de cura e preveno de doenas,
mas tambm de antecipao da morte (CLASTRES,
2003, p. 159-160).
Dois so os exemplos de mitos jocosos, presentes
na narrativa dos Chulupi, habitantes do sul do Chaco
paraguaio, que foram recolhidos, em 1966, por
Pierre Clastres, como fontes para anlise etnolgica
da utilizao do riso como negatividade e controle
do poder e que aqui sero resumidos.
No primeiro mito (nomeado O homem a quem
no se podia dizer nada ttulo dado pelos prprios
indgenas Chulupi), narram-se as dificuldades e
confuses de um velho xam que, a pedido da neta,
inicia a travessia4, em companhia de outros xams,
procura da alma de seu bisneto, que padecia de
febre. Gluto, distrado e voluptuoso, a expedio
sempre interrompida pelo guia para que seus
viajantes comam, cacem e copulem, esquecendose da misso medicinal. Empreendida, por fim,
a cura, entrega-se o velho xam libertinagem,
aproveitando-se da inocncia das netas para com
elas manter relaes sexuais.
O segundo mito (As aventuras do jaguar) tambm
narra uma Grande Viagem, mas, desta feita, o seu
atravessador um animal. O jaguar, considerada uma
forte fera habilidosa, a personagem principal, e seu
trajeto um simples passeio, mas interrompido,
no entanto, por diversas armadilhas preparadas por
aqueles que considera com verdadeiro desprezo.
Em resumo, esses dois mitos apresentam xams e
jaguares como vtimas de sua prpria estupidez e de
sua prpria vaidade, vtimas que por isso merecem,
no a compaixo, mas o riso (CLASTRES, 2003,
p. 159).
Algumas observaes devem ser feitas para
compreenso da funo catrtica e de oposio ao
poder desempenhada pelo ridculo das narrativas, e
pelo riso em ltima instncia. A primeira delas que,
entre os Chulupi e diversas outras tribos do Chaco
paraguaio, os melhores feiticeiros so aqueles que
podem se transformar em jaguares. Alm disso,
em outro mito chulupi, os jaguares eram efetivos
xams, embora fossem maus, por fumarem seus
prprios excrementos, no lugar do tabaco, e por
devorarem seus pacientes, ao invs de cur-los. De
qualquer modo, h identidade entre as personagens,
ridiculamente caricaturadas nos mitos precedentes.
Nesse sentido, o riso modo simblico que
opera a desmistificao do medo e respeito que
inspiram o xam e o jaguar. O poder que deles
emana e pode constituir efetivo risco ao bem-estar
de toda a coletividade , miticamente, idiotizado e
menosprezado pelos ouvintes, que, pela negao
desse poder exterior, reafirmam sua superioridade.
Para Clastres, se [...] longe de serem
personagens cmicas, ambos [o xam e o jaguar]
so ao contrrio seres perigosos, capazes de inspirar
o medo, o respeito, o dio, mas nunca a vontade
de rir (CLASTRES, 2003, p. 159), nos mitos eles
so imbecilizados, pois naqueles reconhece-se [...]
uma inteno de mofa: os Chulupi fazem na esfera
do mito aquilo que lhes proibido no plano do real
(CLASTRES, 2003, p. 161).
A inscrio da lei sobre os corpos: anlise da t
ortura nas sociedades indgenas
Outra caracterstica marcante nas sociedades
indgenas quanto delimitao do poder poltico est
presente na utilizao de tortura como uma etapa de
integrao social. Conquanto nas sociedades estatais
a lei escrita seja regrada em cdigos e regulamentos
separados dos indivduos e de toda a coletividade, que
a conhece num ato de subservincia, nas sociedades
primitivas a lei faz inscrever-se nos seus corpos, o
que se d propriamente nos rituais de iniciao que
marcam a passagem da adolescncia vida adulta.
Esta travessia corresponde cura xamnica, em que se busca reintegrar ao corpo a alma, considerada uma prisioneira alhures.
Esta expedio exige grande concentrao do xam, inspirado em sua tarefa medicinal.
248
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
Nesses rituais iniciticos, a tortura configura-se
como essencial, pois a violncia que se imprime ao
iniciado, bem como a dor extrema suportada com
silncio e resignao, marcam em sua pele essa fase
transitria e igualam-no aos demais conterrneos,
tambm um dia submetidos ao ritual. Alm disso,
uma vez fincada no corpo, a lei da sociedade no
ser jamais esquecida (CLASTRES, 2003, p. 201).
O sofrimento caracterstico desses rituais tem
funes especficas. Ele tanto avalia a resistncia
pessoal, quanto significa o pertencimento social do
iniciado e sua inseparabilidade da lei ditada pela
sociedade. O silncio durante a tortura empregada,
ademais, visto como um consentimento daquele
que ao ritual se submete, pelo que se demonstra
[...] o desejo de fidelidade lei, a vontade de
ser, sem tirar nem pr, igual aos outros iniciados
(CLASTRES, 2003, p. 204).
Por essa razo, no se admite que a lei esteja
separada daqueles que a elaboram e vivenciam,
tornando-a inesquecvel queles que a concebem e
inviolvel a todos, pois que a mesma violncia fora e
ser sentida inexoravelmente por seus conterrneos.
Esses dados sero relevantes ao cotejarmos,
no segundo tpico, sua finalidade com aquelas
buscadas pelas sociedades modernas civilizadas
em que h uma ciso entre sociedade e Estado,
de sorte que a lei (em sentido amplo) torna-se o
liame entre ambas as instncias. Para finalizarmos
esta primeira etapa de levantamento das concluses
etnolgicas de Clastres, faz-se necessrio observar
sua interpretao da oponibilidade, em mitos
indgenas, ao Uno identificvel como a causa de
males. Vejamos.
O uno e o mltiplo: escolha pelo poder no-c
oercitivo
Tup, entidade mais elevada da teogonia
indgena, cansado de sentir-se solitrio, quis que
a Terra, imperfeita como , fosse habitada por
pequenos seres, seus companheiros, que deveriam
distra-lo e com ele brincar. Assim nasceram os
ltimos homens, ou seja, os Guarani.
Quem so os guaranis? Da grande nao cujas tribos,
na aurora do sculo XVI, contavam seus membros s
centenas de milhares, s subsistem runas hoje em dia:
talvez cinco ou seis mil ndios, dispersos em minsculas
comunidades que tentam sobreviver margem do
homem branco. Estranha existncia a deles. Agricultores
de queimada, mandioca ou o milho asseguram-lhes,
bem ou mal, sua subsistncia. E, quando precisam de
dinheiro, alugam seus braos aos ricos exploradores
da regio. Uma vez decorrido o tempo necessrio
aquisio da soma desejada, voltam silenciosamente
s estreitas trilhas que se perdem no fundo da floresta.
Pois a verdadeira vida dos ndios guaranis desenrolase no s margens do mundo branco, mas muito mais
longe, onde continuam a reinar os antigos deuses, onde
nenhum olhar profanador do estrangeiro de boca grande
corre o risco de alterar a majestade dos ritos.
Poucos povos testemunham uma religiosidade to
intensamente, vnculos to profundos aos cultos
tradicionais, vontade to frrea de manter em segredo a
parte sagrada de seu ser. s investidas ora malsucedidas,
ora brutais dos missionrios opem sempre uma recusa:
Guardem seu Deus! Temos os nossos!. E to potente
era seu zelo em proteger de toda conspurcao seu
universo religioso, fonte e fim de sua fora de viver,
que at em data recente o mundo branco permanecia
na total ignorncia desse mundo dito selvagem,
desse pensamento do qual no se sabe o que o torna
mais admirvel, se sua profundidade propriamente
metafsica ou a suntuosa beleza da linguagem que o
exprime. (CLASTRES apud JECUP, 2002, p. 5)
Na genealogia da Terra imperfeita (Ywy mbae
megua), narrada pelos guarani, a desgraa
a ela inerente, as coisas so ms e pem prova
constantemente os seus habitantes, j acostumados
a esperar pelo dia que vivero na Terra sem males.
Concede-se no mito a explicao para a maldade do
mundo: as coisas so ms porque, em sua totalidade,
so Una.
Eis a um diverso modo de encarar o perecvel
e indesejvel, pois, para a antiga filosofia grega
ocidental, justamente a unidade o que constitui o
Bem, o que se identifica perfeio do cosmos e
saber. Contudo, no o Mltiplo o que se afirma
diretamente na narrativa guarani, pois ao dizer que
as coisas em sua totalidade so uma no se est
a afirmar que o Um o Todo. Essa categoria no
se depreende por imediato do pensamento indgena.
249
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
Antes, a coisa una como corruptvel, transitria
e efmera o signo do Finito, pois tudo o que
se singulariza, individualiza-se de tal modo que
encontra limites e a prpria morte, sendo, assim, um
ser incompleto e inacabado.
Na Ywy mbae megua, isto , no reino da morte
(Terra imperfeita) vigora o princpio de identidade,
j que, se se diz que um homem um homem,
afirma-se, tambm, que um homem no um deus
(CLASTRES, 2003, p. 190). O ato de nomear
o ato de assinalar sua singularidade, limitao e
finitude. O no-Um o reino da felicidade, a Terra
sem Mal (Ywy Mara-ey), uma vez que se refere aos
seres completos.
Analogamente, as sociedades organizam-se sob
signo da unidade e da multiplicidade, conforme se
reconhea o Bem neste ou naquele locus.
O que se pode observar, por exemplo, como uma
caracterstica constante nas sociedades primitivas
(embora no seja, por certo, a nica explicao
diversidade de formas do exerccio do poder
poltico) sua fragmentariedade, sua ciso em tribos
menores com demografia e territrio pequenos.
Nos chamados povos da Floresta, a organizao
social complexa, definida por alianas polticas e
pela exogamia, como forma de introduzir em cada
demo uma multiplicidade de famlias que, unidas,
podem efetivar o intercmbio de mulheres para
o estabelecimento de parceiros sexuais diversos
e defender-se dos inimigos. Por meio desses
casamentos, so garantidos direitos e deveres
recprocos entre as comunidades, instituindose um sistema poltico distinto dos demais [...]
por uma solidariedade revelada ocasionalmente
em circunstncias graves, pela certeza de cada
coletividade de se saber rodeada, por exemplo,
em caso de escassez ou de ataque armado, no
de estrangeiros hostis, mas de aliados e parentes
(CLASTRES, 2003, p. 81).
Por outro lado, as sociedades com Estado,
aliceradas no pensamento grego ocidental e
na religiosidade judaico-crist, eminentemente,
organizam-se sob a proeminncia do uno, da busca
pela centralizao e unificao de propsitos.
Busca-se alcanar o bem comum (desde a concepo
liberal de Estado, com a Revoluo Francesa, no
sculo XVIII) identifica-se o poder numa entidade
separada da sociedade, embora por ela legitimada,
com a definio de relaes de comando-obedincia
e hierarquia. Assim, conclui o filsofo e antroplogo,
[a]s sociedades primitivas so sociedades do
mltiplo; as no primitivas, com Estado, so
sociedades do uno. O Estado o triunfo do uno
(CLASTRES, 2003, p. 241).
Duas, portanto, so as formas de exerccio e de
legitimao do poder poltico.
Nas sociedades com Estado, o poder, com
sua natureza de evidente violncia, ordena a
comunidade, de tal sorte haver os que comandam
e os que obedecem. Esses recepcionam as ordens,
submetem-na aplicao imediata, se reconhecerem
sua obrigatoriedade (ou nela crerem), enquanto se
concede aos comandantes o dever e direito de a
todos imporem regramentos.
Por sua vez, nas sociedades sem Estado, o
poder no se separa do corpo social. Antes, toda a
sua organizao est voltada para impedi-lo, para
negativ-lo.
Espera-se do chefe indgena que seja bom
mediador, bom orador e bom provedor de bens
comunidade. Mas tanto se contesta sua autoridade
na resoluo de conflitos, como no se ouve seu
discurso e se exacerba no direito de exigir bens
materiais. O chefe, assim, um chefe sem poder. O
papel que desempenha tem prestgio, mas ele no
se d pela submisso dos demais aos seus ditames
egosticos.
Ao mesmo tempo, ri-se daqueles que, por seus
papis, concentram uma grande autoridade em suas
mos. Os xams so ridicularizados, assim como
o so os jaguares, como representantes mticos
daqueles. O riso signo do menosprezo ao poder
excedente do social.
250
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
Por fim, nos rituais iniciticos, a juventude
indgena submetida grande tortura: marca-se na
sua pele, indelevelmente, a lei comum e a igualdade
do iniciado aos demais membros. Testa-se sua
resistncia e obstinao em participar do todo social
e, dessa forma, aquele que supera as dificuldades
do rito no esquecer sua fidelidade, no desejar
a individualizao extremada, a singularizaro
do seu desejo de poder, pois sabe dos malefcios
ocasionados pela segregao e pela desigualdade.
Se o Estado se tornou possvel, em circunstncias
histricas precisas, identific-las pode tambm
elucidar as causas que o engendram e que podem
encerr-lo, muito embora, para essa tarefa, devase antes questionar o porqu de sua existncia.
Afinal, o que se observa nas sociedades primitivas
uma verdadeira escolha pelo no-poder, pela nocoero.
A essncia severa do poder no desconhecida
das sociedades primitivas, como prova a etnologia
empreendida ante as mais diversas comunidades
indgenas, e ele at mesmo identificado com
as foras naturais. Sua cultura, como oposio ao
poder, tambm uma cultura de oposio natureza,
como [...] negao de ambos, no no sentido em
que poder e natureza seriam dois perigos diferentes,
cuja identidade s seria aquela negativa de uma
relao idntica ao terceiro termo, mas no sentido em
que a cultura apreende o poder como a ressurgncia
mesma da natureza (CLASTRES, 2003, p. 61).
Opta-se, portanto, pela negatividade como
mecanismo de controle do poder, mortfero risco
coexistncia pacfica. Antes de ser uma sociedade
sem Estado, a sociedade primitiva uma sociedade
contra o Estado, contra a sociedade do trabalho
alienado e de produo de excesso intil, contra a
sociedade hierarquizada, classista e subserviente,
contra a Sociedade do Uno. No resta dvida que
somente a interrogao atenta do funcionamento
das sociedades primitivas permitir esclarecer
o problema das origens. E talvez a luz assim
lanada sobre o momento do nascimento do Estado
esclarecer igualmente as condies de possibilidade
(realizveis ou no) de sua morte (CLASTRES,
2004, p. 151).
De posse de breve esboo dos ensinamentos da
antropologia poltica geral clastriana, tentaremos
dialogar com os construtos da Filosofia Poltica
contra os quais se choca, objetivando desvendar
os fundamentos de nossa organizao social e os
mecanismos de manuteno do prprio Estado.
Passemos exposio.
A Sociedade do Uno
Os inominveis (o Discurso da Servido
Voluntria, de la botie)
A questo da origem do Estado, embora
revivificada por Clastres, havia sido posta por
tienne de La Botie (1530-1563), ao escrever o
opsculo intitulado O nome do Um ou Discurso
da servido voluntria. Nele se questiona pela
primeira vez como possvel que uma multido
submeta-se ao mando do Um, de um tirano ou de
um superior hierrquico.
Alis, o Um parece estabelecer uma ordem
no caos, fazendo desaparecer as antinomias na
sociedade. Mas a tirania, por diversas vezes, se
beneficia da ambio e avareza daqueles que a
propagam na sociedade, ou seja, daqueles que
interiorizaram o esquema de dominao e se vem
como portadores do nome do Um, para exercerem
um poder que lhes desfavorvel e cerceador da
liberdade. O poder do Um, portanto, provm dos
prprios subordinados.
Esta servido voluntria faz dos homens (servis)
os autores de sua prpria desgraa, despojando o
tirano de sua liberdade na exata medida em que se
lhe deixa faz-lo. De sua humanidade, rebaixam-se
condio de bestas, saciados na miservel garantia
de segurana. Ou melhor: nem sequer aos animais
podem esses servos se equipararem, pois [...] desde
251
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
los ms grandes hasta los ms pequeos, cuando
son capturados, oponen tal resistncia con garras,
cuernos, pico y patas, que declaran suficientemente
con ello cunto estiman lo que pierden (BOTIE,
2008, p. 33). Nascemos livres e com a paixo de
conservar tal natureza, mas nos desnaturamos,
servindo a um s como um desgraado vcio
(BOTIE, 2008, p. 27).
Diferentemente de La Botie, Clastres no
considera esta desnaturalizao humana um
rebaixamento animalidade, os demais animais s
se submetem pelo medo que inspira o dominador.
Sequer, por bvio, uma elevao ao status de
divindade: essa nova natureza (nem feroz, nem
idlica) est presente nos homens servis aos mandos
e desmandos de um tirano ou de um pequeno
grupo de indivduos e torna aqueles a tal condio
habituados verdadeiros seres inominados
(CLASTRES, 2004, p. 161).
A pergunta que se coloca, pois, quanto s
condies que possibilitam a desnaturao, sendo
trs as elucubraes de La Botie para explicao
da existncia de tiranos: a) tirania que se d pela
fora das armas (o que se pode contestar, uma vez
que muitos so os servos e muitas, portanto, as
possibilidades de se contrapor vontade tirnica);
b) tirania que se efetiva pelo costume de servir
(sendo, tambm questionvel, a sua manuteno
sem se refletir sobre o querer do povo subordinado)
e, por fim, c) aquela tirania que se exercita pela
seduo dos tiranizados, organizados numa clara
cadeia de tiranetes, de ambiciosos e avarentos que
se beneficiam com a opresso e com a hierarquia.
Contra essa ordenao do social, La Botie
propunha o fortalecimento da amizade, isto , do
vnculo de fraternidade entre os membros de uma
sociedade para afast-la do poder tiranizado.
Nuestra naturaleza es tal que los comunes deberes de la
amistad se llevan una buena parte del curso de nuestra
vida: es razonable amar la virtud, estimar las buenas
acciones, reconecer el bien de quien se ha recibido, y a
menudo disminuir nuestra comodidad para aumentar el
honor y las ventajas de aquel que amamos y lo merece
(BOTIE, 2008, p. 26).
Todavia, embora a amizade aparea como valor
central em La Botie, a servido voluntria vista
como uma doena incurvel. O problema, ento,
resta apenas colocado, mas no solucionado.
O que possibilitou a criao do Estado e o que o
mantm existente so os mesmos questionamentos
aos quais chegara Pierre Clastres, que ao adentrando
a antropologia investiga as sociedades indgenas
para averiguar como possvel contrap-lo
historicamente.
Por essa razo, La Botie , na realidade, o
fundador desconhecido da antropologia do homem
moderno, do homem das sociedades divididas. Ele
antecipa, com mais de trs sculos de distncia,
o empreendimento de um Nietzsche mais ainda
que o de um Marx de pensar a degradao e a
alienao (CLASTRES, 2004, p. 161). Devese, contudo, super-lo e buscar no pensamento
etnolgico as provveis respostas para a existncia
de uma Sociedade do Uno.
A constituio de uma antropologia poltica
geral foi a soluo buscada por Clastres. A etnologia
permitiria desvendar outros contornos do poder
poltico, no abraados pela Filosofia Poltica
tradicional como os demonstrados at aqui. Isso no
significa, entretanto, que a etnologia empreendida
fosse to-s uma via Filosofia. Em Clastres no
h essa subordinao entre os saberes, mas um
dilogo intenso pode ser observado. A Filosofia
Poltica posta em xeque pelos estudos etnolgicos,
empreendidos como uma contracorrente quela: a
interrelao entre Filosofia Poltica e Antropologia
Poltica possibilitaria uma reviso simultnea de
conceitos em ambas as reas, pela conciliao de
diferentes mtodos de observao.
Se para La Botie a subservincia de uma maioria
aos comandos do Um era insupervel, em Clastres
possvel antever quo frutferos seriam os resultados
advindos de sua antropologia poltica geral, como
o desvelar eventual das condies histricas que
marcaram a ruptura entre sociedade e Estado na
comunidade ocidental europia (cujo modelo foi
252
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
disseminado para alm de fronteiras meramente
territoriais) e o prprio fim desta ciso, uma vez
esclarecidas aquelas condies. Eis o aspecto
de positividade na filosofia-etnologia clastriana,
marcado, no entanto, por uma contraposio
(contracorrente) aos conceitos estanques em ambas
as reas nas quais se detm.
A alienao poltica como antecedente da
alienao econmica
Para Pierre Clastres, diferentemente da
concepo marxista, no a alienao econmica
a que engendra o poder coercitivo, mas exatamente
o oposto: o trabalho alienado e a desigualdade
econmica so decorrncias de um poder
poltico coercitivo e hierarquizado. Jos Arthur
Giannotti, entretanto, contrape-se a essa viso ,
valendo-se dum mtodo denominado dialtica da
sociabilidade.
Em Trabalho e reflexo: ensaios para
uma dialtica da sociabilidade (de inspirao
fenomenolgica),
Giannotti
constri
uma
ontologia do social, concebendo as idias de
Wittgenstein, Hegel e Marx como compreenso
da dialtica dos fenmenos sociais. O citado
autor considera essa ontologia como um modelo
lingstico do real que possibilita identificar
individualidades nela) ou, ainda, permite refletir
acerca do lugar do fetichismo na determinao
destes fenmenos (GIANNOTTI, 1983, p. 9).
Por essa razo, sua obra destinada a investigar
o trajeto dos fenmenos sociais s suas condies
de aparecimento, valendo-se, ento, das Cincias
Sociais (em especial da Antropologia), bem como
de outros ramos do saber, como a Lingstica, a
Economia ou a Histria, para elaborao de sua
crtica.
Embora tenha em Clastres a base para situar
seu ponto de vista (GIANNOTTI, 1983, p. 13),
aproxima-se de Marx, ainda que no pretenda fazer
mera releitura de O Capital.
J em Clastres, contudo, busca-se superar a
influncia do marxismo na etnologia, que transpe
singelamente s sociedades indgenas um modelo
de produo econmica que no lhes pertinente
por no ser desejado. Da mesma forma como as
sociedades primitivas so contra o Estado, so,
tambm, contra a produo econmica excedente,
contra o trabalho alienado. Antes de ser econmica,
a alienao poltica, o poder antecede o trabalho,
o econmico uma derivao do poltico, a
emergncia do Estado determina o aparecimento das
classes (CLASTRES, 2003, p. 216).
A troca e a reciprocidade so consideradas,
pelo pensamento clastriano, como verdadeiros
sustentculos que fincam a economia primitiva
numa economia em que os homens so senhores
de suas atividades, sendo todos iguais e mediados
pela lei de troca (j anteriormente referida como a
troca de mulheres pelas palavras e bens provindos
dos chefes indgenas). Tudo se desarruma, por
conseguinte, quando a atividade de produo se
afasta do seu objetivo inicial, quando, em vez de
produzir apenas para si mesmo, o homem primitivo
produz tambm para os outros, sem troca e sem
reciprocidade (CLASTRES, 2003, p. 215).
O que fazem os etnlogos marxistas?
Aplicam acriticamente s sociedades primitivas
os pressupostos filosficos (e, principalmente,
histricos) do filsofo alemo. A narrativa mtica
e os rituais religiosos so considerados o pio dos
indgenas; as relaes de parentesco e a exogamia so
encaradas como a formao de classes, enxergandose a, sua infraestrutura; a introduo na comunidade
de produtos industrializados vista como a
desigualdade na posse dos meios de produo. Dir
Clastres: que [...] O marxismo um economismo,
ele reduz o corpo social infraestrutura econmica,
o social o econmico. E por isso os antroplogos
marxistas so obrigados a extrair do corpo social
primitivo o que, segundo eles, funciona noutras
partes: as categorias de produo, de relaes de
produo, de desenvolvimento das foras produtivas,
de explorao etc (CLASTRES, 2004, p. 225).
253
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
Talvez por essa razo, para Giannotti (que se
aproxima do marxismo), o que faz Clastres uma
simples metafsica (como a metafsica de comer
chocolates pessoana), cujos esforos etnogrficos e
etnolgicos no fornecem mais que uma tautologia.
Reafirmam-se sem, no entanto, transcender seu
prprio mtodo e expor um modelo que justifique
o lugar do poder no-coercitivo nas comunidades
indgenas o que justificaria a ausncia, nelas, de
um trabalho alienado e de produo excedente. Em
ltima instncia, o que Clastres realiza um concerto
de argumentos que explicam a lei de troca, mas
no so hbeis a coloc-la como causa de relaes
econmicas pautadas na igualdade dos seus atores
(GIANNOTTI, 1983, p. 159-160).
Esta metafsica clastriana, no entanto, assume
uma positividade, conforme Bento Prado Jr, que
prefaciou a Arqueologia da violncia: pesquisas de
antropologia poltica. Isso porque em Clastres no
h uma ontologia da produo a priori. Significa
dizer que no so as relaes econmicas desiguais
as que instauram o poder coercitivo nas sociedades,
mas o seu oposto.
Isso, por certo, no invalida, como quer Giannotti,
as suas concluses etnolgicas. Antes, fazem
emergir da experincia etnogrfica dados que podem
contribuir para a reflexo crtica do pensamento
tradicional em filosofia poltica5 . A produtividade
econmica como economia de subsistncia no
a economia da precariedade, mas do suficiente. A
desigualdade decorrente da produo de bens em
excesso tambm indesejada. Isso fica claro quando
se introduz nas comunidades indgenas artefatos da
tecnologia do Ocidente.
Consideremos o potencial de um machado, por
exemplo: [...] ao descobrirem a superioridade
produtiva dos machados dos homens brancos, os
ndios os desejaram, no para produzirem mais no
mesmo tempo, mas para produzirem a mesma coisa
num tempo dez vezes mais curto (CLASTRES,
2003, p. 213-214). Os efeitos, contudo, so deletrios,
[...] pois, com os machados metlicos, irromperam
no mundo primitivo dos ndios a violncia, a fora,
o poder, impostos aos selvagens pelos civilizados
recm-chegados (CLASTRES, 2003, p. 214).
Nas sociedades com Estado, o trabalho surge como
um dos seus axiomas. Produzir ou morrer, a divisa
do Ocidente (CLASTRES, 2004, p. 92). O grau de
civilizao consoante capacidade de produo
econmica de uma coletividade, considerandose precria toda organizao que se paute numa
produtividade voltada a saciar as necessidades e
to-s a satisfaz-las. O capitalismo, nesse sentido,
caracteriza o Ocidente e compreende-se como um
fim em si mesmo, sendo simultaneamente mquina
de produo e de destruio. Raas, sociedades,
indivduos; espao, natureza, mares, florestas,
subsolo: tudo til, tudo deve ser utilizado, tudo
deve ser produtivo; de uma produtividade levada a
seu regime mximo de intensidade (CLASTRES,
2004, p. 91).
Alis, justamente seu regime de produo
econmica o que torna a civilizao ocidental
inexoravelmente mais etnocida que qualquer outra
sociedade (CLASTRES, 2004, p. 91). Vejamos.
O etnocdio como essncia do estado
Como se afirmou anteriormente, o etnocentrismo,
como capacidade prpria da cultura de avaliar as
diferenas a partir de si mesma, [...] aparece como
a coisa do mundo mais bem distribuda e, desse
ponto de vista pelo menos, a cultura do Ocidente
no se distingue das outras (CLASTRES, 2004,
p. 85-86). Todavia, peculiar ao Ocidente a sua
vocao para um etnocentrismo que acaba por ser,
tambm, etnocida.
Partindo do conceito de genocdio, criado em
1946 no Tribunal de Nuremberg, para julgamento
de um crime at ento no tipificado, qual seja, o
Clastres (2004, p.9).
254
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
extermnio de pessoas baseado no racismo como
o fora o extermnio de judeus na Segunda Grande
Guerra o etnocdio foi formulado por etnlogos,
dentre eles Robert Jaulin (1928-1996), para referir-se
ao morticnio de populaes indgenas do continente.
Ademais, conquanto o genocdio opera um
extermnio do corpo, o etnocdio volta-se ao extermnio
do esprito, significando que este crime [...] a
destruio sistemtica dos modos de vida e pensamento
de povos diferentes daqueles que empreendem essa
destruio(CLASTRES,2004,p. 83).
O etnocdio, deste modo, parte do pressuposto de
que o mal est contido na diferena e que esta pode
ser alterada, melhorada, transformada. Para Pierre
Clastres, ainda, [a] negao etnocida do Outro
conduz a uma identificao a si. Poder-se ia opor o
genocdio e o etnocdio como duas formas perversas
do pessimismo e do otimismo (CLASTRES,
2004, p. 83), uma vez que o genocida considera
intransponveis os vcios que entende presentes na
diversidade cultural e o etnocida cr poder melhorlos, destruindo-a.
O Ocidente demonstra-se, no contato com as
sociedades primitivas, essencialmente etnocida.
Basta recordarmos a misso evangelizadora
empreendida no Novo Mundo (e que ainda se exerce,
por certo) para averiguar que [a] espiritualidade do
etnocdio a tica do humanismo (CLASTRES,
2004, p. 84). E para compreender o porqu de ser o
Ocidente etnocida necessrio debruar-se sobre a
prpria histria.
Um dos critrios basilares para identificao de
uma sociedade civilizada e daquelas consideradas
selvagens e brbaras o aparecimento ou no, entre
elas, do Estado.
So civilizadas as sociedades com Estado, isto ,
as sociedades cujos participantes abdicaram de sua
liberdade em nome da centralizao na figura duma
entidade suprema do poder poltico, necessariamente
coercitivo e, portanto, hierarquizado. Reduz-se ao
Uno a multiplicidade, em nome de um progresso
e de uma nica finalidade (atualmente, o bem
comum). Por sua vez, so primitivas as sociedades
sem Estado, ou seja, as sociedades que impedem,
por um controle negativo, o poder coercitivo e as
relaes desiguais, contrapondo-se ao comando e
subservincia.
Esta [...] fora centrpeta que tende, quando
as circunstncias o exigem, a esmagar as foras
centrfugas inversas (CLASTRES, 2004, p. 87)
a de que se vale o Estado, recusando o mltiplo e
a diversidade. Mas, embora o etnocdio constitua
o Estado, como no se pode generalizar, sob pena
de se incorrer no erro de raciocnio do prprio
etnocdio, necessrio investigar o que faz com
que determinados Estados sejam etnocidas e outros
no.
Como exposto outrora, o regime de produo
econmica dos Estados, sempre a exigir o Todo,
o que faz com que sejam mais etnocidas do que
qualquer outra forma de organizao social.
O que diferencia o Ocidente o capitalismo, enquanto
impossibilidade de permanecer no aqum de uma
fronteira, enquanto passagem para alm de toda
fronteira; o capitalismo como sistema de produo
para o qual nada impossvel, exceto no ser para si
mesmo seu prprio fim [...] (CLASTRES, 2004, p. 91).
Em outras palavras, foi o surgimento do Estado o
que [...] realizou a grande diviso tipolgica entre
selvagens e civilizados, e traou uma indelvel linha
de separao alm da qual tudo mudou, pois o Tempo
se torna Histria (CLASTRES, 2003, p. 217).
Afirmaes dessa ordem suscitam outros
questionamentos, mais inapreensveis que os
anteriores. Um deles justamente o que a Histria
j que se a considera incio ou marco da sociedade
dividida. Seria correto dizer que a Histria tem
um comeo? E as sociedades indgenas: seriam
sociedades sem Histria? Se assim concluirmos,
compreenderemos que
255
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
[...] o que os selvagens nos mostram o esforo
permanente para impedir os chefes de serem chefes,
a recusa da unificao, o trabalho de conjurao
do Um, do Estado. A histria dos povos que tm
uma histria , diz-se, a histria da luta de classes.
A histria dos povos sem histria , dir-se- com ao
menos tanta verdade, a histria da sua luta contra o
Estado (CLASTRES, 2003, p. 234).
Para essas questes no foram dadas respostas
at ento. O empreendimento clastriano representa
uma contracorrente ao pensamento tradicional,
pois as investigaes inquietantes que se impem
ultrapassam a cincia social da qual parte para
atingir outras dimenses do saber. aqui que a
Antropologia demonstra-se eficaz ferramenta, assim
como a Filosofia, para pensar no s o factvel, mas,
igualmente, o que possvel.
Se h sociedades pautadas por um poder nocoercitivo, como sociedades do indiviso e do
Mltiplo, pode-se perquirir sobre a origem e
condies de existncia da sociedade cujo poder
coero, obrigatoriamente, como sociedades
da diviso e do Uno. Se o Estado nasceu de uma
revoluo poltica, com a fora mesmo de um
desapego ao primitivismo, pode-se problematizar sua
construo (e imaginar, diramos, sua destruio).
Um retorno s razes eis a completude do
movimento cclico clastriano. E o que nos diz este
movimento? Que, alm da identificao Estado
coero, h ntima relao entre a Razo do
Ocidente e a prpria violncia.
Muito embora ultrapasse o estruturalismo de LviStrauss, Clastres dialoga com seu antigo professor
do Collge de France no que concerne similitude
entre tais fatores. De fato, em Mitolgicas, publicada
em 1962, o antroplogo estruturalista apresenta a
Razo como o fruto de uma cultura determinada,
no como o fim ltimo de todas as existentes, sendo
um produto que elimina outras formas de pensar
para afirmar-se como universal. O que faz o Estado
clastriano seno recusar o Mltiplo, seno evocar
o trabalho e a unidade como finalidades ltimas da
humanidade, colocando-se s margens aqueles deste
centro afastados? Assim,
[d]escobrimos no prprio esprito de nossa civilizao,
e coextensiva sua histria, a vizinhana da violncia
e da Razo, com a segunda no chegando a estabelecer
seu reino a no ser atravs da primeira. A Razo
ocidental remete violncia como sua condio e
ao seu meio, pois tudo aquilo que no ela prpria
encontra-se em estado de pecado e cai ento no
campo insuportvel do desatino. E segundo essa
dupla face do Ocidente, sua face completa, que deve
se articular a questo da sua relao com as culturas
primitivas.(CLASTRES, 2003, p. 34)
inevitvel concordar com Clastres (2003, p.
40): da revoluo copernicana que se trata pois
a reflexo sobre o poder realiza, doravante, uma
converso heliocntrica:o poder poltico no
mais confundido to-somente com a coero e com
a desigualdade, posto que se conceba seu oposto e
se reflita sobre as bases de nossa civilizao (talvez
desgastadas) para podermos, querendo, transform-las.
Concluso
Pela leitura dos escritos de Pierre Clastres, restanos claro que a investigao do poder nas ditas
sociedades primitivas no tem interesse apenas
aos etnlogos, conquanto requerem do leitor,
tacitamente, uma releitura de seus prprios valores
como um contraste necessrio.
Em verdade, a antropologia poltica, tal como
descrita pelo filsofo e antroplogo, carecia de
consideraes maiores que abrangessem tambm o
poder poltico existente nas sociedades indgenas.
Nestas, ao contrrio do que comumente se antev
ao poder na Filosofia Poltica tradicional, a coero
e a hierarquizao das relaes sociais no so os
marcos distintivos do poltico, mas, sim, de sua
degenerao.
Logo, Clastres acaba por, inevitavelmente, colocar
suas concluses perante o leitor como um espelho,
ao empreender os esforos pela constituio de uma
antropologia poltica geral que, simultaneamente,
se afirma como uma contracorrente ao bojo
filosfico ento desenvolvido. Vemo-nos mais que
as prprias comunidades retratadas, pois, como
em toda cultura, somos levados a universalizar as
256
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Silva, T. M.
categorias de nosso pensamento e instituies. Mas,
neste exerccio, somos levados a conceber, tambm,
como nossa razo um produto to efmero como
as demais criaes culturais, embora seja o mais
violento dos modos.
Nega-se s sociedades indgenas a condio de
polticas e isto determina no to-s o respeito (ou
falta dele) sua organizao social, mas sua prpria
existncia, que passar a ser tutelada pelo Estado,
um benfeitor. Na infncia dos povos, precisando
desenvolver-se, todos os povos reunidos sob o signo
da diversidade so suprimidos sob o argumento de
sua condio inferior.
Por essa razo, a investigao clastriana do
poder poltico ecoa para alm das fronteiras da
cincia social de que parte. Exemplo disso (embora
no tenha sido o foco da etnologia clastriana) o
regime jurdico vigente no Brasil, e em outros
Estados sul-americanos, de carter assimilacionista
quanto s populaes indgenas: para o direito
indigenista, a condio de sujeitos de direitos dos
povos indgenas vista com reticncia, uma vez que
para sua plenitude exigir-se-ia o reconhecimento
de seu direito autodeterminao e diversidade.
Especificamente nos estudos clastrianos, no entanto,
possvel compreender como estas sociedades se
organizam contrariamente violncia nsita aos
Estados e razo que os condiciona: o poder poltico
no coercitivo, mas solidrio.
a desigualdade, contra a produo excedente; so
sociedades contra o Uno. O mesmo Uno, talvez,
questionado, outrora, por La Botie, como a
indecifrvel fonte de poder coercitivo a qual tantos
servos se submetem, seres inominados.
Referncias
BOTIE, tienne de la. Discurso de la servidumbre
voluntaria. Madrid: Trotta, 2008.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado:
pesquisas de antropologia poltica. So Paulo: Cosac
& Naify, 2003.
______. Arqueologia da violncia: pesquisas de
antropologia poltica. So Paulo: Cosac & Naify,
2004.
ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. Manifesto
comunista. So Paulo: Boitempo, 2007.
GIANNOTTI, Jos Arthur. Trabalho e reflexo:
ensaios para uma dialtica da sociabilidade. So
Paulo: Brasiliense, 1983.
HOBBES, Thomas. Leviat, ou, matria, forma e
poder de um estado eclesistico e civil. 2. ed. So
Paulo: Martins Fontes, 2008.
JECUP, Kak Wer. Ore Aw Roirua Ma: todas as
vezes que dizemos adeus. Campinas: Troim, 2002.
LVI-STRAUSS, Claude. Tristes trpicos. So
Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Colocando-nos em contato com o Outro,
questionamo-nos sobre as circunstncias que
definem nosso olhar e que, por conseqncia,
definem a alteridade. As sociedades com Estado
acabam por ser o ponto de chegada, se for dada a
vontade de transform-la. Alis, tanto a Filosofia
como a Antropologia possibilitam compreender
outras formas de ordenao de nossa realidade,
examinando-a criticamente e de modo a extirpar
hbitos e vcios do entendimento que, embora tidos
como universais, so contingentes e culturais.
As sociedades sem Estado so, na verdade,
sociedades contra o Estado; so sociedades contra
Recebido em: julho de 2010
Aceito em: outubro de 2010
257
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
A contracorrente: o pensamento de Clastres na Filosofia Poltica
258
Semina: Cincias Sociais e Humanas, Londrina, v. 31, n. 2, p. 241-258, jul./dez. 2010
Você também pode gostar
- Mensagem de de Despedida Do PCMVNDocumento3 páginasMensagem de de Despedida Do PCMVNErnesto da Lina Paulino MaculuveAinda não há avaliações
- Edição 794 On Line 14 09 12Documento24 páginasEdição 794 On Line 14 09 12Atos_e_FatosAinda não há avaliações
- Modulo 6 Comportamento OrganizacionalDocumento11 páginasModulo 6 Comportamento Organizacionalcameni sAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Karl MarxDocumento7 páginasArtigo Sobre Karl MarxPaulo AndradeAinda não há avaliações
- Resul - Recursos Convocaca 2 Etapa Anal Proj e Consultores-20230420-171157Documento3 páginasResul - Recursos Convocaca 2 Etapa Anal Proj e Consultores-20230420-171157Alysson Antonio Medeiros AlmeidaAinda não há avaliações
- Apostila Modulo4 AUXILIAR PDFDocumento39 páginasApostila Modulo4 AUXILIAR PDFEDVANDERSON DA SILVA CAMPOSAinda não há avaliações
- AditBG Nº 142 de 31 JUL 2023Documento14 páginasAditBG Nº 142 de 31 JUL 2023ferreira jailsonAinda não há avaliações
- Revista Da Escola Da Magistratura Do TRF Da 4 Região (2018)Documento289 páginasRevista Da Escola Da Magistratura Do TRF Da 4 Região (2018)Renato Rosinholi0% (1)
- Ementas Adm UfrrjDocumento14 páginasEmentas Adm UfrrjPedro BragaAinda não há avaliações
- 0101 2016 PPC Campus I Ccbs Psicologia AnexoDocumento145 páginas0101 2016 PPC Campus I Ccbs Psicologia AnexoAlfredo AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Relatório Banco Mundial O Estado Num Mundo em TransformaçãoDocumento286 páginasRelatório Banco Mundial O Estado Num Mundo em TransformaçãoLevifla0% (1)
- Regimento Interno Da Câmara Municipal de ContagemDocumento91 páginasRegimento Interno Da Câmara Municipal de ContagemLary SlvAinda não há avaliações
- Marreta 2014-2015Documento29 páginasMarreta 2014-2015joaoarthurfb100% (1)
- 313 - Cge SC Resultado Preliminar Prova Objetiva 2023 03 30Documento76 páginas313 - Cge SC Resultado Preliminar Prova Objetiva 2023 03 30Elivelton ElielAinda não há avaliações
- Fidalgo SinteseDocumento1 páginaFidalgo Sintesekatiuska_77100% (1)
- Fundamentos Da AdministraçãoDocumento49 páginasFundamentos Da AdministraçãoLeonardo SantosAinda não há avaliações
- Edital Pref Gov ValadaresDocumento147 páginasEdital Pref Gov ValadaresSylas TrovariusAinda não há avaliações
- A Muitas Maos (Livro Digital)Documento286 páginasA Muitas Maos (Livro Digital)Val Nascimento100% (1)
- LivroResumos EBDC 2022Documento234 páginasLivroResumos EBDC 2022Mayara de CarvalhoAinda não há avaliações
- 41 Renuncia Fiscal Digital PDFDocumento56 páginas41 Renuncia Fiscal Digital PDFCarolinaArtemanAinda não há avaliações
- Pceb003 11Documento3 páginasPceb003 11Glênio Martins de FreitasAinda não há avaliações
- Lei de Tortura PDFDocumento50 páginasLei de Tortura PDFAna Cleide Pires100% (1)
- Resumos Sociologia Do DesenvolvimentoDocumento5 páginasResumos Sociologia Do DesenvolvimentoBeatriz TaynáAinda não há avaliações
- 1 Contabilidade Mestre Dos ConcursosDocumento333 páginas1 Contabilidade Mestre Dos ConcursosRodrigo Petry GalloisAinda não há avaliações
- A Governamentalidade - FoucaultDocumento4 páginasA Governamentalidade - FoucaultBianca FasanoAinda não há avaliações
- NT 02 - Exigência Das Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico Nas Edf. e Áreas de RiscoDocumento35 páginasNT 02 - Exigência Das Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico Nas Edf. e Áreas de RiscoMaria FernandesAinda não há avaliações
- Alcidio Justino Machaieie Pós - Laboral 4º ANO: Universidade Católica de Moçambique Faculdade de DireitoDocumento19 páginasAlcidio Justino Machaieie Pós - Laboral 4º ANO: Universidade Católica de Moçambique Faculdade de DireitoJoel PaculeAinda não há avaliações
- Aula RevisaoDocumento28 páginasAula RevisaoboyloucaoAinda não há avaliações
- A Farsa Dos "Protocolos Dos Sábios de Sião"Documento8 páginasA Farsa Dos "Protocolos Dos Sábios de Sião"MarceloAinda não há avaliações
- Módulo - 1 - Fundamento e Atuação Da Ouvidoria PúblicaDocumento20 páginasMódulo - 1 - Fundamento e Atuação Da Ouvidoria PúblicaLuma AlvesAinda não há avaliações