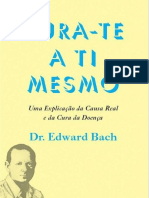Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
4832 15992 1 PB
4832 15992 1 PB
Enviado por
Kelly De Conti RodriguesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
4832 15992 1 PB
4832 15992 1 PB
Enviado por
Kelly De Conti RodriguesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
significados do discurso
EFEITO DE REAL E JORNALISMO: IMAGEM,
TCNICA E PROCESSOS DE SIGNIFICAO
Edson Fernando Dalmonte*
Resumo
Abstract
Discute o objetivo do jornalismo de apresentar o
real. Estabelece um dilogo com as tradies que
refletem sobre as estratgias empregadas na construo de textos para que eles possam se aproximar
do real, buscando representar/demonstrar o real.
Dentre os elementos que do subsdio ao efeito de
real so apontados a fotografia e vdeos que, no caso
do Webjornalismo, podem ancorar o fato no real, como
no caso dos vdeos enviados pelos internautas, que
funcionam como testemunha ocular.
It discusses the aim of the journalism to present the
real. It establishes a dialogue with traditions that
reflect about strategies to construct texts to put then
near to the real, trying to represent/show the real.
Among things that give base to produce the effect of
real are presented photography and videos that in
Webjournalism can anchor the fact on real, like videos
send by Internet users, that works as eyewitness.
Palavras-chave
Key
Jornalismo - Teorias da comunicao - Semitica
Journalism - Communication theory - Semiotic
A apresentao do real a condio necessria
artes como uma arte em si mesma. Essa
polarizao quanto aos usos da fotografia permite
que se pense acerca do hiato entre aquilo que se
chama realidade e suas representaes, ou
melhor, as possibilidades de representao do real2.
Para Floch (1986, p.16), quando a fotografia
assume um carter testemunhal, ela investida de
valores prticos, sendo vista como documento,
prova e lembrana; na perspectiva das artes,
investida de valores utpicos3, representando a
beleza e as buscas a ela associadas.
Aqui, na tentativa de lanar vrios olhares
sobre os processos de construo de efeito de
sentido de real e de como ele agregado ao discurso
jornalstico, duas tradies semiticas so
apresentadas. De um lado Floch, que toma a
vertente do pensamento greimasiano, advindo, por
sua vez, das contribuies de Saussure. A nfase
a est nos processos de significao e de leitura,
como proposto por Saussure pela dicotomia entre
lngua (fato social) e fala (ato individual) (DUBOIS,
1997, p.261).
Numa outra corrente esto os estudos a
partir da chamada trade sgnica ou os trs
modos de funcionamento do signo em relao ao
objeto ou referente. Estes, nomeados por Peirce
que justifica a existncia do jornalismo.
importante ressaltar que tem havido divergncia
quanto a essa capacidade, ora vista como
absoluta1, ora com parcimnia, uma vez que todo
relato constitui uma verso dos fatos. O uso da
fotografia, por exemplo, despontou como
importante ferramenta para a construo de efeitos
de sentido de real, o que conseguido pela
plasticidade fotogrfica e seu carter de
testemunho imagtico. interessante ressaltar,
ainda, que a fotografia pode ser vista como fazendo
parte de um duplo movimento: por um lado,
entendida como um regime de significao; de
outro, a fotografia tal como apropriada pelo
discurso jornalstico.
Numa perspectiva histrica, a fotografia
tem se apresentado como capaz de se aproximar
do real, pois concilia natureza e cultura, presena
e ausncia; capaz de marcar tanto a continuidade
quanto a descontinuidade. A fotografia tem a
capacidade de repetir aquilo que jamais ir se
reproduzir, fazendo o objeto desaparecer (FLOCH,
1986, p.14).
De maneira dicotmica, a fotografia pode
ser tanto vista como auxiliar das cincias e das
Porto Alegre
no 20
dezembro 2008
Words
Famecos/PUCRS
41
como cone, ndice e smbolo colaboram
sobremaneira para o entendimento das categorias
de representao do real. O ndice diz respeito a
um mecanismo de indicao, mantendo com o
elemento representado uma relao de
proximidade. Dessa forma, fumaa a
representao indicial do fogo; no h, portanto,
semelhana nem conveno com o representado
(DUBOIS, 1997, p.338). O smbolo representa
uma relao numa determinada cultura, resultando
de uma conveno, como a balana que simboliza
a justia (DUBOIS, 1997, p.549).
O relato jornalstico, quanto mais
tenta se aproximar do real, simula
este real, na medida em que capaz
de oferecer as provas do real
retratado.
Dentre as formas de representao, a que
mais parece se aproximar do real o cone, pois
estabelece uma relao com seu objeto, pautada
pela semelhana, ainda que no seja uma
reproduo ponto por ponto. J no h limite de
separao entre o signo e seu objeto, visto que,
em funo da semelhana, os limites so borrados
e eles se misturam. Como diz Santaella (2000,
p.115), num lapso de tempo, o sentimento
sentido como se fosse o prprio objeto.
nesse sentido que a iconicidade vista
como o resultado da produo de um efeito de
sentido do real. A iconicidade a representao
pretensamente direta do objeto em questo e que,
por esta passagem direta, sem uma mediao que
afasta o signo de sua representao, pode-se dizer
que ela seja a simulao do real. no interior de
uma cultura, no quadro de uma economia de
atitudes em relao a diferentes sistemas de
expresso e de significao, que pode se
compreender a iconicidade (FLOCH, 1986, p.28,
trad. nossa).
Para Floch (1986, p.31), nos caminhos
da semitica, interessa mais a iconizao, em
detrimento da iconicidade. A iconizao tem por
base os procedimentos de fazer parecer real,
tendo na relao enunciativa uma forma particular
de contrato fiducirio, fazendo que o enunciatrio
julgue ser a realidade o elemento enunciado.
42
Sesses do imaginrio
Cinema
Dessa feita, so vrios os efeitos de sentido
possveis: de realidade, de surrealidade, de
irrealidade, de hiper-realidade etc. Ao jornalismo,
torna-se basilar a busca de efeito de sentido de
realidade.
Num artigo seminal, intitulado O efeito
de real, Barthes (1984, p.131) discute a incluso
de elementos na narrativa que faam parecer ou
simular o real. Para ele, de maneira paradigmtica,
podem ser observadas duas obras: num texto de
Flaubert aparece um barmetro; numa descrio
histrica de Michelet, aparece uma delicada porta4.
Barthes chama a ateno para o fato de que, na
lgica de uma anlise estrutural, os referidos
elementos podem parecer estranhos, visto no
apresentarem uma relao direta com a seqncia
dos acontecimentos, podendo parecer at mesmo
suprfluos ou soltos.
Qual seria, ento, a funo dos elementos
apontados pelo autor em cada uma das narrativas?
Por meio da incluso de objetos aparentemente
estranhos, dissonantes, visto no serem da ordem
do previsvel, confere-se um tom de realismo aos
textos, ou maior realidade, no caso do texto
histrico. A representao direta do relato, ou o
real tal como acontecido, aparece como uma
resistncia ao sentido ou possibilidade de gerar
vrios sentidos, devendo indicar o vivido. Para
Barthes (1984, p.135),
como se, por uma excluso de direito, aquilo
que vive no pudesse significar e
reciprocamente. A resistncia do real [...]
estrutura muito limitada na narrativa
fictcia, construda, por definio, de acordo
com um modelo que, nas suas grandes
linhas, no conhece outras exigncias para
alm das do inteligvel; mas esse mesmo
real torna-se a referncia essencial da
narrativa histrica, que supostamente relata
aquilo que aconteceu realmente: que nos
importa ento a infuncionalidade de um
pormenor, a partir do momento em que ele
denote aquilo que aconteceu?
Dentre as posies ocupadas pela
fotografia, segundo Floch (1986, p.20-24),
destacam-se a referencial, a oblqua, a mtica e a
substancial. Para as reflexes ora propostas,
torna-se mais relevante situar a fotografia
referencial, por ser vista como resultado de uma
tcnica que busca dar fala ao mundo, oferecendo
ao leitor uma posio testemunhal. A fotografia
Cibercultura
Tecnologias da Imagem
entendida como mediadora entre o pblico e outras
realidades.
Para Barthes (1984, p.153), dentre os
elementos que podem autenticar o real de forma
objetiva est a fotografia, pois ela pode apresentar
um testemunho bruto, da mesma forma, a
reportagem5, a exposio de objetos antigos etc.
O que se afirma, por meio desses exemplos, em
ltima instncia, que o real se basta a si mesmo.
Os elementos enunciam a sua prpria histria,
sendo suficiente o ter-estado-ali das coisas.
O ter-estado ou a idia de ter-estado
tambm pode ser conseguido pela funo
referencial, que se refere mensagem centrada
no contexto (DUBOIS, 1997, p.513). A relao
direta com o real construda pela semiose pois,
como lembra Compagnon (2001, p.109), o
referente no um dado preexistente, mas um
produto dos processos de significao/da semiose.
Estamos perante aquilo a que se poderia
chamar a iluso referencial. A verdade desta
iluso a seguinte: suprimido da enunciao
realista a ttulo de significado de denotao;
com efeito, no preciso momento em que
estes pormenores parecem notar
directamente o real, eles no fazem mais,
sem o dizerem, do que signific-lo; o
barmetro de Flaubert, a portinha de
Michelet no dizem afinal de conta seno
isto: ns somos o real; a categoria do real
[...] que ento significada; em outras
palavras, a prpria carncia do significado,
em proveito exclusivo do referente, tornase o prprio significante do realismo:
produz-se um efeito de real, fundamento
desse verossmil inconfessado que forma a
esttica de todas as obras correntes da
modernidade (BARTHES, 1984, p.136,
grifo do autor).
A iluso referencial, ou a simulao de
ancoragem no real, possibilita envolver o fato
narrado numa aura de realidade, assegurada pelos
elementos que indicam a ligao entre aquilo que
relatado e sua configurao, na forma de
narrativa. Como resultado, tem-se a iluso de estar
diante do real ou a iluso da presena do objeto/
questo reportada.
No caminho das simulaes, o efeito de
real tambm pode ser estimulado pela iconizao,
visto ser esta a capacidade de representao direta
do signo. narrativa jornalstica compete a busca
de uma representao clara daquilo que
reportado, permitindo que o fato apresentado
esteja o mais prximo possvel do real. Por vezes,
a noo de realidade est intrinsecamente associada
ao universo miditico, em que, num
escalonamento da mdia quanto apresentao do
real, a televiso tem supremacia, por exemplo,
sobre o impresso, pela exibio de imagens. A
partir do senso comum, freqente se ouvir: sim,
verdade, eu vi na TV.
O relato jornalstico, quanto mais tenta se
aproximar do real, simula este real, na medida em
que capaz de oferecer as provas do real retratado.
Alm do testemunho de quem relata, a fotografia
permitiu avanos nesta seara. Da mesma forma, a
televiso, pela oferta de imagens, mostra o real
com maior detalhamento. Numa perspectiva de
convergncia miditica, tanto a iluso referencial
quanto a inconizao despontam como
caractersticas determinantes de novas narrativas.
SIMULAO DE CONTATO
SIMULAO DO ATUAL
Sobre o discurso jornalstico, quanto a sua
organizao no intuito de promover um efeito de
real, importante notar os vrios estratagemas,
Sobre esta relao, diz Compagnon
(2001, p.118):
A iluso referencial, dissimulando a
conveno e o arbitrrio, a ainda um
caso de naturalizao do signo. Pois o
referente no tem realidade, ele
produzido pela linguagem e no dado
antes da linguagem etc. [...] O signo se
apaga diante (ou atrs) do referente para
criar o efeito de real: a iluso da presena
do objeto.
Porto Alegre
no 20
dezembro 2008
Famecos/PUCRS
43
para que ele no apenas represente o real, mas
esteja ancorado de fato no real. Como exemplo, o
recurso das aspas, chamado citao direta, que
confere ao texto o sentido de discurso direto,
recurso usado para provocar efeito de sentido de
real, de reproduo da fala tal como se deu no
real. Se a referida fonte disse exatamente aquilo,
naquela ordem e naquele contexto, j no interessa,
nada mais importa, pois a iluso da realidade foi
conseguida (BARROS, 1990, p.59-60).
Outro recurso importante apontado pela
semitica de extrao greimasiana a ancoragem.
Trata-se de atar o discurso a pessoas, espaos e
datas que o receptor reconhece como reais ou
existentes, pelo procedimento semntico de
concretizar cada vez mais os atores, os espaos e
o tempo do discurso, preenchendo-os com traos
sensoriais que os iconizam, os fazem cpias da
realidade6 (BARROS, 1990, p.60). Por meio
desse recurso, o discurso no apresenta apenas
uma narrativa, mas oferece ao leitor elementos
essenciais para situar o lugar onde se desenvolve
a histria, a temporalidade e marcaes que
asseveram a existncia dos partcipes. O discurso
tem uma procedncia comprovada e esses
elementos passam a compor o cenrio do discurso.
Com o advento do Webjornalismo surge
o desafio de se pensar quais so os novos critrios
de noticiabilidade que, por um lado, passam a
marcar o modus operandi dessa esfera; por outro,
reconfiguram as concepes acerca do efeito de
sentido propostas pelas especificidades dessa
narrativa jornalstica. Tanto os dispositivos de
enunciao como os constrangimentos discursivos
operacionalizam uma nova discursividade, tendo
por referncia as expectativas quanto s
potencialidades da narrativa via Web. Dentre tais
desdobramentos, um novo valor-notcia est
associado ao tempo, mais precisamente noo
de tempo real.
Para Franciscato (2004, p.27), com base
em Meditsch (2001), pode-se falar em duas noes
de tempo real. Num primeiro momento, restrito
modalidade de produo e veiculao de programas
que, por vezes, simulam a idia de transmisso ao
vivo.
A outra noo de tempo real se situa na
dinmica de produo de contedos em
fluxo contnuo, particularmente no
movimento de alimentao constante de
notcias e sua fragmentao pela
programao diria (s vezes nas 24 horas
44
Sesses do imaginrio
Cinema
do dia), seja em rdio, televiso ou Internet.
Esta segunda perspectiva induz o leitor a
pensar que, se a disponibilizao contnua,
a produo contnua tambm, o que
significaria mais pessoas produzindo mais
contedos decorrentes de um envolvimento
direto com mais situaes, eventos ou temas
seqncia indutiva que tende a no se
comprovada na averiguao de experincias
prticas (FRANCISCATO, 2004, p.27-28).
O mais relevante, na perspectiva dos
efeitos de sentido, a expectativa quanto aos
elementos que podem ser empregados para conferir
a noo de realidade. O que importa, na verdade,
a criao de uma iluso do real, ou o efeito de
sentido produzido. Como lembra Franciscato
(2004, p.30), na verdade, o ao vivo no apenas
uma tecnologia de transmisso, mas igualmente
uma nova estratgia de sentido ou modo de
interao, em que evento, jornalista e pblico agem
em simultaneidade. Vale ressaltar, contudo, que
os interlocutores continuam em posies
assimtricas, mas a idia de partilha das estratgias
contribui para o estabelecimento de um outro efeito
de sentido, no qual a realidade montada em
parceria entre jornalista e pblico.
Essa nova forma de usar o tempo presente,
o atual, a atualidade, a atualizao, reflete o
emprego das tecnologias para a reorganizao de
um discurso. Tcnica similar pode ser observada
na organizao discursiva do jornalismo impresso,
como no caso dos ttulos, que usam os verbos no
tempo presente, mesmo em se tratando de
assuntos que ocorreram numa outra
temporalidade.
A noo de presente proposta pelo
jornalismo passa a ser operacionalizada pelo
sentido de instantaneidade, o que reflete o desejo
de ausncia de um lapso de tempo entre a
ocorrncia de um fato, sua coleta, transmisso e
recepo. Tem-se, da, que a velocidade e a
acelerao apresentam-se como variveis
temporais decorrentes de novas concepes
tcnicas, especialmente no jornalismo
(FRANCISCATO, 2005, p.114).
Pensar a organizao das novas mdias
pode resultar num exerccio de constante
adequao conceitual, para tentar abarcar uma
situao que no estanque, e que, ao movimentarse, requer ajustes para ser plenamente
compreendida. Na tentativa de definir o que uma
nova mdia, podemos optar pelo entendimento de
Cibercultura
Tecnologias da Imagem
uma mdia como artefato cultural, surgindo como
possibilidade imaginativa e de operacionalidade
tecnolgica (MANOVICH, 2005).
Seguindo essa perspectiva, uma nova
mdia aquela que abre novos caminhos estticos
e permite criar estratgias de produo, circulao
e recepo de sentido, mas que tambm pode
dialogar com as que a precederam. Essa
possibilidade de conjugao miditica o que tem
sido experimentado pela prtica de jornalismo na
Internet que, pelo processo de digitalizao da
informao, vem se descolando de prticas mais
compartimentalizadas, como a do impresso, do
rdio e da televiso, para ambientes em que h o
dilogo entre essas prticas.
A mdia se coloca numa posio de relatar
fatos e, por meio de artifcios, cria, junto ao leitor,
o sentimento de proximidade com a instncia de
produo, por meio daquilo que relatado e pela
forma como se estabelece o relato. As dimenses
tempo e espao (CHARAUDEAU, 1994, p.11)
colaboram decisivamente para lastrear o leitor e o
fato narrado, ancorado num quadro de
pertencimento ao real.
O processo de enunciao no esttico
na estrutura miditica, mas potencializado pelas
inovaes tecnolgicas, que disponibilizam outras
possibilidades a esse fazer. Numa ao em que se
observa a convergncia colaborativa entre
instncias miditicas, como o caso do jornal
impresso que remete ao portal7, o leitor pode
encontrar elementos paratextuais 8 que
complementam a notcia. Dessa forma, so
disponibilizados ao leitor o fato jornalstico e o
processo de feitura da notcia.
Porto Alegre
no 20
Cada
inovao
tecnolgica traz um discurso
segundo o qual possvel
representar a realidade de um
modo inovador9. Argumenta-se,
tradicionalmente, que as novas
representaes so radicalmente
diferentes daquelas possibilitadas
pelas antigas tecnologias; que as
atuais so superiores; que elas
permitem um acesso direto
realidade (MANOVICH, 2004,
trad. nossa). Dessa forma, toda
inovao tecnolgica na rea da
comunicao faz surgir um
discurso sobre a representao
social da realidade. Os pontos
principais dizem respeito
capacidade de inovar quanto a essa representao.
Uma nova tecnologia um avano a partir
do momento que se afasta de sua precedente no
quesito possibilidade de acesso a uma realidade,
como o caso da fotografia, que inova, desde
suas origens aos dias atuais 10, indo da
representao esttica da realidade, segundo a
etimologia (escrita por meio da luz), a uma realidade
que pode ser esquadrinhada com um detalhamento
cada vez maior. A fotografia digital pode nos levar
a pensar numa representao que conduz a um
embate entre o realismo e o ps-realismo, visto
que a digitalizao permite o tratamento da imagem
(ajustando cores, contrastes, ngulos etc.), o que
oscila entre o aprofundamento em uma realidade,
permitido pelo aprimoramento tecnolgico, e a
superao ou descolamento entre a realidade e sua
representao.
Em vez de conceber as modernas
tecnologias sob o ponto de vista de representao
da realidade, numa evoluo linear, Manovich
(2004) assegura que prefervel pensar nas
distintas possibilidades estticas de representao
do real. As inovaes tecnolgicas no apenas
conduzem a inovaes quanto a essas formas de
representao, mas tambm ativam determinados
impulsos estticos presentes j num passado
tecnolgico e que eram limitados pela capacidade
tcnica.
Para ilustrar as novas possibilidades de
representao do real, o autor compara dois modos
de produo cinematogrfica que se constituem
em dois tipos de representao esttica: um
centrado no filme como seqncia de efeitos
especiais, pressupondo um estgio de ps-
dezembro 2008
Famecos/PUCRS
45
produo; outro, centrado na autenticidade e
imediaticidade, em detrimento do uso de efeitos
especiais, o que possibilitado, por exemplo, pelo
uso de equipamentos DV (Vdeo Digital)11.
A arte e a mdia modernas operam
representando amostras da realidade, ou seja,
fragmentos da experincia humana. Sob a
perspectiva digital de registro e arquivo, a
capacidade de representao pode ser expandida,
em detrimento da mera reproduo desses
fragmentos. Para Manovich (2004, trad. nossa),
isso se refere granularidade do tempo,
granularidade da experincia humana, e tambm
quilo que pode ser chamado granularidade social
(isto , o indivduo representado em sua relao
com os outros).
Ao acessar a notcia, a idia de estar
diante do real pode ser fortalecida,
visto que h possibilidades no
apenas de ver e ler, mas de participar
do desdobramento e da apresentao
dos fatos.
Nesse sentido, o Webjornalismo, pelo uso
dos recursos da Web, permite um discurso que
se aproxima mais do real, visto que pode mostrar
pedaos de realidade, sem um corte temporal to
grande entre o acontecimento e sua divulgao,
bem como o uso de imagens, udio, vdeo de quem
testemunhou o ocorrido. Da mesma forma, o
ponto de vista, ou o depoimento de quem
presenciou o ocorrido, ou mesmo de quem quer
opinar, pode ser agregado quele discurso,
conferindo um maior sentido de realidade ao fato.
Se a novidade e o atual esto no cerne
dos critrios de noticiabilidade, no Webjornalismo
esses so os valores fundamentais, no que diz
respeito aos desejos operacionalizados pelas
inovaes tecnolgicas. A idia de notcia em fluxo
contnuo portadora de expectativas basilares para
a consolidao do efeito de sentido especfico
dessa modalidade discursiva na Web. O efeito de
sentido de real despertado pelo Webjornalismo,
por sua vez, atua decisivamente para que o leitor
entre no processo comunicacional, pois a mdia
vista como sendo capaz de coloc-lo em contato
46
Sesses do imaginrio
Cinema
com os fatos; mais do que um mero espectador,
ele acredita poder interagir com a realidade. A
mudana causada por essa noo de
temporalidade simultnea, criadora da expectativa
de situar o leitor no desenvolvimento de fato.
A questo da decorrente que a relao
do indivduo com a informao miditica,
disponibilizada num ambiente interativo como a
Internet, pode tomar um outro rumo. Ao acessar
a notcia, a idia de estar diante do real pode ser
fortalecida, visto que h possibilidades no apenas
de ver e ler, mas de participar do desdobramento
e da apresentao dos fatos. Embora o destinatrio
nem sempre esteja sobre a cena onde se desenrolam
os fatos, h vrios recursos que podem produzir
um simulacro de contato, assegurando o sentido
de real, fator decisivo para a adeso do indivduo
ao processo comunicacional. Como sugere
Barthes (2004, p.23), a literatura realista medida
que ela assume o real como objeto de desejo. Da
mesma forma, o discurso jornalstico assume tal
desejo e, no interior desse campo, as mudanas
so observadas apenas na maneira de representar/
demonstrar o real, em decorrncia das
possibilidades tecnolgicas.
NOTAS
* Doutor em comunicao e cultura Facom/UFBA; Coordenador do curso de Jornalismo da Faculdade Social,
professor de Teorias da Comunicao. Pesquisador do
Cepad Centro de Estudos e Pesquisa em Anlise do Discurso, Facom/UFBA. edsondalmonte@uol.com.br
1
Embora no se possa falar de maneira simplria desta
necessidade que o jornalismo tem de falar a partir do real,
algumas concepes reducionistas tentaram limitar a prxis
jornalstica ao que Traquina (2004, p.146-149) chama de
Teoria do espelho, numa aluso ao desejo de que o jornalismo apresente, por meio de seus relatos, apenas aquilo
que observado, sem a menor interferncia do reprter,
que deve anular totalmente a sua subjetividade, atingindo a
total imparcialidade.
2
Para Barthes (2004, p. 22), considerando-se a literatura, o
real no pode ser representvel; ele apenas demonstrvel.
3
Para Floch (1986, p.16), o espao no qual o heri realiza
sua performance nomeado pelos semioticistas como utpico.
4
Quando Flaubert, ao descrever a sala onde se encontrava
a Sr.a Aubain, a patroa de Felicite, nos diz que um velho
piano suportava, sob um barmetro, um monte piramidal
de madeira e de carto, quando Michelet, ao contar a morte de Charlotte Corday, e relatando que na priso, antes da
chegada do carrasco, ela recebeu a visita de um pintor que
fez o seu retrato, precisa que ao fim de hora e meia, bate-
Cibercultura
Tecnologias da Imagem
ram delicadamente a uma pequena porta por detrs dela
(BARTHES, 1984, p.131).
5
Que num sentido etimolgico significa aquilo que foi reportado, transportado, de um lugar a outro. Ou seja, uma
reportagem uma histria que foi transferida de um lugar a
outro. Podem ser observadas, na lngua francesa, as palavras reportage (reportagem) e reporter (reportar) (LE
ROBERT, 1993, p.1106-1107).
6
De maneira contrria, o mesmo ocorre com o discurso
fantstico ou com os contos de fada, que por meio de
recursos como era uma vez, ativam no destinatrio a
idia de que aquela uma narrativa na qual tudo possvel,
fantasiosa (ECO, 1994, p.15). O leitor em questo pode
ser tanto uma criana quanto um adulto que se deixe conduzir por uma histria certamente fantasiosa. Ao sinalizar
que uma histria fantasiosa est prestes a comear, o autor
seleciona seu pblico, que estar apto a caminhar pelos
caminhos propostos. Da que ningum questiona o nvel
imaginativo e fantasioso que certamente se far presente
em um enredo que se inicia referindo-se a um passado vago
e impreciso Era uma vez...
CHARAUDEAU, Patrick. Le contrat de communication
de linformation mdiatique. Le Franais dans le Monde.
numro spcial, Paris, Hachette/Edicef, p. 8 19, Juillet
1994.
COMPAGNON, Antoine. O demnio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
DUBOIS, Jean. Dicionrio de lingstica. So Paulo:
Cultrix, 1997.
ECO, Humberto. Seis passeios pelo bosque da fico.
So Paulo: Cia das letras, 1994.
FLOCH, Jean-Marie. Le changement de formule dun
quotidien approche dune double exigence: la modernit du
discours et la fidelit du lectorat. Les Mdias - Experiences,
Recherches Actuelles, Applications. Paris, IREP, p. 231247, juillet 1985.
FRANCISCATO, Carlos Eduardo. As novas configuraes do jornalismo no suporte on-line. Revista de
Economa Poltica de las Tecnologas de la Informacin
y Comunicacin, Vol. VI, n. 3, Sep. Dec. 2004. Disponvel em: <www.eptic.com.br>. Acesso em: 16/05/2005.
O conceito de paratexto (GENETTE,1987) engloba uma
srie de indicadores que colaboram para a aceitao de uma
obra. Esses elementos so os comentrios de outros autores, registro, editora etc.
9
O que Manovich (2005, p.37) define como tropos
ideolgicos.
_____. A fabricao do presente: como o jornalismo
reformulou a experincia do tempo nas sociedades ocidentais. So Cristvo: Editora UFS, 2005.
GENETTE, Grard. Seuils. Paris: ditions du Seuil, 1987.
LE ROBERT. Dictionnaire de la langue franaise. Paris:
[s.e.] 1993.
10
Santaella e Nth (1999, p.157-186) apontam trs
paradigmas que marcam o processo evolutivo da produo
de imagens: o paradigma pr-fotogrfico, representado pelas imagens elaboradas artesanalmente, como a pintura; o
paradigma fotogrfico, que a captao de elementos do
mundo visvel e o paradigma ps-fotogrfico, caracterizado por imagens sintticas ou infogrficas.
11
Tanto na dcada de 1960, quanto na de 1990, os cientistas usaram tecnologias recm-disponibilidadas (novas
filmadoras portteis, mais leves na dcada de 1960, e cmeras
DV [Vdeo Digital], na dcada de 1990) para promover um
estilo cinemtico mais imediato e direto. Na dcada de
1960, esse movimento foi chamado cinma vrit; na dcada de 1990 foi primeiramente associado aos filmes do Dogma
95 [...]. Na poca, como agora, a retrica dos cineastas era
de uma revolta contra as convenes do cinema tradicional,
consideradas muito artificiais. Em contraste, esses cineastas defendiam suas novas capacidades de capturar a realidade enquanto ela se revela e entrar nas aes (
MANOVICH, Lev. Novas mdias como tecnologia e idia:
dez definies. In: LEO, Lcia (Org.). O chip e o caleidoscpio: reflexes sobre as novas mdias. So Paulo: Editora Senac, 2005, p.23-50.
MANOVICH, Lev. From DV Realism to a Universal
Recording Machine. 2004. Disponvel em: <http://
www.manovich.net/DOCS/reality_media_final.doc>.
Acesso em: 27/03/2007.
SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos. Como as
linguagens significam as coisas. So Paulo: Pioneira, 2000.
SANTAELLA, L. e NTH, W. Imagem. Cognio,
semitica, mdias. So Paulo: Iluminuras, 1998.
TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo. Vol. 1:
Porque as notcias so como so. Florianpolis: Insular:
2004.
MANOVICH, 2005, p.38).
REFERNCIAS
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semitica do
texto. So Paulo: tica, 1990.
BARTHES, Roland. O efeito de real. In: ____. O rumor
da lngua. Lisboa: Edies 70, 1984, p.131-136.
___. Aula. 11. ed. So Paulo: Cultrix, 2004.
Porto Alegre
no 20
dezembro 2008
Famecos/PUCRS
47
Você também pode gostar
- Cura-Te A Ti Mesmo - Dr. Edward Bach CAPADocumento68 páginasCura-Te A Ti Mesmo - Dr. Edward Bach CAPAmatheus90% (10)
- GNERRE - Linguagem Escrita e Poder PDFDocumento53 páginasGNERRE - Linguagem Escrita e Poder PDFMário Lamenha100% (1)
- Liturgia Luterana Ordem Nº 2Documento21 páginasLiturgia Luterana Ordem Nº 2AndréiaSüssLang0% (1)
- FOUCAULT, Michel (Et Al.) - O Homem e o Discurso (A Arqueologia de Michel Foucault)Documento132 páginasFOUCAULT, Michel (Et Al.) - O Homem e o Discurso (A Arqueologia de Michel Foucault)Rodrigo Duarte100% (1)
- cp108473 PDFDocumento180 páginascp108473 PDFMarcos_DanielAinda não há avaliações
- Geografia Na Antiguidade, Idade Media, IdadeDocumento18 páginasGeografia Na Antiguidade, Idade Media, IdadeInacio Manuel Winny Nhatsave93% (15)
- Clássicos Do Direito Por Olavo de CarvalhoDocumento1 páginaClássicos Do Direito Por Olavo de CarvalhoLeonardo CalheirosAinda não há avaliações
- HARRISON - A Cultura ImportaDocumento10 páginasHARRISON - A Cultura ImportaMário Lamenha50% (2)
- Modulo 3 - o Legado Da Civilização Egipcia Perankinstituto 2022 10 11Documento9 páginasModulo 3 - o Legado Da Civilização Egipcia Perankinstituto 2022 10 11João da SilvaAinda não há avaliações
- Festa - Uma Transgressão Que Revela e RenovaDocumento5 páginasFesta - Uma Transgressão Que Revela e RenovaFabiana SeixasAinda não há avaliações
- Semana 1 - Criminologia Cultural - Salo de CarvalhoDocumento36 páginasSemana 1 - Criminologia Cultural - Salo de CarvalhoLucas AlvesAinda não há avaliações
- Cardápio Semanal - FuncionáriosDocumento1 páginaCardápio Semanal - FuncionáriosMário LamenhaAinda não há avaliações
- Rev 07Documento13 páginasRev 07Mário LamenhaAinda não há avaliações
- PIEDADE, Ana Nascimento - Contornos Da Preocupação Por Portugal No Ensaísmo de Eduardo Lourenço PDFDocumento10 páginasPIEDADE, Ana Nascimento - Contornos Da Preocupação Por Portugal No Ensaísmo de Eduardo Lourenço PDFGiuliano Lellis Ito Santos100% (1)
- Apostila - Atitudes Vencedoras - CIEAMDocumento7 páginasApostila - Atitudes Vencedoras - CIEAMMonica SantosAinda não há avaliações
- Teste de FilosofiaDocumento3 páginasTeste de FilosofiaJulia NunesAinda não há avaliações
- FiguraDocumento5 páginasFiguraEdson AvlisAinda não há avaliações
- Resenha Livro Leviatã de Thomas HobbesDocumento2 páginasResenha Livro Leviatã de Thomas HobbesJaque BayAinda não há avaliações
- Pratica Na Formação Atividade MapaDocumento4 páginasPratica Na Formação Atividade MapaHelena SchmitzAinda não há avaliações
- Ossip Brik - Ritmo e SintaxeDocumento5 páginasOssip Brik - Ritmo e SintaxeItamar Canuto FontanaAinda não há avaliações
- ARON, Raymond. As Etapas Do Pensamento Sociológico PDFDocumento22 páginasARON, Raymond. As Etapas Do Pensamento Sociológico PDFRegiane Silva Cordovil CordovilAinda não há avaliações
- CONTRATUALISMODocumento6 páginasCONTRATUALISMOKelly Gontijo GiovanucciAinda não há avaliações
- Aula 12 Teorias 07102020Documento65 páginasAula 12 Teorias 07102020César LimaAinda não há avaliações
- Alves Redol GaibeusDocumento217 páginasAlves Redol GaibeussamuelrezendeAinda não há avaliações
- Um Estudo A Respeito Da Carta de HeideggerDocumento44 páginasUm Estudo A Respeito Da Carta de Heideggerolfigueira9795Ainda não há avaliações
- Lição 2 A Luta Contra A Inversão de ValoresDocumento4 páginasLição 2 A Luta Contra A Inversão de Valoreselon torres almeidaAinda não há avaliações
- O Interacionismo Simbólico Raizes Críticas e PerspectivasDocumento25 páginasO Interacionismo Simbólico Raizes Críticas e PerspectivashjcaldasAinda não há avaliações
- Aula 4 Metafísica de AristótelesDocumento9 páginasAula 4 Metafísica de AristótelesAndré LinoAinda não há avaliações
- MeiaidadeDocumento14 páginasMeiaidadeCarla Germano CostaAinda não há avaliações
- Filosofia Do Direito em MocambiqueDocumento9 páginasFilosofia Do Direito em Mocambiquealimentacao21Ainda não há avaliações
- 1 1 2 Resenha Do LivroDocumento7 páginas1 1 2 Resenha Do LivroFrancine OliveiraAinda não há avaliações
- Aristóteles e o Justo MeioDocumento1 páginaAristóteles e o Justo Meioamanda_mongeAinda não há avaliações
- Voz Acadêmica - 2006-05 - LII-IIDocumento12 páginasVoz Acadêmica - 2006-05 - LII-IIJeferson Mariano SilvaAinda não há avaliações
- Texto Ontologia e Inconclusão Na Educação AmbientalDocumento18 páginasTexto Ontologia e Inconclusão Na Educação Ambientalmenipo7Ainda não há avaliações