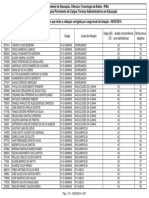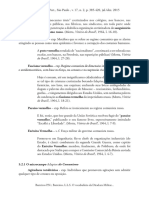Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CadCRH 2007 345
CadCRH 2007 345
Enviado por
Orlando HöfkeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CadCRH 2007 345
CadCRH 2007 345
Enviado por
Orlando HöfkeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
Em torno noo
de indivduo no
Homo
Hierarquicus de
Louis Dumont
Pedro Agostinho*
No pensamento antropolgico de
Louis Dumont central a oposio entre sociedades que define
como holstico-hierrquicas e
individualstico-igualitrias,
quando consideradas em seu nvel ideolgico. Como exemplos
extremos aponta a sociedade
hindu, que ele mesmo descreve, e
a norte-americana, que Alexis de
Toqueville descreveu. Nesse contexto, a noo de indivduo fundamental. Discute-se aqui, formalizando-a, a questo do indivduo e sua emergncia na ndia e
no Ocidente de influncia
iluminista.
*Professor Adjunto do Departamento de
Antropologia da Universidade Federal da
Bahia
Centrada na obra maior de Louis
Dumont, a discusso que aqui pretendo no se quer necessariamente
crtica, ou ser, no mximo, apenas
parcialmente crtica, porque se
constitui, antes de tudo, em tentativa de traduzir para mim mesmo
uma das noes cruciais de sua
reflexo: a de indivduo. No s
o fato de a considerar crucial que a
isso me leva, no entanto; de maior
peso foi, sem dvida, ter sido essa
a questo que mais problemas levantou no seminrio que, sobre
Dumont, Lus Tarlei de Arago
conduziu no Museu Nacional1.
Exatamente por isso parece reclamar que sobre ela se volte; ao fazlo, porm, no acompanharei sempre, de perto e na ntegra, o que diz
aquele autor, ficando obrigado to
s a cingir-me quilo que achar
essencial, e simultaneamente desobrigado de manter a argumentao nos mesmos termos e limites
em que ele a desenvolve. E isto
pelas exigncias do gnero de traduo que agora tento. Ao mesmo
tempo, e apesar de as exposies e
o debate em seminrio terem sido
importantes para iluminar a leitura
de Dumont, por um deliberado esforo procurei abstrair-me deles
para pensar, o mais possvel, a
partir de seus prprios escritos. Da
que na lista bibliogrfica s estes
figurem, e que, tomando-os como
base de uma reflexo que por fora
ser breve e provisria, me exima
de constantes citaes e referncias bibliogrficas.
Atendo-me ao nvel do ideolgico,
no qual se move Dumont sem que
semelhante mover-se implique em
1 Rio de Janeiro, segundo semestre de 1979.
Esta artigo uma verso reformulada e
restringida, do texto que nessa altura escrevi.
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
negar o emprico - retomar seu
caminho da ndia ao Ocidente afigura-se como a melhor via para, da
compreenso do que seja ali o indivduo ("renunciante"), chegar do
que ele seria no Ocidente moderno.
Para tanto tomarei, como instrumentos principais, por um lado o
esboo de teoria dos sistemas que
adota na Introduction a deux
theories d'anthropologie sociale,
e, por outro, o posfcio edio Tel
do Homo Hierarchicus, "Vers
une thorie de l'hierarquie". Quer
isto dizer que estarei, no quadro
deste artigo, raciocinando em termos estruturais (stricto sensu) e
sistmicos tais como ele os define;
mas no que acarrete, de modo
imediato e completo, a aceitao
de suas idias, que se ocorrer ocorrer no futuro e como resultado de
uma reflexo referida ao plano do
observvel. Quer tambm dizer
que, se algo o pode tipificar, o que
aqui fao se resume a uma busca
de compreenso do outro no
caso Dumont.
Ele, o autor, reconhece como comum a qualquer sociedade o agente social emprico, ou, noutras palavras que no so as suas, o organismo
humano
socializado,
enculturado
e
culturalizado
observvel tanto por aqueles que
com ele participam da condio de
membros da sociedade, quanto
pelos que a ela forem estranhos.
esse agente emprico que, ao ser
retomado como objeto de pensamento pela ideologia, passa a se
ver representado de modos que
podem divergir radicalmente, conforme a sociedade seja vista sob
uma perspectiva atomizante ou,
pelo contrrio, totalizadora. De tais
perspectivas seriam instncias extremas o individualismo do Ocidente moderno, e seu oposto, o
holismo que Dumont encontra na
ndia tradicional com o
concomitante e respectivo reconhecimento do igualitarismo e da
hierarquia como princpios fundamentais da organizao da sociedade. Creio que esse agente
emprico me poder servir, aqui,
de ponte entre uma e outra perspectiva, de modo a numa e noutra
situar o indivduo, entendido este
no sentido que lhe d Dumont.
Com desculpvel exagero, seria
possvel dizer que na ideologia do
sistema de castas hindu (jati) o
futuro agente j social antes de
ser socializado, na medida em que,
ao nascer, o organismo que surge
na populao tem j uma posio
aprioristicamente dada no sistema,
que ao seu aspecto biolgico acrescenta outro de ordem cultural. Essa
posio, qual s lhe dado escapar pela morte (?), pela expulso
definitiva de sua casta, ou pela
renncia, define-se no por qualquer qualidade substancial que lhe
seja intrnseca, mas sim por suas
relaes, isto , pela totalidade de
oposies distintivas entre ele e os
demais elementos dos conjuntos
que compem o sistema, em seus
vrios nveis. Partindo do mais elevado e abrangente, que o do
sistema no seu todo, ficam no nvel
imediatamente inferior as castas,
as quais, se so subsistemas porquanto internamente estruturadas,
so tambm elemento componente
do conjunto maior. Por sua vez,
opondo-se entre si tal como as castas se opem umas s outras, as
subcastas apresentam-se como elementos do subsistema que a casta, e ainda como subsistemas compostos por elementos. Estes elementos, mnimos, so os status
ocupados pelos agentes (pessoas)
de que atrs falei, membros da
subcasta, que tm seus status definidos por aquela totalidade de opo-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
sies distintivas. Elas, no entanto,
s se do, diretamente, entre os
ocupantes de status diversos no
interior de uma subcasta qualquer:
deste nvel para cima, as oposies
distintivas so mediadas pelos
subsistemas
de
nvel
gradativamente superior reconhecidos no sistema global, ou seja,
pelas subcastas e castas.
Se o status atribudo ao agente
uando nasce lhe advm da socieade de castas, sua permanncia
nele depende no s dela como de
sua ao pessoal, na medida em
que as pertinentes oposies distintivas so a feitas em termos de
valor, e em que todas elas podem
ser reduzidas oposio fundamental entre o puro e o impuro: e
tambm na medida em que o grau
de pureza est sujeito a ser diminudo ou anulado por circunstncias
ou fatores de poluio, que constante e obrigatoriamente no quotidiano se fazem presentes. Assim, e
do ponto de vista de cada agente
particular imerso no sistema,
como se seu status dependesse da
manuteno de uma pureza mdia", que atos de purificao podem restaurar aps o fato poluidor,
ou, o que me parece mais interessante, garantir antes mesmo de que
ele ocorra. o que por exemplo se
d se no estiver errada a interpretao com o purificar-se do
Brahman antes da refeio, "aumentando-lhe" a pureza na previso de que ela se veja diminuda
pela introduo de alimento no
corpo: esse "aumento preventivo"
teria por resultado reconduzir o
agente, aps comer, ao estado ritual de "pureza mdia" compatvel
com seu status atribudo. Ao impedir uma perda de pureza, impede
uma simultnea e proporcional
queda de status; e isto , no sistema, o que realmente importa.
Por outro lado, o exato cumprimento de todas as prescries e
evitaes permite ocupar, a maior
parte do tempo, a posio mais
elevada que por nascimento seja
atribuda. Teoricamente, e sob tais
condies, cada agente parece no
poder estar, nunca, num grau de
pureza com exata equivalncia ao
de qualquer dos outros, em relao
aos quais a dele varia quase que a
todo instante; varia, o que mais,
em relao a si mesmo, se da considerao sincrnica passarmos
diacronia de seu viver quotidiano.
Sendo assim, uma igualdade dos
agentes e dos status seria, momento a momento, conceitualmente
quase impossvel no sistema de
castas. Por sua parte, as castas e
subcastas tambm se opem em
termos de pureza relativa, em grande parte derivada do lugar que ocupam na diviso scio-ritual do trabalho, mas no apenas disso. Uma
infinidade de indicadores pode ser
usada para estabelecer as oposies distintivas pertinentes no classificar dos vrios elementos que
ocupam os sucessivos nveis do
sistema, mas tais indicadores apontaro sempre uma pureza maior ou
menor e so, em ltima anlise,
atualizadores da oposio bsica e
prevalente entre o puro e o impuro.
Se essa oposio for agora representada por um conceito central,
pureza (P), qualificado por um sinal positivo ou negativo, em que P+
= puro e P- = impuro, emerge que
a oposio distintiva {P+: P-},
sendo tambm valorativa, no s
distingue como hierarquiza entre
eles os elementos dos diferentes
nveis do sistema. E esses
elementos, no preciso diz-lo,
opem-se e hierarquizam-se,
enquanto tal, em relao ao
sistema total que em si os tem
englobados. Retornando aos
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
elementos e sua oposio, mediada pelos nveis aqui reconhecidos
no sistema de castas, tentarei um
esboo de formalizao capaz de o
expressar a partir da perspectiva de
um agente que o veja a partir de
dentro, e, simultaneamente, da perspectiva de um observador que lhe
seja externo. Ao faz-lo, por um
artifcio de mtodo ignorarei a
multiplicidade emprica do
incontvel e variante nmero de
castas, e buscarei captar o conjunto
mnimo de relaes elementares e
necessrias que presidem
estruturao do sistema.
Para formalizar, usarei uma notao simples, em que H indica o
sistema holstico de castas; S o
status ou posio do agente no sistema, qualificado
pela posposio
dos sinais ++ou - significando,
como
atrs em P e P -, os dois diferentes
e possveis graus de pureza relativa
numa oposio distintiva e
hierarquizante, isto , entre um status definido por maior pureza e
outro por pureza menor. Esses sinais qualificam da mesma maneira
os nveis superiores do sistema,
quando escritos imediatamente
aps os que sinalizam os limites de
tais nveis, parnteses para a
subcasta e colchetes para casta.
Dois pontos significam oposio
distintiva, e as chaves demarcam o
"mundo das castas". Na primeira
frmula apresentada, o sublinhado
aponta progressivamente o status
pessoal, a subcasta e a casta do que
chamarei "agente social de referncia" e julguei necessrio isolar.
E nas outra frmulas, o mesmo
sublinhado indica o elemento E ao
ser tomado como referncia na discusso. Guardando coerncia com
o nosso sistema de escrita, nas frmulas a hierarquia decresce da esquerda para a direita. A existncia
de status pessoal, subcasta e casta
de um "agente de referncia" exige
introduzir-se um valor
"neutro",
expresso pelo sinal +, a partir do
qual se distinga o que est abaixo e
acima dele em pureza e correlativo
status. Por fim, a argumentao
levar a considerar uma instncia
em que a oposio distintiva no se
dar em termos de pureza superior
ou inferior, mas sim em funo da
presena ou ausncia de pureza
como critrio +de classificao
social. Assim, P e -P apontaro,
respetivamente, essa presena ou
ausncia no mais alto dos nveis
daquilo a que adiante chamarei
"sistema hindu"; e os sinais < e >
demarcaro os limites deste ltimo. Resumindo:
H = sistema holstico de castas
("mundo das castas").
SH = "sistema hindu" englobante.
P = pureza relativa, critrio
classificatrio.
P+ = pureza superior (relativamente puro).
P- = pureza inferior (relativamente
impuro).
+
P = presena/aplicao do critrio de pureza.
-
P = ausncia/no-aplicao do
critrio de pureza.
S = status.
= status do agente de referncia.
E = elemento, em qualquer nvel
do sistema.
E = elemento de referncia, em
qualquer nvel do sistema.
S+ = status de pureza superior
(=puro).
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
S- = status de pureza inferior
(=impuro).
E+ = elemento de pureza superior,
em qualquer nvel do sistema.
E- = elemento de pureza inferior,
em qualquer nvel do sistema.
* = valor de pureza neutro, relativamente (p. ex. E#, S#).
# = oposio distintiva entre
quaisquer elementos E do sistema.
+ = englobamento de dois elementos E de qualquer nvel do
sistema, para se oporem a um terceiro.
( ) = limites de subcasta.
( ) = limites de subcasta, do
"agente de referncia".
[ ] = limites de casta.
[ ] = limites de casta, do "agente
de referncia".
{ } = limites do sistema de castas
("mundo das castas").
// = limites do conjunto dos "renunciantes".
<> = limites do "sistema
hindu".
+
= posposto ao demarcador final
dos limites de qualquer nvel do
sistema: pureza superior desse nvel.
- = posposto ao demarcador final
dos limites de qualquer nvel do
sistema: pureza inferior desse nvel.
Uma primeira aproximao permite chegar ao resultado expresso
na frmula que adiante segue. Nela
e a partir dos elementos marcados
como "neutros", v-se como se
constrem as oposies que garantem aposio hierrquica do agente de referncia", e como elas se
fazem de forma direta ou indireta
neste ltimo caso, sempre mediadas pelos subsistemas do sistema
total do "mundo das castas":
(VIDE PGINA SEGUINTE, FIGURA)
essa, parece-me, a frmula geral
dedutvel de toda a exposio de
Dumont (v. esp. 1972:95), ficando
nela patente a necessidade, para
que chama a ateno, de, ao menos, empregar dois indicadores de
pureza relativa na classificao de
qualquer elemento E do sistema
que se tome como referncia. Este
ser, por isso, E#, sendo
E- em
relao ao elemento E+ que lhe
fique acima de acordo+ com determinado indicador, e E em relao
a um E- que lhe esteja abaixo conforme o segundo indicador usado.
Alm disso, o uso de dois indicadores e de duas posies sucessivas
faz com que, sendo E# o elemento
de referncia,+ em um
primeiro
+
momento {[E
+ E-]
: E} , e no
+
+
seguinte {E : [E + E-]-}. Isso
implica na complementaridade de
todos os elementos do sistema, que
s se definem e existem na oposio (hierarquizante) a seus contrrios, e em que o conjunto das oposies que define os limites do
sistema. Como deste, no entanto,
que deriva cada um dos elementos
posicionais, e como estes so preenchidos por agente ou agentes
sociais que o so na qualidade de
pessoas cujo status e, essencialmente, atribudo, no interior do
sistema de castas hindu o indivduo
(stricto sensu) no ideologicamente possvel, s o sendo em seu
exterior: e a que ele emerge, na
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
H={[(S :S-) :(S :S-)] :[(S :S-) :(S :S :S-) :(S :S-)-] :[(S :S-) :(S :S)-]-}
qualidade do renunciante religioso
que se situa para alm da oposio
puro : impuro.
At entrar em linha de conta a
questo do indivduo renunciante,
o sistema de castas, se complicado, da perspectiva de Dumont no
difcil de entender. O problema
surge exatamente neste ponto.
Ao indivduo o autor se refere ora
como "fora do sistema de castas",
ora como "fora do mundo", ora
como "fora da sociedade"
sendo este "fora da sociedade" que
se me afigura problemtico.
fcil admitir que estar "fora do
sistema de castas" seja estar "fora
do mundo", pois a delimitao
ideolgica daquele sistema cria,
por si mesma, a representao de
um "mundo" socialmente dado,
isto , de uma ordem regida pela
oposio puro.: impuro. O que a
esta
fuja
estar,
portanto,
inapelavelmente
fora
des-se
"mundo", que , no caso, um
"mundo" hindu por essa sociedade
e religio criado. Isto exclui, de
pronto, no s o renunciante mas as
outras religies historicamente
tardias na ndia , como a dos
maometanos e a dos cristos com
suas diversas denominaes, e pelo
menos a de uma seita (Lingayat)
que no obedece, ao organizar-se
socialmente, quela oposio.
Mas se essas manifestaes religiosas tardias, e o renunciante tambm, se acham foraque Dumont
me permita a parfrasedo "mundo do sistema de castas hindu"
(embora s vezes seja ntida a influncia que dele sofreram), custame aceitar que estejam "fora da
sociedade" hindu. Aceitando-o fi-
caria, na qualidade de observador,
obrigado a reconhecer na ndia uma
imensa coleo de "sociedades"
justapostas, quando o que ali percebo uma grande sociedade diversificada onde o sistema hindu
apenas um dos subsistemas que
nela coexistem. Mais antigo sem
dvida, mas sincronicamente de
estatuto muito prximo s no
o tendo igual por ser o dominante
ao dos outros subsistemas.
Assim, estaria tentado, para meu
uso enquanto observador, a
estabelecer separao entre o
conceito de um "mundo hindu" e o
de uma "sociedade indiana". Com
isto, lidar com o renunciante parece
tornar-se mais simples, pois, se lhe
possvel renunciar ao "mundo
hindu", no vejo modo pelo qual o
possa fazer
quanto "sociedade
indiana"2
:
ideologicamente
porque esta lhe reserva um locus
conceituai, ignoro se de forma
explcita
ou
implcita;
e
empiricamente porque nela
2. Poderia imaginar-se a hipottica exceo
de um renunciante que ao renunciar emigrasse, excluindo-se, tanto ideologicamente
do "mundo das castas", quanto
empiricamente da sociedade e da populao
indianas. Mas, ainda que o fizesse, ao sair
das trs e por seu prprio ato de renncia,
estaria passando a uma posio possvel e
admitida na ideologia do "mundo das castas" e de seu complemento, o renunciante.
Sendo, portanto, pela mesma sempre ideologicamente atingido, em sua implcita qualidade de "indiano". A isto voltarei, quando
tratar da distino entre o "mundo das castas" e o que designarei de "sistema hindu".
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
existe e subsiste, e s nela pode
existir e subsistir no estado3 de
quem renuncia ao "mundo das castas".
posio que ela permite adquirir
(adquirir, note-se), includa como
uma das alternativas em sua cultura.
Renunciante o considerarei agora,
nica e exclusivamente, em relao a esse "mundo", prosseguindo
o raciocnio, se puder, at s conseqncias ltimas da abordagem
estrutural e sistmica desde o princpio adotada. As limitaes de
meu conhecimento etnogrfico da
ndia e a evidente falta de um contato de campo, fazem com que
muito do que se segue seja consciente especulao e conjetura.
Sendo assim, nova oposio distintiva haveria, ento, desta vez entre
o fora e o dentro, oupara manter
a simetria com os citados critrio e
princpio organizador, entre um
campo social onde pureza critrio relevante de classificao, e um
outro em que ela no o . Denotando agora, com os sinais + ou- precedendo o P significante de pureza,
sua relevncia ou irrelevncia, sua
presena ou ausncia como critrio para assignar posies sociais,
a oposio entre o indivduo renunciante e o "mundo das castas"
em
seu todo
expressar-se-ia +P : -P ,
+
sendo P o campo correspondente
ao sistema de castas, e -P o campo
ocupado pelo renunciante. Noutras palavras, mais adequadas
ao
pensamento de Dumont, +P e -P
definem sub-conjuntos de um conjunto
dentro
do
qual
contrastivamente se opem. Unindo esse princpio ao princpio de
hierarquia do sistema de castas, e
antepondo este sistema ao renunciante que dele e nele se origina,
obter-se-ia para a operao combinada de ambos a expresso {+P=P+ :
P-} : -P. Lembrando que em frmula anterior as chaves indicaram
o limite do "mundo do sistema de
castas", l-se, ento, que "no subconjunto onde o critrio de pureza
relevante, o princpio organizador
a oposio puro : impuro: e no
conjunto que o contm, o princpio
organizador seria a oposio presena do critrio de pureza: ausncia do critrio de pureza".
A essa especulao, apresenta-se
como primeiro dado que, para
Dumont, a oposio
do puro e do
impuro. P+: P-, , diria eu, a prpria
atualizao do princpio da hierarquia; no se submetendo a ela o
renunciante, est de imediato fora
de qualquer possvel posio no
interior do "mundo das castas", e
escapa, claro, da hierarquia que
nesse interior vigora. Sem me referir ao emprico, e continuando no
plano do ideolgico, se algum se
furta ao status atribudo pela sociedade e transita para o estado liminar
de renunciante. s o faz porque
esse estado , tambm ele, previsto
pelo sistema de castas como uma
posio que lhe externa. Para um
agente socializado no "mundo das
castas", renunciar s factvel por
estar a renncia, tanto quanto a
3. Emprego "estado" no sentido que lhe d
Victor Turner: " um conceito mais amplo
do que "status" ou "funo", e refere-se a
qualquer tipo de condio estvel ou recorrente, culturalmente reconhecida." (O processo ritual. Rio de Janeiro: Ed. Vozes Ltda.,
1974: 116).
A esta altura, parece impor-se a
idia de que a ideologia hindu no
se detm no sistema de castas, e de
que a figura do renunciante pressu-
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
pe um sistema mais abrangente
onde a oposio distintiva relevante obedece ao segundo dos princpios indicados, tendo como elementos posicionais o "mundo das
castas" e seu oposto, o renunciante. Ou, para ser mais preciso, o
campo em que todos os renunciantes possveis se inserem, formando
conjunto distinto. O "mundo das
castas" seria pois um subsistema
do todo maior, um "mundo" que se
define como tal e fora do qual est
o renunciante, sem que este deixe
por isso de ser parte do sistema
total e abrangente. Se ao primeiro
chamei "mundo das castas", ao
segundo, para o distinguir e qualificar, chamaria simplesmente "sistema hindu", situando-se, cada um
dos dois, em nveis diferentes e
especficos. Estando isso correto,
obrigatrio ser reescrever a frmula da oposio entre esses dois
termos, para introduzir nela a demarcao dos limites do conjunto
total que os contm e engloba, ou
seja, dos+ limites do "sistema hindu":
SH = <{ P = F+:P-}: P>.
No sendo essa embora a conscincia que de seu sistema tm o renunciante e o agente integrado no
"mundo das castas", a um observador, disposto a acompanhar at ao
fim as idias de Dumont, caberia
perguntar se o que foi dito acima
no obriga a reconhecer, no que
denominei "sistema hindu", tambm um todo (holstico) e sua inerente hierarquia. Esta, pelo menos,
na "relation englobant-englob ou
relation entre l'ensemble et
l'lement (....) indispensable a une
pense structurale au mme titre
que l'opposition distinctive ou
relation de complementarit"
(Dumont 1966b: 401) que aquele
reconhecimento fatalmente acarreta. Nova pergunta surge ento,
sobre se haveria hierarquizao
entre indivduo-renunciante e
"mundo das castas"", em termos
de valor.
Intervm aqui, mais uma vez, minha escassa familiaridade com a
etnografia indiana; mas certos fatos inclinar-me-iam para uma resposta afirmativa. A reverncia das
seitas hindus, que atuam no "mundo", pela autoridade de seus gurus
que esto fora dele, seria um indcio; outro, a difuso do
vegetarianismo, ou, de modo mais
geral, de ahimsa. no seio de um
processo de emulao religiosa em
que o Brahman adota tal dieta para
no se tornar inferior ao renunciante. Sendo o vegetarianismo das dietas a mais pura, fico diante de uma
sria suspeita: a de que, mesmo
pondo-se quem renuncia para alm
do puro e do impuro, na distino
entre ele e o "mundo das castas"
continue operante o princpio de
oposio puro : impuro... Quando
mais no seja, do ponto de vista dos
agentes que no saram do "mundo". Quereria isto dizer que, pelo
menos em um primeiro momento
histrico, o valor do renunciante
seria superior ao do Brahman e por
isso ao do "mundo das castas"; e
que, portanto, no "sistema hindu"
os dois elementos estariam
hierarquizados. Paradoxalmente,
renunciar a pautar-se pelo critrio
de pureza traria pureza maior;
noutras palavras, -P acarretaria P+.4
4 Levar tal raciocnio a seu extremo lgico
seria, talvez, surpreendente, desde que provisoriamente se admita que ele esteja certo.
Isto obrigaria a reescrever de novo a ltima
frmula proposta. Nela, SH continuaria a
indicar o "sistema hindu" englobante a que
pertencem, como subsistemas, o conjunto
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
No obstante a argumentao dos
dois pargrafos anteriores, resta o
dado etnogrfico de que na conscincia e na ao os que no renunciaram se orientam para o todo e
por ele holisticamente se pautam;
enquanto o renunciante se orienta
para si e para a supresso de qualquer desejo capaz de o desviar do
caminho da salvao. O social para
ele no importa; o que importa
exatamente o seu contrrio, e isso
o transforma em indivduo: sendo
fundamental que este se define pela
oposio distintiva ao "mundo" que
lgica e temporalmente o antecede
na ideologia do sistema de castas.
E que, individualizando-se por um
ato de vontade que rejeita o social
(tal como este e ideologicamente
representado), se caracteriza como
um "indivduo endgeno" pois
aquele seu ato volitivo o leva, do
social que lhe atribui uma posio,
a um no-social onde a posio s
pode ser voluntariamente adquirida. Se, para a ndia hindu, a caracterizao do indivduo como
"endgeno" for vlida, talvez ento sirva para o contrastar com seu
congnere do Ocidente europeu.
Da maneira como Dumont o descobre na ideologia ocidental, o
agente social representado como
indivduo que em si se contm e
contm em si a essncia do humano. O organismo independente no
precisaria a de socializao para
humanizar-se: sua humanidade lhe
naturalmente dada no homem
natural, que, entidade biolgica,
constitudo pelo "mundo das castas", e o
conjunto, atomstico, que lhe externo e
est formado (ou ocupado, enquanto campo) pela totalidade dos "renunciantes" e
que o estaria ainda que destes, por hiptese,
houvesse apenas um. Este SH, no plano
conceituai, apresentar-se-ia ento como
subsistema que, tomado globalmen-
tambm e sobretudo um "sujeito
pensante" (Dumont 1972: 44), ou,
diria eu agora, uma entidade dotada de cultura no sentido genrico
do termo. O que no reconhecido
que ser pensante e portador-criador de cultura derive da construo
do agente pela sociedade, e que o
passo bsico desse processo seja o
de atribuir uma posio culturalmente predeterminada ao organismo que surge na populao. Pelo
contrario: por um ato de vontade
que o indivduo j plenamente dotado literalmente se associa a outros de igual teor, e que, assim,
contratualmente constri a sociedade. Sob esta perspectiva, ela
um meio que se deve adequar aos
fins do indivduo, e nisto estaria o
essencial da ideologia individualista, que elimina a noo de uma
totalidade social em cujo sentido
seus membros se orientem. Associados para melhor se dirigirem a
fins, os indivduos que o fazem
criam, no dizer de Dumont, um
"indivduo coletivo" composto de
elementos todos iguais. Admitida
a igualdade entre os agentes da
construda sociedade, desaparece
qualquer meio de entre eles estabelecer oposies distintivas, pois
cara estas o contrrio e no o igual
e exigido, desaparecendo com isso
tambm, no plano do ideolgico,
um ordenamento estrutural-hierrquico dessa parcela da realidade.
Ao observador externo, porm,
parece-me dado discernir, implcita na ideologia ocidental, uma oposio distintiva e hierarquizante
a que existe entre o indivduo propriamente dito e o "indivduo coletivo" que de sua associao resulta.
Ou entre o indivduo e a sociedade,
entre a unidade discreta e um alter
plural, estando o valor mais alto
com aquela e no com este, fatalidade inevitvel mas sempre
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
limitadora. Na medida em que o
indivduo ocidental se ope ao.
conjunto de agentes tidos como
voluntariamente unidos em sociedade (associativa), torna-se possvel compar-lo ao indivduo indiano, hindu, oposto ao conjunto de
agentes
aprioristicamente
interdependentes na sociedade
(holstica), a que prefiro continuar
chamando "mundo das castas".
Nessa oposio a seu contrrio,
que o conjunto do mundo social
como as respectivas ideologias o
definem, equalizam-se o indivduo
da ndia e o do Ocidente para
logo a seguir voltarem a se opor.
Porque se o indivduo hindu
endgeno e emerge da sociedade
("mundo das castas") que lhe
te, teria, em nvel mais alto, o estatuto de
elemento do sistema que a "sociedade
indiana". Por sua vez, os sinais / e / indicariam os limites do conjunto dos "renunciantes". Tomando agora em conta a presena
ou ausncia do critrio de pureza como
operador classificatrio interno nos dois
subsistemas que compem o "sistema
hindu"; admitindo a por mim suposta
hierarquizao entre o subsistema em que
est internamente ausente o critrio de pureza (posio hierrquica superior) e aquele
em que ele est presente (posio hierrquica inferior); e aceitando, condicionalmente,
que essa hierarquizao entre os subsistemas
se daria por ser um considerado mais puro
que o outro, seria possvel a frmula que
segue
SH = </-P/*:{+P = P*:P-}->
e que se l: "O "sistema hindu" englobante,
no seu nvel mais elevado, seria igual a dois
sub-conjuntos opostos e hierarquizados entre si em termos de pureza, superior e inferior, que so o dos "renunciantes" e o do
"mundo das castas". Em seu nvel imediatamente inferior, interno aos sub-conjuntos,
no primeiro destes (o dos "renunciantes") o
preexiste, o ocidental seria exgeno
por preexistir sociedade na qual
um ato de vontade o imerge ou
o faz cri-la. Deste modo, duas
oposies distintivas nos respetivos
domnios permitiram aproximar e
comparar os indivduos de culturas
muito distantes, para logo uma terceira (endogeno: exgeno) garantir a cada um sua especificidade
inegvel, sem perder de vista a
tentativa de manter, sempre, uma
abordagem estrutural. Se esta traduo de Dumont foi fiel ou traidora, s outros o podero dizer.
Bahia, 16.03/15.05.1993
Referncias
Bibliogrficas
DUMONT, Louis
1965 The modem conception of the
individual. Notes on its Genesis.
critrio de pureza no opera para classificar
os indivduos que o compem; no segundo
(o do "mundo das castas"), o critrio de
pureza opera universal e sistematicamente
para hierarquizar em superiores e inferiores
as castas, subcastas e status pessoais daqueles que lhe pertencem".
Assim se expressaria, portanto, o "siste
ma hindu" como sistema holstico regido,
at em seu nvel mais elevado, pelo princ
pio da hierarquia e pela valorizao da pure
za como critrio classificador. Nessa frmu
la o elemento de mais alta
posio
hierrquica parece ser, precisamente, o ni
co dos subsistemas englobados em cujo in
terior no se aplica, para classificar, o crit
rio de pureza com a decorrente
hierarquizao. No campo a que os "renun
ciantes" pertencem, por
Caderno CRH 19, Salvador, 1993
Contributions to Indian Sociology, [s.l],
n.8, p.13-61. (Verso francesa: Esprit,
n.l4,p.l8-54,fev. 1978).
1966a Prface a l'dition Tel. In: Homo Hierarchicus. Paris: Gallimard,
p.1-39.
1966b Postface pour l'dition Tel. Vers
une thorie de 1'hierarchie. In: Homo
Hierarchicus. Paris: Gallimard, p.396403.
1968 Prface. In: Les Nuer.
Paris: Gallimard, p.l-15.
1971 Religion, politics and society in the
individualistic universe. In: Proceedings
of the Royal Anthropological Institutefor
1970. London: fs.n.J, p. 31-41.
1971 Introduction a deux thories
d'anthropologie sociale. Paris/La Haye:
Mouton.
1972 Homo Hierarchicus. London:
Granada Publishing (Paladin). Especialmente pargrafos 1-7, 11, 21-26, 31-37,
42.3, 43, 51, 56, 57, 61, 63-65, 71, 81,
definio conjunto de indivduos, estes, enquanto tal, estariam equalizados entre si.
Impor-se-ia, ento, concluir que no "sistema hindu" englobante, regido por princpios holstico-hierrquicos inegveis e seu
critrio classificatrio absoluto, o topo da
hierarquia, o mximo de pureza, estariam
atualizados por um subsistema no seio do
qual imperam os princpios opostos, isto ,
princpios individualstico-equalitrios que
eliminam a aplicao daquele critrio?
isto que surpreende.
84.4, 91-97, 101-108, 111-119).
1975 La communaut de village de
Munro Maine. In: La civilization
indienne et nous. Paris: Armand Colin,
p.111-141.
1977a Une tude comparative de
l'idologie moderne et de Ia place en elle
de la pense conomique. In: Homo
Aequalis. Paris: Gallimard, p.l 1-40.
1977b Caste, racism, and "stratiflcation":
reflection of a social anthropologist. In:
DOLGIN, J. L., KEMNFTZER, D. S.,
SCHNEIDER, D. S., (orgs.). Symbolic
anthropology. New York: Columbia
University, p.72-88.
1992 Homo Hierarchicus. O sistema
de castas e suas implicaes. S.Paulo:
EDUSP.
1975 Introduccin a dos teorias de Ia
antropologia social. 1975. Trad. de
Dumont, 1971. Barcelona: Anagrama.
Obs.: Exclu da presente considerao o
cerne do Homo Aequalis. reservando-o
para tratamento posterior. Por razes
prticas, trabalhei especialmente com a
edio inglesa de Homo Hierarchicus
(1972).
Você também pode gostar
- Plano-De-Negocios (Venda de Peixe)Documento85 páginasPlano-De-Negocios (Venda de Peixe)Epy Sanveca67% (3)
- E-Book Paul WasherDocumento34 páginasE-Book Paul WasherAna Carolina RamosAinda não há avaliações
- 1º Dia - Caderno de QuestõesDocumento12 páginas1º Dia - Caderno de QuestõesRYAN PATRICK SIMÕES CORRÊAAinda não há avaliações
- Nossa Africa - Ensino e Pesquisa - Ebook PDFDocumento230 páginasNossa Africa - Ensino e Pesquisa - Ebook PDFReginâmio100% (1)
- Canciones Abada CapoeiraDocumento71 páginasCanciones Abada CapoeiraPablo Marinheiro ValeraAinda não há avaliações
- 365 PDF - Ocr - Red PDFDocumento241 páginas365 PDF - Ocr - Red PDFPaulo SilvaAinda não há avaliações
- Caros Amigos - Entrevista Explosiva Com Milton SantosDocumento36 páginasCaros Amigos - Entrevista Explosiva Com Milton SantosFernando Rabossi100% (1)
- Rio Sena Do Suburbio FerroviarioDocumento8 páginasRio Sena Do Suburbio FerroviarioPortal do Subúrbio Ferroviário de Salvador©100% (3)
- Praça Das Artes: Relação Com A Preexistência Na Arquitetura ContemporâneaDocumento18 páginasPraça Das Artes: Relação Com A Preexistência Na Arquitetura ContemporâneaNivaldo AndradeAinda não há avaliações
- Narrativas SeriadasDocumento248 páginasNarrativas SeriadaschristianAinda não há avaliações
- A Morte Viva e o Passado PresentedDocumento22 páginasA Morte Viva e o Passado PresentedDanilo CrosxiatiAinda não há avaliações
- A Criminalização Da Cor Como Estratégia de Segregação Espacial Na Cidade Higienista Do Pós-Abolição (Joana D'arc de Oliveira)Documento19 páginasA Criminalização Da Cor Como Estratégia de Segregação Espacial Na Cidade Higienista Do Pós-Abolição (Joana D'arc de Oliveira)Stefany SilvaAinda não há avaliações
- Acervo BibliográficoDocumento3 páginasAcervo Bibliográficocapoartev10Ainda não há avaliações
- Concurso 099 Candidatos Com Redacao Corrigida 09-05-2014Documento31 páginasConcurso 099 Candidatos Com Redacao Corrigida 09-05-2014coreleAinda não há avaliações
- Lista de Classificação Provisória Do Processo Seletivo Da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Direito - Autodeclarados (Pretos Ou Pardos)Documento16 páginasLista de Classificação Provisória Do Processo Seletivo Da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Direito - Autodeclarados (Pretos Ou Pardos)Apolo 11 LGKKKAinda não há avaliações
- 2Documento1 página2Manuela AraujoAinda não há avaliações
- FERNANDES, Magali Oliveira. Vozes Do Céu - Os Primeiros Momentos Do Impresso Kardecista No Brasil.Documento7 páginasFERNANDES, Magali Oliveira. Vozes Do Céu - Os Primeiros Momentos Do Impresso Kardecista No Brasil.Túlio PazAinda não há avaliações
- Encruzilhadas Metodologicas - EbmDocumento368 páginasEncruzilhadas Metodologicas - EbmARTHUR KUBIAK RAMOSAinda não há avaliações
- Gap3 PDFDocumento90 páginasGap3 PDFAdeliton DelkAinda não há avaliações
- Casamentos 1 Rio GrandeDocumento42 páginasCasamentos 1 Rio GrandeVanessa de SousaAinda não há avaliações
- Tco 459-23Documento15 páginasTco 459-23Renato Rj limaAinda não há avaliações
- Tese - Rodrigo Luiz Medeiros Da SilvaDocumento538 páginasTese - Rodrigo Luiz Medeiros Da SilvaRodrigo Luiz Medeiros SilvaAinda não há avaliações
- O Vocabulário Da Ditadura Militar Nos Panfletos de Eulálio Motta - Parte - 4Documento9 páginasO Vocabulário Da Ditadura Militar Nos Panfletos de Eulálio Motta - Parte - 4testerAinda não há avaliações
- 2019 - Plano de Aula - POEMAS ESCOLHIDOS DE GREGÓRIO DE MATOS - Fernanda A. SouzaDocumento12 páginas2019 - Plano de Aula - POEMAS ESCOLHIDOS DE GREGÓRIO DE MATOS - Fernanda A. Souzaiza freitasAinda não há avaliações
- Projeto Memoria Feira Livre de Feira 1 PDFDocumento11 páginasProjeto Memoria Feira Livre de Feira 1 PDFWILSON MÁRIO PINHEIRO SILVAAinda não há avaliações
- Cap. 1 No Mulheres Negras em Perspectiva - Raiza Cristina Canuta Da HoraDocumento24 páginasCap. 1 No Mulheres Negras em Perspectiva - Raiza Cristina Canuta Da HoraRaiza CanutaAinda não há avaliações
- Tese de ClaudeTfranklin Monteiro SantosDocumento356 páginasTese de ClaudeTfranklin Monteiro SantosDomingosDosSantosAinda não há avaliações
- José PancettiDocumento61 páginasJosé PancettiLucas Teles IanniAinda não há avaliações
- Enderecos Lojas Cea Junho 22Documento5 páginasEnderecos Lojas Cea Junho 22Vanessa D. F. BastosAinda não há avaliações
- O Reggae de Cachoeira PDFDocumento196 páginasO Reggae de Cachoeira PDFMarcos CalhauAinda não há avaliações