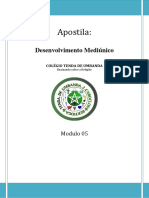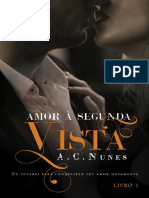Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PPGEDUCACAO ESTACIO 004.119.507-89 Trabalho
PPGEDUCACAO ESTACIO 004.119.507-89 Trabalho
Enviado por
turmapedagogiaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PPGEDUCACAO ESTACIO 004.119.507-89 Trabalho
PPGEDUCACAO ESTACIO 004.119.507-89 Trabalho
Enviado por
turmapedagogiaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISBN 978-85-60316-16-8 Representaes sociais de lngua portuguesa por alunos e professores do ensino fundamental.
Autores: Glaura Bensabat DAquino Zelinda Andrade Santos Monica Rabello de Castro Instituio: Universidade Estcio de S Eixo 6: Pesquisa em Ps-Graduao em Educao e Culturas Categoria: Comunicao Palavras-chave: Ensino de Lngua Portuguesa. Representaes sociais. Preconceito Lingustico. Introduo O ensino da Lngua Portuguesa tornou-se alvo de inmeras crticas face aos resultados que vm se apresentando ao longo dos ltimos anos em relao a seu aprendizado, sobretudo por alunos provenientes de camadas populares, que fazem uso de uma variedade da lngua que no corresponde quela ensinada nas escolas. A Lngua Portuguesa vem sendo ensinada por seus professores com base nas regras da gramtica normativa, posicionando suas prescries como a nica forma correta de realizao da lngua, categorizando as demais formas como erradas. Muitos professores de Portugus que lecionam em escolas pblicas consideram a linguagem de seus alunos uma linguagem informal, errada, cheia de vcios, distante da lngua de prestgio, eles desvalorizam o modo de falar dos seus alunos. Segundo Bourdieu (apud SOARES, 2008, p.58), a lngua dos gramticos um verdadeiro artefato que, [...] tem uma eficcia social na medida em que funciona como norma, atravs da qual se exerce a dominao dos grupos.. A maioria dos alunos da rede pblica, grande parte oriunda de camadas pobres, acredita que no sabe o portugus, por situar o seu conhecimento na norma-padro, modelo idealizado e descrito na gramtica normativa e ensinada nas escolas. A deteriorao crescente da qualidade do ensino tanto no nvel fundamental como no mdio, de modo especial, na escola pblica, ao longo dos anos, associada s desigualdades regionais e intra-regionais, reflete-se em excluso dos jovens economicamente desfavorecidos
pelo difcil acesso informao e aos bens culturais, em contraste com os jovens das camadas privilegiadas (CARRANO, 2009). Tais fatos mostram a necessidade de se compreender as relaes entre escola e sociedade que possibilitam entender os problemas do baixo desempenho escolar nas escolas pblicas e, quanto ao ensino de lngua portuguesa, no se pode, tambm, deixar de vincul-lo s condies sociais e econmicas de uma sociedade de estratos sociais diversificados e consequentes variedades lingusticas (SOARES, 2008). O ensino da norma-padro em escola pblica choca-se com os dialetos dos alunos dos estratos sociais menos favorecidos, tornando muito difcil o domnio da leitura e da escrita e o sucesso da aprendizagem em geral, revelando um verdadeiro abismo entre a lngua falada e a lngua ensinada nas escolas. Para Bagno (2009), a norma-padro tradicional tem poder de influncia praticamente nula sobre os falantes das variedades mais estigmatizadas. Esta falta de entrosamento dificulta o aprendizado e gera o que chamado de preconceito lingstico, baseado na crena de que s existe uma nica lngua portuguesa digna deste nome, explicada nas gramticas e catalogadas nos dicionrios. Uma das vertentes do preconceito lingustico, comum em aulas de Portugus, negar os dialetos de menos prestgio, v-los como incorretos, ignorando aspectos lingusticos e o contexto cultural dos mesmos, com implicaes, como: a baixa auto-estima lingustica nos alunos, a excluso, o estmulo ao preconceito social. A grande questo que esta baixa autoestima do aluno tem que ser incessantemente trabalhada pelo professor em sala de aula, resultando num desperdcio de energia que poderia ser canalizada para tantas outras questes, como por exemplo, diferentes formas de ensinar a lngua, no intuito de despertar um maior interesse e participao do aluno, fazendo com que este se sinta familiarizado com a disciplina e no to distante dela. A baixa auto-estima est diretamente relacionada ao fracasso escolar, uma vez que o aluno sofre ao se ver forado a abandonar sua identidade cultural, suas origens, face imposio de uma forma de cultura to distante da sua (ALVES-MAZZOTTI,1994). Este aluno, muitas vezes, opta pelo silncio, pelo afastamento, pela sua prpria ausncia, ainda que esteja dentro da sala de aula. Apesar de muitos professores valorizarem a Sociolinguistica e, portanto, defenderem um ensino voltado para a incluso social, valorizando e respeitando as variaes lingsticas, o que se v na prtica, so professores que seguem os programas e contedos que priorizam o ensino da norma culta composta de regras e memorizaes de conceitos, cujo domnio, por parte destes alunos, torna-se praticamente inacessvel, dificultando sua capacidade de compreenso e cerceando consequentemente sua liberdade de expresso. Para muitos professores, a norma culta figura como o grande objetivo do ensino da Lngua Portuguesa, independente da classe social
do aluno, pois, atravs dela que seus alunos obtero os meios necessrios para a aquisio de empregos melhores. Embora este aprendizado seja necessrio, o caminho para ele no pode desprezar a expresso do aluno em seu prprio dialeto, pois a partir de sua prpria linguagem que o aluno poderia aprender outras formas de se manifestar. Atravs das representaes sociais de professores e alunos do ensino fundamental de uma escola pblica do Rio de Janeiro, buscamos identificar quais os significados que estes atriburam lngua portuguesa e verificar: como os professores classificam o dialeto de seus alunos; como o modo de ver este dialeto os influencia na forma de avaliar a capacidade de aprendizagem da lngua portuguesa e como alunos percebem o preconceito lingstico em face do confronto entre seus dialetos e ensino da lngua. Para isso, foram realizados dois estudos, concomitantemente, com os alunos e com os seus professores. A Teoria das Representaes Sociais Adotou-se como referencial terico para os dois estudos a Teoria das Representaes Sociais, com base na abordagem processual proposta por Serge Moscovici e Denise Jodelet, com nfase nos dois processos de construo das representaes sociais, a objetivao e ancoragem. As representaes sociais, com seu carter prtico, orientam os indivduos para a ao e para a gesto da relao destes com o mundo (MOSCOVICI, 2001). Como saber prtico, que liga um sujeito a um objeto (JODELET, 2001), ela sempre representao de alguma coisa (objeto) ou de algum (sujeito), cujas caractersticas so manifestadas nela, que guarda com o objeto uma relao de simbolizao (substituindo o objeto) e de interpretao (atribuindo significaes ao objeto), atravs da construo e expresso do sujeito. So modalidades de pensamento prtico orientadas para a compreenso e o domnio do ambiente social, material e ideal (JODELET, 2001, p. 22). So sistemas que tm uma lgica e uma linguagem peculiares, por se apoiarem em valores e conceitos. Na convivncia prolongada com colegas, professores e demais membros da escola, os alunos vo construindo sentidos sobre o que e como lhes ensinado, no o sendo diferente em aulas de Lngua Portuguesa. Considera-se que o estudo das representaes sociais dos alunos possibilita o entendimento de como este grupo processa e entende as informaes em sala de aula a respeito de Lngua Portuguesa, contribuindo, assim, para a reflexo acerca de mecanismos mais eficazes de ensino nesta rea. O estudo abordou o ensino da Lngua Portuguesa para alunos de camadas pobres e suas diferentes formas de ensin-la. Foram encontradas duas situaes: professores que ensinam a lngua de acordo com a norma padro, esse grupo sendo a maioria, e professores que
consideram a comunicao mais importante do que a obedincia s regras gramaticais. Atravs dos conceitos de objetivao e ancoragem, buscamos identificar as representaes sociais destes professores em relao ao ensino de Lngua Portuguesa. Baseados nos valores, crenas e posturas dos professores, buscamos os sentidos que atribuem ao ensino e linguagem de seus alunos e sobre o que estes sentidos esto ancorados e como eles se objetivam. Cabe ressaltar que, para o ensino da lngua portuguesa e os diferentes sentidos que os professores possuem em relao a ele, foi preciso levar em considerao vrios aspectos, dentre eles, h quanto tempo os professores lecionam, os diferentes motivos que os levaram a exercer a profisso, o ambiente de trabalho, que no caso deste estudo, por se tratar de uma escola pblica, por si s j um ambiente estigmatizado, enfim, todos esses elementos foram levados em considerao para a interpretao do fenmeno estudado. Na abordagem processual das representaes sociais, caminho escolhido para os presentes estudos, Moscovici (2003) acentua que se trata de processos sociocognitivos, complementares e indissociveis. A objetivao e a ancoragem so indissociveis, tal como as duas faces de uma folha de papel representando respectivamente a face figurativa e a face simblica, significando que a cada figura corresponde um sentido e cada sentido, uma figura (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Pela abordagem processual, estuda-se a gnese das representaes sociais, analisando os processos de sua formao tendo como referncias a historicidade e o contexto de produo (MARCONDES; SOUZA, 2003). Os dois processos formadores das representaes - a objetivao e a ancoragem - tm uma relao dialtica entre si e se organizam em torno de um ncleo figurativo, dotado de uma face figurativa e simblica. Esses processos permitem explicar, no caso do presente estudo, a composio da estrutura imagtica de representaes relativas Lngua Portuguesa, servindo essa composio de guia de leitura da realidade, e o enraizamento desse objeto da representao numa rede de significaes que esclarece seu sentido e valor funcional. Metodologia A aplicao de mtodos qualitativos permite descrever, explicar, compreender e interpretar fenmenos sociais, buscando investigar as interaes entre grupos e as instituies, com a cultura e as estruturas sociais e polticas, visando compreender como as aes humanas so produzidas e mediadas. As pesquisas qualitativas permitem melhor compreender o comportamento e experincias humanos (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70), saber como as pessoas constroem significados e em que eles consistem. Esta pesquisa enquadra-se dentro dessas caractersticas.
A coleta foi realizada em uma nica escola para que pudssemos caracterizar os sujeitos como pertencentes a um grupo que interagia entre si durante um longo perodo. Como critrio de seleo da escola, estabeleceu-se uma instituio que contivesse, na sua maioria, alunos de comunidades menos favorecidas economicamente, justamente por fazerem uso de uma linguagem peculiar. Para o estudo de indcios de representaes dos professores, foi realizado um trabalho de campo que incluiu contato direto com os sujeitos pesquisados, num contexto especfico, aulas de portugus, com observao das atividades cotidianas dos professores. A observao deu-se em visitas regulares durante o primeiro semestre de 2010 e foram observadas 15 turmas de ensino fundamental II e, atravs de um dirio de campo, foram registrados os dados. A observao procurou descrever o que era realizado em sala de aula, estabelecendo uma relao mais estreita com professores e alunos. O trabalho de campo incluiu ainda a aplicao de questionrios destinados a 50 professores de Portugus da rede pblica de ensino e a realizao de entrevistas com dez professores. Para o estudo de indcios de representaes discentes sobre Lngua Portuguesa, foram aplicadas: a) entrevistas conversacionais; b) observao do contexto cultural e escolar dos alunos em aula de Lngua Portuguesa, com registro em dirio de campo; c) leitura e anlise do Projeto PolticoPedaggico, bem como de planejamentos docentes da disciplina de Lngua Portuguesa, buscando captar as bases em que se estrutura o ensino de Lngua Portuguesa. Foram entrevistados 27 alunos de uma escola pblica do Rio de Janeiro, nmero considerado suficiente para obter indcios de representaes sociais a partir da anlise processual. A observao se constitui da insero do pesquisador no seio do grupo em estudo e, a partir dessa insero, ele passa a desempenhar um papel no mesmo, mantendo sempre certa distncia, evitando participar nas mudanas ou mesmo provoc-las (LAPASSADE, 1991 apud FINO, 2003). A observao possibilitou verificar alguns fatos narrados em entrevista, tornando mais compreensveis as prticas em seu contexto cultural (RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999). A observao se deu sobre as prticas pedaggicas que envolvem professores e alunos em sala de aula de Lngua Portuguesa, identificar valores, opinies e atitudes que pudessem ser reveladores de condutas preconceituosas, tanto do ponto de vista social como lingstico. A escolha do nvel fundamental II encontrou razo no tempo maior de convvio em sala de aula dos alunos com colegas e professores, possibilitando maiores chances de construo das representaes sociais sobre a lngua materna ensinada. A opo pela escola foi circunstancial, por contatos anteriores, representando este fato um grande facilitador para o acesso instituio, cujas caractersticas atendiam s exigncias da pesquisa.
O perfil dos alunos entrevistados incluiu dados acadmicos socioeconmicos, local e condies de moradia, profisso, nvel de escolaridade e hbitos de leitura dos pais, articulandose os mesmos com os dados qualitativos. Tais dados permitiram situar a maioria dos alunos como pertencentes a famlias de condies socioeconmicas tpicas de camadas populares, ressaltando-se o baixo nvel de escolaridade da maioria, condies de moradia inadequadas, com base no nmero de pessoas por dormitrio, e profisso exercida por grande parte dos familiares. Embora a maioria tenha afirmado morar em casa prpria, muitos deles moram em comunidades, onde comum a ocupao de terrenos, nos quais, moradias so construdas em pequenos espaos, alm dos puxadinhos para acolher ncleos familiares que vo se constituindo. Para anlise qualitativa dos dados coletados, por meio das entrevistas, foi utilizada a anlise de contedo, proposta por Florence Bardin, especificamente, anlise categorial temtica. Justifica-se a sua utilizao, por ser a representao social, em si mesma, construda, dentro de um contexto social, segundo um processo permeado por crenas, valores e atitudes dos indivduos, que se manifestam nos contedos expressos, sobre os quais a anlise de contedo possibilita melhor compreenso. Esta constituda de conjunto de tcnicas de anlise das comunicaes que utiliza procedimentos sistemticos e objectivos de descrio do contedo das mensagens e destinam-se inferncia de conhecimentos relativos s condies de produo (ou eventualmente de recepo), inferncia esta que recorre a indicadores (quantitativos ou no) (BARDIN, 2002, p. 38). Resultados A anlise categorial temtica, segundo Bardin, empregada para anlise dos contedos das entrevistas de professores, trouxe como resultados as categorias: 1) linguagem praticada; 2) o aluno; 3) prtica do professor. Estas categorias foram detalhadas por subcategorias que revelaram aspectos em relao viso dos professores sobre seus alunos, sobre a escola e sobre suas posturas em sala de aula. A categoria linguagem praticada compreendeu as subcategorias linguagem do aluno da escola pblica, a linguagem do aluno de escola particular, a linguagem do professor e a lngua na forma escrita. Num primeiro instante, a comparao entre os alunos da rede pblica e os da rede particular foi inevitvel. Para a maioria dos professores, a realizao de tarefas com alunos da escola pblica extremamente limitada face falta de bagagem cultural que apresentam em relao aos demais da rede particular. Quanto linguagem, os alunos de camadas populares foram classificados como dominados em relao aos da rede particular, os dominantes. Os professores consideram que seus alunos da rede pblica possuem um vocabulrio fraco,
carregado de vcios, erros j sedimentados, que, indiscutivelmente, interfere no aprendizado da lngua portuguesa. Verificamos uma influncia significativa sobre o que representa o contexto social dos alunos em questo e sua interferncia no ensino destinado a estes, uma vez que a maioria dos professores parte do princpio de que estes alunos dificilmente iro se apoderar da lngua na sua forma culta, a lngua que os professores consideram a lngua certa. Esta lngua certa, de acordo co os professores, encontra-se distante daquela praticada no meio social de onde provm seus alunos. Como consequncia, apesar de os professores acreditarem ser a lngua na forma culta um meio inquestionvel de ascenso social no sentido de possibilitar melhores oportunidades a seus alunos, destinam a eles um ensino menos exigente diante da dificuldade que apresentam. Na escola pblica, reconhecemos a existncia silenciosa de preconceito lingustico, que parece estar relacionado ao preconceito social, como se o ensino destinado quele aluno pobre partisse do pr conceito de que este aluno j possui uma capacidade limitada de aprendizagem face a sua condio social. Sendo assim, sugerimos que a representao de ensino da lngua portuguesa ancora-se na origem do aluno, identificada por sua fala. Esta ideia reforada pela crena de que o aluno que fala errado no pensa e diante disto no capaz de aprender outras disciplinas, pois no consegue interpretar. Desta forma, as representaes do ensino so objetivadas pela ideia de que a norma culta que d o acesso, pois ela faz pensar, interpretar. O aluno aprende a falar dentro das normas e, com isso, tambm a pensar. Assim, ter maiores chances de mudar sua vida, de ascender socialmente. Embora a estrutura ainda esteja remetida ao passado, existem elementos de mudana na concepo dos professores. Eles valorizam a comunicao que, mesmo remetida a aspectos unicamente da oralidade, mostram que uma reflexo a respeito do preconceito lingstico j est em curso, uma vez que aceitam a fala informal de seus alunos em sala de aula, revelando um aspecto de estreitamento de laos entre professor e aluno, essencial em sala de aula. A organizao de temas significantes contidos nas falas dos alunos fez gerar trs categorias: 1) Disciplina de Lngua Portuguesa; 2) Linguagem do Aluno; e 3) Aula de Lngua Portuguesa, das quais as subcategorias esclareceram o sentido dado por eles a Lngua Portuguesa. A anlise da categoria Disciplina de Lngua Portuguesa, que contm as subcategorias: habilidades lingsticas; emprego; esperteza e, sabedoria; identificao com a Gramtica revelou que a escola compreendida pelos alunos como o local onde aprendem Portugus, este, para eles, fortemente ligado aquisio de habilidades de escrever, ler e falar. Necessitam delas especialmente para no futuro obterem um trabalho e para ascenso social, algo que acreditam
ser alcanado s por aqueles que so inteligentes, diante dos difceis conhecimentos calcados na gramtica normativa. Consideram-na ainda a disciplina mais importante por ser suporte para as demais disciplinas e a vem como a lngua nacional, desconsiderando assim as demais variedades faladas no pas e como se aqueles que no tivessem estudado no soubessem falar a lngua do pas. A Categoria 2: Linguagem do aluno - foi gerada de duas questes analisadas em estreita relao: Voc j corrigiu algum por falar errado? Se sim, conte como o fato ocorreu. Voc j foi corrigido por algum por falar errado? Se sim, como foi isso? Dela derivaram-se as seguintes subcategorias: a) correo; b) vergonha; c) linguagem que a famlia fala. As falas dos alunos estavam muito referidas s perguntas, ou seja, foi atravs deste estmulo que os alunos falaram, conforme se observou na subcategoria correo, uma conseqncia quase imediata do estmulo feito. Os sentidos atribudos pelos alunos questo da correo, no entanto, reforaram em muito a desvalorizao da linguagem que eles e seu grupo social usam. As outras duas subcategorias deixaram mais evidente como o preconceito se manifesta na escola e mesmo em seu convvio mais familiar. A vergonha de ser corrigido apareceu em vrias falas, muito mais quando se referem a si prprios e menos, quando falam das pessoas que foram corrigidas. Em Lngua Portuguesa, corrigir erros ganha uma conotao mais forte pela sua relao com o que se atribui de status ao falar bem, corretamente e pela estigmatizao dos que esto distantes dos conhecimentos da lngua. No saber a lngua, expressar-se fora da norma-padro coloca a pessoa em posio de desigualdade, de inferioridade perante a atitude preconceituosa dos que sabem. Diante dessa viso, torna-se motivo de vergonha ser corrigido. Alguns entrevistados, referindo-se reao de alguns colegas que eles corrigiram, comentaram que os mesmos aceitaram sua correo como um ato benfico, favorecedor da aprendizagem, considerando-o um meio de eles aprenderem, corrigirem o erro e no errarem mais, mesmo que para alguns a experincia de ser corrigido tenha causado vergonha ou constrangimento. A conduta de corrigir colegas se estendeu tambm aos familiares de muitos deles. Os novos conhecimentos da lngua oficial se expressam nas atitudes dos alunos em casa, diante das diferenas que a passam a perceber e que para eles j so estranhadas, o que resulta em corrigir as falas de casa, podendo constituir-se ponto de conflito entre o jovem e a famlia. Todos os pais esperam que seus filhos tenham sucesso no futuro, incumbindo escola do alcance disso, pelo bom desempenho escolar do filho. Mas isso no significa aceitar ser corrigido por eles, podendo ser motivo de situaes de conflito geradas pela correo. Mostraram com isso que os erros da famlia no so bem aceitos por eles prprios.
Na categoria Aula de Lngua Portuguesa, e subcategorias derivadas: Aprender muito; Professores; Contedos; Futuro e Condutas dos alunos. A maioria dos alunos, em razo de suas dificuldades com a lngua, centradas nos contedos da gramtica, percebe a matria de forma positiva, porque os professores ensinam seus contedos, que para eles representam um volume muito grande de coisas a aprender, que so ensinados de modo rpido, porque logo vem a prova e depois da prova, mais contedos, que sero ensinados. So conhecimentos vistos como teis para o futuro, pensamento que se origina dos conselhos constantes dos professores, que os valorizam em funo de seu papel no campo profissional e social, mas que ficam difceis de serem assimilados diante das condutas indisciplinadas e desinteressadas dos alunos, que so, assim, culpabilizados. O ncleo figurativo das representaes sociais operado por imagens, que podem tomar forma de metforas, que condensam e coordenam significados. Perelman (2002, p. 75) afirma que a metfora tem por objetivo esclarecer, estruturar e avaliar o tema graas ao que se sabe do foro, o que implica que o foro refere-se a um domnio heterogneo, uma vez que mais conhecido que o tema. Mazzotti (2002) chama a ateno para a identificao das metforas como ao fundamental para captar este ncleo. Localiza a importncia da identificao e liberao das metforas nas investigaes das representaes sociais na fora argumentativa que elas possuem ao operarem dentro dos ncleos. A metfora recurso da lngua pelo qual, por analogia, predicados so atribudos a algo desconhecido tomando como referncia algo que j se conhece. Elas permitem, pela formao de imagens, compreender o processo de objetivao, no estudo das representaes sociais. Na induo de metforas, atravs da solicitao aos alunos para associarem a disciplina de Lngua Portuguesa a um animal, a representao social dessa disciplina, para a maioria deles, apareceu objetivada pelas qualidades do Leo, tais como: feroz, brabo, selvagem, d medo, difcil, difcil de entender, morde, d o bote, no sabe o que est pensando, ataca, pode destruir, devorar, manda, o mais esperto, o rei da selva, o que manda, pensa o que quer, ruge. A lngua portuguesa, na viso do aluno, apresenta este paradoxo que contempla ao mesmo tempo a soberania e a submisso. Ao passo que admitem a sua incontestvel importncia, se acanham diante dela. Assim como os demais animais se rendem ao Leo, os alunos se rendem ao Portugus. O leo se impe. A norma culta se impe. Esta submisso remete ao medo, dificuldade de apreenso, a uma insegurana que os leva a acreditar que no so capazes de enfrent-la. Muitos alunos se julgam pequenos diante dela, consideram o seu dialeto inferior, temem esta lngua to diferente da que praticam e por esta razo apresentam, em certos momentos, um verdadeiro bloqueio para o seu aprendizado.
Na viso dos professores justamente este bloqueio que impede que seus alunos avancem, progridam, apresentem resultados melhores diante do quadro catico que vem sendo revelado. Para muitos professores, o programa de Lngua Portuguesa a ser seguido vai alm da capacidade que seus alunos possuem para o aprendizado. Acreditam que seus alunos no sabem falar a prpria lngua, no entanto, assim como os alunos, professores tambm apostam na lngua culta como um meio de ascenso social, consideram um investimento necessrio em todos os mbitos, sobretudo no econmico e no social. Demonstram claramente que, atravs da aquisio da lngua na sua forma culta, seus alunos obtero as ferramentas para pensar e interpretar e desta forma, alcanar objetivos maiores e melhores. Alunos e professores compartilham da mesma opinio quando se referem a melhorar de vida atravs de uma linguagem mais adequada, mais formal, condizente com as demandas atuais, ou seja, um mundo extremamente competitivo, onde as pessoas so julgadas a todo instante por sua aparncia e tambm pelo seu jeito de falar. A fala denota a identidade do sujeito, sua origem, sua classe social. Alunos de camadas pobres querem ascender socialmente e sabem que a lngua um dos fatores que iro identific-los e, em alguns casos, segreg-los. Da a comparao com o leo: a lngua que manda, mas, ao mesmo tempo, morde, destri, derruba, devora. A constatao de preconceito lingstico na investigao das representaes dos alunos ratifica a afirmao dele em estudos, como os realizados, com alunos do ensino mdio, professores, coordenadores pedaggicos, migrantes, onde a estigmatizao da variedade popular pode ser vista no seu confronto com a norma-padro altamente valorizada, no espao da sala de aula. Um desses trabalhos (RAQUEL, 2007) busca identificar como coordenadores pedaggicos, professores e alunos do ensino fundamental percebem a variao lingstica e quais suas atitudes frente ao fenmeno, tendo tambm como base a Teoria da Variao e Mudana. Nele, o preconceito lingstico mostrou-se nos trs grupos, pela viso da variao polarizada, formalidade x informalidade, com uma concepo de fala ainda presa ao binmio fala certa / errada da lngua materna, visando ao desenvolvimento da competncia comunicativa do aluno. A idia do que normalmente se pensa de que o preconceito lingstico parte das classes mais abastadas em direo s pessoas de camadas populares no a nica realidade porque preconceito estava acontecendo entre os socialmente iguais, entre os alunos de camadas populares. O preconceito permeia toda sociedade pela valorizao da norma-padro, a soberana na sociedade, como o leo o na selva. REFERENCIAS
ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representaes sociais: aspectos tericos e aplicaes educao. Em Aberto, Braslia, ano 14, n.61, jan/mar, 1994. ______. GEWANDSZNADJER, Fernando. O mtodo nas cincias naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. So Paulo: Pioneira, 2000. BAGNO, Marcos. Preconceito lingstico: como , como se faz. So Paulo: Edies Loyola, 2008 BARDIN, Laurence. A anlise de contedo. Portugal: Edies 70, 2002. BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigao qualitativa em educao. Porto: Porto Editora, 1994. CARRANO, Paulo. Identidades culturais juvenis e escolas: arenas de conflitos e possibilidades. Diversia, Valparaso, n. 1, p 159-184, abr. 2009. FINO, Carlos Nogueira. FAQs, Etnografia e Observao Participante. SEE Revista Europeia de Etnografia da Educao, 3. p 95-105, 2003. Disponvel em: <http://www.uma.pt/carlosfino/publicaes/22.pdf>. Acesso em 22 nov. 2009. JODELET, Denise. (Org.). As representaes sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. MARCONDES, Anamrica Prado; SOUZA, Clarilza Prado. Parceria de abordagens metodolgicas no estudo de representaes sociais da avaliao institucional. GT: Psicologia da Educao/n 20. Poos de Caldas, So Paulo, 2003. Disponvel em: www.anped.org.br/reunioes/26/.../anamericapradomarcondes.rtf 1082010. Acesso em: 1/08/2010. MOSCOVICI, Serge. Das representaes coletivas s representaes sociais: elementos de uma histria. In: JODELET, Denise. (Org.). As representaes sociais. (Trad. Llian Ulup). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. ______. Representaes sociais: investigao em Psicologia. Petrpolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2003. PERELMAN, C. O Imprio da Retrica. Retrica e argumentao. Paris: Livraria Filosfica Librairie Philosophique J. Vrin, 2002, 2 ed. J. Vrin. [Trad.]: T. Mazzotti. Rio de Janeiro, maro, 2007. RAQUEL, Betnia Maria Gomes. Teoria sociolinguistica, poltica educacional e a escola
pblica de Fortaleza, Ce: correlaes terico - metodolgicas e poltico-pedaggicas.2007. 177p. Dissertao (Mestrado) - Lingstica, Universidade Federal do Cear, 2007.
RIZZINI, Irene; CASTRO, Mnica Rabello de; SARTOR, Carla. Pesquisando: guia de metodologias de pesquisa para programas sociais. Rio de Janeiro: EDUSU/AMAIS, 1999. SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 17.ed. So Paulo: tica, 2008
Você também pode gostar
- Ho Oponopono 1Documento12 páginasHo Oponopono 1Alexandre OliveiraAinda não há avaliações
- P12 Afericao Leitura AlbertoCaeiroDocumento3 páginasP12 Afericao Leitura AlbertoCaeiroeuricosouteiroAinda não há avaliações
- Epistemologia e Ensino de HistóriaDocumento22 páginasEpistemologia e Ensino de HistóriaValdirene SousaAinda não há avaliações
- Revista Curinga 13 v.1, n.0 (Out. 1993)Documento125 páginasRevista Curinga 13 v.1, n.0 (Out. 1993)Raíssa GabriellaAinda não há avaliações
- Gasparetto - Calunga Vamos Ficar BemDocumento7 páginasGasparetto - Calunga Vamos Ficar BemSharon LivreAinda não há avaliações
- Análise Do ComportamentoDocumento6 páginasAnálise Do ComportamentoAna Maria Ribczuk100% (1)
- HadesDocumento14 páginasHadesCris MariathAinda não há avaliações
- Mecanismos Da Mediunidade - EstudoDocumento10 páginasMecanismos Da Mediunidade - Estudoapi-3723937100% (1)
- Quatro Mil Semanas - Oliver BurkemanDocumento214 páginasQuatro Mil Semanas - Oliver BurkemanFabio Dezenho100% (4)
- Pedagogia Da ImainaçãoDocumento18 páginasPedagogia Da ImainaçãoJoyce OliveiraAinda não há avaliações
- Guia PNLD - 2024 - Objeto1 - Obras - Didaticas - Educacao - FisicaDocumento96 páginasGuia PNLD - 2024 - Objeto1 - Obras - Didaticas - Educacao - Fisicaelesbao campelo da silvaAinda não há avaliações
- Os Graus Do Conhecimento SuperiorDocumento32 páginasOs Graus Do Conhecimento SuperiorGLAS100% (2)
- ContratransferenciaDocumento14 páginasContratransferenciaGiovanna Loubet ÁvilaAinda não há avaliações
- As Principais Tendências Pedagógicas Na Prática Escolar Brasileira e Seus Pressupostos de AprendizagemDocumento11 páginasAs Principais Tendências Pedagógicas Na Prática Escolar Brasileira e Seus Pressupostos de AprendizagemRobson de Souza100% (1)
- Talismas e Pantaculos Magicos Resumido - PDF Versão 1Documento23 páginasTalismas e Pantaculos Magicos Resumido - PDF Versão 1Sheila FerreiraAinda não há avaliações
- Estado de FLOW - Mihaly CsikszentmihalyiDocumento7 páginasEstado de FLOW - Mihaly CsikszentmihalyiMarcus RonsoniAinda não há avaliações
- Ferramenta Ou Produto de Negócios: Data Science (DS) Como UmaDocumento129 páginasFerramenta Ou Produto de Negócios: Data Science (DS) Como UmaHeitor De Menezes GomesAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Mediúnico - Colégio Tenda de Umbanda - Módulo 5Documento25 páginasDesenvolvimento Mediúnico - Colégio Tenda de Umbanda - Módulo 5Renato Modesto100% (1)
- Pensamentos Clássico e HelenísticoDocumento4 páginasPensamentos Clássico e HelenísticoGustavo Serafim80% (5)
- Os Arruinados Pelo Êxito - Joan RiviereDocumento20 páginasOs Arruinados Pelo Êxito - Joan RiviereLuisAlbertoAinda não há avaliações
- Sociedade e Natureza Vol. 2 - 5º AnoDocumento64 páginasSociedade e Natureza Vol. 2 - 5º AnoSusan AmorimAinda não há avaliações
- 12 Dias Renovando A MenteDocumento38 páginas12 Dias Renovando A MenteDouglas A.100% (1)
- Texto Dea Ribeiro FenelonDocumento13 páginasTexto Dea Ribeiro Fenelonchristiano_tre3Ainda não há avaliações
- f99ebe16-a172-4c00-8086-1139abb7c645Documento30 páginasf99ebe16-a172-4c00-8086-1139abb7c645Íris Rafaela F.Ainda não há avaliações
- Estudos Críticos em Administração PDFDocumento14 páginasEstudos Críticos em Administração PDFJonas MagalhãesAinda não há avaliações
- Práticas Educativas, Memórias E OralidadesDocumento11 páginasPráticas Educativas, Memórias E OralidadesAndrea SantosAinda não há avaliações
- Amor A Segunda Vista (Livro 1) - A.C. NUNESDocumento531 páginasAmor A Segunda Vista (Livro 1) - A.C. NUNESMércia SibelleAinda não há avaliações
- 2 - Texto 01 Sete Saberes Necessarios Educacao Do FuturoDocumento4 páginas2 - Texto 01 Sete Saberes Necessarios Educacao Do FuturoAlex Alves BastosAinda não há avaliações
- Estudo Obsessão 2021Documento34 páginasEstudo Obsessão 2021Christopher Costa100% (1)
- "Brincando Com Luz E Sombra": Ciências Na Educação InfantilDocumento22 páginas"Brincando Com Luz E Sombra": Ciências Na Educação InfantilValéria Bobsin PereiraAinda não há avaliações