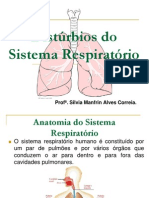Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro Proced Manip Micro Pato
Livro Proced Manip Micro Pato
Enviado por
Riberto AraujoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livro Proced Manip Micro Pato
Livro Proced Manip Micro Pato
Enviado por
Riberto AraujoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
P
rocedimentos
para a
de microorganismos
manipulao
patognicos e/ou
recombinantes na FIOCRUZ
rocedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes na FIOCRUZ
Comisso Tcnica de Biossegurana da FIOCRUZ CTBio - FIOCRUZ
Rio de Janeiro, novembro de 2005
Ministrio da Sade Ministro Jos Saraiva Felipe Fundao Oswaldo Cruz Presidente Paulo Marchiori Buss Vice-Presidente de Servios de Referncia e Ambiente Ary Carvalho de Miranda Vice-Presidente de Desenvolvimento Institucional e Gesto do Trabalho Paulo Ernani Gadelha Vieira Vice-Presidente de Ensino, Informao e Comunicao Maria do Carmo Leal Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico Reinaldo Felippe Nery Guimares Unidades Tcnico-Cientcas Casa de Oswaldo Cruz Nsia Vernica Trindade Lima Centro de Criao de Animais de Laboratrio Antenor Andrade Centro de Informao Cientca e Tecnolgica Ilma Horsth Noronha Centro de Pesquisa Aggeu Magalhes Rmulo Maciel Filho Centro de Pesquisa Gonalo Muniz Lain Carlos Pontes de Carvalho Centro de Pesquisa Lenidas e Maria Deane Roberto Sena Rocha Centro de Pesquisa Ren Rachou lvaro Jos Romanha Escola Nacional de Sade Pblica Antonio Ivo de Carvalho Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio Andr Paulo da Silva Malho Instituto Fernandes Figueira Jos Augusto Alves de Britto Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Sade Andr Lus Gemal Instituto Oswaldo Cruz Tnia Cremonini de Arajo Jorge Instituto de Pesquisa Clnica Evandro Chagas Keyla Belzia Feldman Marzochi Instituto de Tecnologia em Frmacos Nbia Boechat Andrade Instituto de Tecnologia em Imunobiolgicos Akira Homma
Comisso Tcnica de Biossegurana da FIOCRUZ
Presidente Eduardo Vieira Martins 2005-2007 Maria Celeste Emerick 2003-2004 Secretria Executiva Francelina Helena Alvarenga Lima e Silva Membros 2003 - 2006 Adriana Sotero Martins Adriano da Silva Campos lvaro Romanha Ana Beatriz M. da Silva Alzira Almeida Carmem Luiza Cabral Marinho Cintia de Moraes Borba Celeste Emerick Elizabeth Sanches Fermin Rolan Schramm Fernando Andr Rezende do Prado Flvio Rocha Hamilton Coelho Hermann Schatzmayr Irineu Vieira da Silva Junior Ivan Neves Junior Joel Majerowicz Jorge Mesquita Huet Machado Josino Costa Moreira Jorge Moreira Baptista Mrcia Cristina Mendes Lopes Marcia Terezinha Baroni de Moraes e Souza Maria Lcia Vieira Moreno Marilda de Souza Gonalves Marise Freitas Alves Marta Ribeiro Valle Macedo Pedro Cesar Teixeira da Silva Rogrio de Oliveira Queiroz Sebastio Enes Couto Silvio Valle Moreira Telma Abdalla de Oliveira Cardoso Valria Michielin Vieira Vera Bongertz Wim Maurits Degrave Yara Hahr Marques Hokerberg
Reviso Tcnica Ana Beatriz M. da Silva, Francelina Helena Alvarenga Lima e Silva, Hamilton Coelho, Hermann Gonalves Schatzmayr, Marilda de Souza Gonalves, Telma Abdalla de Oliveira
Reviso Final Cintia de Moraes Borba, Hermann Gonalves Schatzmayr, Valria Michielin Vieira, Vera Bongertz e Francelina H. A. Lima e Silva
FIOCRUZ
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ ou recombinantes na FIOCRUZ
Este guia prtico visa a contribuir para a cultura de biossegurana na FIOCRUZ e pretende servir de base de diretrio para os que manipulam microorganismos. O contedo sinttico deste manual ser quando necessrio ampliado e aprimorado em virtude da disponibilidade de novas informaes, tcnicas de preveno, novas reas de atuao na Instituio, regulamentaes e outros textos e matrias de interesse dos usurios, no que se refere a procedimentos de biossegurana. As informaes mais recentes, at a elaborao de uma futura edio do manual, sero disponibilizadas no site da CTBio Fiocruz, www.ocruz.br/ctbio. Este material deve permanecer, obrigatoriamente, para consulta, em todos os laboratrios que manipulam microorganismos na FIOCRUZ.
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
ndice
Introduo....................................................................................................................................11 Gesto da Qualidade e Biossegurana....................................................................................... 15 I- Procedimentos para a Manipulao de Microorganismos Patognicos e/ou Recombinantes na FIOCRUZ..................................................................................................19 Captulo 1. Requisitos para o trabalho com Agentes Patognicos e/ou Recombinantes........... 21 1.1. Classicao de agentes com base em seu risco biolgico........................................... 21 1.2. Denio dos Nveis de Biossegurana (NB) ................................................................ 35 1.3. Regras Bsicas para o Trabalho em Laboratrio.......................................................... 36 1.4. Requisitos Recomendados (R) ou Obrigatrios (O) conforme o Nvel de Biossegurana.............................................................................................. 41 rea Fsica e Instalaes ...............................................................................................41 Manipulao ................................................................................................................... 42 Equipamentos................................................................................................................. 43 Trabalho com Animais.................................................................................................... 44 Instalaes de Insetrios................................................................................................ 44 Descarte e Retirada de Materiais Biolgicos.................................................................. 45 Em caso de Acidentes.................................................................................................... 45 Descontaminao............................................................................................................46 Limpeza e Manuteno................................................................................................... 47 Captulo 2. Laboratrios da FIOCRUZ e Agentes Patognicos manipulados.......................49 2.1. Laboratrios que manipulam agentes patognicos na FIOCRUZ.................................. 49 (A) Biomanguinhos......................................................................................................... 49 (B) Centro de Criao de Animais de Laboratrio (CECAL)........................................... 50 (C) Centro de Pesquisa Aggeu Magalhes (CPqAM)..................................................... 50 (D) Centro de Pesquisa Gonalo Muniz (CPqGM).........................................................50 (E) Centro de Pesquisa Lenidas e Maria Deane (CPqLMD)........................................ 50 (F) Centro de Pesquisa Ren Rachou ( CPqRR) .......................................................... 51 (G) Escola Nacional de Sade Pblica Srgio Arouca (ENSP)...................................... 51
FIOCRUZ
(H) Farmanguinhos.........................................................................................................51 (I) Instituto de Pesquisas Clnicas Evandro Chagas (IPEC).......................................... 52 (J) Instituto Fernandes Figueira (IFF)............................................................................. 52 (K) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Sade (INCQS)............................ 53 (L) Instituto Oswaldo Cruz (IOC)................................................................................... 53 2.2. Sumrio de agentes patognicos manipulados na FIOCRUZ por classe de risco, por laboratrio e tipo de material manipulado ................................................ 56 2.3. Sumrio de agentes patognicos manipulados na FIOCRUZ por classe de risco e por laboratrios............................................................................. 68 Captulo 3. Biossegurana no laboratrio - Procedimentos especcos .................................... 73 3.1. Biossegurana no Trabalho com Vrus .......................................................................... 73 Adenoviridae - Adenovrus ............................................................................................. 76 Astroviridae - Astrovrus ................................................................................................. 77 Bunyaviridae - Hantavrus ............................................................................................. 77 Caliciviridae - Vrus Norwalk .......................................................................................... 78 Flaviviridae - Vrus da Dengue, Vrus da Febre Amarela .............................................. 79 Herpesviridae - Herpes Simples, Varicella zoster, Herpervirus simiae, Citomegalovrus, Vrus Epstein-Barr ............................................................................. 80 Ortomyxoviridae - Vrus da Inuenza ............................................................................ 81 Paramyxoviridae - Vrus sincicial Respiratrio, Parainuenza-vrus, Vrus do Sarampo e Vrus da Caxumba ....................................................................... 82 Picornaviridae - Gnero Rhinovirus .............................................................................. 84 Picornaviridae - Vrus da Encefalomiocardite,Vrus da Aftosa Poliovrus, Coxsackievirus ............................................................................................. 84 Picornaviridae - Vrus da Hepatite A (HAV) .................................................................... 85 Vrus da Hepatite B (HBV), C (HCV), Delta (HDV) e G (HGV) ..................................... 87 Vrus da Hepatite E (HEV) ............................................................................................. 90 Polyomaviridae Polyomavirus humano ...................................................................... 92 Poxviridae - Vrus Vaccinia ............................................................................................ 93 Rhabdoviridae - Vrus da Raiva e Vrus da Estomatite Vesicular .................................. 94 Reoviridae - Rotavrus, Reovrus e Orbivrus ............................................................... 95 Retroviridae - HIV-1, HIV-2, SIV, HTLV-I e HTLV-II ........................................................ 96 Togaviridae - Vrus da Rubeola ...................................................................................... 98
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
3.2. Biossegurana no Trabalho com Fungos ............................................................... 102 Fungos em Geral ........................................................................................................... 105 Coccidioides immitis ...................................................................................................... 107 Paracoccidioides brasiliensis ......................................................................................... 108 Blastomyces dermatitidis ............................................................................................... 108 Histoplasma capsulatum ................................................................................................ 109 Cryptococcus neoformans ............................................................................................. 110 Sporothrix schenckii ...................................................................................................... 111 Dermattos - Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton ..................................... 112 3.3. Biossegurana no Trabalho com Bactrias ............................................................... 114
Requisitos Bsicos ........................................................................................................ 114 Bordetella pertussis ....................................................................................................... 117 Brucella abortus, B. canis, B. melitensis, B. suis .......................................................... 118 Burkholderia mallei, B. pseudomallei ........................................................................... 118 Campylobacter ............................................................................................................. 119 Chlamydia ..................................................................................................................... 120 Clostridium botulinum ................................................................................................... 121 Clostridium tetani ........................................................................................................... 121 Corynebacterium diphteriae .......................................................................................... 122 Escherichia coli enteropatognicas ............................................................................... 123 Francisella tularensis ..................................................................................................... 124 Leptospira interrogans ................................................................................................... 124 Legionella pneumophila e Legionella-like ...................................................................... 125 Listeria monocytogenes ................................................................................................ 126 Mycobacterium tuberculosis, M. bovis .......................................................................... 126 Mycobacterium spp. ...................................................................................................... 129 Neisseria gonorrhoeae .................................................................................................. 130 Neisseria meningitidis, Haemophilus inuenzae tipo B e Streptococcus pneumoniae ........................................................................................ 131 Salmonela typhi ............................................................................................................ 131 Salmonela sp ................................................................................................................. 132 Shigella sp .................................................................................................................... 133 Staphylococcus aureus (S. epidermidis) ....................................................................... 133
8
FIOCRUZ
Treponema pallidum ...................................................................................................... 134 Vibrio cholerae e V. parahaemolyticus .......................................................................... 135 Yersinia pestis ................................................................................................................ 135 3.4. Biossegurana no Trabalho com Protozorios ............................................................. 137 Trypanosoma cruzi ......................................................................................................... 137 Leishmania spp............................................................................................................... 138 Plasmodium spp ............................................................................................................. 140 Toxoplasma gondii .......................................................................................................... 141 3.5. Biossegurana no Trabalho com Helmintos ................................................................ 145 Wuchereria bancrofti....................................................................................................... 145 3.6. Biossegurana no Trabalho com Artrpodes Vetores de Doenas .............................. 146 Classe Insecta ................................................................................................................ 149 Classe Arachnida ............................................................................................................ 151
II - Legislao Nacional ........................................................................................................... 153
Lei No 11.105 155/2005 ...................................................................................................... 153 Decreto No 5.591/2005 ....................................................................................................... 169
III - Anexos .............................................................................................................................. 197
1. Organismo Geneticamente Modicado (OGM): classicao......................................... 199 2. Formulrio de Noticao de Acidentes ......................................................................... 200 3. Cabine de Segurana Biolgica ...................................................................................... 203 4. Instncias responsveis pela Biossegurana ................................................................. 205 5. Links importantes para Biossegurana ........................................................................... 209
FIOCRUZ
Introduo
Biossegurana no seu conceito amplo, o conjunto de saberes direcionados para aes de preveno, minimizao ou eliminao de riscos inerentes s atividades de pesquisa, produo, ensino, desenvolvimento tecnolgico e prestao de servios, as quais possam comprometer a sade do homem, dos animais, das plantas e do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. As Boas Prticas Laboratoriais requerem considerao especial para a infraestrutura e os procedimentos de trabalho dentro do laboratrio, levando em conta tambm o uxo de trabalho no espao fsico e mapeamento de riscos. A manipulao de microorganismos, material clnico, animais inoculados, animais e plantas transgnicos vem sendo objeto de regulamentaes nacionais e internacionais, tendo em vista os riscos potenciais e efetivos dessas prticas. Alm disto, vivemos numa poca onde um crescente nmero de produtos biotecnolgicos e tambm animais e plantas geneticamente modicados fazem parte da nossa vivncia. A FIOCRUZ, estruturada em onze Unidades tcnico-cientcas, possui mais de cem laboratrios, envolvidos em atividades de pesquisa, ensino, produo e controle de qualidade, manipulando grande variedade de agentes patognicos e organismos geneticamente modicados (OGM). O Estado Brasileiro elaborou a Lei No 8.974/95, complementada com o Decreto No 1.752, estabelecendo normas para o uso das tcnicas de engenharia gentica e liberao no meio ambiente de organismos geneticamente modicados (OGM), denindo responsabilidades institucionais e civis e instituindo a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio) como instncia responsvel pela regulamentao e acompanhamento dessas prticas. Esta Lei foi revogada pela Lei no 11.105/2005. A FIOCRUZ instituiu, desde 1995, a Comisso Tcnica de Biossegurana (CTBio), vinculada Vice-Presidncia de Tecnologia, visando propor uma poltica institucional de Biossegurana. Instituiu ainda as Comisses Internas de Biossegurana (CIBios), por fora da Lei 8974/95, para controlar as atividades que manipulam OGM e estabelecer medidas internas necessrias adoo de Boas Prticas Laboratoriais na FIOCRUZ. A CTBio, atravs de estudos preliminares desenvolvidos pelo Comit para o Trabalho com Microorganismos Patognicos na Fiocruz realizados entre 1995 e 1997 constatou que parte signicativa dos pesquisadores, estudantes e estagirios trabalhavam com microorganismos patognicos sem procedimentos e barreiras de conteno adequadas. Vrias
11
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
medidas foram tomadas no mbito da instituio para reverso deste quadro. Em 1998 a CTBio publicou a primeira edio do manual sobre Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes na Fiocruz, elaborado pela equipe coordenada por Vera Bongertz do Departamento de Imunologia e composta pelos pesquisadores do IOC: Cntia de M. Borba do Departamento de Micologia, Clara Yoshida do Departamento de Virologia, Elba Regina Lemos do Departamento de Virologia, Elisabeth Rangel do Departamento de Entomologia, Harrison M. Gomes do Departamento de Medicina Tropical, Marilda M. Siqueira do Departamento de Virologia, Marise D. Asensi do Departamento de Bacteriologia, Patrcia Azambuja do Departamento de Bioqumica e Biologia Molecular, contando com a colaborao especial de Claude Pirmez do Departamento de Bioqumica e Biologia Molecular. Esta segunda edio, publicada em 2005, foi elaborada por grupo de trabalho da CTBio, coordenado por Hermann Schatzmayr do Departamento de Virologia do IOC, atravs da reviso da primeira edio do manual. Durante os seis anos transcorridos entre as duas edies, destacam-se como aes em biossegurana desenvolvidas no mbito da Fiocruz: distribuio do manual para todos os laboratrios da instituio; realizao de cursos sobre sensibilizao em biossegurana realizados tanto nos centros regionais e IFF como no campus de Manguinhos, totalizando 12 cursos em 2004; aquisio de equipamentos de proteo individual e coletiva pela CTBio como forma de estimular os investimentos em biossegurana pelas unidades da Fiocruz; e estabelecimento do Dia da Biossegurana, comemorado toda primeira sexta-feira de setembro, data estabelecida pelo CPqGM em 2002 e estendida no ano seguinte para toda a Fiocruz. A compilao dos dados, apresentados no Captulo 2, revelou o seguinte quadro de agentes patognicos manipulados na FIOCRUZ: 30 vrus de classe de risco 2 e 6 vrus de classe de risco 3. 32 espcies de bactrias de classe de risco 2 e 3 espcies de classe de risco 3. 37 espcies de protozorios e helmintos de classe de risco 2. 26 espcies de fungos de classe de risco 2 e 2 espcies de classe de risco 3. Aps um outro levantamento realizado pela CIBio/IOC (03-04), detectou-se a manipulao de organismos geneticamente modicados (OGM) em 43 laboratrios da FIOCRUZ, sendo 15 do IOC, 4 laboratrios de BioManguinhos, 1 laboratrio do CECAL, 1 laboratrio do IPEC, 3 laboratrios do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhes, 9 laboratrios do Centro de Pesquisas Gonalo Muniz, 5 laboratrios do Centro de Pesquisas Lenidas e Maria Deane e 6 laboratrios do Centro de Pesquisas Ren Rachou.
12
FIOCRUZ
Os Chefes de Laboratrio e Pesquisadores Principais responsveis pelo gerenciamento dos projetos de pesquisa e segurana no laboratrio devem ser treinados e promover treinamentos das pessoas expostas a riscos, alm de promover a adequao da infraestrutura e zelar pelos equipamentos de proteo individual e coletiva. As aes de gerenciamento da biossegurana devem ser descentralizadas e as condutas de cada pessoa conguram um aspecto decisivo na boa prtica laboratorial, desde a manipulao, transporte e estoque at o descarte nal dos rejeitos. Essa responsabilidade reivindica tambm uma interao dinmica entre as CIBios e a CTBio/FIOCRUZ apresentando sugestes de atualizao das informaes aqui contidas, para que sejam incorporadas e distribudas a todos os interessados. Na Parte I, que contm trs captulos, h informaes sobre: requisitos para o trabalho com agentes patognicos: cuidados durante a manipulao, adequao de rea fsica, instalaes, providncias em casos de acidente e outras medidas preventivas; os diferentes agentes patognicos manipulados na FIOCRUZ e sua classicao por laboratrio; bibliograa correspondente. Na Parte II, apresenta-se uma compilao da Legislao Nacional de Biossegurana. Nos Anexos, encontram-se a classicao de OGMs, o formulrio para Noticao de Acidentes, a classicao de cabines de segurana biolgica, as instncias envolvidas nas atividades de biossegurana e links importantes. Lembramos que esta publicao deve estar presente nos laboratrios que manipulam microorganismos e que sua leitura e cumprimento so obrigatrios para todos os prossionais, bolsistas e estagirios que ali trabalham. A avaliao deste aprendizado da responsabilidade do Pesquisador Principal, assim como dos experimentos e procedimentos em andamento no laboratrio. Esta publicao deve ser considerada como contribuio de alta relevncia institucional orientando o exerccio de Boas Prticas Laboratoriais na FIOCRUZ.
13
FIOCRUZ
Gesto da Qualidade e Biossegurana
A gesto da Qualidade e a Biossegurana incluem hoje em dia, critrios e requisitos que devem ser cumpridos em atendimento s normas nacionais e internacionais que regem a organizao de laboratrios de ensaios, tanto para a pesquisa quanto para a prestao de servios. Freqentemente considerados como equivalentes ambos elementos respondem, entretanto, a objetivos e reas de conhecimento claramente diferenciados, porm bastante vinculados entre si. Os principais Sistemas de Gesto da Qualidade implementados no Brasil so: AS NORMAS DA FAMLIA ISO 9000:2000 Publicadas em dezembro de 2000 pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT (www.abnt.com.br), as Normas da famlia ISO 9000:2000 so consideradas as normas bsicas de maior versatilidade e implementao no mundo inteiro. Elas incluem: a) A NBR ISO 9000, que contm as denies e terminologias pertinentes; b) A NBR ISO 9001, que apresenta um conjunto organizado de requisitos para a implantao e implementao de sistemas de gesto da qualidade; c) A NBR ISO 9004, contendo diretrizes para a melhoria do desempenho das organizaes. As trs normas, no seu conjunto, aproximam-se signicativamente, dos conceitos e critrios dos prmios da qualidade. A NORMA NBR ISO 17025 Especicamente referida competncia tcnica de laboratrios de ensaios e calibrao, a norma NBR ISO/IEC 17025 substituiu, a partir do ano 2000, a antiga NBR ISO/IEC guia 25 (www. abnt.com.br). REQUISITOS DE COMPETNCIA PARA LABORATRIOS CLNICOS A Norma ISO 15189, publicada em fevereiro de 2003 (www. iso.org), estabelece requisitos especcos para qualidade e competncia de laboratrios mdicos (clnicos). Enquanto a ABNT procede a sua traduo e publicao como NBR (Norma Brasileira),
15
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
o INMETRO utiliza, para o procedimento de credenciamento dos laboratrios clnicos, a Norma NIT-DICLA-083/01(www. inmetro.gov.br), elaborada e publicada pelo INMETRO com base na ltima verso em rascunho nal (nal draft FDIS) da ISO 15189. AS BOAS PRTICAS DE LABORATRIO - BPL No Brasil as BPL aplicam-se de forma compulsria aos laboratrios que trabalham nas reas de toxicologia, eco-toxicologia e ecossistemas no contexto da legislao ambiental do IBAMA, sendo de aplicao cada vez maior em laboratrios de pesquisa particularmente, mas no apenas, aqueles que trabalham com pesquisas pr-clnicas. As diretrizes e os princpios das Boas Prticas de Laboratrio so publicados pelo Inmetro (www. inmetro.gov.br) sendo a verso atual a Norma NIT DICLA 028/03. Os critrios desta norma esto baseados em documentos originais da Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico (www. oecd.org). AS BOAS PRTICAS DE FABRICAO - BPF Publicadas no Brasil pela Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA (www. anvisa.gov.br). PRMIOS DA QUALIDADE / GESTO DA EXCELNCIA Os prmios da qualidade esto baseados em princpios e requisitos de aplicao nos principais pases industrializados do mundo, visando a gesto de excelncia das instituies com ns de inovao e competitividade. OUTROS SISTEMAS DE GESTO DA QUALIDADE Existem ainda outras normas especcas de gesto da qualidade de aplicao especca no campo da sade. Dentre elas merecem destaque os princpios e critrios de gesto da qualidade em instituies hospitalares, cujo detalhamento varia segundo o rgo de acreditao hospitalar respectivo, sendo um dos mais utilizados no Brasil o Manual Internacional de Padres de Acreditao Hospitalar editado pelo Consrcio Brasileiro de Acreditao CBA e a Joint Comission Internationa (www. cbacred.org.br)l; e as Boas Prticas Clnicas BPC, semelhantes, em termos gerais, s BPL, mas direcionadas, especicamente, para os estudos clnicos em humanos.
16
FIOCRUZ
Insero da Biossegurana nos Itens dos Sistemas de Gesto da Qualidade Laboratorial
Alguns itens onde h insero da biossegurana na gesto da qualidade laboratorial: denio na estrutura organizacional do laboratrio da gesto da biossegurana (coordenao, servio, setor etc); manual da qualidade com um item referente poltica e procedimentos de biossegurana; controle de documentos relativos a requisitos da biossegurana; anlise crtica de pedidos, propostas e contratos incluindo os elementos da biossegurana envolvidos e a disponibilidade de aes preventivas quanto aos riscos eventuais identicados, inerentes ao trabalho a ser contratado; avaliao de itens de biossegurana nos laboratrios subcontratados; aquisio de servios e suprimentos, denindo especicaes de biossegurana para equipamentos, insumos e servios a serem adquiridos; identicao e controle de no conformidades e aes corretivas relacionadas biossegurana; a implantao e implementao dos requisitos de biossegurana no contexto dos sistemas de gesto da qualidade constituem um excelente exemplo de ao preventiva, incluindo, dentre outros, a utilizao de EPI e EPC e plano de preveno de incndio; reviso e atualizao de procedimentos relativos biossegurana, visando a melhoria contnua de gesto da qualidade; registros relativos questes de biossegurana devem ser mantidos (acidentes, aes preventivas/corretivas, condies de sade dos trabalhadores etc); polticas e procedimentos de biossegurana devem ser objeto de auditorias internas; anlise crtica pela gerncia tambm deve ser adotada quanto gesto da biossegurana; denio de responsabilidade de todo o pessoal quanto biossegurana, programao e implementao de programa de capacitao continuada para todo o pessoal (polticas e procedimentos de biossegurana);
17
ordem interna/limpeza dos laboratrios e acomodaes e ambientes adequados; aderncia dos equipamentos de proteo coletiva (EPC) e de proteo individual (EPI) ao programa de vericao, validao e calibrao, quando pertinente; incluso de referncias a riscos sade na identicao de determinadas solues e reagentes; a elaborao e implementao de procedimentos que assegurem a estocagem adequada de reagentes e solues txicas, inamveis ou incompatveis entre si; estabelecimento de polticas e procedimentos para descarte; transporte de amostras ao laboratrio deve ser tal que assegure segurana para o transportador, o pblico em geral e o laboratrio receptor, de acordo com requisitos regulatrios nacionais, regionais e locais; procedimentos documentados de exames/ ensaios incorporando requisitos de biossegurana; rastreabilidade mantida nas calibraes/validaes dos equipamentos relativos biossegurana; descarte seguro de amostras que no so mais requeridas para exame deve ser realizado de acordo com a legislao ou recomendaes sobre gerenciamento de resduos; monitoramento ambiental.
FIOCRUZ
I-
Procedimentos para a manipulao de microorganismos biolgicos patognicos e/ou recombinantes na FIOCRUZ
A primeira edio deste Manual foi realizada pelo Comit de Biossegurana para o Trabalho com Microorganismos Patognicos (1995-1997) da Comisso Tcnica de Biossegurana da FIOCRUZ, sob a Coordenao de Vera Bongertz e colaborao especial de Claude Pirmez. A presente edio foi atualizada e complementada em 2005.
Equipes de trabalho Abraham Rocha Ana Beatriz M. da Silva Antoniana Krettli Cntia de M Borba Clara Yoshida Claude Pirmez Elba RS de Lemos Elisabeth Rangel Francelina H.A. Lima e Silva Hamilton S Coelho Harrison M Gomes Helene S Barbosa Hermann Schatzmayr Marilda S Gonalves Marise D Asensi Patrcia Azambuja Telma A. O . Cardoso Valria Michielin Vieira Vera Bongertz 1998 1998 1998 2005 2005 2005 2005 1998 2005 2005 2005 1998 1998 1998 1998 1998 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 CPqAM VPSRA CPqRR IOC/Departamento de Micologia IOC/Departamento de Virologia IOC/Departamento de Bioqumica e Biologia Molecular IOC/Departamento de Virologia IOC/Departamento de Entomologia NuBio -VPSRA IFF IOC/Departamento de Medicina Tropical Hansenase IOC/ Departamento de Ultraestrutura e Biologia Celular IOC / Departamento de Virologia CPqGM IOC/Departamento de Bacteriologia IOC/Departamento de Bioqumica e Biologia Molecular NuBio- VPSRA DIRAC IOC/Departamento de Imunologia
Presidentes da CTBio-FIOCRUZ Maria Celeste Emerick 1995 -1997 e 2003 - 2004 Win Degrave 1998 - 1999 Hermann Schatzmayr 1999 - 2002 Eduardo Martins 2005- 2007
19
FIOCRUZ
CAPTULO 1
REQUISITOS PARA O TRABALHO COM AGENTES PATOGNICOS E/OU RECOMBINANTES
1.1 Classicao de agentes com base em seu risco biolgico
Introduo Os agentes biolgicos patognicos para o homem e animais so distribudos em classes de risco biolgico em funo de diversos critrios tais como a gravidade da infeco, nvel de capacidade de se disseminar no meio ambiente, estabilidade do agente, endemicidade, modo de transmisso, da existncia ou no de medidas prolticas, como vacinas e da existncia ou no de tratamentos ecazes. Alguns outros fatores so tambm considerados como as perdas econmicas que possam gerar, vias de infeco, existncia ou no do agente no pas e sua capacidade de se implantar em uma nova rea onde seja introduzido. Por este motivo, as classicaes existentes em vrios pases embora concordem em relao a grande maioria dos agentes, apresentam algumas variaes, em funo de fatores regionais especcos. As classes de risco biolgico so assim denidas: Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade): Incluem os agentes que no possuem capacidade comprovada de causar doena em pessoas ou animais sadios. Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade): Incluem os agentes que podem causar doena no homem ou animais, porm no apresentam riscos srios para os prossionais do laboratrio, para a comunidade, para animais e para o meio ambiente. Os agentes desta classe, quando no existentes no pas, devem ter sua importao restrita, sujeita a prvia autorizao das autoridades competentes. Classe de risco 3 (alto risco individual e risco moderado para a comunidade): Incluem os agentes que usualmente causam doenas humanas ou animais graves as quais no entanto, podem usualmente ser tratadas por medicamentos ou medidas
21
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
teraputicas gerais, representando risco moderado para a comunidade e para o meio ambiente. Os agentes desta classe, quando no existentes no pas, devem ter sua importao restrita, sujeita a prvia autorizao das autoridades competentes. Classe de risco 4 (alto risco individual e alto risco para a comunidade): Incluem os agentes de alto risco biolgico que causam doenas humanas e animais de alta gravidade e capazes de se disseminar na comunidade e no meio ambiente. Esta classe inclui principalmente agentes virais . Os agentes desta classe, quando no existentes no pas, devem ter sua importao proibida e caso sejam identicados ou se tenha suspeita de sua presena no pas, os materiais suspeitos de conter estes agentes devem ser manipulados com os nveis mximos de segurana disponveis e devem ser destrudos por processos fsicos (autoclavao) ou por processos qumicos de reconhecida eccia e posteriormente incinerados. Observaes sobre a classicao de microorganismos 1. Na relao de agentes nas diversas classes, no se tomaram em considerao fatores particulares como uma possvel mais alta susceptibilidade do prossional de laboratrio em funo de doenas pr-existentes, medicao que esteja utilizando, baixa de sua imunidade, gravidez e lactao. Estes fatores devem ser avaliados antes dos prossionais entrarem em contacto com os agentes infecciosos. 2. No caso de mais de uma espcie de um determinado gnero ser patognica, ser assinalada a mais importante, seguida da denominao spp, indicando que outras espcies do gnero podem ser tambm patognicas. 3. Amostras de microorganismos com alta resistncia a antibiticos ou quimioterpicos podem ser classicadas em nvel de risco acima do indicado para amostras no-resistentes. 4. Todos os agentes isolados do homem e ainda no devidamente estudados e classicados, devem ser considerados como de classe 2 no mnimo, at que os estudos sejam concludos. 5. A classicao de parasitas e as respectivas medidas de contingenciamento se aplicam somente para os estgios de seu ciclo durante os quais sejam infecciosos para o homem ou animais. 6. Agentes de doenas animais, no-existentes no pas e de alto risco de disseminao no meio ambiente e de gerao de epizootias, devem ser consideradas como de risco biolgico nvel 4. 7. Quando so manejados grande nmero de amostras clnicas para sorologia
22
FIOCRUZ
de vrus de risco para o homem como HIV e hepatites B e C, recomendado a utilizao de procedimentos padres inclusive o uso de equipamentos de proteo individual indicados para o nvel de risco biolgico 3. A inoculao experimental em animais de agentes biolgicos patognicos, em especial os que so eliminados em altos ttulos por excrees ou secrees do animal e em especial os infectantes por via respiratria, podem exigir um nvel de contingenciamento acima do indicado na classicao do microorganismo. Cada caso dever ser avaliado por prossionais capacitados a julgar o risco existente, antes de serem iniciadas as inoculaes experimentais destes agentes.
Classe de risco 1
Agentes no includos nas classes de risco 2, 3 e 4 e que no demonstram capacidade comprovada de causar doena no homem ou em animais sadios. A no classicao de agentes nas classes de risco 2, 3 e 4 no implica na sua incluso automtica nesta classe de risco. Para isso dever ser conduzida uma avaliao, baseada nas propriedades conhecidas e/ou potenciais desses agentes e de outros representantes do mesmo gnero ou famlia.
Classe de risco 2
Bactrias
Acinetobacter baumannii (anteriormente Acinetobacter calcoaceticus); Actinobacillus (todas as espcies); Actinomadura madurae, A. pelletieri; Actinomyces spp, A. gerencseriae, A.israelli, Actinomyces pyogenes (anteriormente Corynebacterium pyogenes); Aeromonas hydrophila; Amycolata autotrophica; Archanobacterium haemolyticum (anteriormente Corynebacterium haemolyticum); Bacteroides fragilis; Bartonella (Rochalimea) spp, B. bacilliformis, B. henselae, B. vinsonii, B. quintana; Borrelia spp, B. anserina, B.burgdorferi, B. duttoni, B. persicus, B. recurrentis, B. theileri, B.vincenti; Bordetella bronchiseptica, B. parapertussis, B. pertussis;
23
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Burkholderia spp (anteriormente espcies de Pseudomonas exceto aquelas inseridas na classe 3); Campylobacter spp, C.septicum, C. coli, C. fetus, C. jejuni; Cardiobacterium hominis; Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis; Clostridium spp, (C. chauvoei , C. haemolyticum, C. histolyticum, C. novyi, C. perfringens; C. tetani, C. septicum ); Corynebacterium spp, C. diphtheriae, C. equi, C. haemolyticum, C. minutissimum, C.pyogenes, C. pseudotuberculosis, C. renale; Dermatophilus congolensis; Edwardsiella tarda; Ehrlichia spp, Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu); Eikenella corrodens; Enterobacter aerogenes/cloacae; Enterococcus spp; Erysipelothrix rhusiopathiae; Escherichia coli (todas as cepas enteropatognicas, enterotoxignicas, enteroinvasivas e cepa detentoras do antgeno K 1); Haemophilus ducreyi, H. inuenzae; Helicobacter pylori; Klebsiella (todas as espcies); Legionella, incluindo a L. pneumophila; Leptospira interrogans (todos os sorotipos); Listeria (todas as espcies); Moraxella (todas as espcies); Mycobacterium (todas as espcies, exceto as listadas na Classe 3), Mycobacterium avium/intracellulare, M. cheloni, M. fortuitum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum, M. paratuberculosis, M. scrofulaceum, M. simiae, M. szulgai, M. xenopi, M. asiaticum, M.bovis BCG vacinal, M. leprae; Mycoplasma (todas as espcies, exceto Mycoplasma mycoides mycoides e Mycoplasma agalactiae classicados como risco 4), Mycoplasma caviae, M. hominis, M. pneumoniae; Neisseria gonorrhoea, N. meningitidis; Nocardia asteroides, N. brasiliensis, N. otitidiscaviarum, N. transvalensis, N. farcinica, N. nova; Pasteurella spp, P. multocida;
24
FIOCRUZ
Peptostreptococcus anaerobius; Plesiomonas shigelloides; Porphyromonas spp; Prevotella spp; Proteus mirabilis, P. penneri, P. vulgaris; Providencia spp, P. alcalifaciens, P. rettgeri; Rhodococcus equi; Salmonella spp (todos os sorovares); Serpulina spp; Shigella spp.(S. boydii, S. dysenteriae, S. exneri, S. sonnei ); Sphaerophorus necrophorus; Staphylococcus aureus; Streptobacillus moniliformis; Streptococcus spp, S. pneumoniae, S. pyogenes, S. suis; Treponema spp, T. carateum, T. pallidum, T. pertenue; Vibrio spp, V. cholerae 01 e 0139, V. vulnicus, V. parahaemolyticus; Yersinia spp, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis
Classe de risco 2
Parasitas
Acanthamoeba castellani; Ancylostoma humano e animal, incluindo A. duodenale, A. ceylanicum; Angiostrongylus spp, A. cantonensis, A. costaricensis; Ascaris, A. lumbricoides, A. suum; Babesia, incluindo B. microti, B. divergens; Balantidium coli; Brugia, incluindo B malayi, B. timori, B. pahangi; Capillaria spp, C. philippinensis; Clonorchis sinensis, C. viverrini; Coccidia; Cryptosporidium spp, C. parvum; Cyclospora cayetanensis; Cysticercus cellulosae (cisto hidtico, larva de T. solium);
25
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Dipetalonema streptocerca; Diphyllobothrium latum; Dracunculus medinensis; Echinococcus, incluindo E. granulosus, E. multilocularis, E. vogeli; Entamoeba histolytica; Enterobius; Fasciola , incluindo F. gigantica, F. heptica; Fasciolopsis buski; Giardia spp, G. lamblia (Giardia intestinalis); Heterophyes; Hymenolepis, incluindo H. diminuta, H. nana; Isospora; Leishmania spp, L. major, L. mexicana, L. peruvania, L. tropica, L. ethiopia, L. brasiliensis, L. donovani; Loa loa; Mansonella ozzardi, M. perstans; Microsporidium; Naegleria fowleri, N. gruberi; Necator, incluindo N. americanus; Onchocerca, incluindo O. volvulus; Opisthorchis (todas as espcies); Paragonimus westermani; Plasmodium, incluindo as espcies smias, P. cynomolgi, P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax; Sarcocystis, incluindo S. suihominis; Schistosoma haematobium, S. intercalatum, S. japonicum, S. mansoni, S. mekongi; Strongyloides, incluindo S. stercoralis; Taenia solium, T. saginata; Toxocara, incluindo T. canis; Toxoplasma, incluindo T. gondii; Trichinella spiralis; Trichuris trichiura; Trypanosoma, incluindo T. brucei brucei, T.brucei gambiense, T. brucei rhodesiense, T.cruzi; Wuchereria bancrofti
26
FIOCRUZ
Fungos
Aspergillus avus, A. fumigatus; Blastomyces dermatitidis (na fase de esporulao apresenta maior risco de infeco); Candida albicans, C. tropicalis; Cladophialophora carrioni (Cladosporium carrioni), Cladophialophora bantiana (Xylophora bantiana, Cladosporium bantianum ou C. trichoides); Cryptococcus neoformans, Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora), Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans); Emmonsia parva var. crescens, Emmonsia parva var. parva; Epidermophyton spp, E. occosum; Exophiala dermatitidis; Fonsecaea compacta, F. pedrosoi; Madurella spp, M. grisea, M. mycetomatis; Microsporum spp, M. canis, M. aldouinii; Neotestudina rosatii; Paracoccidioides brasiliensis (na fase de esporulao apresenta maior risco de infeco); Penicillium marneffei; Pneumocystis carinii; Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii), Scedosporium prolicans (inatum); Sporothrix schenckii; Trichophyton spp, Trichophyton rubrum.
27
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Fungos emergentes e oportunistas
Acremonium falciforme, A. kiliense, A. potronii, A. recifei, A. roseogriseum; Alternaria anamorfo de Pleospora infectoria; Aphanoascus fulvescens; Aspergillus amstelodami, A. caesiellus, A. candidus, A. carneus, A. glaucus, A. oryzae, A. penicillioides, A. restrictus, A. sydowi, A. terreus, A. unguis, A. versicolor; Beauveria bassiana; Candida pulcherrima, C. lipolytica, C. ravautii, C. viswanathii; Chaetomium spp; Chaetoconidium spp; Chaetosphaeronema larense; Cladosporium cladosporioides; Conidiobolus incongruus; Coprinus cinereus; Cunninghamella geniculata; Curvularia pallescens, C. senegalensis; Cylindrocarpon tonkinense; Drechslera spp; Exophiala moniliae; Fusarium dimerum, F. nivale; Geotrichum candidum; Hansenula polymorpha; Lasiodiplodia theobromae; Microascus desmosporus; Mucor rouxianus; Mycelia sterilia; Mycocentrospora acerina; Oidiodendron cerealis; Paecilomyces lilacinus, P. viridis, P. variotii; Penicillium chrysogenum, P. citrinum, P. commune, P. expansum, P. spinulosum; Phialophora hoffmannii, P. parasitica, P. repens;
28
FIOCRUZ
Phoma hibernica; Phyllosticta spp, P. ovalis; Pyrenochaeta unguis-hominis; Rhizoctonia spp; Rhodotorula pilimanae, R. rubra; Schizophyllum commune; Scopulariops acremonium, S. brumptii; Stenella araguata; Taeniolella stilbospora; Tetraploa spp; Trichosporon capitatum; Tritirachium oryzae; Volutella cinerescens.
Vrus
Adenovrus humanos, caninos e de aves; Arenavirus do Velho Mundo: vrus Ippy, Mobala, Coriomeningite linfocitria (amostras no neurotrpicas); Arenavirus do Novo Mundo (complexo Tacaribe) vrus Amapari, Latino, Paran, Pichinde, Flechal, Tamiami, exceto os classicados nos nveis 3 e 4; Astrovirus; Birnavirus, incluindo vrus Gumboro e vrus relacionados; Bunyavirus incluindo Grupo Anopheles A (Arumateua, Caraip, Lukuni, Tacaiuma, Trombetas, Tucurui);Grupo Bunyawera (Iaco, Kairi, Macau, Maguari, Sororoca, Tucunduba, Taiassu, Xingu);Grupo da encefalite da California :La Crosse, Snow hare, San Angelo, Tahyna, Lumbo, Inkoo; Grupo Melao: Jamestown Canyon, South River, Keystone, Serra do Navio, Trivittatus, Guaroa; Grupo C :Apeu, Caraparu, Itaqui, Marituba, Murutucu, Nepuyo, Oriboca; Grupo Capim: Capim, Acara, Benevides, Benca, Guajar, Moriche; Grupo Guam: Ananindeua, Bimiti, Cat, Guam, Mirim, Moju, Timboteua;Grupo Simbu: Jatobal, Oropouche, Utinga; vrus Turlock, Belem, Moju dos Campos, Par e Santarm; Circovirus incluindo vrus TT e vrus relacionados; Hantavirus incluindo Prospect Hill, Puumala e demais Hantavrus, exceto os classicadas no nvel 3; Nairovirus incluindo Hazara; Phlebovirus incluindo os vrus Alenquer, Amb, Anhang, Ariquemes, Belterra, Bujar,
29
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Candir, Icoarac, Itaituba, Itaporanga, Jacund, Joa, Morumbi, Munguba, Oriximina, Pacu, Serra Norte, Tapar, Turuna, Uriurana, Urucuri, Napoles, Toscana, Uukuvrus; Norovirus incluindo o agente de Norwalk e vrus Saporo; Vrus da hepatite E; Coronavirus incluindo vrus humanos, gastroenterite de sunos, hepatite murina, Coronavirus de bovinos, caninos, ratos e coelhos, peritonite infecciosa felina, bronquite infecciosa aviria; Flaviviridae gnero Flavivirus incluindo vrus Dengue tipos 1, 2, 3 e 4, vrus da Febre Amarela vacinal, West Nile, Kunjin, Bussuquara, Cacipacor, Ilhus, encefalite de So Luis; gnero Hepacivirus incluindo o vrus da hepatite C Pestivirus incluindo os vrus da diarria bovina e peste suna clssica, Orthohepadnavirus incluindo o vrus da Hepatite B; Herpesvirus incluindo Citomegalovrus, Herpes simplex 1 e 2, vrus Epstein-Barr, Varicela-Zoster, Herpes vrus tipo 6- HHV6, Herpes vrus tipo 7- HHV7, Herpes vrus tipo 8 HHV8; Orthomyxovirus incluindo vrus da Inuenza A, B e C, exceto amostras avirias asiticas de inuenza A como H5N1, classicadas em nvel 4; Orthomyxovirus transmitidos por carrapatos: vrus Dhori e Thogoto; Polyomavirus incluindo vrus BK e JC e vrus smio 40 (SV40); Papillomavirus incluindo os vrus de papilomas humanos; Paramyxovirus incluindo vrus do Sarampo, Cachumba, Nipah, Parainuenza 1, 2, 3 e 4, vrus Respiratrio Sincicial e doena de New-Castle, exceto amostras asiticas, classicadas no nvel 4; Parvovirus incluindo Parvovirus humano B-19; Picornavirus incluindo vrus da Poliomielite, vrus da conjuntivite hemorrgica aguda ( AHC ), vrus Coxsackie, vrus ECHO, Rhinovirus e vrus da hepatite A. Poxvirus incluindo Vaccinia e vrus relacionados; Cowpox e vrus relacionados isolados de felinos domesticos e de animais selvagens, nodulo do ordenhador, Cotia, Molusco contagioso, Buffalopox, vrus Orf, Yatapox ( Tana e Yaba ), Parapoxvrus, Poxvrus de caprinos, sunos e aves , Myxoma. Retrovrus ( classicados em nvel 2 apenas para sorologia, para as demais operaes de manejo em laboratrio estes vrus devem ser considerados como de risco biolgico 3 ) incluindo os vrus da imunodecincia humana HIV-1 e HIV-2, vrus linfotrpicos da clula T do adulto HTLV-1, HTLV-2 e vrus de primatas no-humanos. Rhabdovirus incluindo vrus da Raiva (amostras de vrus fixo), Grupo da Estomatite Vesicular (Indiana VSV-1, Cocal VSV 2, Alagoas VSV 3, Maraba VSV 4, Carajs, Juruna, Marab, Piry), Grupo Hart Park (Hart Park, Mosqueiro), Grupo Timb (Timb, Chaco, Sena Madureira), Grupo Mussuril (Cuiab, Marco), vrus
30
FIOCRUZ
Duvenhage, Aruac, Inhangapi, Xiburema. Reovirus gnero Orthoreovirus incluindo Reovirus tipos 1,2 e 3, Coltivirus, gnero Rotavirus, Reovirus isolados na Amazonia dos grupos Changuinola e Corriparta, vrus Ieri, Itupiranga e Temb. Togavirus gneroAlphavirus incluindo vrus Bebaru, Onyong-nyong, Chikungunya, Ross River, Semliki, Sindbis, encefalite equina Venezuela (amostra TC 83), encefalomielite equina ocidental, encefalomielite equina oriental, Aur, Mucambo, Mayaro, Pixuna, Una. Togavirus gnero Rubivirus incluindo o vrus da rubeola.
Vrus oncognicos de baixo risco
Adenovrus 7-Simian virus 40 (Ad7-SV40), Adenovrus 1 avirio (CELO vrus ), Herpesvirus de cobaias, Lucke virus de rs, vrus Mason-Pzer smio, Vrus do sarcoma de Rous, vrus do broma de Shope, Vrus da doena de Marek, Vrus da leucose bovina enzotica Vrus da leucemia de hamsters, murinos e ratos, Vrus da leucose aviria, Vrus de papilomas bovinos,
Vrus de sarcomas caninos e murinos, Vrus de tumores mamrios de camundongos Oncognicos de risco moderado
Adenovrus 2-Simian vrus 40 (Ad2-SV40), Vrus Epstein-Barr (EBV), Vrus da leucemia de gibes (GaLV), Vrus da leucemia felina (FeLV), Vrus do sarcoma felino (FeSV), Vrus do sarcoma de smios (SSV) 1, Vrus Yaba.
31
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Classe de risco 3
Bactrias
Bacillus anthracis; Bartonella (todas as espcies); Brucella (todas as espcies); Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); Chlamydia psittaci; Clostridium botulinum; Coxiella burnetii; Escherichia coli, cepas verotoxignicas como 0157:H7; Francisella tularensis (tipo A); Hemophilus equigenitalis; M. bovis (todas as cepas, exceto a BCG), M. tuberculosis; Pasteurella multocida tipo B (amostra buffalo e outras cepas virulentas); Rickettsia akari, R. australis, R. canada, R. conorii, R. montana, R. prowazeckii, R. rickettsii, R.siberica, R. tsutsugamushi, R. typhi (R. mooseri); Yersinia pestis.
Fungos
Coccidioides immitis (culturas esporuladas; solo contaminado); Histoplasma capsulatum (todos os tipos, inclusive a variedade duboisii).
Vrus e Prions
Arenavirus do Velho Mundo incluindo Linfocoriomeningite (amostras neurotrpicas); Arenavirus do Novo Mundo exceto os classicados nos nveis 2 e 4; Hantavirus incluindo vrus Andes, Juquitiba, Dobrava (Belgrado), Hantaan, Seoul, Sin Nombre, outras amostras do grupo recentemente isoladas; Flavivirus incluindo vrus da Febre Amarela no vacinal, Murray Valley, Encefalite Japonesa B, Powassan, Rocio, Sal Vieja, San Perlita, Spondweni; Herpesvirus incluindo Rhadinovirus (Herpesvirus de Ateles, Herpesvirus de Saimiri ); Lyssavirus vrus da Raiva (amostras de rua);
32
FIOCRUZ
Retrovirus incluindo os vrus da imunodecincia humana HIV-1 e HIV-2, vrus linfotrpico da clula T do adulto HTLV-1 e HTLV-2 e vrus de primatas no-humanos; Togavirus: Encefalite equina Venezuela (exceto a amostra vacinal TC-83); Prons incluindo agentes de encefalopatias espongiformes transmissveis: encefalopatia espongiforme bovina, scrapie e outras doenas animais relacionadas, doena de Creutzfeldt-Jakob, insnia familiar fatal, sndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker, Kuru; Oncornavirus C e D
Classe de risco 4
Vrus e outros agentes
Arenavrus agentes de febres hemorrgicas (Crimia-Congo, Lassa, Junin, Machupo, Sabi, Guanarito e outros vrus relacionados); Asvirus incluindo peste suna africana; Encefalites transmitidas por carrapatos (vrus da encefalite primavera-vero russa, vrus da doena da oresta de Kyasanur, febre hemorrgica de Omsk, vrus da encefalite da Europa Central com suas vrias amostras); Filovirus incluindo vrus Marburg, Ebola (todas as cepas) e outros vrus relacionados; Herpesvirus do macaco (vrus B); Orbivirus incluindo vrus da peste equina africana e vrus da lngua azul; Vrus da aftosa com seus diversos tipos e variantes; Varola major e alastrim, varola do macaco (monkey-pox), varola do camelo (camelpox) ; Vrus da doena hemorrgica de coelhos; Vrus da enterite viral dos patos, gansos e cisnes; Vrus da febre catarral maligna de bovinos e cervos; Vrus da hepatite viral do pato tipos 1, 2 e 3; Vrus da lumpy skin; Vrus da clera suna; Vrus da doena de Borna; Vrus da doena de New-Castle (amostras asiticas); Vrus da doena de Teschen; Vrus da doena Nairobi do carneiro e vrus relacionados como Ganjam e Dugbe; Vrus da doena vesicular do suno;
33
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Vrus da doena de Wesselbron; Vrus da febre do vale do Rift; Vrus da febre efmera de bovinos; Vrus da febre petequial infecciosa bovina; Vrus da peste eqina africana; Vrus da peste dos pequenos ruminantes; Vrus da peste bovina; Vrus da peste suna clssica (amostra selvagem); Vrus da inuenza aviria (amostras epizooticas como H5N1) Vrus da peste aviria; Vrus do louping ill de ovinos; Mycoplasma agalactiae (caprinos e ovinos); Mycoplasma mycoides mycoides (pleuropneumonia bovina); Cowdria ruminatium (heart water). Thaileria annulata, T.bovis, T.hirci, T.parva e agentes relacionados Trypanosoma evansi, T.vivax
34
FIOCRUZ
1. 2. Denio dos nveis de Biossegurana (NB)
Os quatro nveis de biossegurana: NB-1, NB-2, NB-3 e NB-4 esto em ordem crescente no maior grau de conteno e complexidade do nvel de proteo. O nvel de biossegurana de um experimento ser determinado segundo o organismo de maior classe de risco envolvido no experimento. Quando no se conhece o potencial patognico do microorganismo, dever ser procedida uma anlise detalhada e criteriosa de todas as condies experimentais. NB- 1: Nvel de Biossegurana 1 Requer procedimentos para o trabalho com microorganismos (classe de risco 1) que normalmente no causam doena em seres humanos ou em animais de laboratrio. NB- 2: Nvel de Biossegurana 2 Requer procedimentos para o trabalho com microorganismos (classe de risco 2) capazes de causar doenas em seres humanos ou em animais de laboratrio sem apresentar risco grave aos trabalhadores, comunidade ou ambiente. Agentes no transmissveis pelo ar. H tratamento efetivo e medidas preventivas disponveis. O risco de contaminao pequeno. NB- 3: Nvel de Biossegurana 3 Requer procedimentos para o trabalho com microorganismos (classe de risco 3) que geralmente causam doenas em seres humanos ou em animais e podem representar um risco se disseminado na comunidade, mas usualmente existem medidas de tratamento e preveno. Exige conteno para impedir a transmisso pelo ar. NB- 4: Nvel de Biossegurana 4 Requer procedimentos para o trabalho com microorganismos (classe de risco 4) que causam doenas graves ou letais para seres humanos e animais, com fcil transmisso por contato individual casual. No existem medidas preventivas e de tratamento para estes agentes.
35
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
1.3. Regras Bsicas para o Trabalho em Laboratrio
Considere todo equipamento como infeccioso
Trabalhe com ateno e sem tenso.
Sinais de aviso indicando o nvel de risco dos agentes em uso devem ser colocados na porta do laboratrio.
Todo acidente deve ser relatado por escrito ao supervisor do laboratrio para posterior noticao ocial. Cuidados mdicos devem ser providenciados imediatamente.
Acidentes Biolgicos na FIOCRUZ De acordo com o Artigo. 211/214 da Lei n 8112/90 do R.J.U., todo acidente de trabalho dever ser noticado (vide Anexo). O trabalhador envolvido em acidente biolgico dever ser atendido e se preciso, medicado com urgncia (indicado at 2 horas aps o acidente, segundo projeto de Norma Regulamentadora # 32 sobre a Segurana e Sade no Trabalho em Estabelecimentos de Assistncia Sade). Para isso, o trabalhador acidentado dever procurar (ou ser encaminhado) ao mdico plantonista mais prximo. O NUST (Ncleo de Sade do Trabalhador) dever ser noticado de todos os acidentes. Todo pessoal de laboratrio deve: Conhecer as regras para o trabalho com agente patognico; Conhecer os riscos biolgicos, qumicos, radioativos, txicos e ergonmicos com os quais se tem contato no laboratrio; Ser treinado e aprender as precaues e procedimentos de biossegurana; Seguir as regras de biossegurana; evitar trabalhar sozinho com material infeccioso: uma segunda pessoa deve estar acessvel para auxiliar em caso de acidente; Ser protegido por imunizao apropriada quando disponvel; Manter o laboratrio limpo e arrumado, devendo evitar o armazenamento de materiais no pertinentes ao trabalho do laboratrio;
36
FIOCRUZ
Limitar o acesso aos laboratrios, restringindo-o nos laboratrios de nveis de conteno 3 e 4. No permitir crianas no laboratrio. Esclarecer mulheres grvidas ou indivduos imunocomprometidos que trabalham ou entram no laboratrio quanto aos riscos biolgicos; Usar roupas protetoras de laboratrio (uniformes, aventais, jalecos, mscaras) que devem estar disponveis e ser usados inclusive por visitantes; Usar luvas sempre que manusear material biolgico. Luvas devem ser usadas em todos os procedimentos que envolverem o contato direto da pele com toxinas, sangue, materiais infecciosos ou animais infectados. Anis ou outros adereos de mo que interferem com o uso da luva devem ser retirados. As luvas devem ser removidas com cuidado para evitar a formao de aerossis e descontaminadas antes de serem descartadas. Trocar de luvas ao trocar de material. No tocar o rosto com as luvas de trabalho. No tocar com as luvas de trabalho em nada que possa ser manipulado sem proteo, tais como maanetas, interruptores, etc.; Usar sempre avental ou jaleco ao manipular material sabidamente ou potencialmente patognico. Retirar o jaleco ou avental antes de sair do laboratrio. No usar sapatos abertos; Utilizar protetores de face e/ou olhos quando necessrio proteger-se de respingos, substncias txicas, luz UV ou outras irradiaes; No aplicar cosmticos. No retirar canetas ou qualquer outro instrumento do laboratrio sem descontaminar antes. No mastigar lpis/caneta e no roer as unhas; Evitar o uso de lentes de contato. Se houver necessidade de us-las, proteja os olhos com culos de segurana. Cabelos compridos devem estar presos durante o trabalho. O uso de jias ou bijouterias deve ser evitado; Lavar as mos sempre aps manipulao com materiais sabidamente ou com suspeita de contaminao. Lavar as mos sempre aps remoo das luvas, do avental ou jaleco e antes de sair do laboratrio; Nunca pipetar com a boca. Usar pera ou pipetador automtico; Restringir o uso de agulhas, seringas e outros objetos perfuro-cortantes. Extremo cuidado deve ser tomado quando da manipulao de agulhas para evitar a autoinoculao e a produo de aerossis durante o uso e descarte. Nunca tente recapear agulhas. As agulhas ou qualquer outro instrumento perfurante e/ou cortante devem ser desprezados em recipiente resistente, inquebrvel, de abertura larga. Quando os recipientes estiverem cheios, devem ser autoclavados ou incinerados; No transitar nos corredores com material patognico a no ser que esteja acondicionado conforme normas de biossegurana.
37
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
No fumar, no comer, no beber no local de trabalho onde h qualquer agente patognico. No estocar comida ou bebida no laboratrio; Nunca usar vidraria quebrada ou trincada; Descontaminar a superfcie de trabalho. A descontaminao da bancada e dos materiais utilizados deve ser feita ao trmino do trabalho ou, no mnimo, diariamente; Descontaminar todo material lquido ou slido antes de reusar ou descartar. Todos os procedimentos tcnicos devem ser realizados com o mnimo de produo de aerossis.
Cultivo de Microorganismos - Cuidados especiais
Abrir, cuidadosamente, tubos e frascos evitando agit-los; Identicar claramente todos os tubos e frascos; NUNCA usar vidraria trincada ou quebrada; Manipular os tubos, frascos, pipetas ou seringas com as extremidades em direo oposta ao operador; Desprezar sobrenadantes ou contedo de pipetas sobre material absorvente embebido em desinfetante contido em um frasco de boca larga (p.ex. Becker) no sentido de evitar a formao de aerossis; Colocar um tampo de algodo hidrfobo na extremidade das pipetas, que entra em contato com a pera ou o pipetador automtico; Limpar toda a rea com soluo desinfetante aps o trmino do trabalho.
Uso de Animais de Laboratrio - Lembretes Importantes
Aplicam-se tambm ao trabalho com animais vertebrados ou invertebrados silvestres, vetores de microorganismos patognicos: Considerar como potencialmente infectado todo animal silvestre, vertebrado ou invertebrado; Os procedimentos, equipamentos de proteo e as instalaes devero ser cuidadosamente escolhidos, sempre de acordo com o agente patognico, a espcie animal envolvida e o tipo de ensaio a ser desenvolvido, demandando medidas de conteno compatveis.
38
FIOCRUZ
Seguir as diretrizes, padres, regulamentos e leis relativas aos cuidados e manuteno dos animais em experimentao; Assegurar que todos os prossionais que tenham contato com estes animais e/ou com os descartes oriundos de atividades a eles relacionadas, estejam familiarizados com os procedimentos, os cuidados necessrios e riscos envolvidos. Providenciar, quando necessrio, imunizaes e a avaliao sorolgica destes prossionais; Os animais devem ser mantidos em gaiolas que evitem fuga, nos casos de roedores deve se dar especial ateno as tampas das gaiolas Todas as gaiolas devem possuir cha de identicao que contenha as seguintes informaes: nmero de animais, linhagem, sexo, idade, peso, data da infeco, identicao do microorganismo inoculado, cepa, via e dose de inoculao, bem como o nome do pesquisador responsvel e telefone; Relatar e noticar todo e qualquer acidente, provenientes do manuseio dos animais ou gaiolas; Quaisquer animais encontrados fora das gaiolas e que no possam ser identicados devem ser sacricados e suas carcaas autoclavadas. Na eventualidade do animal escapar das imediaes do laboratrio, as autoridades competentes devero ser prontamente noticadas; Aps o trmino do ensaio com os animais, todos os materiais que tiveram contato com os animais infectados devero ser descontaminados prefencialmente por autoclavao, porm pode-se utilizar outros procedimentos de descontaminao adequados aos microorganismo em questo. .
Material Humano - ATENO!
O Pesquisador Principal deve avaliar, previamente, o potencial de risco do material de origem humana, j que existe a possibilidade de contaminao com agentes patognicos, mesmo na ausncia de sintomatologia clnica; sempre bom lembrar: As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender s exigncias ticas e cientcas e devem ter o parecer de um Comit de tica em Pesquisa (Resoluo CNS 196/96). Prions podem continuar infecciosos mesmo aps autoclavao. Cuidados especiais devem ser tomados na manipulao de material oriundo de sistema nervoso central, retina, nervo tico, amdalas, tecidos linforeticulares (primatas humanos e no humanos, bovinos, ovinos, caprinos, etc.) Sabe-se que materiais cirrgicos podem transmitir prions aps procedimentos rotineiros de descontaminao, incluindo tratamento com
39
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
solventes orgnicos, formol, detergentes e autoclavao convencional (20 min / 121C). Os procedimentos de descontaminao para Prions indicados atualmente so: - Aquecimento de metais at incandescncia - Incubao em NaOH 2M por 1 hora antes da autoclavao convencional (Taylor et al. J Gen Virol 83:3199-3204, 2002) - Tratamento com proteinase K (50ug/ml) + Pronase (2mg/ml) + dodecil sulfato de sdio 4% por 1 hora / 40oC (Jackson et al. J Gen Vir 86:869-78, 2005)
40
FIOCRUZ
1.4
Requisitos Recomendados (R) ou Obrigatrios (O) conforme Nveis de Biossegurana
Resumo dos requisitos para rea fsica e instalaes conforme o nvel de Biossegurana (NB 1 e NB 4)
Requisito Sinalizao com smbolo de risco biolgico Laboratrio separado de passagens pblicas Laboratrio com acesso Controlado Restrito Local para armazenar jalecos e EPIs de uso exclusivo no Laboratrio Lavatrio para mos prximo entrada/sada do laboratrio Torneira com acionamento sem o uso das mos Ventilao Fluxo interno de ar Sistema Central de Ventilao Filtragem HEPA de exausto Laboratrio Janelas vedadas Sem janelas Presso negativa Antecmara - com lavatrio e local para jalecos - dotada de portas com intertravamento - com chuveiro - pressurizada com chuveiro Paredes, tetos e piso lisos, impermeveis e resistentes desinfeco Tratamento de euentes Sistema de gerao de emergncia de energia eltrica Selagem/vedao de frestas nas paredes, tetos, piso e demais superfcies Cabine de Segurana Biolgica (CSB) Autoclave -prxima ao laboratrio -no laboratrio -dupla porta Monitorao de segurana (visor, circuito interno de TV, interfone, etc) R O O R R R O O O NB1 R R R R O R NB2 O O O R O R R R R R* O R* R** NB3 O O R O O O O O O R R O O R* O R* O R* O O O NB4 O O O O O O O O O O O O O O O O O O
*A adoo de barreiras adicionais, tais como antecmaras, chuveiros, tratamento (descontaminao) de euentes e ltros HEPA na exausto do ar dever ser determinada pela avaliao de risco biolgico e possveis impactos no entorno. A avaliao de risco deve preceder a determinao dos nveis de biossegurana e medidas de conteno a serem adotadas, considerando, alm do perigo potencial do agente, as atividades do laboratrio e as condicionantes locais. A concepo de ambientes laboratoriais deve ter por princpio a facilidade de limpeza, descontaminao e manuteno. **Obrigatria nos casos em que h potencial gerao de aerossis.
41
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Manipulao
NB- 1 NB- 2 NB- 3 NB- 4 Treinamento adequado antes do incio do trabalho Vacinao prvia (quando disponvel) Colher amostra de soro base antes de iniciar a manipulao e a cada 6 meses de trabalho Manter cpia de procedimentos de trabalho no Lab Manter cpia de procedimentos para emergncias no Lab Considerar todo material biolgico infeccioso Considerar material humano de origem desconhecida como classe de risco 3 Considerar material humano com teste negativo para Tuberculose e HIV como classe de risco 2 No trabalhar sozinho Usar luvas No tocar em maanetas ou interruptores usando luvas Usar dois (02) pares de luvas superpostas Antes de descartar as luvas, desinfetar, tomando cuidado para no criar aerossol. Lavar as mos aps tirar as luvas Lavar as mos antes de sair do Lab Usar avental especial para uso em Lab Nunca sair de avental do Lab Usar mscara facial Para quem usar lente de contato, usar culos protetor. Usar touca Usar protetor de sapato Usar respirador articial Nunca recapear ou dobrar agulhas Nunca pipetar com a boca Nunca fumar, comer, beber no Lab. No estocar comida, bebida no Lab. No estocar objetos privativos no Lab. No tocar no rosto de luvas No mastigar lpis/caneta No retirar lpis/caneta do Lab Manter material cirrgico separado no Lab
R = recomendado; O = obrigatrio; Lab = Laboratrio; na = No se aplica
O R R R O O R O O R O O O O R O O O O O O O R R
O R O R O O O R O O R O O O O O R R O O O O O O O O O
O R O O O O O O O O O O O O O O R O R O O O O O O O O O O
O R O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
42
FIOCRUZ
Equipamentos
NB- 1 NB- 2 NB- 3 NB- 4 Lava-olhos disponvel Trabalho em CSB* tipo I (sem necessidade de exausto prpria) Trabalho em CSB tipo II (com ltrao HEPA de ar emergente) Trabalho em CSB tipo II (com 100% de exausto e ltrao HEPA do ar emergente). Trabalho em CSB tipo III (com 100% de exausto e ltrao HEPA do ar emergente e com rea de trabalho fechada acessvel apenas por luvas) Agitaes feitas apenas na CSB Homogeneizaes feitas apenas na CSB Sonicagens feitas apenas na CSB Centrifugar em suportes tampados Carregar suporte de centrfuga na CSB Retirar tubos de suporte de centrfuga apenas na CSB
R = recomendado; O = obrigatrio; Lab = Laboratrio. * CSB = Cabine de Segurana Biolgica
R R R R R R R R R
O O R R R R R R R
O O O R O O O O O O
O O O O O O O O
43
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Trabalho com Animais Resumo dos requisitos para rea fsica e instalaes conforme o Nvel de Biossegurana Animal (NBA 1 a NBA 4)
Requisito Sinalizao com smbolo de risco biolgico Biotrio separado de passagens pblicas Biotrio isolado Lavatrio para mos prximo a entrada/sada da sala de animais Lavatrio para mos prximo a entrada/sada da sala de procedimentos Torneira com acionamento sem o uso das mos Ventilao mecnica, sem recirculao do ar para outras reas Filtro HEPA nas sadas de ar Presso negativa na sala de animais Portas de entrada e de sada das salas de animais com intertravamento Paredes, portas, tetos e piso lisos, impermeveis e resistentes desinfeco. Antecmara de acesso ao biotrio - com lavatrio e local para paramentao - dotada de portas com intertravamento - pressurizada com chuveiro e vestirio - para equipamentos Separao fsica dos corredores de acesso s salas de animais Tratamento de euentes Selagem/vedao de frestas nas paredes, tetos, pisos e demais superfcies Cabine de Segurana Biolgica (CSB) na sala de procedimentos Autoclave -no biotrio -dupla porta rea contgua de apoio para descontaminao, lavagem, preparo, esterilizao NBA1 R O O O O R O NBA2 O O R O O R O R R O NBA3 O O R O* O O O O O O O NBA4 O O O O O O O O
R R R R
O O R R R O R O
O O R O O O O O O O O
O O O O O O O O O O
*A avaliao de risco deve preceder determinao dos nveis de biossegurana e medidas de conteno a serem adotadas, considerando, alm da espcie animal, o risco potencial do agente, as atividades do biotrio e as condicionantes locais. A opo por estantes ventiladas e, sistema de gaiolas microisoladoras, constitui-se em barreira adicional e no pressupe a substituio das medidas de conteno requeridas pelos nveis de biossegurana animal correspondentes.
44
FIOCRUZ
Descarte e Retirada de Materiais Biolgicos Procedimentos gerais para todos os Nveis de Biossegurana
Inativar o microorganismo por agentes qumicos ou fsicos antes de exp-lo ao contato externo ao laboratrio; Desinfetar apropriadamente quaisquer superfcies a serem tocadas por indivduos no treinados; Descontaminar material descartvel antes de ser embalado para eliminao; Material reutilizvel (vidro, metais): inativar o agente patognico antes da lavagem; Animais infectados: Incinerar. Caso no haja incinerador, fazer autoclavao.
NB- 1 NB- 2 O O O O NB- 3 O O O O NB- 4 O O O O
Desinfetar superfcie externa das embalagens antes de retir-los do Lab Descontaminar (em autoclave ou desinfetante qumico) todo material usado antes de retir-lo do Lab. Desinfetar superfcies aps trmino do trabalho Desinfetar equipamentos aps uso
R = recomendado; O = obrigatrio; Lab = Laboratrio.
R R R R
EM CASO DE ACIDENTES obrigatrio: Conter o material contaminado: Evitar que lquidos se espalhem cobrindo com material absorvente seco para em seguida colocar o desinfetante e depois descontaminar o material absorvente (autoclave, desinfetante); Evitar que materiais sejam carregados nas solas de sapato ou roupas.
Atender o(s) indivduo(s) expostos aos riscos durante o acidente: Roupas contaminadas: molhar bem com hipoclorito de sdio (concentrao mais adequada1%); Feridas: utilizar material absorvente embebido em povidine 10% (ou lcool 70% v/v); retirar material contaminante da pele, mucosa oral ou ferida. Contaminao ocular: lavar exaustivamente em lava-olhos (se no tiver, lavar
45
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
exaustivamente com soluo siolgica, ou gua corrente em ltimo caso) Coletar material infectado para testes;
Procurar atendimento mdico e retirar amostra de sangue; Preencher formulrio de noticao de acidentes (Ver Anexos) e enviar chea imediata e Coordenao de Sade do Trabalhador/DIREH da Fiocruz.
Descontaminao por agentes qumicos e fsicos Agentes qumicos lcool a 70 %1 Protozorios Helmintos Bactrias Retrovrus Protozorios Helmintos Bactrias Fungos Vrus Protozorios Helmintos Bactrias Fungos Vrus
Formol 4 %2
Cloro ativo 1% (gua sanitria 33%, Hipoclorito de sdio 1%3)
Note bem: 1) Para preparar o lcool a 70 % ( 5%) mistura-se 7 volumes do lcool etlico comercial (92-96oGL) com 3 volumes de gua. 2) O formol comercial (formalina) contm cerca de 37 a 40 % de formaldedo. As solues de formol so corrosivas e no devem ser autoclavadas pois agridem as vlvulas e os sensores da autoclave; 3) O hipoclorito de sdio comercial contm cerca de 10% de substncia ativa, mas pode ser fornecido comercialmente em outras concentraes mais baixas. J a gua sanitria contm apenas 2 a 2.5 % de substncias ativas, durante o prazo de validade. As solues para descontaminao devem ser preparadas
46
FIOCRUZ
no mesmo dia de uso devido instabilidade do hipoclorito de sdio. As solues de hipoclorito so estveis a pH elevado (em torno de 11), pela adio , via de regra, de hidrxido de sdio . OBS. O tempo de ao necessrio para que os agentes qumicos inativem um microorganismo varia muito. Deve-se procurar informaes exatas para cada agente a ser inativado por cada substncia qumica. Agentes Fsicos Agente Calor seco Procedimento Forno por 2 horas a 210C
OBS:
Esterilizao prvia de vidraria; no se usa para descontaminao. Elimina esporos de fungos e a maioria dos esporos bacterianos Elimina clulas vegetativas bacterianas No elimina esporos fngicos e bacterianos Destruio de carcaas e resduos previamente autoclavados
Calor mido
Autoclavao por 30 min a 120oC (15PSI) Tindalizao: aquecimento a 100oC por 3 vezes sucessivas
Fervura Incinerao
30 min
Limpeza e manuteno O pessoal da limpeza deve ser informado e esclarecido sobre os riscos a que esto expostos; deve participar de treinamentos; As normas do laboratrio (avental, luvas, etc.) devem ser seguidas pelo pessoal da limpeza; O pessoal da limpeza deve ser responsvel apenas pela limpeza do cho; O pessoal da manuteno (instalaes fsicas, equipamentos) dever sempre ser acompanhado de um pesquisador responsvel e usar acessrios individuais de proteo de acordo com o nvel de biossegurana do laboratrio.
47
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Referncias
Adegas MG, Barroso-Krause C , Lima JBP, Valle D. 2005. Parmetros de biossegurana para insetrios e infectrios de vetores - Aplicao e adaptao das normas gerais para laboratrios denidas pela Comisso Tcnica de Biossegurana da Fiocruz. Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 59p. Herwaldt BL. Laboratory-acquired parasitic infections from accidental exposures. 2001. Clin Microbiol Rev.;14(4):659-88. Liberman DF, Harding L.1989. Biosafety: the research / diagnostic in laboratory perspective. In DF Liberman & JG Gordon, eds, Biohazard Management Handbook, Marcel Dekker, Inc, New York. Ministrio da Sade 2005. Biossegurana em laboratrios biomdicos e de microbiologia. Srie A: Normas Tcnicas e Manuais Tcnicos, Braslia, 3a edio. Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL.2004. Actual causes of death in the United States. JAMA. 10;291(10):1238-45. Organizao Mundial de Sade/TDR 2001. Good Laboratory Practices (GLP), Genebra. Petrosillo N, Puro V, De Carli G, Ippolito G; SIROH Group. 2001.Risks faced by laboratory workers in the AIDS era. J Biol Regul Homeost Agents.15(3):243-8. Pike RM. Laboratory associated infections: incidence, fatalities, causes and prevention. 1979. Annu Rev Microbiol 33:41-66. Pike RM. Past and present hazards of working with infectious agents.1978. Arch Pathol Lab Med 102:333-6. Sewell DL. Laboratory-Associated Infections and Biosafety. 1995. Clin Microbiol Rev 8:389-405.
48
FIOCRUZ
CAPTULO 2
LABORATRIOS DA FIOCRUZ E AGENTES PATOGNICOS MANIPULADOS
2.1. Laboratrios que manipulam agentes patognicos na Fiocruz
Unidades da FIOCRUZ A B C D E F G H I J L M Biomanguinhos Centro de Criao de Animais de Laboratrio (CECAL) Centro de Pesquisas Aggeu Magalhes (CPqAM) Centro de Pesquisas Gonalo Muniz (CPqGM) Centro de Pesquisas Lenidas e Maria Deane (CPqLMD) Centro de Pesquisas Ren Rachou (CPqRR) Escola Nacional de Sade Pblica (ENSP) Farmanguinhos Instituto de Pesquisas Clnicas Evandro Chagas (IPEC) Instituto Fernandes Figueira (IFF) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Sade (INCQS) Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
(A) Biomanguinhos
Departamento de Reativos para Diagnstico (DERED) A1 Laboratrio de Produo de Painis Sorolgicos Departam ento de Produo (DEPRO) A2 Laboratrio de Poliomielite Departamento de Controle de Qualidade (DEQUA) A3 Laboratrio de Controle Microbiolgico (LACOM) A4 Laboratrio de Neurovirulncia (LANEU) A5 Laboratrio de Setor de Controle Biolgico (SEBIO) Departamento de Desenvolvimento Tecnolgico (DEDET) A6 Laboratrio de Tecnologia Anticorpos Monoclonais (LATAM) A7 Laboratrio de Tecnologia Virolgica (LATEV) A8 Laboratrio de Tecnologia Recombinante (LATER) A9 Laboratrio NB3
49
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
(B) Centro de Criao de Animais de Laboratrio (CECAL)
Departamento de Controle de Qualidade Animal B1 Laboratrio de Controle de Qualidade / Anatomia Patolgica B2 Laboratrio de Controle de Qualidade /Bacteriologia Departamento de Produo Animal B3 Servio de Animais Denidos
(C) Centro de Pesquisas Aggeu Magalhes (CPqAM)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Departamento de Biologia Celular e Ultraestrutura Celular Departamento de Entomologia Departamento de Imunologia Departamento de Microbiologia Departamento de Parasitologia Laboratrio de Virologia e Terapia Experimental
(D) Centro de Pesquisas Gonalo Muniz (CPqGM)
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Laboratrio de Patologia e Biol Molec (LPBM) Laboratrio de Patologia e Biointerveno (LPBI) Laboratrio de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia (LETI) Biotrio de Experimentao Laboratrio Avanado de Sade Pblica (LASP) Laboratrio de Parasitologia e Entomologia (LAPEN) Laboratrio de Microbiologia e Immunorregulao (LIMI) Unidade de Histopatologia (UNI-H) Laboratrio de Imunoparasitologia (LIP) Laboratrio de Epidemiologia Molecular e Bio-Estatstica (LEMB) Laboratrio de Chagas Experimental Laboratrio de Biomorfologia Parasitria Laboratrio de Patologia Experimental (LAPEX)
(E) Centro de Pesquisas Lenidas e Maria Deane (CPqLMD)
Laboratrio de Biodiversidade E1 Grupo de Bacteriologia E2 Grupo de Biologia Celular e Molecular E3 Grupo de Entomologia E4 Grupo de Micologia E5 Grupo de Virologia
50
FIOCRUZ
(F) Centro de Pesquisas Ren Rachou (CPqRR)
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Laboratrio de Biologia de Triatomneos e Epidemiologia da Doena de Chagas Laboratrio de Doena de Chagas Laboratrio de Educao em Sade Laboratrio de Entomologia Mdica Laboratrio de Epidemiologia e Antropologia Mdica Laboratrio de Esquistossomoses Laboratrio de Helmintoses Intestinais Laboratrio de Imunologia Celular e Molecular Laboratrio de Imunolopatologia Laboratrio de Leishmanioses Laboratrio de Malaria Laboratrio de Pesquisas Clnicas Laboratrio de Parasitologia Celular e Molecular Laboratrio de Qumica de Produtos Naturais Ncleo de Apoio Tcnico (Biotrio, Biotrio de Experimentao, Moluscrio)
(G) Escola Nacional de Sade Pblica (ENSP)
G1 Laboratrio de Biotecnologia Ambiental Departamento de Cincias Biolgicas G2 Laboratrio de Zoonoses
(H) Farmanguinhos
Departamento de Gerncia de Produtos Naturais H1 Laboratrio de Matria-prima Vegetal H2 Laboratrio de Padronizao H3 Laboratrio de Biomarcadores H4 Laboratrio de Desenvolvimento de Metodologia Analtica H5 Laboratrio de Desenvolvimento de Tecnologia para Fitoderivados Departamento de Pesquisa e Desenvolvimernto de Sntese Orgnica H6 Pesquisa e Desenvolvimernto de Sntese Orgnica Departamento de Controle da Qualidade H7 Lab Microbiologia H8 Lab Bioprodutos Departamento de Farmacologia Aplicada H9 Inamao H10 Imuno-Regulao H11 Avaliao Primria H12 Infecto-Parasitria
51
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
(I) Instituto de Pesquisas Clnicas Evandro Chagas (IPEC)
Departamento de Microbiologia-Imunologia e Parasitologia I1 Servio de Virologia, Laboratrio de Diagnstico Molecular. I2 Servio de Bacteriologia, Laboratrio de Tuberculose e Bacteriologia I3 Servio de Parasitologia, Laboratrio de Imunodiagnstico em Leishmanioses. I4 Servio de Parasitologia I5 Servio de Imunologia I6 Servio de Micologia, Laboratrio de Micologia Ambiental. I7 Servio de Micologia, Laboratrio de Imunodiagnstico. I8 Servio de Micologia, Laboratrio de Diagnstico Micolgico. Departamento de Patologia e Farmacocintica I9 Servio de Anatomia Patolgica I10 Servio de Farmacocintica I11 Servio de Secrees, Bioqumica e Hematologia. Departamento de Doenas Infecciosas I12 Servio de Hemoterapia, Laboratrio de Imunohematologia I13 Servio de Zoonoses
(J) Instituto Fernandes Figueira (IFF)
Departamento de Patologia Clnica J1 Laboratrio de Imunologia J2 Laboratrio de Hematologia J3 Laboratrio de Parasitologia e Urinlise J4 Laboratrio de Micologia J5 Laboratrio de Microbiologia J6 Laboratrio de Virologia J7 Agncia Transfusional Departamento de Pediatria J8 Laboratrio de Fisiopatologia Humana Departamento de Gentica Mdica J9 Laboratrio de Citogentica Clnica J10 Laboratrio de Gentica Clnica Molecular J11 Laboratrio de Citogentica Molecular Departamento de Cirurgia Peditrica J12 Laboratrio de pHmetria Departamento de Neonatologia J13 Laboratrio de Funo Pulmonar Departamento de Anatomia Patolgica e Citopatologia J14 Laboratrio de Anatomologia Patolgica
52
FIOCRUZ
J15 Laboratrio de Citopatologia Departamento de Banco de Leite Humano J16 Laboratrio de Controle de Alimentos J17 Laboratrio de Banco de Leite Humano
(L) Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Sade (INCQS)
Departamento de Microbiologia L1 Laboratrio de Anlise de Antibiticos L2 Laboratrio de Anlise Microbiolgica de Frmacos, Fitofrmacos, Cosmticos e Correlatos Departamento de Imunologia L3 Laboratrio de Soros Antipeonhentos L4 Laboratrio de Vacinas Virais
(M) Instituto Oswaldo Cruz
Departamento de Bacteriologia M1 M2 M3 M4 Laboratrio de Enterobactrias e Centro de Referncia de Vibrio cholerae e outras Enteroinfeces Bacterianas Laboratrio de Fisiologia Bacteriana Laboratrio de Zoonoses Bacterianas e Centro de Referncia Nacional de Leptospirose Ncleo de Bactrias de Transmisso Respiratria
Departamento de Biologia M5 Laboratrio de Avaliao e Promoo da Sade Ambiental M6 Laboratrio de Biologia e Controle de Insetos Vetores M7 Laboratrio de Ecologia e Controle de Moluscos Vetores M8 Ncleo de Biologia e Controle de Endo e Ectoparasitas de Interesse Mdico e Veterinrio Departamento de Bioqumica e Biologia Molecular M9 Laboratrio de Biologia Molecular de Flavivirus M10 Laboratrio de Biologia Molecular de Insetos M11 Laboratrio de Biologia Molecular de Tripanosomatdeos M12 Laboratrio de Biologia Molecular e Diagnstico de Doenas Infecciosas M13 Laboratrio de Biologia Molecular e Doenas Endmicas M14 Laboratrio de Bioqumica de Proteinas e Peptdeos M15 Laboratrio de Bioqumica, Fisiologia e Imunologia dos Insetos. M16 Laboratrio de Imunopatologia M17 Laboratrio de Sistemtica em Bioqumica Departamento de Entomologia M18 Coleo de Tripanosomatdeos M19 Laboratrio da Coleo Entomolgica
53
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
Laboratrio de Referncia em Taxonomia de Triatomneos Laboratrio de Dptera Laboratrio de Ixodides Laboratrio de Simulideos e Oncocercose Laboratrio de Transmissores de Hematozorios Laboratrio de Transmissores de Leishmanioses Laboratrio de Fisiologia e Controle de Artrpodes Vetores
Departamento de Fisiologia e Farmacodinmica M27 Laboratrio de Farmacologia Neuro-cardiovascular M28 Laboratrio de Imunofarmacologia M29 Laboratrio de Inamao M30 Laboratrio de Toxinologia Departamento de Gentica M31 Laboratrio de Epidemiologia de Mal-Formaes Congnitas M32 Laboratrio de Gentica Humana M33 Laboratrio de Gentica Molecular dos Microorganismos Departamento de Helmintologia M34 Laboratrio de Esquistossomose Experimental M35 Laboratrio de Helmintos Parasitos de Peixes M36 Laboratrio de Helmintos Parasitos de Vertebrados Departamento de Imunologia M37 Laboratrio de AIDS e Imunologia Molecular M38 Laboratrio de Bioqumica de Tripanosomatdeos M39 Laboratrio de Comunicao Celular M40 Laboratrio de Imunologia Celular e Humoral em Protozooses M41 Laboratrio de Imunologia Clinica M42 Laboratrio de Pesquisas em Autoimunidade e Imunoregulao M43 Laboratrio de Pesquisas em Leishmaniose M44 Laboratrio de Pesquisas em Malria M45 Laboratrio de Pesquisas sobre o Timo Departamento de Malacologia M46 Laboratrio de Malacologia Departamento de Medicina Tropical M47 Laboratrio de Biologia e Controle de Esquistossomose M48 Laboratrio de Doenas Parasitrias M49 Laboratrio de Epidemiologia Molecular de Doenas Infecciosas Departamento de Micobacterioses M50 Laboratrio de Biologia Molecular Aplicada em Micobactrias M51 Laboratrio de Hansenase M52 Laboratrio de Microbiologia Celular
54
FIOCRUZ
Departamento de Micologia M53 Laboratrio de Coleo de Culturas de Fungos Departamento de Patologia M54 Laboratrio de Patologia Departamento de Protozoologia M55 Laboratrio de Biologia dos Tripanosomatdeos M56 Laboratrio de Imunomodulao M57 Laboratrio de Toxoplasmose Departamento de Ultraestrutura e Biologia Celular M58 Laboratrio de Biologia Celular M59 Laboratrio de Biologia Celular de Microorganismos M60 Laboratrio de Biologia Estrutural M61 Laboratrio de Ultraestrutura Celular Departamento de Virologia M62 Laboratrio de Desenvolvimento Tecnolgico em Virologia M63 Laboratrio de Enterovirus M64 Laboratrio de Flavivirus M65 Laboratrio de Hantaviroses e Rickettsioses M66 Laboratrio de Hepatites Virais M67 Laboratrio de Imunologia Viral M68 Laboratrio de Retrovirus M69 Laboratrio de Ultraestrutura Viral M70 Laboratrio de Virologia Comparada M71 Laboratrio de Virologia Molecular M72 Laboratrio de Virus Respiratrios e Sarampo
55
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
2.2
Agentes patognicos manipulados na FIOCRUZ por laboratrios e tipo de material manipulado
Biomanguinhos
Agentes manipulados A1 HIV, HTLV, Sarampo, Adenovirus, Rotavirus, Dengue, Rubola, Hepatites A & B, T. cruzi, T. pallidum, L interrogans#, Leishmania spp Poliovrus atenuado tipos I, II e III A. niger, B. vulgatus, B subtilis, C. albicans, Clostridium sporogenes, E. coli, M. luteus, M. avium, M. smegmatis, Mycoplasma orale, P. aeruginosa, S. aureus Vrus febre amarela vacinal# e recombinante Vrus selvagens da dengue Bordetella pertussis# (Toxinas) Vrus: febre amarela (vacinal# & selvagem & recombinante), dengue (vacinal# & selvagem), virus do: sarampo# & caxumba# & rubola# (vacinais), encefalomiocardite, estomatite vesicular; vaccinia, Sindbis, HBV, Rotavirus, Astrovrus, Adenovrus E. coli#, Vrus da Dengue inativado, Rotavirus, Picchia pastoris, M. bovis (BCG)# Material Humano1 OGM2 Vetor3
A2 A3
A4 A5 A6 A7
A8
# = microorganismos inoculados em animais experimentais
1
= Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam
Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos
56
FIOCRUZ
CECAL
Agentes manipulados B1 Syphacia obvelata# Syphacia muris# Syphacia sp#, Aspiculuris tetraptera# Rodentolepis nana#, Spironucleus muris#, Tricomonas muris# Enterobactrias#, Streptococcus sp#. Pseudomonas sp.# Staphylococcus sp.# NA Material Humano1 OGM2 Vetor3
B2 B3
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos, NA = no se aplica
1
CPqAM
Agentes manipulados C1 C2 C3 C4 C5 C6 Wuchereria bancrofti, Leishmania spp#, T. cruzi#, T. rangeli# Bacillus sphericus, B thuringiensis, E. coli Leishmania spp#, T. cruzi#, T. rangeli#, S. mansoni#, M. tuberculosis Yersinia pestis#, Vibrio spp, Listeria spp, Staphylococcus spp, Leishmania spp#, T. brucei S. mansoni, Leishmania spp, W. bancrofti, Toxocara canis, Helmintos intestinais Virus em geral, M. tuberculosis, Paracoccidiodes brasiliensis Material Humano1 OGM2 Vetor3
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos
1
57
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
CPqGM
Agentes Manipulados D1 D2 D3 D4 Leptospira spp, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus inuenzae, S. mansoni, E. coli Mycobacterium avium, M. fortuitum, Leishmania spp, E. coli Leishmania spp, T. cruzi, S. mansoni, S. aureus, E. coli, Plasmodium spp Leptospira spp, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Mycobacterium spp CR 2, Capillaria hepatica, Leishmania spp, T. cruzi, T. gondii, S. mansoni, G. lamblia HIV, HTLV-I, HTLV-II Leishmania spp#, T. cruzi#, Trypanosoma spp Leishmania spp, Mycobacterium spp, E. coli M. tuberculosis H37Ra, M. bovis BCG Leishmania spp, E. coli E. coli, Leishmania spp T. cruzi Leishmania spp, T. cruzi, G. lamblia, T. vaginalis, T. foetus, Entamoeba histolytica, T .gondii# Capillaria hepatica, S mansoni Material Humano OGM Vetor
D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos, CR = classe de risco
1
58
FIOCRUZ
CPqLMD
Agentes manipulados E1 E. coli enteropatognicas, E. coli, Neisseria meningitidis, Pseudomonas sp, Salmonella sp, Salmonella tiphy, Shigella sp, Staphilococcus aureus, Campylobacter sp, E. coli enteropatognicas, E. coli, Neisseria meningitidis, Pseudomonas sp, Salmonella sp, Salmonella tiphy, Shigella sp, Staphilococcus aureus, Campylobacter sp, Acremonium spp, Aspergillus spp, Candida spp, Fusarium spp, Mucor spp, Penicillium spp Plasmodium sp, Leishmania sp, Onchocerca sp, Mansonella ozzardi Acremonium spp, Aspergillus spp, Candida spp, Fusarium spp, Mucor spp, Penicillium spp Virus a serem identicados posteriormente Material OGM2 Vetor3 Humano1
E2
E3 E4 E5
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos
1
CPqRR
Agentes manipulados F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 T. cruzi T. cruzi, Leishmania sp. NA Leishmania sp, Plasmodium sp, Nematdio, virus da Dengue NA S. mansoni Ovos & larvas de helmintos, cistos de protozorios. S. mansoni, T cruzi, Leishmania sp. T. cruzi, P. falciparum. Leishmania sp Plasmodium sp, E coli Leishmania sp T. cruzi, S mansoni, E coli Fungos basidiomicetos T. cruzi, Leishmania sp, P. gallinaceum, S mansoni#, F. hepatica#
59
Material Humano1
OGM2
Vetor3
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos, NA = no se aplica
1
ENSP
Agentes manipulados G1 Aeromonas hydrophila, Bacillus anthracis, Campylobacter coli, C. fetus, C. jeuni, Chlamydia pneumonie, Clostridium botulinum, C. tetani, E. coli (todas as enteropatognicas, enterotoxignicas, enteroinvasivas e cepa detentora do antgeno K 1, incluindo a Escherichia coli O157: H7), Klebsiella (todas as espcies, exceto a K. oxytoca, includa na classe 1), Legionella pneumophila, Leptospira interrogans (todos os sorotipos), Listeria, Moraxella, Mycobacterium avium, M. bovis vacinal, Salmonella arizonae, S. cholerasuis, S. enteritidis, S. gallinarumpullorum, S. paratyphi, S. typhimurium, Shigella boydii, S. dysenteriae tipo 1, S exneri, S. sonnei, S. aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Filobasidiella sp, C. albicans, Microsporum, virus Hepatite A,B,C,D e E, Rotavirus Leishmania spp Material Humano1 OGM2 Vetor3
G2
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos
1
60
FIOCRUZ
Farmanguinhos
Agentes manipulados H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 NA NA NA NA NA NA A. niger, B. subtilis, B. vulgatos, E. coli, B. bronchiseptica, C. albicans, C sporogenis, M. luteus, P. aeruginosa, Pseudomonas spp, S. typhimurium, S. cerevisiae, S. aureus S. aureus, Pseudomonas sp, Clostridium sp, Enterococcus sp, E. coli, C. albicans, Neisseria sp, Salmonella sp, Shigella sp, Streptococcus sp, Aspergillus sp, Bacillus thuringiensis sp, B. sphericus, Beauveria bassiana, Metharizium sp NA Flaviviridae (Virus da dengue) T. cruzi, Leishmania sp, P. falciparum M. bovis BCG# T. cruzi# P. falciparum, P. berghei# Material Humano OGM Vetor
H8
H9 H10 H11 H12
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos, NA = no se aplica
1
61
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
IPEC
Agentes manipulados I1 I2 I3 I4 HTLV I / II, Poliomavirus humano JC (JCV), Papilomavirus humano (HPV) M. tuberculosis, S. aureus (MRSA), Pseudomonas spp resistentes polymixina Leishmania sp Plasmodium spp, A. lumbricoides, Ancylostoma, Entamoeba hystolytica, G. lamblia, S. mansoni, Taenia sp, T. trichura, Strongiloides sp, Hymenolepis sp, microlarias M. tuberculosis, T. cruzi, Hepatites, HPV, HIV, Dengue Coccidioides immitis# Filobasidiella neoformans (Cryptococcus neoformans#), F. gattii#, Sporothrix schenckii#, Histoplasma capsulatum#, Paracoccidioides brasiliensis, Candida sp, Aspergillus sp, Trychophyton spp, Microsporum spp, Epidermophyton spp, Scytalidium spp, Fusarium spp, Paecilomyces sp, Malassezia furfur, Trichosporon beigelli, Acremonium spp, Fonsecaea pedrosoi Histoplasma capsulatum, Candida sp, Aspergillus fumigatus, A. avus, A. niger, Sporothrix schenckii Trychophyton spp, Microsporum spp, Epidermophyton spp, Candida sp, Scytalidium sp, Fusarium sp, S. schenckii#, F. pedrosoi, P. brasiliensis#, H. capsulatum# Aspergillus spp, Filobasidiella neoformans (Cryptococcus neoformans#), Paecilomyces sp, Malassezia furfur, Trichosporon beigelli, Acremonium sp, Bacillus Acido Resistentes, Sporothrix schenckii#, Leishmania, T. cruzi, Fungos, Bactrias, HIV HIV, HTLV, Hepatites, T. pallidum, T. cruzi, M. tuberculosis HIV, M. tuberculosis, CMV, Hepatites, HTLV, T. cruz#, T. pallidum, Plasmodium sp HIV, Hepatites, HTLV, T. pallidum, T. cruzi, M. tuberculosis Sporothrix schenckii# fungos dermattos, Filobasidiella neoformans (Cryptococcus neoformans), Leishmania sp Material Humano1 OGM2 Vetor3
I5 I6
I7 I8
I9 I10 I11 I12 I13
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos
1
62
FIOCRUZ
IFF
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17
Agentes manipulados NA NA NA NA NA NA NA NA Virus Epstein Barr Virus Epstein Barr Virus Epstein Barr NA NA NA NA NA NA
Material Humano1
OGM2 Vetor3
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos
1
63
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
INCQS
Agentes manipulados L1 Micrococcus luteus ATCC 9341, S. aureus ATCC 6538p, S. epidermidis ATCC 12228, B. subtillis ATCC 6633, S. cerevisae ATCC 2601 S. aureus ATCC6532, P. aeruginosa ATCC9027, E. coli ATCC8739, Salmonella ATCC14028, Stenotrophomonas maltophilia ATCC13637, C. albicans ATCC10231, K. pneumoniae ATCC10031, P. vulgaris CCUG10784, S. epidermidis SSI 3, B. subtilis ATCC6633, B. cereus ATCC11778, B. cepacia ATCC17759, E. sakazakii ATCC29004, P. mirabilis ATCC43071, S. pyogenes ATCC19615, E. aerogenes ATCC13048, E. cloacae ATCC13047, M. morganii ATCC8019, P. uorescens ATCC13525, M. luteus ATCC10240, A. calcoaceticus INCQS00087, A. parasiticus ATCC15517, C. freundii ATCC8090, M. orale ATCC23714, S. marcescens ATCC14756. (Venenos de Bothrops jararaca, Crotalus durissus terricus, Micrurus frontalis, Lachesis muta , Loxosceles intermedia) Vrus vacinais: Febre Amarela, Poliomielite, Sarampo, Caxumba, Rubola, Varicela Material Humano OGM Vetor
L2
L3
L4
# = microorganismos inoculados em animais experimentais = Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos
1
64
FIOCRUZ
IOC
Agentes manipulados Material OGM2 Vetores 1 de microHumano
organismos3
M1
V. cholerae#, V. parahaemolyticus#, E. coli#, Salmonella#, Shigella#, S pneumoniae, P aeroginosa, S. aureus (MRSA) Bacillus entomopatognicos, B. cereus enterotxico, B. anthracis, agente do carbnculo hemtico Campylobacter, Listeria, Arcobacter, Leptospira# N. meningitidis, H. inuenza, S. pneumoniae S. mansoni T. cruzi, T. gondii, Cryptosporidium, Entamoeba hystolytica, Endolimax nana, Salmonella sp, Shigella sp, E. coli, Bacillus sp, Candida sp S. mansoni#* F. hepatica, Ancylostoma, Giardia, Entamoeba, Babesia, Borrelia E. coli (Flavivirus manipulados em BioManguinhos)
M2 M3 M4 M5 M6
M7 M8 M9
M10 E. coli M11 E. coli, Sacharomyces cerevisae, Leishmania spp M12 Mycobacterias CR 2 (M. tuberculosis manipulado em BioManguinhos), T. cruzi, Leishmania spp M13 T. cruzi, Leishmania spp, T. rangeli, Crithidia, Herpetomonas, Phytomonas M14 T. cruzi, Leishmania spp M15 T. cruz, bactrias CR 1 M16 T. cruzi, Leishmania spp, Virus da Dengue M17 T. cruzi, Leishmania spp, V cholerae, Bacilos CR 1 M18 Crithidia spp, Herpetomonas spp, Phytomonas spp, Leptomonas spp, Angiomonas spp, Wallaceina spp, Strigomonas spp, T. cruzi, T. brucei, Trypanosoma spp, E. schaudini, E. monterogei, Sauroleishmania spp, Leishmania spp M19 NA M20 T. cruzi M21 NA M22 (vetores silvestres)
65
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
M23 Onchocerca volvulus, Mansonella ozzardi M24 Virus da dengue e da Febre amarela, T. cruzi, T. rangeli, T. conorrhini, T. minasensi M25 L. guyanensis, L. panamensis, Endotrypanum sp M26 T. cruzi M27 NA M28 BCG#, T. cruzi# M29 NA M30 NA M31 NA M32 NA M33 V. cholerae, P. aeroginosa, Salmonella spp, HTLV, HIV M34 E. coli, BCG, S. mansoni, F. hepatica M35 Helmintos Parasitos de Peixes M36 Dirolaria immitis, Echinococcus spp M37 HIV, HTLV, EBV, Vaccinia M38 Leishmania sp#, T. cruzi# M39 E. coli (& toxinas) M40 Leishmania sp#, T .gondii#, T. cruzi#, E. coli M41 HIV, Leishmania sp, T. cruzi M42 T. cruzi#, E coli OGM I, T. gondii# M43 Leishmania sp# M44 Plasmodium falciparum#, P. vivax#, P. berghei#, P. yoelli#, P. chabaudi# M45 T. cruzi# M46 S. mansoni M47 S. mansoni M48 T. cruzi, T. rangeli, Leishmania sp, T. gondii, G. lamblia, E. coli, Strongyloides sp M49 T. cruzi, T. rangeli, G. lamblia, T. gondii, S. aureus, E. coli. M50 M. leprae, M. tuberculosis, E. coli M51 M. leprae, M. tuberculosis, M. bovis BCG, E. coli M52 M. leprae, M. tuberculosis, BCG, E. coli
66
FIOCRUZ
M53 Acremonium spp, Aspergillus spp, B. dermatitidis, Candida spp, Cladophialophora spp#, C. immitis#, F. neoformans (C. neoformans), E. occosum, Exophiala spp, Fonsecaea spp, Fusarium spp, Helminthosporium spp, H. capsulatum, Madurella spp, M. furfur, Microsporum spp, Phialophora spp, P. brasiliensis#, Penicillium spp, P. hortae, S. schenckii#, T. harzianum, Trichophyton spp, Trichosporum spp M54 Angiostrongylus costaricensis, S. mansoni M55 T. cruzi# Leishmania sp# T. evansi# T. gondii# BCG# M56 T. cruzi#, Leishmania sp#, T. gondii#, BCG M57 T. gondii# M58 T. cruzi#, Leishmania sp, T. gondii M59 T. cruzi#, T. rangeli, Leishmania sp, Crithidia sp, T. vaginalis, T. foetus, Herpetomonas sp, Endotrypanum sp, Blastocrithidia sp M60 T .gondii#, Leishmania sp, T. cruzi, Helmintos parasites de peixes M61 T. cruzi#, Leishmania sp, T. gondii M62 Virus das Hepatites A, B, C e E M63 Poliovirus, Enterovirus M64 Virus da dengue, da Febre Amarela, E. coli M65 Rickettsias, Hantavirus, Poxvirus M66 Virus das Hepatites A, B, C, G M67 Virus Dengue M68 HIV, HTLV, HPV, HCV M69 Virus da dengue, Poxvrus M70 CMV, EBV, HCV-1, HSV-2, Rotavirus, Astrovirus, Adenovirus, Calicivirus humanos M71 Virus Hepatite B, Virus TT, E coli M72 Adenovirus, Herpesvirus, Inuenza, Parainuenza, Rubola, Sarampo, Vrus respiratrio sincicial, Vrus da caxumba
= Laboratrios que manipulam idos e / ou tecidos humanos, 2 = Laboratrios que manipulam Organismos Geneticamente Modicados (OGM), 3 = Laboratrios que manipulam vetores de microorganismos patognicos; NA = no se aplica; CR = classe de risco
1
67
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
2.3. Sumrio de agentes patognicos manipulados na FIOCRUZ, por classe de risco e por laboratrios
Bactrias / Mycoplasma Acinetobacter calcoaceticus Aeromonas hydrophyla Arcobacter sp Bacillus spp CR 1 Bacillus anthracis Bordetella spp Borrelia sp Burkholderia cepacia Campylobacter spp Chlamydia pneumonie Citrobacter freundii Clostridium spp Enterobactrias Escherichia coli Haemophilus inuenza Klebsiella spp Legionella pneumophila Leptospira spp Listeria spp Micrococcus luteus Moraxella sp Morganella morganii Mycobacterium bovis (BCG) Mycobacterium spp Mycobacterium leprae Mycobacterium tuberculosis Mycoplasma orale Neisseria spp Classe de Risco 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 L2 G1 M3 A3, C2, H7, H8, I9, L1, L2, M2, M6, M17 G1, M2 A5, H7 M8 L2 E1, E2, G1, M3 G1 L2 A3, G1, H7, H8 B2, H8, L2 A3, A8, C2, D1, D2, D3, D7, D9, D10, E1, E2, F11, F13, G1, H7, H8, L2, M1, M6, M9, M10, M11, M34, M39, M40, M42, M48, M49, M50, M51, M52, M64, M71 D1, M4 G1, L2 G1 A1, D1, D4, G1, M3 C4, G1, M3 A3, H7, L1, L2 G1 L2 A8, D8, G1, H12, M28, M34, M51, M52, M55, M56 A3, D2, D4, D7, D8, G1, M12 M 50, M51, M52 C3, C6, I2, I5, I10, I11, I12, M50, M51, M52 A3, L2 D1, E1, E2, H8, M4 Local de Manipulao na FIOCRUZ
68
FIOCRUZ
Proteus spp Pseudomonas spp Salmonella spp Serratia marcescens Shigella spp Staphylococcus spp Stenotrophomonas maltophilia Streptococcus spp Treponema pallidum Vibrio sppYersinia enterocoltica Yersinia pestis Protozorios / Helmintos
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Classe de Risco 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
L2 A3, B2, E1, E2, H7, H8, I2, L2, M1, M33 E1, E2, G1, H7, H8, L2, M1, M6, M33 L2 E1, E2, G1, H8, M1, M6 A3, B2, C4, D3, E1, E2, G1, H7, H8, I2, L1, L2, M1, M49 L2 B2, D1, G1, H8, L2, M1, M4 A1, I10, I11, I12 C4, G1, M1, M17, M33 G1 C4 Local de Manipulao na FIOCRUZ
Ancylostoma spp Angiomonas spp Angiostrongylus costaricensis Ascaris lumbricoides Aspiculuris tetraptera Babesia Blastocrithidia Capillaria hepatica Criptosporidium Crithidia spp Dirolaria immitis Echinococcus spp Endolimax nana Endotrypanum spp Entamoeba histolytica Fasciola hepatica Giardia lamblia Helmintos intestinais Helmintos de peixes Herpetomonas spp Hymenolepis sp
I4, M8 M18 M54 I4 B1 M8 M59 D4, D13 M6 M13, M18, M59 M36 M36 M6 M18, M25, M59 D4, D12, I4, M6, M8 F15, M8, M34 D4, D12, I4, M8, M48, M49 C5 M35, M60 M13, M18, M59 I4
69
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Leishmania spp
Leptomonas spp Mansonella ozzardi Onchocerca spp Phytomonas spp Plasmodium spp Rodentolepis nana Sauroleishmania spp Schistosoma mansoni Spironucleus muris Strigomonas spp Strongyloides sp Syphacea spp Taenia sp Toxocara canis Toxoplasma gondii Trichomonas spp Trichuris trichura Trypanosoma spp
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
A1, C1, C3, C4, C5, D2, D3, D4, D6, D7, D9, D10, D12, E3, F2, F4, F8, F10, F12, F15, G2, H11, I3, I9, I13, M11, M12, M13, M14, M16, M17, M18, M25, M38, M40, M41, M43, M48, M55, M56, M58, M59, M60, M61 M18 E3, M23 E3, M23 M9, M18 D3, E3, F4, F9, F11, F15, H11, H12, I4, I11, M44 B1 M18 C3, C5, D1, D3, D4, D13, F6, F8, F13, F15, I4, M5, M7, M34, M46, M47, M54 B1 M18 I4, M48 B1 I4 C5 D4, D12, M6, M40, M42, M48, M49, M55, M56, M57, M58, M60, M61 B1, D4, D12, M59 I4 A1, C1, C3, C4, D3, D4, D6, D11, D12, F1, F2, F8, F9, F13, F15, H11, H12, I5, I9, I10, I11, I12, M6, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M24, M26, M38, M40, M41, M42, M45, M48, M49, M55, M56, M58, M59, M60, M61 M18 C1, C5, I4
Wallaceina spp Wuchereria bancrofti
1 2
70
FIOCRUZ
Vrus / Rickettsias
Classe de Risco 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Local de Manipulao na FIOCRUZ
Adenovrus Astrovrus Calicivrus Caxumba Citomegalovrus (CMV) Dengue Encefalomiocardite Enterovirus Epstein Barr Vrus (EBV) Estomatite vesicular Febre amarela Hantavirus Hepatite (virus TT) Hepatite A (HAV) Hepatite B (HBV) Hepatite C (HCV) Hepatite D (HDV) Hepatite E (HEV) Hepatite G (HGV) Herpes (HSV, HZV) HIV (Imunodecincia Humana) HTLV (T-linfotrpico humano) Inuenza Vrus Papilomavirus (HPV) Parainuenza Vrus Poliomavrus humano Poliovrus Poxvrus Rickettsia Rotavirus Rubola Sarampo Sindbis Vrus Sincicial Respiratrio (RSV) Vaccinia Varicela
A1, A7, M70, M72 A7, M70 M70 L4, M72 I11, M70 A1, A4, A7, A8, F4, H10, I5, M16, M24, M64, M67, M69 A7 M63 J9, J10, J11, M37, M70 A7 A4, A7, L4, M24, M64 M65 M71 A1, G1, I5, I10, I11, I12, M62, M66 A1, A7, G1, I5, I10, I11, I12, M62, M66, M71 G1, I5, I10, I11, I12, M62, M66, M68, M70 G1, I5, I10, I11, I12 G1, I5, I10, I11, I12, M62 I5, I10, I11, I12, M66 M70, M72 A1, D5, I5, I9, I10, I11, I12, M33, M37, M41, M68 A1, D5, I1, I10, I11, I12, M33, M37, M68 M72 I1, I5, M68 M72 I1 A2, L4, M63 M69 M65 A1, A7, G1, M70 A1, A7, L4, M72 A1, A7, L4, M72 A7 M72 A7, M37 L4
71
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Fungos
Classe de Risco 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2
Local de Manipulao na FIOCRUZ
Acremonium spp Aspergillus spp Beauveria bassiana Blastomyces dermatitidis Candida spp Cladophialophora spp Coccidioidis immitis Epidermophyton sp Exophiala spp Filobasidiella bacillispora (fase sexuada de Cryptococcus neoformans var. gatti) Filobasidiella sp Fonsecaea spp Fusarium spp Helminthosporium spp Histoplasma capsulatum Madurella spp Malassezia furfur Metharizium spp Microsporum spp Mucor spp Paecilomyces sp Paracoccidioides brasiliensis Penicillium spp Phialophora spp Pichia pastoris Piedraia hortae Sacharomyces cerevisiae Scytalidium spp Sporothrix schenckii Trichoderma harzianum Trichophyton spp Trichosporum spp
E2, E4, I6, I8, M53 A3, E2, E4, H7, H8, I6, I7, I8, L2, M53 H8 M53 A3, E2, E4, G1, H7, H8, I6, I7, I8, L2, M6, M53 M53 I6, M53 I6, I8, I13, M53 M53 I6, I8, I13, M53 G1 I6, I8, M53 E2, E4, I6, I8, M53 M53 I6, I7, I8, M53 M53 I6, I8, M53 H8 G1, I6, I8, I13, M53 E2, E4 I6, I8 C6, I6, I8, M53 E2, E4, M53 M53 A8 M53 H7, L1, M11 I6, I8 I6, I7, I8, I9, I13, M53 M53 I6, I8, I13, M53 I6, I8, M53
72
FIOCRUZ
CAPTULO 3
BIOSSEGURANA NO LABORATRIO PROCEDIMENTOS ESPECFICOS
O trabalho em laboratrio com agentes patognicos dever ser realizado seguindo as normas estipuladas pela CTNBio para os repectivos nveis de segurana a depender da classe de risco do microorganismo. Todo procedimento experimental dever seguir as Regras Bsicas para o trabalho em Laboratrio, incluindo as normas de Boas Prticas de Laboratrio e as regras indicadas nas tabelas do captulo 1.4. Requisitos Recomendados (R) ou Obrigatrios (O) conforme Nveis de Biossegurana, para rea fsica, instalaes, manipulao, equipamentos, trabalho com animais, descarte e retirada de materiais biolgicos, normas para acidentes e descontaminao.
3.1. Biossegurana no trabalho com Vrus
Os vrus se disseminam por vrios processos de um hospedeiro a outro, destacandose o contato direto atravs das vias respiratria e sexual. H tambm a transmisso por artrpodes como mosquitos e carrapatos e por gua e alimentos, como os vrus da hepatite A e E bem como os vrus que causam diarria. Ocorre ainda transmisso atravs do contato com sangue e seus derivados, tendo este grupo de vrus gerado um complexo problema para o controle de infeces iatrognicas como as hepatites B e C e o vrus HIV e tambm para a biossegurana a nvel laboratorial. Em laboratrio e no manejo de pacientes, so especialmente perigosos os vrus passveis de propagao respiratria, como os hantavirus em especial na sua inoculao em animais de experimentao e na coleta de animais silvestres portadores do vrus. Para a preveno de infeces por vrus o conceito bsico a percepo do risco das operaes a serem estabelecidas, ou seja todos os prossionais envolvidos devem ter pleno conhecimento dos riscos envolvidos na manipulao dos pacientes, dos espcimens clnicos e dos animais ou culturas infectadas. Deve estar claro que no existe o chamado risco zero e que todos os esforos devem ser no sentido de se alcanar um nvel mnimo de possibilidades de acidentes e infeces do pessoal envolvido.
73
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Nas enfermarias e laboratrios, devem ser observadas as seguintes linhas de cuidados na preveno de infeces por vrus: Denir um Responsvel pelas operaes nas reas de risco, o qual dever realizar previamente o treinamento de todo o pessoal envolvido, inclusive o pessoal de apoio e limpeza, os quais tm freqentemente contato direto com material infeccioso, antes de sua esterilizao e descarte. O responsvel deve ainda supervisionar a presena e o uso dos Equipamentos de Proteo Individual (EPI) e dos Equipamentos de Proteo Coletiva (EPC). A ele devem ser reportados quaisquer problemas surgidos, em especial acidentes, para que tome as providncias cabveis em relao ao acidentado e ao local onde surgiu o problema. Sinalizar as reas de trabalho de maneira completa, incluindo o nvel de risco biolgico e mapas de risco, os locais que contm substncias corrosivas, txicas, inamveis e radioativas e demais aspectos especcos do agente e do laboratrio e enfermaria, bem como proibir a entrada de estranhos nas reas de risco. Seguir as regras bsicas nas quais se incluem a proibio de alimentos, bebidas e fumo em reas de trabalho, bem como a aplicao de cosmticos e o manejo de lentes de contato. Os EPIs, como roupas de proteo, devem ser usadas apenas nos locais de trabalho: luvas, sapatos fechados e mscaras adequadas ao risco previsto e protetores faciais, quando existe o risco de haver projeo de uidos contaminados no rosto. Esses equipamentos so essenciais, devem estar em perfeito estado e devem ser descontaminados e substitudos sempre que necessrio. Os EPCs, como cabines de segurana biolgica, sistemas de ventilao, exausto e resfriamento, autoclaves e semelhantes devem ser certicados regularmente segundo as recomendaes do fabricante, garantindo seu perfeito funcionamento. A vacinao prvia contra agentes patognicos de todo prossional que trabalha nas reas de risco deve ser implementada, como o caso da inuenza, raiva, febre amarela, ttano e hepatites A e B, sendo coletadas amostras de sangue aps a vacinao, para comprovao sorolgica da imunidade alcanada. Os protocolos respectivos devem ser guardados para referncia no caso de infeco acidental e planejamento de revacinaes, quando recomendado. Antes do incio da manipulao de microorganismos patognicos, uma amostra de soro base do trabalhador dever ser colhida e armazenada para referncia.
74
FIOCRUZ
As normas operacionais de trabalho nas reas de risco devem estar escritas, disposio de todos os que trabalham na rea. Essas normas devem ser apresentadas com clareza a todos os novos prossionais que comeam o seu trabalho nesses locais, antes que iniciem suas atividades. Precaues especiais devem ser tomadas no manejo de instrumentos cirrgicos, seringas e agulhas (perfuro-cortantes). As agulhas nunca devem ser recapeadas aps o uso e sim descartadas, juntamente com as seringas, em caixas de papelo padronizadas, de paredes resistentes, antes de serem autoclavadas e posteriormente descartadas. Os espcimes clnicos coletados de pacientes devem ser recebidos no laboratrio em local prprio, sendo as embalagens abertas cuidadosamente por prossional portando EPIs adequados, como mscaras, luvas e roupas de proteo. No caso de quebra de frascos e vazamentos que contaminem extensamente as embalagens, pode ser recomendvel a eliminao de todo o contedo, com a sua autoclavao antes do descarte nal. Cuidados especiais na rotulagem, manejo e guarda dos espcimens so essenciais. As amostras de materiais contendo vrus, devem ser guardadas em frascos padronizados, colocados em caixas ordenadas, para que possam ser facilmente localizveis. Os vrus so conservados em temperaturas baixas, sempre abaixo de 40 negativos, quando estocados por longos perodos. Operaes como centrifugao e uso de aparelhagens automticas de bioensaio, devem ser monitoradas cuidadosamente, quanto formao de aerossis e vazamentos no seu interior. Todo material contaminado com o vrus deve ser esterilizado antes de seu descarte nal e a autoclavao a operao mais segura.
As carcaas de animais no devem ser imersas previamente em desinfetantes e sim autoclavadas e em seguida transferidas para embalagens fechadas e prova de vazamento. As bancadas e outros locais de trabalho devem ser limpos com hipoclorito a 0,5%, com solues preparadas diariamente. Materiais no descartveis e termossensveis podem ser desinfeccionados por imerso em hipoclorito a 1%. O formol, em baixas concentraes, como 1%, pode ser igualmente utilizado para a desinfeco desses materiais. Os resduos lquidos e slidos hospitalares, passveis de conter vrus e outros agentes infecciosos devem ser descartados aps a descontaminao, conforme as legislaes em vigor, prevendo-se a coleta dos resduos slidos em sacos plsticos de cor branca para descarte diferenciado no meio ambiente.
75
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
No trabalho de concentrao e puricao de suspenses virais de alto risco, como hepatite B, recomenda-se trabalhar em nvel de Biossegurana 3, quando o mesmo vrus normalmente operado em nvel 2. O mesmo ocorre com os hantavrus, que so enquadrados no nvel 3, porm para a inoculao de animais e puricao viral se exige o nvel 4, pelo alto risco de formao de aerossis. O critrio de elevar o nvel de classicao de risco se aplica a outros vrus quando o material infeccioso se apresenta em volumes elevados ou se trata de suspenses virais de alta concentrao. Cabe ao prossional Responsvel pelo laboratrio avaliar cada caso antes de se iniciar o manejo do material.
ADENOVIRIDAE ADENOVRUS
Classe de risco 2
A famlia Adenoviridae compreende dois gneros: (1) Mastadenovirus: infecta mamferos incluindo primatas humanos e no humanos, bovinos, eqinos, caninos, sunos, ovinos e roedores; e (2) Aviadenovirus, que infecta aves e possui grande variabilidade gentica. So vrus DNA, 70-100nm, sem envelope, de simetria icosaedral, com genoma de ta dupla linear de 36-38 kb. Presentemente, 51 sorotipos so aceitos ocialmente. Adenovrus tm sido isolados de virtualmente todos rgos e tem sido associados com muitas sndromes clnicas. Os diferentes sorotipos tem sido relacionados a doenas do trato respiratrio superior e inferior, a conjuntivite hemorrgica aguda, febre faringoconjuntival, cistite hemorrgica aguda, gastroenterites infantis, doenas neurolgicas (meningites e encefalites) e outras sndromes (exantemas, artrite reumatide juvenil, etc.). Risco de infeco laboratorial Infeces laboratoriais ocorrem geralmente por gotculas, aerossis, infeces estas que podem ser latentes e ativadas em casos de imunosupresso. Deve-se considerar infecciosos as fezes, swab farngico, aspirao nosofarngica, aspirao transtraqueana, lavagem broncoalveolar, swab da conjuntiva, raspagem da retina, lgrimas, secrees genitais, urina, tecidos (principalmente fgado, bao, crebro) de indivduos infectados. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas As vacinas existentes ainda esto em carter experimental, ainda com eccia insatisfatria. Trabalho com animais: NBA- 2 Descontaminao/Limpeza
76
FIOCRUZ
Hipoclorito de sdio a 1% utilizado para descontaminao de materiais de porte pequeno. Autoclavao indicada para descontaminao de materiais de maior porte. Materiais cirrgicos e ltros sensveis ao hipoclorito devem ser fervidos em gua por 10 minutos.
ASTROVIRIDAE ASTROVRUS
Classe de risco 2
Os agentes da famlia Astroviridae, HAstV (astro = estrela) so partculas de 28-30nm, no envelopados, de simetria icosaedral, com RNA de ta simples, de polaridade positiva, de aproximadamente 6.8 a 7.9kb (OBS: apenas cerca de 10% dos vrus apresentaro o aspecto caracterstico de estrela, sendo a morfologia inuenciada por presena de anticorpos). At o momento foram descritos 8 sorotipos de HAstV (HAstV 1-8). So vrus denominados entricos, replicando-se primariamente no trato intestinal. Infectam o homem e uma variedade de animais, causando gastroenterites, com exceo de patos, nos quais induz uma hepatite fatal. Risco de infeco laboratorial Isolado de fezes humanas ou gado com enterite, sendo o maior risco a contaminao oral por gua e alimentos contaminados com fezes. Seguir as regras para NB-2 Trabalho com animais: NBA- 2 Descontaminao/Limpeza Como todos os vrus no envelopados so resistentes a solventes orgnicos e detergentes. Os astrovrus so tambm resistentes a cidos (at pH 3) e ao aquecimento (56 C) por curto perodo. So inativados pelo aquecimento a 60 C durante pelo menos 10 minutos. So inativados por ciclos sucessivos de congelamento/descongelamento. O agente quimico de escolha para a inativao o cloro ativo.
BUNYAVIRIDAE - HANTAVRUS
Classe de risco 3
A famlia Bunyaviridae possui 5 gneros (Bunyavirus, Hantavirus, Nairovirus, Phlebovirus e Tospovirus). So vrus envelopados de 80 a 120 nm, com RNA trisegmentado de polaridade negativa, transmitidos por artrpodes com exceo dos hantavrus que so transmitidos ao homem atravs da aerolizao de excretas de roedores. Os hantavrus so agentes etiolgicos da febre hemorrgica com sndrome renal e nefropatia epidmica na Eursia e da sndrome pulmonar por hantavrus nas Amricas. Aps a primeira descrio da sndrome pulmonar em 1993, diversos casos vm sendo descritos em diferentes regies com letalidade superior a 50%. Risco de infeco laboratorial Manipulao de materiais obtidos de pacientes humanos constitui o maior risco de infeco.
77
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Transmisso por inalao de aerossis. Recentemente foi observada a transmisso inter-humana na Argentina. Cuidado especial deve ser tomado na manipulao de roedores e/ou de material biolgico procedente destes animais. Seguir as regras para NB-3. Prolaxia/Vacinas No h vacinas. Terapia antiviral com ribavirina pode reduzir a letalidade quando instituda precocemente. Trabalho com animais: NBA- 3 Cuidados especiais na manipulao de roedores. Recomenda-se cuidado durante a coleta de sangue e de necropsia: trabalhar em cabine de segurana biolgica classe II. Uso de aventais protetores, luvas e mscaras com ltro HEPA. Descontaminao/limpeza Autoclavao para carcaas de animais e artigos de maior volume. Hipoclorito a 1% apenas para artigos de pequeno volume.
CALICIVIRIDAE - VRUS NORWALK
Classe de risco 2
Os Calicivrus humanos (nome derivado de calix, clice), dos gneros Norovirus e Saporovirus, so partculas de 26-35nm de morfologia indenida, sem envelope, tendo uma nica proteina estrutural (que d origem ao capsdeo viral), de simetria icosaedral, de ta nica de RNA de cerca de 7.3 a 8.3 kb. Apresentam ainda um RNA sub-genmico, que durante a fase replicativa codica a proteina do capsdeo viral. Atualmente, so considerados os principais vrus causando gastroenterites ou hepatites. Infectam o sistema gastro-entrico, sendo a maior causa de enterites no bacterianas, de grande importncia em infeces infantis, sendo transmitidos freqentemente entre crianas de uma escola ou creche. Uma caracterstica dos Calicivirus a grande diversidade antignica e gentica. Existem relatos de contaminao pela quebra da barreira interespcie. Risco de infeco em laboratrio A transmisso de calicivrus fecal-oral, por alimentos e gua contaminada, portanto o maior risco de laboratrio infeco por falta de higiene pessoal. Deve-se evitar a formao de aerossis e a transmisso atravs de fmites. Existem descries de transmisso atravs de vmito. Seguir as regras para NB-2 Vacinas / Prolaxia Existem vacinas em fase I e II de testes com Norwalk-like vrus. Estas vacinas so
78
FIOCRUZ
constitudas pela protena do capsdeo (vrus-like-particles VLP) expressa em vetores (bactrias, baculovirus e plantas). Descontaminao Calicivrus so altamente resistentes, sobrevivendo a tratamentos em pH cido (tratamento em pH 2.7 temperatura ambiente durante 3 horas no reduz a infecciosidade viral), a solventes orgnicos e a aquecimento a 60oC por 30 minutos. No so inativados por produtos contendo menos de 1% de cloro ativo. Utilizar hipoclorito a 1% para pequenos volumes e autoclavao para volumes maiores (litros) de material contaminado.
FLAVIVIRIDAE VRUS DENGUE FLAVIVIRIDAE VRUS FEBRE AMARELA (no-vacinal)
Classe de risco 2 Classe de risco 3
A famlia Flaviviridae, incluem os gneros Flavivirus (vrus da Dengue tipo 1 a 4), Pestivrus e o vrus da Hepatite C. Os vrus agrupados nesta famlia apresentam propriedades biolgicas diversas, sem reatividade imunolgica cruzada, porm de morfologia semelhante. So partculas de 40-60nm, envelopados, de simetria icosaedral, com RNA de ta simples de aproximadamente 10kb. A grande maioria transmitida por artrpodes, porm h vrus transmitidos por roedores e por morcegos. Os avivrus causam infeces assintomticas ou doenas de severidade varivel, por vezes fatal, caracterizadas por febre, febre hemorrgica, encefalite ou sndrome de choque. Risco de infeco laboratorial Contaminao parenteral a via mais frequente de contaminao, porm a exposio de mucosas e contato com artrpodes infectados, tambm transmite avivrus, assim como aerossis ou gotculas infectadas. Manipulao de materiais obtidos de pacientes humanos constitui o maior risco de infeco. Seguir as regras para NB-2 ao trabalhar com vrus da dengue, porm regras NB-3 devem ser seguidas em procedimentos envolvendo o vrus da febre amarela. Prolaxia/Vacinas Vacinas esto disponveis para a febre amarela e para a encefalite transmitida por carrapato (Tick borne encephalitis). A vacinao contra febre amarela recomendvel para aqueles que trabalham com Flavivrus. Trabalho com animais: NBA-3 Especial cuidado contra aerossis infectados. Descontaminao/Limpeza
79
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Hipoclorito de sdio a 1% utilizado para materiais de pequeno porte e a autoclavao para carcaas de animais e materiais de maior volume.
HERPESVIRIDAE HERPES SIMPLES, VARICELLA ZOSTER, HERPESVIRUS SIMIAE, CITOMEGALOVRUS (CMV), VRUS EPSTEIN-BARR (EBV)
Classe de risco 2
Vrus da famlia Herpesviridae so um grupo homogneo de partculas de aproximadamente 100 nm, com envelopes derivados da membrana nuclear, contendo projees na superfcie contendo 162 capsmeros, tegumento, de simetria icosaedral, com uma estrutura central contendo DNA linear de 125 a 229 kb. Estabelecem infeco latente e persistente, podendo induzir transformao celular. Trs subfamlias foram estabelecidas: Alphaherpesvirinae, gnero Simplexvirus (herpes simplex 1 & 2, gnero Varicellovirus: Herpesvirus humano 3, Varicella zoster vrus HZV, Bovine mammilitis virus, Pseudorabies virus of swine, Equine abortion virus, Herpesvirus simiae [B vrus] e outros); Betaherpesviridae, gnero Citomegalovirus (citomegalovrus humano HHV-5 ou HCMV), gnero Muromegalovirus (camundongo) e gnero Roseolovirus (Herpes Humano tipo 6 HHV-6 A e B), Vrus do exantema sbito e Herpes Vrus Humano 7 HHV-7. Gammaherpesviridae contm os gneros Lymphocryptovirus, vrus Epstein Barr (EBV) ou HHV-8 e outros como Herpesvirus saimiri, Herpesvirus ateles, vrus da doena de Marek. Existem muitos casos de indivduos transmissores sem infeco aparente. Risco de infeco laboratorial Embora considerados agentes com baixo risco de infeco laboratorial, os herpesvrus so encontrados em leses vesiculares, secrees ororespiratrias e urogenitais, conjuntiva, tecidos ou rgos assim como em leite, sangue perifrico e em sangue de cordo umbilical. A maior parte da populao mundial portadora assintomtica de infeco latente por herpesvrus, podendo ser transmissora. Pessoas imunodeprimidas e principalmente mulheres grvidas devem evitar o contato com Herpesvirus. Cuidado especial deve ser tomado na manipulao de H. simiae (vrus B), pois apesar de causar doena assintomtica ou pouco sintomtica em macacos, induz infeco severa e muitas vezes fatal em humanos. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas At o momento no h vacinas comprovadamente ecazes (eccia 30-60%). A terapia
80
FIOCRUZ
de humanos com soros contendo anticorpos anti-herpes recomendada em casos de infeco por Herpesvirus simiae. Trabalho com animais: NBA-2 Cuidados especiais devem ser tomados na manipulao de macacos (Herpesvirus simiae tipo B). Recomenda-se cuidado durante necrpsias para evitar a formao de aerossis. Herpes simplex e Varicella zoster podem causar infeces em animais de laboratrio. Descontaminao/Limpeza Os herpesvirus so sensveis aos solventes orgnicos (etanol, ter, clorofrmio, acetona), sensveis a pH inferior a 5 e podem ser inativados a 37oC por 60 minutos ou 30 minutos a 56oC. A luz UV pode inativa-los em 5 minutos.
ORTHOMYXOVIRIDAE VRUS DA INFLUENZA
Classe de risco 2
A famlia Orthomyxoviridae inclui os vrus das inuenzas humanas e animais, divididos nos grupos A, B e C, de acordo com a estrutura antignica da nucleoprotena. A diviso do vrus Inuenza A em subtipos baseada em diferenas encontradas nos antgenos hemaglutinina e/ou neuranimidase. Epidemias de inuenza ocorrem anualmente em populaes de zonas temperadas em todo o mundo. A principal razo para ocorrncias anuais de epidemias de inuenza a emergncia de uma sucesso de variantes que retm uma ligao antignica com a cepa original em pandemia. Mudanas antignicas nas novas cepas podem sobrepor a imunidade induzida por infeces prvias com vrus relacionados e permitir a reinfeco. Prolaxia/Vacinas Vacinao anual recomendada para pessoas que trabalham em hospitais ou em laboratrios que manipulem materiais clnicos provenientes de pessoas apresentando infeco respiratria aguda, para idosos com mais de 60 anos de idade e para pessoas com doenas cardacas ou pulmonares. A proteo contra infeco por via respiratria obrigatria. Materiais de excreo secos no constituem fonte de risco para o manipulador devido fragilidade dos vrus, inativveis por luz visvel ou calor. Trabalho com animais: NBA-2 Descontaminao/Limpeza Hipoclorito de sdio a 1% utilizado para descontaminao de materiais de porte pequeno. Autoclavao indicada para descontaminao de materiais de maior porte. Materiais cirrgicos e ltros sensveis ao hipoclorito devem ser fervidos em gua por 10 minutos.
81
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Classe de risco 2 PARAMYXOVIRIDAE VRUS SINCICIAL RESPIRATRIO, PARAINFLUENZAVRUS, VRUS DO SARAMPO E VRUS DA CAXUMBA.
A famlia dos Paramyxoviridae inclui os vrus respiratrios dos gneros Respirovirus (parainuenza), Rubelavirus (cachumba), Morbilivirus (sarampo) e Pneumovirus [vrus respiratrio sincicial]. H uma morfologia geral similar entre os gneros: partculas geralmente esfricas (alguns com aspecto lamentoso), de 150 a 300nm de dimetro, com um envelope lipdico contendo glicoprotenas dando um aspecto de protuberncias. A similaridade antignica vericada somente dentro de cada gnero. Alguns parainuenzavrus infectam tanto homens como animais (ovelhas, cavalos, bfalo, veados). O Vrus Sincicial Respiratrio (VSR) considerado o principal patgeno do trato respiratrio inferior em bebs at 6 meses de idade. Epidemias ocorrem regularmente a cada ano, sendo que no Rio de Janeiro ocorrem no outono e incio de inverno. Bronquiolite e pneumonia so as principais manifestaes clnicas em bebs e crianas, mas crianas mais velhas e adultos podem ter reinfeces mais brandas e contribuir para a disseminao do vrus a indivduos susceptveis. Tm sido descritos surtos em asilos, com a ocorrncia de infeces severas. H 2 grupos do VSR (A e B) embora ainda no tenha sido estabelecida uma clara diferena entre estes grupos e a gravidade da doena. Os vrus parainuenza humanos (VPIH) compreendem 4 grupos principais (1 a 4), cada um com genotipos conhecidos ou subtipos. Juntos, estes 4 grupos constituem os vrus mais comuns infectando humanos. Doenas de trato respiratrio inferior e superior tem sido descritas para os VPIH. Entretanto, h uma forte correlao entre infeces pelos grupos 1 a 3 e sndromes clnicas, idade da criana e poca do ano. As doenas mais comuns vo desde um resfriado comum, otite mdia, a bronquiolites (grupos 1 e 3, principalmente) e crupe (principalmente grupo 1). Os vrus da caxumba pertencem ao gnero Rubelavirus. Constituem partculas de aspecto pleomrco, de 100 a 600nm. O envelope contem projees glicoproteicas e o nucleocapsdeo contm protena e um RNA de ta simples. Caxumba, parotidite infecciosa, uma doena generalizada caracterizada por edema da partida e dor. Antes de seu controle com vacinas, era considerada uma das doenas comuns da infncia e era uma das causas de meningite assptica, encefalite, orquite e pancreatite. A maioria dos casos de caxumba so infeces generalizadas brandas, acompanhadas ou no de febre. O vrus da caxumba muito contagioso, embora menos que o do sarampo, rubola e varicela. O homem o nico hospedeiro para o vrus da caxumba.
82
FIOCRUZ
Os vrus do sarampo pertencem ao gnero dos Morbillivirus, que inclui tambm os vrus cinomose e peste bovina. Os vrus do sarampo so pleomrcos, geralmente esfricos. As partculas so envelopadas medindo entre 120 a 150nm em dimetro, com nucleocapsdeo composto de RNA e protena. Sem imunizao, praticamente todas as crianas contraem o sarampo. Esta doena est includa no Programa Ampliado de Imunizao com objetivo de reduzir a mortalidade e a morbidade infantil nos pases menos desenvolvidos. Complicaes do sarampo incluem pneumonia, otite mdia, diarria, cegueira e encefalite. Vrios pases nas Amricas tm estabelecido programas de vacinao para o sarampo. Atendendo aos objetivos do PAI/OMS, o Brasil vacinou em 1992 48 milhes de crianas menores de 14 anos de idade e vem mantendo, desde ento, campanhas anuais de vacinao em massa (idade discriminada). Risco de infeco laboratorial Estes vrus esto presentes principalmente em secrees de nasofaringe, que podem conter outros agentes patognicos (micobactrias) alm dos vrus. O risco de infeco em laboratrio para o vrus do sarampo considerado baixo, apesar da alta transmissibilidade do vrus em contatos entre indivduos (ou animais). Evitar a formao de aerossis em Isolados de urina, linfcitos e secrees do trato respiratrio. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas Inexistente para VSR e Parainuenza vrus. A vacina para caxumba encontra-se, geralmente, associada as vacinas para sarampo e rubola (trplice viral). A vacina contra o sarampo (agente vivel atenuado) altamente ecaz, conferindo imunidade vitalcia. Trabalho com animais: NBA- 2 Cuidados especiais na manipulao de animais devem ser tomados evitando a formao de aerossis. Procedimento em caso de acidentes Em caso de contaminao com o vrus do sarampo, terapia com altas doses de vitamina A so indicadas. Descontaminao/Limpeza Os Paramixovrus so bastante lbeis, sendo inativados pelos agentes desinfetantes normalmente utilizados (lcool, cloro ativo, formol, etc). O RSV susceptvel irradiao ultravioleta. Hipoclorito de sdio a 1% utilizado para descontaminao de materiais de porte pequeno. Autoclavao indicada para descontaminao de materiais de maior porte. Materiais cirrgicos e ltros sensveis ao hipoclorito devem ser fervidos em gua por 10 minutos.
83
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
PICORNAVIRIDAE - GNERO RHINOVIRUS
Classe de risco 2
A famlia dos Picornaviridae so vrus RNA de 25-30nm, sem envelope, de simetria icosaedral, RNA de ta simples de 7.5-8.5kb. Replicam-se no citoplasma celular. O gnero Rhinovirus inclui o vrus do resfriado comum e vrios rhinovrus animais. Os rhinovrus so a principal causa do resfriado comum; a alta incidncia de infeco provavelmente relacionada com o grande nmero de sorotipos. Em torno de 100 diferentes sorotipos tm sido classicados e novos sorotipos so provveis de emergir devido s mutaes ao acaso e a seleo imune natural. A incidncia mais alta em crianas pequenas e diminui gradativamente com a idade, provavelmente devido ao aumento gradual de anticorpos neutralizantes induzidos por exposies prvias. A prevalncia de sorotipos varia de ano a ano. As infeces por rhinovrus causam os sintomas tpicos do resfriado comum, como rinorria, coriza, obstruo nasal, faringite e tosse. Outros sintomas podem incluir dor de cabea e mal estar geral, embora febre no seja comum. Risco de infeco laboratorial: Seguir as regras para NB-2 Cuidados especiais devem ser tomados na manipulao de swab de garganta, olho, uido vesicular, urina, liquor, sangue e rgos de indivduos infectados, assim como de materiais de biotrio contaminados. Prolaxia/Vacinas Inexistente. Trabalho com animais: NBA- 2 Aerossis so a maior fonte de risco, porm materiais contaminados com fezes, urina, saliva e outros tais como maravalha, rao e gua devem ser considerados como fonte de infeco. Descontaminao/Limpeza Os rhinovrus so lbeis a pH cidos (<6.0), sendo esta labilidade caracterstica. Hipoclorito de sdio a 1% utilizado para descontaminao de materiais de porte pequeno. Autoclavao indicada para descontaminao de materiais de maior porte. Materiais cirrgicos e ltros sensveis ao hipoclorito devem ser fervidos em gua por 10 minutos.
PICORNAVIRIDAE VRUS DA ENCEFALOMIOCARDITE, VRUS DA FEBRE AFTOSA, POLIOVRUS, COXSACKIEVIRUS
Classe de risco 2
A famlia Picornaviridae (Pico = pequeno) composta de vrus RNA de 24-30 nm, sem envelope, de simetria icosaedral, quase esfricas, com RNA de ta simples de 7.5-8.5 kb. Replicam-se no citoplasma celular. Os gneros Cardiovirus (vrus da encefalomiocardite) e Aphtovirus (vrus da doena conhecida como aftosa) tem como hospedeiro mamferos e roedores, podendo causar doena caracterizada por febre e leses orais ou da pele.
84
FIOCRUZ
So comuns casos de transmissores sem infeco aparente. Em humanos, causa sintomatologias transientes, sendo de maior importncia na zoontica. O vrus da encefalomielite vrus murino, tendo o homem como hospedeiro acidental, assim como o vrus da aftosa vrus de ruminantes, raramente infectando o homem. Os aphtovrus esto entre os vrus mais contagiosos conhecidos at hoje. O poliovrus e o coxsackievrus pertencem ao gnero Enterovirus. So vrus RNA de 2530nm, sem envelope, de simetria icosaedral, RNA de ta simples de 7.5-8.5kb. Replicamse no citoplasma celular. A grande maioria dos Enterovirus espcie-especco, porm existem casos de contaminao cruzada, devendo ser considerados de importncia na biossegurana. Risco de infeco laboratorial Cuidados especiais devem ser tomados na manipulao de fezes, swab de garganta, olho, ido vesicular, urina, lquor, sangue e rgos de indivduos infectados, assim como de materiais de biotrio contaminados. No h relatos de infeco por contaminao com aerossis. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas Inexistente no caso dos gneros Cardiovirus e Aphtovirus. Vacina contra poliomielite (com controle da resposta imune). Trabalho com animais: NBA-2 Aerossis so a maior fonte de risco, porm materiais contaminados com fezes, urina, saliva e, outros tais como maravalha, rao e gua devem ser considerados como fonte de infeco. Indivduos sem infeco aparente podem transmitir o vrus da plio. Higiene pessoal deve ser mantida para evitar transmisso fecal/oral. Descontaminao Os vrus entricos so vrus de resistncia elevada para agentes qumicos e fsicos, apresentando-se estveis a solues cidas fortes (pH < 3). So tambm resistentes a solventes orgnicos. Utilizar hipoclorito de sdio a 1% para pequenos volumes de material e a autoclavao para carcaas de animais e materiais de maior volume.
PICORNAVIRIDAE VRUS DA HEPATITE A (HAV)
Classe de risco 2
O vrus da hepatite A (HAV) um membro da famlia Picornaviridae, onde foi durante algum tempo classicado dentro do gnero Enterovirus, como enterovrus 72. No entanto, tendo em vista inmeras diferenas com os outros representantes deste gnero
85
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
(estabilidade do virion a 60oC, baixa porcentagem de homologia de nucleotdeos e a falta de reatividade com anticorpos monoclonais genro enterovrus-especco), o HAV foi classicado em um gnero separado, denominado Hepatovirus. Morfologicamente, o HAV apresenta um capsdeo icosadrico, no envelopado, com 27 nm de dimetro. Seu genoma constitudo por uma nica molcula de RNA linear, de polaridade positiva, com 7.4 Kb de comprimento, poliadenilado em sua extremidade 3 e contm uma protena (VPg) covalentemente ligada a extremidade 5. Por ser uma molcula de polaridade positiva, o RNA possui funo de RNA mensageiro, sendo portanto infeccioso. Risco de infeco laboratorial Manipulao de materiais obtidos de pacientes humanos constitui o maior risco de infeco. A transmisso da hepatite A pode ocorrer por contato direto ou indireto via oro-fecal. Pacientes infectados com o HAV apresentam um perodo virmico curto, o que diminui a importncia do sangue na transmisso da doena. A manipulao de amostras fecais constitui, portanto, o principal procedimento de risco de infeco no laboratrio. Entretanto, as fezes no so rotineIramente analisadas para se fazer o diagnstico da hepatite A. Isto porque a eliminao mxima de partculas virais nas fezes precede geralmente a sintomatologia clnica da doena. No momento do atendimento mdico e portanto, quando espcimes clnicos so coletados para diagnstico, o nvel do HAV nas fezes encontra-se signicantemente reduzido. Por este motivo, o diagnstico da hepatite A baseia-se na pesquisa de anticorpos no soro do paciente. Consequentemente o risco prtico de contrair uma infeco pelo HAV estar associado com amostras fecais de pacientes hospitalizados por outra doena mas que tambm possam estar num perodo de incubao da hepatite A. Esta situao mais provvel de se encontrar em pacientes peditricos. As precaues usadas em laboratrios que manuseiam amostras fecais e tens contaminados devem ser sucientes para prevenir a infeco pelo HAV em laboratoristas. Prossionais que trabalham com infeco experimental do HAV em primatas no-humanos devem redobrar os cuidados com as fezes destes animais, pois o contato direto com estes espcimes ou por suspenses que acidentalmente possam ser ingeridas pode causar a infeco pelo HAV. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas Tendo em vista o carter endmico da hepatite A no Brasil, uma grande parte da populao adulta apresenta anticorpos para o HAV como reexo de uma infeco geralmente assintomtica na infncia, embora esse padro venha sofrendo mudanas face s melhorias nas condies sanitrias. Seria conveniente que todas as pessoas que trabalham em diagnstico ou pesquisa em hepatite A fossem avaliadas previamente quanto a imunidade a esta infeco. Na ausncia de imunidade, os procedimentos de
86
FIOCRUZ
prolaxia seriam a administrao de imunoglobulina especca e a vacinao. Existem atualmente duas vacinas inativadas comercializadas para hepatite A: HAVRIX (Smith & Kline) e VAQTA (Merck), sendo indicado vacinar os laboratoristas suscetveis a infeco pelo HAV que trabalham em pesquisa com este vrus, assim como os manipuladores de primatas experimentalmente infectados com HAV ou com HAV naturalmente adquiridos. Trabalho com animais: NBA- 3 Recomenda-se trabalho em conteno NBA-3. Todo estudo de infeco experimental deve ser efetuado em biotrios com nvel de biossegurana 3. A manipulao dos animais (alimentao ou procedimentos cirrgicos) requer uma paramentao adequada, como macaco (que deve ser diariamente autoclavado), luvas, capuz, mscaras e protetor de sapatos. Para a limpeza das gaiolas, escafandros e mscaras so recomendados. O ambiente deve ser diariamente limpo com detergente e desinfetante (hipoclorito de sdio 1%). Um sistema apropriado deve ser elaborado para desprezar fezes, urina e outros dejetos. Procedimento em caso de acidentes No caso de um evento com a fonte de exposio ao HAV conhecida em indivduos suscetveis, como ingesto acidental de material fecal, uma nica dose intramuscular de 5 ml de gama-globulina (Ig) deve ser administrada. Descontaminao/Limpeza O HAV conhecido por sobreviver a estocagem a 25oC e 42% de umidade relativa por no mnimo 30 dias bem como a exposio por 1 min a potentes germicidas qumicos, nenhum dos quais apropriados para a rotina de descontaminao de superfcies ambientais. Quando suspenso em soluo e na ausncia de fezes, o HAV passa a ter a suscetibilidade para germicidas qumico, similar a outros vrus entricos como o poliovrus. Utilizar hipoclorito a 1% para pequenos volumes de material e a autoclavao para carcaas de animais e volumes maiores de materiais contaminados.
VRUS DA HEPATITE B (HBV), C (HCV), DELTA (HDV) E G (HGV)
Classe de risco 2
O vrus da hepatite B (HBV) est classicado na famlia Hepadnaviridae, que abriga vrus hepatotrpicos capazes de causar infeces persistentes em seus respectivos hospedeiros (homem, marmota, esquilo, pato). Morfologicamente, o HBV apresenta um nucleocapsdeo icosadrico circundado por um envelope que representa o antgeno de superfcie (HBsAg). No seu interior encontra-se um nucleocapsdeo constituindo o
87
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
antgeno core (HBcAg) envolvendo o genoma de DNA de ta parcialmente dupla, com 3.2 Kb. O HBV apresenta diferentes subtipos, denidos pelas vrias combinaes de determinantes antignicos presentes no HBsAg, que tendem a apresentar distribuies geogrcas caractersticas porm sem importncia do ponto de vista clnico. O vrus da hepatite C (HCV) um membro da famlia Flaviviridae, gnero Hepacivrus. A partcula viral esfrica e apresenta 70 nm de dimetro. O virion composto por envoltrio e nucleocapsdeo icosadrio. O genoma constitudo por RNA de ta simples e polaridade positiva e compreende: a) o terminal 5 no-codicante, b) uma unidade aberta de leitura (ORF) a qual codica cerca de 3000 aa e c) o terminal 3 no codicante. A parte codicante do genoma composta pelos genes estruturais (C,E1, E2/NS1) e genes no estruturais (NS2, NS3, NS4 e NS5) que codicam as proteinas do envoltrio, nucleocapsdeo e as proteinas envolvidas no processamento da poliproteina e na replicao viral, respectivamente. O vrus da hepatite Delta (HDV) um vrus defectivo, que s pode ser replicado na presena do vrus da hepatite B. O HDV polimorfo, sua estrutura externa o HBsAg (envelope do HBV) e no possui estrutura de nucleocapsdeo organizada, apesar de possuir duas proteinas de 27 e 29 kd que fazem parte do antgeno delta. Seu genoma constitudo de um RNA de ta simples. Por possuirem esta caractersticas, tanto as medidas de preveno quanto s prolticas usadas para a hepatite B, so ecazes tambm na preveno da hepatite Delta. O vrus da hepatite G um novo agente, possivelmente associado hepatite viral, denominado provisoriamente como HGV ou GBV-C, descrito recentemente por dois grupos independentes. A anlise de toda a sua seqncia nucleotdica indica que ambos os isolados apresentam mais de 90% de homologia entre eles, com uma organizao genmica bastante similar ao vrus da hepatite C. O genoma de tamanho aproximadado de 9,4 kb codica uma poliproteina com cerca de 2900 aa, estando as proteinas estruturais posicionados na poro N terminal e as proteinas no estruturais NS2, NS3, NS4, NS5A e NS5B, localizados na poro C terminal. Risco de infeco laboratorial Manipulao de materiais obtidos de pacientes humanos constitui o maior risco de infeco. A hepatite B representa um dos principais riscos ocupacionais para indivduos que trabalham em laboratrios que so vulnerveis a infeco por acidentes envolvendo sangue ou injrias por agulhas. Pequenos volumes de sangue contaminado em uma seringa ou agulha pode prontamente transmitir a hepatite B de um indivduo a outro. Prossionais de risco ocupacional incluem dentistas, cirurgies, patologistas, tcnicos de necrpsia, tcnicos e prossionais que trabalham em sorologia, hematologia, bioqumica
88
FIOCRUZ
e laboratrios de microbiologia em hospitais ou instituies de sade pblica, bancos de sangue ou unidades de hemodilise. Uma vez que o vrus Delta est presente nas amostras que contm o vrus da hepatite B, todo o procedimento em relao a biossegurana segue a conduta aplicada ao vrus da hepatite B. O HCV transmitido pela via parenteral, mas a ecincia de transmisso menor do que o vrus da hepatite B (HBV), devido a menor concentrao de vrus circulantes na corrente sangunea dos indivduos infectados. Os prossionais de sade que manipulam sangue ou derivados, esto sob risco de adquirir a infeco, porm menor grau quando comparado hepatite B. As estratgias para o controle de HCV esto baseadas nas mesmas normas de segurana aplicadas ao vrus da hepatite B. Seguir as regras para NB-2 Vacina A vacina contra hepatite B 80 a 95% ecaz em prevenir a infeco, tem efeitos colaterais mnimos e recomendada para a prolaxia pr-exposio, especialmente a prossionais sob risco. A vacina comercializada obtida por engenharia gentica e as doses recomendadas dependem das instrues do fabricante, sendo mais comum o esquema de 3 doses aplicadas a 0,1 e 6 meses. No h vacina contra hepatite C. Procedimentos em caso de acidente No caso de acidentes percutneos (picada de agulha, lacerao da pele, mordidas) ou permucosa (membrana ocular ou mucosa) expostos ao sangue, a deciso sobre a conduta a ser utilizada quanto prolaxia e vacinao ir depender dos seguintes fatores: (a) se a fonte de sangue conhecida; (b) se conhecido o status do HBsAg do paciente que foi a fonte de exposio (paciente ndice) ; c) se a pessoa exposta j vacinada e qual a sua resposta imune anti-HBs. Alm da vacina, aplica-se HBIG imunoglobulina especca anti-HBs, quando necessria. As imunoglobulinas so solues estreis de anticorpos preparados a partir de grande quantidade de plasma humano com ttulos selecionados acima de 1:100. 000 por radioimunoensaio. O custo do HBIg maior que da Ig.
89
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
A tabela abaixo sumariza as recomendaes a serem seguidas:
Tratamento quanto a origem provvel Pessoa Exposta No vacinada Previamente vacinada: 1. respondedor conhecido HBsAg Positivo HBIG X1 e iniciar vacina para HB a. resposta anti-HBs adequado, sem tratamento b. resposta anti-HBs no adequada, dose extra de vacina para HB HBIG 2X ou HBIG 1X e 1 dose de vacina para HB Sem tratamento Sem tratamento Testar para anti-HBs: a. resposta no adequada, dose de reforo para HB b. resposta adequada sem tratamento HBsAg NEGATIVO Iniciar vacina para HB Origem no testada ou desconhecida Iniciar vacina para HB
2. no respondedor 3. resposta no conhecida
Testar para anti-HBs: Sem tratamento a. resposta no adequada, HBIG 1X e dose extra de reforo de vacina para HB b. resposta adequada sem tratamento
Trabalho com animais: NBA-3 Recomenda-se trabalho em conteno NBA- 3. Todo estudo de infeco experimental deve ser efetuado em biotrios com nvel de biossegurana 3. A manipulao dos animais, limpeza, descontaminao e descarte so feitos de forma semelhante ao descrito para hepatite A. Descontaminao/Limpeza O vrus da hepatite B capaz de sobreviver ao ressecamento e estocagem a 25C e 42% de umidade relativa por no mnimo 7 dias. inativado por alguns desinfetantes de nvel intermedirio a elevado, incluindo glutaraldedo, hipoclorito de sdio a 500 ppm, desinfetantes iodforos, lcool isoproplico e etlico. Para a rotina laboratorial utiliza-se a soluo de hipoclorito de sdio (produto comercial em soluo a 10%) a 1/20 (nal a 0.5%) ou a 1/10 para descontaminao de vidraria ou plsticos .
VRUS DA HEPATITE E (HEV)
Classe de Risco 2
O vrus da hepatite E (HEV) est classicado provisoriamente na famlia Calicivirus, devido as suas propriedades fsico-qumicas, seu tamanho e a sua forma. Morfologicamente, o
90
FIOCRUZ
HEV possui uma forma esfrica, no envelopado e tem um tamanho varivel, em trno de 27 a 37 nm de dimetro. O genoma viral constitudo por um RNA de ta simples, com polaridade positiva e com aproximadamente 7,5 Kb de comprimento. Possui uma cauda de poli A na extremidade 3 amino terminal e por ser uma molcula de polaridade positiva, o RNA funciona como o prprio RNA mensageiro, por ocasio da infeco, sendo diretamente traduzido em protenas virais e portanto infeccioso. Os adolescentes e os adultos jovens so as faixas etrias de maior incidncia da doena. A letalidade de 1 a 3% nos adultos e entre as mulheres grvidas, sobretudo no terceiro trimestre de gravidez, de 20 a 30 %. Por outro lado, o risco da doena parece limitado a certas regies geogrcas tais como, a ndia, o Sudoeste da sia e a frica. Risco de Infeco laboratorial Aceita-se que a transmisso da hepatite E seja pela via oral, sendo a contaminao natural de guas com material fecal, de indivduos infectados, a principal fonte da doena. A transmisso pessoa a pessoa tambm ocorre, porm com uma taxa de incidncia bem mais baixa, quando comparada a outras infeces virais entricas (por ex: hepatite A). H tambm outras possveis vias de transmisso, tais como, a sexual, a vertical e por transfuso sangunea, porm ainda no totalmente conrmadas. Por outro lado, partculas virais e/ou RNA viral, podem ser obtidos de diversas outras fontes alm das fezes, so elas: a bile, o soro e a bipsia de fgado. As precaues usadas em laboratrios que manuseiam amostras fecais, tais como, luvas, jalecos, mscaras, entre outras devem ser sucientes para prevenir a infeco pelo HEV em laboratoristas. Por outro lado, prossionais que trabalham com infeces experimentais, devem manipular cuidadosamente as fezes dos animais infectados experimentalmente uma vez que, o contato direto com essas amostras fecais e/ou de suspenses fecais podem no s contaminar acidentalmente, como causar a infeco pelo HEV, recomendando-se, portanto, conteno de NB- 3. Em relao aos outros materiais, como a bile, o soro e as bipsias de fgado, os mesmos cuidados, como j descrito para o vrus da hepatite B, devem ser tomados para prevenir a exposio ao HEV. As mulheres que trabalham como laboratoristas e que cam grvidas, devem afastar-se do trabalho laboratorial durante o perodo da gravidez. Seguir as regras para NB-2 Vacina Inexistente. Trabalho com animais: NBA-3 Em condies experimentais, mais de 10 espcies de primatas no humanos so susceptveis infeco pelo HEV. Entre os animais domsticos, o HEV infecta porcos, carneiros e ratos. Em reas endmicas foi demonstrada a presena de anti-HEV em
91
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
galinhas, ratos e outros roedores selvagens. Tais trabalhos experimentais e achados de infeco natural pelo HEV levam a questo de possvel envolvimento de animais domsticos e alguns animais selvagens, na perpetuao de HEV na natureza e que talvez esses animais desempenhem algum papel importante na transmisso do HEV em reas endmicas. Todo trabalho com animais infectados experimentalmente deve ser realizado em biotrios com NBA-3. A manipulao dos animais, a limpeza, a descontaminao e o descarte dos materiais devem ser feitos de forma semelhante ao descrito para hepatite A. Descontaminao/Limpeza Semelhante a hepatite A no caso de manipulao de material fecal e hepatite B no caso de manipulao de soro, bile e bipsias.
POLYOMAVIRIDAE POLIOMAVIRUS HUMANO JC
Classe de Risco 2
A famlia Polyomaviridae atualmente considerada uma famlia independente e no mais classicada como sendo uma subfamlia da famlia Papovaviridae. At o momento foram identicados 30 agentes, entretanto somente o vrus JC (JCV) e o BK (BKV) infectam o homem. So vrus no envelopados, com genoma circular de cadeia dupla de DNA de 5130 (JCV) a 5153 (BKV) nucleotdeos e capsdeo icosadrico de 40 a 45 nm de dimetro. O vrus JC apresenta um carter ubquo com soroprevalncia de 80 a 90% na populao adulta de grandes metrpoles. Os mecanismos envolvidos na transmisso do vrus no foram totalmente esclarecidos e acredita-se que a via inicial de transmisso seja intrafamiliar. O rim parece ser o stio principal para a persistncia do JC, entretanto alguns estudos propem as clulas linfides como stio potencial para a latncia viral. Em condies de imunossupresso, o vrus JC pode se propagar para o sistema nervoso central, provavelmente por uma rota hematognica e infectar oligodendrcitos e possivelmente astrcitos, causando uma doena desmielinizante denominada leucoenfalopatia multifocal progressiva (LMP). A atividade oncognica do vrus JC vm sendo investigada e ensaios experimentais demonstram que a infeco no permissiva de clulas (ausncia de replicao viral) determina transformao maligna de clulas, pela expresso das protenas reguladoras no estruturais (antgeno T e t). Risco de Infeco Laboratorial Considerado um agente com baixo risco de infeco laboratorial, entretanto no se pode descartar a contaminao por inalao de aerossis. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas No h vacinas. Uma variedade de drogas e regimes teraputicos foram propostos, mas sem comprovada eccia contra o vrus JC. A droga mais utilizada a citosina arabinosdeo (ARA-C, citarabina), seguido pelos outros nucleosdeos anlogos,
92
FIOCRUZ
adenina arabinosdeo (ARA-A, vidarabina) e iododeoxiuridina. O interferon-alfa e mais recentemente o antiviral cidofovir so tambm utilizados em casos de LMP. Descontaminao/Limpeza Utilizar hipoclorito de sdio a 1% ou lcool a 70% para descontaminao/limpeza de materiais de pequeno porte e bancadas de trabalho e autoclavao para materiais de maior porte.
POXVIRIDAE VRUS VACCINIA
Classe de risco 2
Agentes da famlia Poxviridae so partculas de aproximadamente 250 nm, envelopados, com simetria semelhante a um paraleleppedo, com DNA de dupla ta linear de 130-250 kb. O vrus Vaccinia pertence ao gnero Orthopoxvirus da sub-famlia Chordopoxvirinae. Desde a erradicao do vrus da varola, so de importncia zoontica, podendo, entretanto infectar o homem induzindo doenas de gravidade varivel, caracterizada por vesculas, pstulas, papilomas e outras leses na pele. Vrus patognicos ao homem incluem o Pseudocowpox virus (gnero Parapoxvirus), Molluscum contagiosum virus (gnero Molluscipoxvirus), o Yabapox virus e o Tanapox virus (gnero Yatapoxvirus) e o Canarypox virus (gnero Avipoxvirus). Amostras de poxvrus semelhantes ao vrus Vaccnia, circulam no pas causando infeces humanas e em animais. Risco de infeco laboratorial Casos espordicos de infeco em laboratrio por aerossol ou por via parenteral foram documentados. A fonte de infeco geralmente o lquido vesicular ou material de bipsia, secrees respiratrias ou tecidos infectados, contaminando o trabalhador por via parenteral ou respiratria (gotculas, aerossois). Como o vrus tem estabilidade relativamente alta em material seco, pode ser transmitido por pele/avental ou ans contaminados aps contato com a saliva infectada. Especial ateno deve ser tomada com materiais infectados ressecados, j que os poxvrus so extremamente estveis. Indivduos imunossuprimidos no devem manipular este microorganismo. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas Vacina antivarola (validade de 10 anos) est indicada para indivduos que manipulam Orthopoxvirus. Trabalho com animais O trabalho com animais infectados perigoso para pessoal no vacinado. Descontaminao/Limpeza Utilizar hipoclorito a 1% para pequenos volumes de material e autoclavao para volumes maiores.
93
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
RHABDOVIRIDAE VRUS DA RAIVA E VRUS DA ESTOMATITE VESICULAR
Classe de risco 3
Os vrus da famlia Rhabdoviridae (rhabdos = basto), tem forma de bala de espingarda, envelopado, de 185x75 nm, com simetria helicoidal, RNA negativo de ta simples de 1316 kb. A famlia dos Rhabdovirus dividida em 2 gneros: Lyssavirus (virus da raiva; vetor = morcego, mamferos carnvoros) e Vesiculovirus (vrus da estomatite vesicular (VSV), hospedeiro = equinos, sunos, bovinos) com mais de 50 outros vrus no classicados, que infectam diferentes animais e plantas. O VSV induz uma infeco de sintomatologia semelhante induzida pelo vrus da aftosa, com recuperao em poucas semanas. capaz de infectar insetos, porm no se conhece um inseto que sirva de reservatrio. Risco de infeco laboratorial A infeco laboratorial pelo vrus da raiva rara, havendo um relato de 2 casos por exposio a aerossol em laboratrio de produo de vacina anti-rbica (trabalhando com vrus atenuado). Por outro lado, a infeco pelo VSV em pessoal de laboratrio e de biotrio bastante frequente, sendo que infeco por aerossol a mais freqente. Transmissveis por animais e tecidos de animais infectados (principalmente crebro, glndulas salivares, secrees como a saliva). Acidentes podem ocorrer por inoculao parenteral, cortes com materiais infectados, mordidas de animais infectados. Cuidados especiais em NB- 3 so recomendados para proteo de olhos/mucosa ao abrir crnios de animais infectados e ao efetuar manipulaes capazes de gerar aerossis. Seguir as regras para NB-3 Prolaxia/Vacinas Imunizao com vacina anti-rbica, cuja eccia porm duvidosa frente transmisso por via respiratria. No h vacina anti-VSV. Trabalho com animais: NBA- 3 Conteno em nvel 3 indicada para preveno de infeco por aerossis ou gotculas de saliva ou uidos vesiculares Procedimento em caso de acidentes (procurar orientao mdica imediata) Imunizao passiva com anticorpos especcos indicada. Deve-se aplicar a maior quantidade possvel da dose de soro recomendada em torno da(s) leso(es) e o restante por via intramuscular, seguida de srie de vacinas, sob orientao mdica. Descontaminao Vrios produtos e procedimentos podem ser utilizados, com escolha do melhor procedimento a depender do estado fsico e da sensibilidade dos materiais a serem descontaminados. O produto de escolha para inativao qumica o hipoclorito de sdio
94
FIOCRUZ
1%. Formol 3,6% tambm indicado. Rhabdovirus so sensveis a irradiaes radiantes (UV, gama), ao calor mido (fervura, autoclavao) ou calor seco (forno 210 C).
REOVIRIDAE ROTAVRUS, ORTHOREOVRUS, ORBIVIRUS
Classe de risco 2
Os rotavirus pertencem ao gnero Rotavirus, famlia Reoviridae. O virion intacto apresenta simetria icosadrica, sendo destitudo de envelope lipdico e possuindo aproximadamente 80-100nm de dimetro. O capsdeo triplo constitudo por duas camadas proticas formando os capsdeos externo e intermedirio; uma terceira camada formando o ncleo. O genoma viral constitudo de RNA de ta dupla, com 11 segmentos que codicam 5 polipeptdeos no estruturais e 6 estruturais. Os rotavirus causam gastroenterites, replicando-se primariamente no trato intestinal. So cosmopolitas, sendo descritos em todos os continentes e diversas espcies de animais (mamferos, roedores, ruminantes, etc). Tambm infectam aves, porm sem induzir sintomatologia importante. Um aspecto importante das infeces por rotavirus a quebra da barreira inter-espcie. Assim sendo, rotavirus humanos podem infectar animais e vice-versa. Atualmente, diversos gentipos hbridos (humano-animal) circulam o mundo, sendo considerados vrus emergentes. Acometem principalmente crianas (<3 anos) e animais jovens. Atualmente, so atribudos aos rotavirus 680.000 mortes de crianas menores de 3 anos nos pases em desenvolvimento. A famlia Reoviridae inclui ainda os gneros Orbivirus e Orthoreovirus com vrios subtipos sendo agentes de doenas animais e humanas. As infeces humanas so pouco severas e transientes, afetando o trato respiratrio superior e por vezes o trato digestivo. Risco de infeco laboratorial Os rotavrus so isolados de fezes humanas, sendo o maior risco a contaminao oral por alimentos contaminados com fezes. Os reovrus so isolados de secrees do trato respiratrio. Especial cuidado para evitar a formao de aerossis deve ser tomado, com ateno para a higiene pessoal, assim como a transmisso atravs de fmites. Uma criana ou um adulto poder ter at 20-25 episdios de diarria / dia e em um nico episdio podem ser eliminados um trilho de partculas virais. Considerando-se que 10 partculas virais constituem uma dose infectante, os riscos de contaminao so extremamente elevados. Existem relatos de infeco pela via respiratria. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas Como as rotaviroses acometem crianas igualmente em pases desenvolvidos ou em desenvolvimento, a diminuio da morbidade somente ocorrer atravs do uso de vacinas, atualmente em fases I, II e III de testes, com vacinas mono ou polivalentes.
95
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Trabalho com animais: NBA- 2 Programas de controle de artrpodes so obrigatrios. Especial cuidado para evitar a formao de aerossis deve ser tomado, com ateno para a higiene pessoal. Descontaminao/Limpeza So vrus muito resistentes aos procedimentos e agentes normais de inativao. Reovirus so parcialmente sensveis ao calor e a tratamento por fenol-SDS. Gentipos diferentes de rotavirus apresentam resistncias diferentes, devendo-se lembrar principalmente a resistncia ao etanol, aos solventes orgnicos e detergentes: ter, clorofrmio, deoxicolato e detergentes no inicos podem at aumentar a infectividade viral, sendo estvel entre pH 3 e 9 - porm susceptveis a cidos em pH < 3.0 e a temperaturas superiores a 60oC. Os Rotavirus so especialmente susceptveis remoo de clcio por agentes quelantes (cido etileno diamino tetraactico, EDTA; acido etileno glicobis-aminoetil tetraactico, EGTA). Utilizar o hipoclorito a 1% para pequenos volumes de material e a autoclavao para carcaas de animais e materiais de maior volume.
RETROVIRIDAE HIV-1, HIV-2, SIV, HTLV-I E HTLV-II
Classe de risco 3
Retrovrus (denominao originria de retro= reverso) so vrus RNA de 80 a 100 nm de tamanho, envelopados, com genoma de 7 a 10 kb. Sua principal caracterstica ter uma enzima, a transcriptase reversa, capaz de transcrever o RNA viral para DNA e de se integrar ao genoma da clula hospedeira. H 3 gneros virais na famlia Retroviridae: Lentivirus, com representantes patognicos para o homem representados pelo HIV (vrus da imunodecincia humana) e para primatas no humanos representado pelo SIV (vrus da imunodecincia smia); e Delta-Retrovirus, do qual faz parte o HTLV (vrus com tropismo para linfcitos T humanos). Risco de infeco em laboratrio O risco de infeco por retrovrus (HIV, HTLV) baixo para laboratoristas (em comparao a outros agentes tais como os vrus da hepatite, por exemplo), aproximadamente 0.3% dos indivduos que acidentalmente se feriram por perfuraes com agulhas ou cortes com materiais infectados resultaram HIV-1 positivos (CDC, dezembro 1995). O perigo maior apresentado por inoculao parenteral acidental, seguido de exposio por contato com feridas. CUIDADO: O vrus se mantm potencialmente infectante em sangue ou derivados sangneos secos por vrios dias. Seguir as regras para NB-3. Cuidados especiais devem ser tomados na manipulao de materiais humanos ou de primatas no humanos: sangue ou derivados de urina, sangue, semen, lquido cerebroespinal, saliva, leite materno, lgrimas, lquido amnitico, secreo cervical, tecidos. Deve-se evitar o uso de vidro, bisturi, seringas e agulhas; nunca recapear
96
FIOCRUZ
agulhas; desprez-las diretamente em frasco especial resistente a perfurao, tampado. Trabalhos que envolvam a produo viral em quantidades comerciais devem ser efetuados a NB- 3. Indivduos que manipulam retrovrus em laboratrio devem manter amostras de soro para teste sorolgico com periodicidade de 6 meses, sendo que pelo menos 1 amostra de soro negativa para retrovrus deve ser guardada para uso como amostra base. Trabalho com animais: NBA-3 Todo trabalho com retrovrus deve ser efetuado em nvel de biossegurana de biotrio 3, mesmo quando animais considerados resistentes aos retrovrus so utilizados, devido longa sobrevida viral mesmo em ausncia de replicao viral (2 a 14 dias, em condies siolgicas) Procedimento em caso de acidente (procurar orientao mdica imediata) 1) Desinfetar a pele ou mucosa ntegra com excesso de lcool 70%, deixando pingar o lquido sobre material absorvente, que possa ser facilmente descartado. Deixar secar ao ar 2) Pele ou mucosa ferida: desinfetar com povidine (= polyvidone = polyvinylpirrolidone) 10% (comercial aquoso) 3) Vericar a presena de retrovrus no material introduzido na pele ou mucosa. Caso o material no mais estiver disponvel ou na ausncia da disponibilidade de tcnicas de deteco viral, considerar este material como sendo contami nado. 4) Sorologia do indivduo acidentado deve ser realizada no dia 0 (data base) e aps 3 semanas, 3 e 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos. 5) O tratamento com antiretroviral(is) realizado sob indicao e controle mdicos recomendado. Para atualizao, contacte pela Internet www.cdc.gov.hivpep ou www.aids.ms.gov.br Descontaminao/Limpeza Vrios produtos podem ser utilizados para eliminao de retrovrus, com escolha do melhor procedimento a depender do estado fsico e da sensibilidade dos materiais a serem descontaminados. Retrovrus so em geral inativados por produtos clorados: 1% de cloro ativo so indicados para limpeza e/ou descontaminao de reas fsicas (bancadas, equipamentos). Os produtos clorados usados devem ser diludos no dia do
97
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
seu uso devido instabilidade do cloro ativo. Outros produtos usados com frequncia so o lcool a 70% (OBS: etanol 70% leva 10 minutos para matar HIV), 2-propanolol 70%, formol 3,6%, glutaraldedo 1%, e o Triton X100 0,1%. Os retrovrus so sensveis a extremos de pH (< 2 ou >12), ao calor seco 170 C / 2 horas (forno), calor mido sob presso 121 C / 20 min (autoclave) ou fervura por 20 min. Soros podem ser inativados a 56 C / 30 min (OBS: inativao dos soros pode levar a queda do ttulo de anticorpos).
TOGAVIRIDAE - VRUS DA RUBOLA
Classe de risco 2
O vrus da rubola pertence famlia dos Togaviridae, gnero Rubivirus. So partculas de 40-50nm, envelopados, de simetria icosaedral, com RNA de ta simples de aprox 10kb. A rubola tem uma distribuio mundial e apresenta picos sazonais na primavera e incio do vero. considerada uma doena da infncia, podendo ocorrer complicaes, porm estas so raras. No entanto, ao menos 20% dos bebs infectados in utero durante o primeiro trimestre da gravidez nascem com anormalidades congnitas severas, usualmente mltiplas. Risco de infeco laboratorial Maior risco laboratorial constituido por alfavrus, porm todos os togavrus devem ser considerados potenciais patgenos ao ser humano. A contaminao parenteral a via mais frequente de contaminao. A infeco inaparente durante a gravidez pode resultar em infeco e doena severa do feto. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacinas Vacina contra rubeola indicada para manipuladores de Rubivirus. A vacina pode ser encontrada como forma nica ou associada ao sarampo e caxumba (trplice viral). Recomenda-se que todas as mulheres em idade frtil, sem a presena de anticorpos para rubola, recebam a vacina. Trabalho com animais: NBA- 2 Especial cuidado deve ser tomado contra aerossis. Procedimento em caso de acidentes 1) Desinfetar pele ou mucosa ntegra com excesso de lcool 70% deixando pingar o lquido sobre material absorvente, que possa ser facilmente descartado. Deixar secar ao ar 2) Pele ou mucosa ferida: desinfetar com povidine (= polyvidone = polyvinylpirrolidone) 10% (comercial aquoso)
98
FIOCRUZ
3) Vericar a presena de vrus no material introduzido na pele ou mucosa. Caso o material no mais estiver disponvel ou na ausncia da disponibilidade de tcnicas de deteco viral, considerar este material como sendo contaminado. 4) Sorologia do indivduo acidentado deve ser realizada no dia 0 (data base) e aps 4 semanas Descontaminao/Limpeza Produtos clorados: 1% de cloro ativo so indicados para limpeza e/ou descontaminao de reas fsicas (bancadas, equipamentos). Os produtos clorados usados devem ser diludos no dia do seu uso devido instabilidade do cloro ativo. Agentes ecazes para a descontaminao so o lcool a 70%, 2-propanolol, 3,6% formol, 1% glutaraldedo, 0,1% Triton X100, extremos de pH (<2 ou >12), calor seco 170C / 2 horas (forno), calor mido sob presso 121 C/20 min (autoclave), fervura por 20 min. Soros podem ser inativados a 56C/30 min (OBS: a inativao dos soros pode levar queda do ttulo de anticorpos). Em geral, hipoclorito de sdio a 1% utilizado para descontaminao de materiais de porte pequeno. Autoclavao indicada para descontaminao de materiais de maior porte. Materiais cirrgicos e ltros sensveis ao hipoclorito devem ser fervidos em gua por 10 minutos.
Referncias Bibliogrcas
Adams SR (ed). Biohazards associated with natural and experimental diseases in non-human primates. J Med Primatol 16: 51, 1987. Aloisio et al. Overnight Paraformaldehyde inactivation of HIV-1. J Immunol Meth 128: 281, 1990. Alter, M.J. The detection, transmission and outcome of hepatitis C virus infection. Infect. Agent Dis. 2:155-166, 1993. Aranda A, Viza D, Busnel RG. Chemical inactivation of human immunodeciency virus in vitro. J Virol Meth 37: 71, 1992. Balayan MS. Review. Epidemiology of hepatitis E virus infection. J Viral Hep 4:155 -165, 1997. Becker et al. Occupational risk. Ann Int Medicine 110: 9, 1989. Bond WW., Petersen NJ, & Favero MS. Viral hepatitis B: aspects of environmental control, Health Lab.14:235-252,1977. Cao et al. Variable Decay of HIV-1 infectivity in plasma and serum. AIDS 7: 596, 1993. CDC. HIV/AIDS Surveillance Report, October 1992:14 CDC. MMWR 37 (S3) 1, 1988. CDC. Public Health Service guidelines for counselling and antibody testing to prevent HIV infections and AIDS. MMWR 36, 509, 1987. CDC. Public Health Service statement on management of occupational exposure to HIV, including considerations regarding Zidovudine postexposure use. MMWR 39, No. RR-1 CDC. Rabies in a laboratory worker from New York. MMWR 26, 183 (1977) CDC. Recommendations for prevention of HIV transmission in health care settings. MMWR 36 (suppl 2) 3S, 1987
99
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
CDC. Revision of the CDC surveillance case denition for AIDS. MMWR (suppl 1) 1S, 1987 CDC. Smallpox vaccines. MMWR 29: 417, 1980. CDC. Vaccinia vaccine. MMWR 40, RR-14, 1992 CDC/NIH. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. HHS Public (CDC) 938395, 1993 CDC-NIH. Publ # 93-8395 Center for Disease Control/National Institute of Health. Biosafety in microbiological and biomedial laboratories, 3rd ed HHS publication no. (CDC)93-8395, US Government Printing Ofce, Washinghton, DC, 1993. Dickens LE et al. J Virol 52 :364, 1990. DO Fleming (ed), Laboratory Safety: principles and practices. American Society of Microbiology, Washington, EUA, 1995 Favero et al. Sterilization, Desinfection, and Antisepsis in the Hospital. In: Manual of Clinical Microbiology 1991 Favero MS & Bond WW. Transmission and control of laboratory-acquired hepatitis infection. Laboratory safety: principles and practices. Fleming DO et al Editors, 2nd ed. 1995. Favero MS et al. Guidelines for the care of patients hospitalized with viral hepatitis. Ann Intern Med 91:872-876, 1979 Field BN, Knike DM, Howley PM (ed). Fields Virology (BN Fields, DM Knipes, PM Howley ed), Lippincott-Raven, Philadelphia-New York, 1996. Fleming DO (ed). Laborory Safety : principles and practices., American Society of Microbiology, Washington, EUA, 1995 Frisque RJ, Bream GL, Cannella MT: Human polyomavirus JC virus genome. J Virol 51, 458-469 Frisque RJ, Whit FA: The molecular biology of JC virus, causative agent of progressive multifocal leukoencephalopathy. In: Molecular Neurovirology Pathogenesis of viral CNS infections, ed. Roos RP, Humana Press, Totowa 1992, 25-158,1984. Garner JS & Favero MS. Guidelines for handwahing and hospital environmental control. HHS Publication No 99-1117. Center for Disease Control, Atlanta, 1985. Hadziyannis SJ, Taylor JM, Bonino, F eds. Hepatitis Delta; molecular biology;pathogenesis, and clinical aspects. . New York: Wiley-Liss; 1993 Hogas FT et al. Viral Immunol 4:167, 1991. Hull RN. The simian herpesviruses. In Kaplan (ed). The Herpesviruses. Academic Press Inc New York, pp 390, 1973. Kiyosawa K. e cols. Hepatitis C in hospital employee with needle-stick injuries. Ann. Intern. Med. 115: 367-369, 1991. Linnen J, Wages J Jr, Zhang-Keck et al. Molecular cloning and disease association of Hepatitis G virus: a transfusion-transmissible agent. Science 271:505-508, 1995. Martin et al. Desinfection and inactivation of HTLV-III/LAV associated virus. J Inf Dis 152, 400, 1985. McCray et al. Occupational risk of the AIDS among health care workers. NEJM 314: 1127, 1986. Medical Virology. White DO & Fenner FJ (ed), Academic Press, 1994 Moudgil et al. Stability of HIV in plasma. J Inf Dis 167: 210, 1993. Pike RM. Laboratory associated infections: summary and analysis of 3921 cases. Hlth Lab Sci 13: 105, 1976. Resnick et al. Stability and inactivation of HTLV-III/LAV under clinical and laboratory environments. JAMA 255: 1887, 1986.
100
FIOCRUZ
Russel PK et al. The Togaviruses: biology, structure, replication. Schlesinger RW (ed), Academic Press, New York, 1980. Rutala WA. APIC guideline for selection and use of disinfectants. Am J Infection Control 18, 99 (1990) Saksena et al. HIV aerosol monitoring. J Inf Dis 164: 1021, 1991. Sattar SA et al. Can J Microbiol 29:1464, 1983. Schochetman & George. AIDS testing : methodology and management issues. Springer Verlag, NY, 1991. Seif I, Khoury G, Dhar R. The genome of human papovavirus BKV. Cell 18 963-977 Shapshak et al. Bleach inactivation of pelleted HIV. J AIDS 6: 218, 1993. Simons JN et al. Isolation of a novel virus-like sequences associates with human hepatitis. Nature Medicine, 1995,1:564-569. Spire B et al,. Inactivation of Lymphoadenopathy associated virus by heat, gamma rays and ultraviolet light. Lancet i:188, 1985 Spire B et al., Inactivation du Lymphoadenopathy AIDS Virus (LAV). Med Hyg 43:1614, 1985. Sturman et al. J Virol 64: 3042, 1990. Thraenhart O. Measures for desinfection and control of viral hepatitis, p.445-471. In: Block SS (ed.), Desinfection, sterilization and preservation, 4th ed. Lea & Febiger, Philadelphia, 1991. US Dept Labor, Occupational Safety and Health Administration. Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens, Final Rule. Fed Register 56: 64175, 1991. US Environment Protection Agency. EPA guide for infectious waste management. Washington DC: US, Publ No. EPA/530-5W-86-014. Vaughn JM et al. Appl Environ Microbiol 51: 391, 1986. White DO & Fenner FJ (ed). Medical Virology. Academic Press, 1994 WHO, Laboratory Biosafety Manual, 3a edio, Genebra, 2004 Winkler WG. Airborne rabies transmission in a laboratory worker. JAMA 226: 1219, 1973.
101
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
3.2. Biossegurana no Trabalho com Fungos
Em um Laboratrio de Micologia muita ateno deve ser dada ao manuseio de fungos. Nunca se deve assumir que as pessoas que trabalham com fungos tenham conhecimento adequado sobre as prticas de segurana, individual ou coletiva, sendo, portanto necessrio treinamento constante. A segurana de responsabilidade pessoal, da chea do laboratrio e da instituio. O indivduo precisa estar familiarizado com o potencial de risco do seu laboratrio e as medidas de proteo para evitar acidentes (Furcolow et al., 1952; McGinnis, 1980). A exposio aos microorganismos, inclusive os fungos (Collins, 1983), pode ocorrer por: 1) Inalao de partculas fngicas - pelo ar, aps derramamento ou quebra de vidrarias ou aps remoo de buchas de algodo ou tampa de rosca; 2) Ingesto - por pipetagem com a boca ou pela falta de lavagem das mos aps manuseio de culturas e/ou animais infectados; 3) Inoculao direta como resultado de acidentes com agulhas, quebra de vidrarias ou contato com a pele e subsequente entrada no organismo atravs de cortes e arranhes. No caso de um acidente envolvendo fungos vivos, as seguintes normas gerais de segurana devero ser cumpridas (McGinnis, 1980): a) Prenda a respirao e deixe a sala imediatamente, fechando a porta; b) Avise todas as pessoas do laboratrio e no permita a entrada na rea contaminada; c) Descontamine o local do acidente (veja O que se deve fazer em caso de acidentes).
Ocupao de risco Aquele que trabalha em Laboratrio de Micologia est submetido a um grande risco de se expor e adquirir uma infeco mictica. Em um levantamento de quase 4000 infeces associadas ao trabalho laboratorial, 9% foram causadas por fungos. Destes, 44% ocorreram em laboratrios de pesquisa e somente 12% em laboratrios mdicos. Cinco casos resultaram na morte do trabalhador (Pike, 1976). O investigador pode se contaminar pela inalao de esporos ou de partculas infecciosas, ou ainda pela inoculao percutnea causada por acidentes com agulhas e bisturis.
102
FIOCRUZ
Estes acidentes podem levar instalao da infeco. H tambm, doenas micticas no infecciosas que podem afetar os micologistas, tais como micotoxicose pulmonar e hipersensibilidade mictica (Di Salvo, 1987). A micotoxicose pulmonar uma doena respiratria aguda devido a inalao de grande nmero de esporos fngicos. Considera-se que a causa seja devida s micotoxinas produzidas pelo microorganismo. Espcies de Aspergillus, Claviceps, Fusarium, Penicillium etc produzem toxinas. A hipersensibilidade mictica uma pneumonia causada por uma reao imunolgica em pessoas susceptveis e requer repetidas exposies ao agente. Para minimizar estes e outros riscos prticas laboratoriais adequadas devem ser utilizadas no ambiente de trabalho. Normas especcas para o trabalho com fungos 1) Utilizar tubos com meio inclinado, sempre que possvel, ao invs de placas de Petri para fungos patognicos. Nunca usar placas para semear Coccidioides immitis, ou quando se suspeita deste (Larone, 1987); 2) Desinfetar regularmente as bancadas, pisos, equipamentos e outros materiais onde so manipulados materiais biologicamente perigosos com hipoclorito de sdio a 5% diludo a razo de 1:10 para se obter uma concentrao nal de 5g/ litro de cloro livre. Sempre bom lembrar que o hipoclorito de sdio txico e irritante para a pele, os olhos e o sistema respiratrio; 3) Fungos perigosos, tais como, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides imimitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis e Sporothrix schenckii devem ser manipulados em cabines de segurana biolgica Classe II ou III. 4) No trabalho de campo, utilizar mscara e luvas em locais onde se suspeita de fungos com risco de transmisso pelo ar (veja descrio dos agentes patognicos); 5) Antes do trabalho prtico, deve-se consultar a classicao dada aos fungos. Fungos como Coccidioides immitis e Histoplasma capsulatum, pertencem classe de risco 3; Paracoccidioides brasiliensis, Blastomyces dermatitidis, Criptococcus neoformans, Sporothrix schenckii, Aspergillus fumigatus, A. avus e os dermattos pertencem classe de risco 2. No existem fungos na classe de risco 4. 6) Lembre-se, no h vacinas ou prolaxias medicamentosas indicadas antes de se iniciar o trabalho com fungos.
103
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Procedimento em caso de acidente Segundo McGinnis, 1980 acidentes envolvendo espcimes clnicos e fungos podem ocorrer dentro ou fora da cabine de segurana. Um acidente fora da cabine de segurana mais difcil de se administrar.
1) Acidentes fora da cabine de segurana com espcimes clnicos e culturas de fungos que no so potencialmente perigosos: 1.1. Feche a ventilao da rea e espere aproximadamente por 1h antes de entrar at que os aerossis possam ser depositados; 1.2. Vista um jaleco de mangas compridas, mscara, e luvas de borracha; cubra o material clnico ou a cultura quebrada com hipoclorito de sdio a 5% diludo a razo de 1:10 para obter uma concentrao nal de 5g/litro de cloro livre; 1.3. Mantenha a rea molhada com o desinfetante por aproximadamente 1h antes de limp-la; 1.4. Todos os equipamentos contaminados ou potencialmente contaminados devem ser desinfetados; 1.5. Aps a desinfeco do local do acidente, autoclave e descarte todos os resduos e os EPIs usados. Se as mos entrarem em contato com o material contaminado, lave-as com sabo e gua, ou lcool isoproplico a 70%, ou ambos.
2) Acidentes fora da cabine de segurana envolvendo fungos perigosos: 2.1. Feche a ventilao da rea e espere, aproximadamente, por 1h antes de entrar na sala; 2.2. Vista um macaco ajustado nos pulsos, mscara, luvas e cubra os sapatos. Coloque na rea do acidente hipoclorito de sdio a 5%. Espalhe o desinfetante ao redor do stio do acidente, mas no diretamente sobre o derramado para no produzir aerossis; 2.3. Coloque papel toalha embebida com o desinfetante sobre o derramado por 1h. A descontaminao com formol se faz necessria, quando se tratar de agentes da classe de risco 3; 2.4. Autoclave todos os materiais contaminados durante o acidente; 2.5. Limpe os equipamentos e acessrios do laboratrio com hipoclorito de sdio indicado no tem 2.2.
104
FIOCRUZ
3) Acidentes ocorrendo em uma centrfuga: 3.1. Prenda a respirao e desligue a centrfuga imediatamente e deixe a sala fechando a porta; 3.2. Comunique ao pessoal do laboratrio e feche a ventilao da rea; 3.3. Espere aproximadamente por 1h; 3.4. Vista roupa protetora, entre na sala e desinfete a centrfuga com hipoclorito de sdio a 5% diludo a 1:10, 3.5. Limpe os equipamentos e desinfete a sala; 3.6. Autoclave o material contaminado.
4) Acidentes dentro da cabine de segurana com fungos perigosos: 4.1. Deixe a cabine; 4.2. Vista luvas, esfregue todas as paredes, superfcies de trabalho e equipamentos com hipoclorito de sdio a 5%, diludo a 1:10, deixando o desinfetante em contato com as superfcies da cabine por 10 a 15 min.; 4.3. Autoclave as luvas e o material usado para desinfetar superfcies. No caso de acidente com Histoplasma capsulatum ou Coccidioides immitis necessria a fumegao do ambiente e da cabine de segurana biolgica. 5) Acidentes ocasionando a contaminao do laboratorista: Seguir as recomendaes deste manual para Acidentes do Captulo I.
FUNGOS EM GERAL
Classe de risco: 2
Segundo o CDC, 1993, vrios fungos provenientes de fontes ambientais tm causado srias infeces em hospedeiros imunocompetentes que inalaram ou se inocularam acidentalmente por via subcutnea. Os agentes so: Cladosporium (Xylohypha) trichoides, Cladosporium bantianum, Penicillium marneffei, Exophiala (Wangiella) dermatitidis, Fonsecaea pedrosoi e Dactylaria gallopava (Ochroconis gallopavum). Alm destes, existe uma srie de fungos atualmente considerados emergentes como patgenos oportunistas (Torres-Rodrguez, 1996); veja relao abaixo. Portanto, o trabalho laboratorial com esses agentes merece ateno e precauo especial. Como regra geral, ao se trabalhar com fungos que estejam esporulando ou ao se inocular animais experimentais, dever-se- tomar cuidado pois eles representam um risco terico para o trabalhador do laboratrio. Por isso, recomendado NB- 2.
105
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Relao de espcies de fungos agentes de micoses oportunsticas Acremonium falciforme, A. kiliense, A. potronii, A. recifei, A. roseogriseum Alternaria anamorfo de Pleospora infectoria Aphanoascus fulvescens Aspergillus amstelodami, A. caesiellus, A. candidus, A. carneus, A. glaucus, A. oryzae, A. penicillioides A. restrictus, A. sydowi, A. terreus, A. unguis, A. versicolor Beauveria bassiana Candida pulcherrima, C. lipolytica, C. ravautii, C. viswanathii Chaetomium sp, Chaetoconidium sp Chaetosphaeronema larense Cladosporium cladosporioides Conidiobolus incongruus Coprinus cinereus Cunninghamella geniculata Curvularia pallescens, C. senegalensis Cylindrocarpon tonkinense Drechslera sp Exophiala moniliae Fusarium dimerum, F. nivale Geotrichum candidum Hansenula polymorpha Lasiodiplodia theobromae Microascus desmosporus Mucor rouxianus Mycelia sterilia Mycocentrospora acerina Oidiodendron cerealis Paecilomyces lilacinus, P. viridis, P. variotii Penicillium chrysogenum, P. citrinum, P. commune, P. expansum, P.spinulosum Phialophora hoffmannii, P. parasitica, P. repens Phoma hibernica Phyllosticta sp, P. ovalis Pyrenochaeta unguis-hominis Rhizoctonia sp Rhodotorula pilimanae, R. rubra Schizophyllum commune Scopulariops acremonium, S. brumptii Stenella araguata
106
FIOCRUZ
Taeniolella stilbospora Tetraploa sp Trichosporon capitatum Tritirachium oryzae Volutella cinerescens
COCCIDIOIDES IMMITIS
Classe de risco 3
um fungo dimrco encontrado como saprta no solo. O miclio saproftico cresce rapidamente em lamentos brancos que se quebram gradualmente em artrocondios tornando-se livres no ar. Acredita-se que a inalao de um nico condio pode iniciar uma infeco. Aps a inalao, o artrocondio se converte, no tecido parasitado, em elementos esfricos (esfrula), no brotantes, repletos de endosporos. O C. immitis considerado um dos mais virulentos agentes micticos (Bulmer & Fromtling, 1983). A coccidioidomicose uma infeco respiratria benigna que pode se resolver espontaneamente ou progredir para uma doena sistmica severa (Comrie, 2005). A doena disseminada pode incluir a colonizao fngica de alguns rgos ou as meninges, os ossos, as articulaes, os tecidos cutneo e subcutneo. O envolvimento drmico caracterizado pela formao de abcessos (Bulmer & Fromtling, 1983). A doena ocorre primariamente no sudoeste dos Estados Unidos, norte do Mxico, Amrica Central e sudoeste da Amrica do Sul (Di Salvo, 1987). Risco de infeco laboratorial Os laboratoristas tm se exposto ao C. immitis por ambas as vias, respiratria e cutnea (Di Salvo, 1987). Por causa do tamanho dos artrocondios, de 2 a 5 m, o risco de ocorrer inalao grande. Eles rapidamente se dispersam no ar e so retidos nos espaos pulmonares profundos. A esfrula, por ser maior, de 30 a 60 m, reduz consideravelmente a eccia desta forma do fungo como um patgeno transportado pelo ar (CDC, 1993). A inalao de artrocondios, culturas lamentosas e esfrulas em materiais clnicos so os riscos laboratoriais primrios (CDC, 1993). A inoculao subcutnea da forma de esfrula pode resultar na formao de granulomas locais cutneos que se resolvem espontaneamente sem a ajuda de medicao (Smith et al., 1961). Durante o trabalho com esse agente, NB- 2 satisfatrio nas instalaes e nas prticas ao se manusear e processar espcimes clnicos, ao se identificar isolados e ao se processar tecidos animais. NB- 3 necessrio no trabalho com a fase filamentosa esporulada, em processamento de solo ou outros materiais ambientais conhecidos, ou que provavelmente contenham artrocondios infecciosos (CDC, 1993).
107
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Trabalho com animais NBA- 2 indicado no trabalho com animais experimentais pois a urina destes pode conter o fungo e contaminar a gaiola e a cama onde esto alojados. A limpeza adequada reduz o risco de contaminao (Kwon-Chung & Bennett, 1992).
PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS
Classe de risco 2
um fungo dimrco e agente causal da paracoccidioidomicose, doena presente na Amrica Latina com reas endmicas se extendendo da Amrica Central Argentina (San-Blas et al, 2002). No pus, nos lquidos orgnicos, nos tecidos e em cultura a 370C, o fungo visto como elementos esfricos, apresentando um ou mais brotamentos que se ligam clula me por na ponte citoplasmtica (fase leveduriforme). Em cultivo, temperatura ambiente, ele forma colnias lamentosas compostas de hifas, clamidosporos e aleuriosporos (fase micelial). As manifestaes clnicas resultam da inalao de elementos infectantes do fungo, ou da reativao de leso primria quiescente e so aquelas de uma doena granulomatosa crnica, com envolvimento dos pulmes, sistema retculo-endotelial, reas mucocutneas e outros rgos (Franco, 1987). Risco de infeco laboratorial A paracoccidioidomicose associada a acidentes de laboratrio no tem sido documentada. O risco ao se trabalhar com a fase leveduriforme a inoculao acidental do fungo. Com a fase micelial o perigo de se inalar elementos infectantes grande, principalmente, quando se trabalha com meios pobres que induzem a esporulao (Bustamante-Simon et al., 1985). Quando se trabalha com espcimes clnicos, processamento de animais, culturas lamentosas e leveduriformes em meios ricos, NB- 2 dever ser adotado. Durante a manipulao de culturas lamentosas crescidas em meios pobres, e processamento de solo ou outro material ambiental com suspeita de conter material infeccioso, NB- 3 o mais indicado. Trabalho com animais: NBA- 2
BLASTOMYCES DERMATITIDIS
Classe de risco 2
um fungo dimrco encontrado no solo da Amrica do Norte. O fungo cresce lentamente em meio slido temperatura ambiente, formando colnias com miclio areo branco tornando-se marrom. Ao microscpio v-se condios esfricos a ovais originados de
108
FIOCRUZ
curtos conidiforos ou condios piriformes a esfricos nascidos terminalmente na hifa. A 37oC desenvolvem-se colnias leveduriformes apresentando grandes clulas esfricas com unibrotamentos. A blastomicose uma doena crnica supurativa e granulomatosa. As manifestaes clnicas da doena podem ser: pulmonar, disseminada e cutnea (Bulmer & Fromtling, 1983; Bradsher et al, 2003). Risco de infeco laboratorial As formas de levedura podem estar presentes nos tecidos de animais infectados e em espcimes clnicos. A inoculao destes materiais pode causar a formao de granulomas locais que regridem espontaneamente (Larson et al., 1983). Outro perigo a manipulao de culturas lamentosas contendo condios deste fungo, que pode levar a produo e conseqentemente a exposio aos aerossis. Durante o trabalho com materiais clnicos e culturas leveduriformes, deve-se trabalhar em NBA- 2. O trabalho com culturas lamentosas, solo e outros materiais contendo condios infecciosos de B. dermatitidis deve ser realizado em NBA- 3 (CDC, 1993). Trabalho com animais: NBA- 2
HISTOPLASMA CAPSULATUM
Classe de risco 3
um fungo dimrco que se caracteriza por apresentar a 37oC, em cultura ou em tecido parasitado, elementos ovalados com brotamento unipolar ligado por estreito istmo. O aspecto saproftico, no solo ou em meio de cultura temperatura ambiente, caracterizado por uma clonia algodonosa de crescimento rpido, inicialmente branco. Constitui-se de hifas nas quais nascem condios ssseis ou em curtos conidiforos. Dois tipos de condios so vistos: microcondios, pequenos, esfricos medindo cerca de 2 a 6m e macrocondios, grandes, de 8 a 15 m, esfricos e tuberculados. A inalao de condios e fragmentos miceliais provavelmente o modo de infeco mais importante desse organismo. O nicho ecolgico do H. capsulatum o solo e restos orgnicos contaminados com fezes de galinha, morcego ou pssaros. A doena tem uma prevalncia mundial, mas comumente encontrada no centro-oeste dos Estados Unidos (DiSalvo, 1987; Wheat et al, 2004). A histoplasmose pode ser uma micose pulmonar aguda, subaguda, crnica ou sistmica. O microorganismo tem predileo pelo sistema retculo endotelial e pode envolver alguns rgos, incluindo o sistema nervoso central (Bulmer & Fromtling, 1983). Risco de infeco laboratorial A histoplasmose associada ao trabalho laboratorial est bem documentada (CDC, 1993; Collins, 1983; Hanel & Kruse, 1967; Pike, 1979). As infeces pulmonares resultaram do
109
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
manuseio de culturas na forma micelial e as infeces locais de ferimentos na pele. As coletas e processamentos de amostras de solo de rea endmica tm causado infeco pulmonar em laboratoristas. Os condios so resistentes desidratao e podem permanecer viveis por perodos longos de tempo. O pequeno tamanho do condio facilita a disperso pelo ar e a reteno intrapulmonar (CDC, 1993). Os condios desse fungo so encontrados em culturas miceliais esporulando e em solo de reas endmicas e a forma de levedura em tecidos ou em uidos biolgicos de animais infectados. Nas instalaes e durante as prticas laboratoriais de manuseio e processamento de espcimes clnicos e no trabalho com tecidos animais satisfatria a conteno em NB- 2. NB- 3 necessrio quando se manipula culturas lamentosas identicadas como H. capsulatum, bem como no processamento de solo ou outro material ambiental conhecido ou que provavelmente contenham condios infecciosos (CDC, 1993). Trabalho com animais: NBA- 3
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
Classe de risco 2
uma levedura patognica, apresentando em seu aspecto parasitrio elementos normalmente arredondados, ovais ou em forma de limo, de 3 a 8m de dimetro, uni ou bibrotantes, encapsulados. Em cultivo o fungo no apresenta diferena morfolgica evidente do observado em parasitismo. As colnias, ao serem isoladas, so de cor creme a castanho claro, lisas e brilhantes e de textura mucide. A criptococose adquirida por inalao de propgulos de leveduras desidratadas e/ou basidiosporos (da forma perfeita do fungo) a partir de fontes ambientais (Lortholary et al, 2004). Na maioria dos casos ocorre infeco pulmonar regressiva, sem manisfestaes clnicas ou radiolgicas. Contudo alguns indivduos desenvolvem quadros pulmores (pneumonia, pseudotumor) acompanhados ou no de disseminao por via hematognica, com freqente acometimento do sistema nervoso central (Kwon-Chung & Bennett, 1992). A doena apresenta as seguintes formas clnicas: colonizao da rvore brnquica pelo fungo (assintomtica), forma pulmonar primria regressiva, forma pulmonar progressiva e forma disseminada (Conant et al., 1954; Feigin, 1983). Risco de infeco laboratorial A inoculao parenteral acidental de culturas ou outros materiais contaminados representa um perigo em potencial para o pessoal de laboratrio, particularmente queles que possam estar imunocomprometidos. Mordidas de camundongos infectados experimentalmente, manipulao de materiais ambientais infectados, por ex. fezes de pombo, (CDC, 1993), e contato com material contaminado com urina de animais
110
FIOCRUZ
infectados (Kwon-Chung & Bennett, 1992), tambm, podem representar um perigo para o pessoal de laboratrio. Nas instalaes do laboratrio e na prtica de trabalho com materiais clnicos potencialmente infecciosos, com culturas, com animais infectados experimentalmente, processamento de solo, ou quando se trabalha com o estado perfeito do agente, Filobasidiella neoformans (CDC, 1993), recomenda-se NB- 2. Trabalho com animais: NBA- 2
SPOROTHRIX SCHENCKII
Classe de risco 2
um fungo dimrco que se apresenta em cultivo enriquecido de sangue a 37oC, em tecido parasitado e no pus, sob a forma de elemento navicular e charuto, alm de corpos asterides. Esta fase chamada de leveduriforme apresenta colnias brancas e cremosas. temperatura ambiente o fungo se transforma em lamentoso, formando colnias esteliformes e brancas tornando-se membranosas e sulcadas, com colorao variando do branco ao negro. O S. schenckii vive na natureza, usualmente associado a vegetais, e inoculado acidentalmente na pele ou tecido subcutneo determinando leso subcutnea. Ocasionalmente o fungo pode ser inalado causando a forma sistmica. A leso inicial uma ppula ou ndulo que surge no ponto de inoculao. Propaga-se por contigidade determinando a leso circunscrita ou por via linftica, produzindo uma srie de leses linear (de Rosa et al, 2005). Risco de infeco laboratorial O S.schenckii tem causado um nmero signicativo de infeces locais na pele e nos olhos em pessoas que trabalham em laboratrio micolgico, e em todos os casos foi necessria terapia medicamentosa (Kwon-Chung & Bennett, 1992). Muitos casos esto associados a acidentes e envolvem respingos de materiais de culturas nos olhos, arranho ou injeo de material infectado na pele ou mordidas de animal infectado experimentalmente. As infeces de pele so decorrentes, tambm, da manipulao de culturas ou necrpsia de animais. No h registro de infeco pulmonar resultante da exposio ao fungo em laboratrio, embora naturalmente ocorra doena pulmonar pela inalao do fungo (CDC, 1993). necessrio NB- 2 nas instalaes e nas atividades do laboratrio com culturas. Trabalho com animais: NBA- 2
111
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
DERMATFITOS - EPIDERMOPHYTON, MICROSPORUM E TRICHOPHYTON
Classe de risco 2
As dermatotoses constituem manifestaes clnicas muito variadas, causadas por dermattos que produzem leses na pele, plos e/ou unhas. Um estudo realizado na India revelou que de quase 4000 micoses diagnosticadas e analisadas pelo perodo de 1 ano, 73,5% foram de dermatotoses (Kamalan & Thambiah, 1976). Os dermattos so saprtas no solo, onde vivem sobre restos de queratina. O fungo em parasitismo visto como hifas hialinas, septadas e ramicadas. As hifas podem se desarticular formando os artrocondios. Em cultivo, na maioria das espcies, pode-se vericar a presena de micro e macrocondios. Risco de infeco laboratorial As infeces por dermattos adquirem-se por contato com animais de laboratrio infectados experimentalmente ou naturalmente e, raramente, ao manusear culturas. O processamento de material clnico no tem sido associado a infeces de laboratrio (CDC, 1993). Segundo Hanel & Kruse, 1967, a maior incidncia de dermatotoses em pessoas que manuseiam animais. Para Collins, 1983, o T. mentagrophytes parece ser o fungo mais freqentemente associado com infeces laboratoriais. Seguir as regras para NB-2 Trabalho com animais O contato com animais de laboratrio infectados com infeces inaparentes ou aparentes o perigo primrio para o pessoal do laboratrio. Materiais clnicos e culturas no so fontes importantes de infeco humana.
Referncias Bibliogrcas
Bradsher RW, Chapman SW, Pappas PG. Blastomycosis. Infect. Dis, Clin. North. Am. 17:21-40, 2003. Bulmer GS & Fromtling RA. Pathogenic mechanisms of mycotic agents. In: Howard, D.H., ed. Fungi pathogenic for humans and animals. Part B- Pathogenicity and detection I. New York, Marcel Dekker, pp: 1-59, 1983 Bustamante-Simon B et al. Characteristics of the conidia produced by the mycelial form of Paracoccidioides brasiliensis. Sabouraudia 23: 407-414, 1985. Center for Disease Control - National Institutes of Health. Biosafety in Microbiological Biomedical Laboratories, 3a ed., 1993. Collins CH. Laboratory-acquired infections. London, Butteworth & Co (Publishers) Ltda., 1983. Comrie AC. Climate factors inuencing coccidioidomycosis seasonality and outbreaks. Environ, Health Perspect. 113:688-692, 2005.
112
FIOCRUZ
Conant NF et al. Manual of Clinical Mycology, 2a ed., Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1954. DiSalvo AF. Mycotic morbidity: an occupational risk for mycologists. Mycopathologia 99: 147, 1987. Feigin DS. Pulmonary cryptococcosis. Radiologic-pathologic correlation of its three forms. Am J Radiol. 141: 1263, 1983. Franco M. Host-parasite relationships in paracoccidioidomycosis. Sabouraudia 25: 5, 1987. Furcolow ML, Guntneroth WG & Willis MJ. The frequency of laboratory infections with Histoplasma capsulatum: Their clinical and X-ray characteristics. J. Lab. Clin Med. 40: 182, 1952. Hanel EJr & Kruse RH. Laboratory-acquired mycoses. Department of the Army, Miscellaneous Publication 28: 1, 1967. Kamalan A & Thambiah AS. A study of 3891 cases of mycose in the tropics. Sabouraudia 14: 129, 1976. Kwon-Chung KJ & Bennett JE. Medical Mycology. Philadelphia, Lea & Febiger 1992. Larone DH. Medically important fungi - A guide to identication. 2a ed. New York, Elsevier 1987. Larson DM et al. Primary cutaneous (inoculation) blastomycosis: An occupational hazard to pathologists. Am J Clin Pathol 79: 253, 1983. Lortholary O, Nunez H, Brauner MW, Domer F. Pulmonary cryptococcosis. Semin. Resp. Crit. Care Med. 25;145- 57, 2004. McGinnis MR. Laboratory safety. Laboratory Handbook of Medical Mycology. New York, Academic Press, 1980. Pike RM. Laboratory-associated infections. Summary and analysis of 3921 cases. Health Lab Sci 13: 104, 1976. de Rosa AC, Scrofeneker ML, Vettorato R, Gervini RL, Vettorato G, Weber A. Epidemiology of sporotrichosis: a study of 304 cases in Brazil. I. Am. Acad. Dermatol. 52:451-459, 2005. San-Blas G, Nino-Vega G, Iturriaga T. Paracoccidioides brasiliensis and Paracoccidioidomycosis: molecular approaches to morphogenesis, diagnosis, epidemiology, taxonomy and genetics. Med. Mycol. 40:225-242, 2002. Smith CE et al. Human coccidioidomycosis. Bacteriol. Rev. 25: 310, 1961. Torres-Rodriguez JM. Nuevos hongos patgenos oportunistas emergentes. Rev Iberoam Micologia 13: 30, 1996. Wheat LI, Conces D, Allen SD, Blue-Hnidy D, Loyd I. Pulmonary histoplasmosis syndromes: recognition, diagnosis and manangement. Sem. Respir. Crit. Care Med. 25: 129-44, 2004.
113
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
3.3. Biossegurana no Trabalho com Bactrias
Requisitos bsicos de Biossegurana para instalao e funcionamento de um Laboratrio de Bacteriologia
Um Laboratrio de Bacteriologia Mdica, de acordo com seu objeto de estudo, pode receber diariamente grande nmero de amostras de uidos corporais e de fezes que so potencialmente infecciosos. Os maiores perigos esto relacionados com os vrus da hepatite B, HIV, bacilos da tuberculose, salmonelas, fungos e protozorios. O primeiro cuidado a ser tomado no laboratrio que trabalha com espcimes clnicos e/ou com culturas isoladas, evitar a exposio atravs de medidas de biossegurana e conseqente infeco. Deve-se considerar que os riscos so inuenciados por uma relao varivel entre o agente infectante (virulncia, carga infectante, ciclo e toxigenicidade) e o hospedeiro (idade, sexo, gravidez, uso de antimicrobianos, nvel de nutrio, imunidade incluindo vacinao prvia, compostos teraputicos especcos) e a atividade desempenhada (diagnstico, produo ou pesquisa). Deve-se sempre considerar que o risco elevado ao trabalhar com material clnico desconhecido. Alm disso, deve-se ter conhecimento das principais vias de transmisso para a adoo de cuidados especiais. Existem vrias portas de entrada de microorganismos. Entretanto no laboratrio, a via respiratria tem maior importncia dado a facilidade com que partculas pequenas so produzidas por tcnicas de laboratrio comuns, sendo a seguir capturadas pelo trato respiratrio superior. Produo de aerossis O uso incorreto de material de laboratrio como pipetas, alas de inoculao, agulhas, seringas, centrfugas e homogeneizadores pode produzir grandes quantidades de aerossis potencialmente infectantes. Deve-se, portanto, seguir os seguintes critrios bsicos: No destampar frascos com culturas que foram fechados com tampa de presso; No eliminar o ar das seringas; Evitar quebrar frascos que contenham cultura de microorganismos; No ejetar lquido de pipetas sob alta presso (fotograas de alta velocidade tm demonstrado que o uido, ao sair da pipeta pelo sopro, produz um aerossol de aproximadamente 15.000 gotculas com 10 m cada uma);
114
FIOCRUZ
No centrifugar tubos ou frascos sem tampa. Quando houver risco de contaminao por aerossis, recomenda-se o emprego de cabines de segurana biolgica juntamente com o uso de luvas, mscaras e culos de proteo. Nestas condies, manusear frascos e seringas envolvendo-os com gaze ou algodo embebidos em lcool 70%. Pipetagem proibido a pipetagem, com a boca, de material clnico ou de suspenses bacterianas. Utilizar pipetas automticas ou bulbos de borracha. No uso de pipetas de vidro, imprescindvel a proteo da extremidade da pipeta com algodo hidrofbo. Se houver risco de contaminao, trabalhar em cabines de segurana biolgica. Flambagem de ala bacteriolgica A ambagem da ala bacteriolgica deve ser feita atravs da chama do bico de Bunsen ou do uso de incineradores bacteriolgicos. Se houver um excesso de material biolgico, recomenda-se esgotar a ala num frasco contendo lcool a 95% e areia, ambando-se a ala em seguida. Recomenda-se o uso de alas descartveis. Descarte de resduos, amostras clnicas e material usado Todo material contaminado, inclusive amostras clnicas e culturas, devem ser descartados em recipientes de ao inoxidvel e autoclavados. As agulhas, seringas, lminas de bisturi, lancetas e outros objetos prfuro-cortantes contaminados devem ser colocados em um recipiente rgido, prova de vazamento e perfurao e depois autoclavados. Desinfeco de bancadas Todas as superfcies de bancadas devem ser desinfetadas com hipoclorito de sdio a 0,5% ou lcool 70% antes e aps o trabalho. No caso de contaminao com material de cultura (derramamento, quebra de frascos), usar hipoclorito de sdio 5%. Medidas a serem tomadas em caso de acidente primeiros socorros Em caso de contaminao das mucosas oral ou ocular com material clnico, lavar o local com gua em abundncia e usar soluo aquosa polividina (PVPI 5%). Para descontaminao da pele ntegra, usar PVPI 10% ou lcool 70%. Em caso de inoculao acidental com cortes ou queimaduras, lavar a rea lesionada com gua em abundncia, aplicar PVPI aquoso 5% e procurar um mdico. No caso de ingesto acidental, tentar regurgitar o material ingerido, comunicar a chea e procurar um mdico.
115
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Nveis de Biossegurana no Laboratrio de Bacteriologia Em geral, os laboratrios de bacteriologia clnica em hospitais devem seguir as normas de NB- 2, tomando-se as precaues recomendadas para NB- 3 quando da manipulao de micobactrias. Para atividades com potencial de gerar aerossis, utilizar cabines de segurana biolgica. O trabalho envolvendo produo de grandes volumes de toxinas e/ou culturas concentradas de algumas espcies bacterianas como Bordetella pertussis, B. abortus, Chlamydia sp, Clostridium botulinum, C. tetani, Legionela pneumophila, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Haemophilus inuenza, S. pneumonia, Salmonella sorovar typhi e Yersinia pestis devem seguir NB- 3. Trabalho com animais NBA- 2 deve ser usado no trabalho com animais vertebrados, sempre lembrando que estes podem contaminar o laboratorista por meio de aerossis ou mordeduras e arranhes. Aps os experimentos, as carcaas dos animais devem ser descartados por incinerao ou autoclavao. NB- 3 deve ser usado no trabalho com Brucella abortus, Clostridium botulinum e C. tetani. As vias de contaminao a serem consideradas na manipulao de bactrias encontramse na tabela abaixo:
Bactria
Via respiratria X
Pele e Mucosas
Ingesto
Acidentes com agulhas
Bordetella pertussis, Corynebacterium diphteriae, Legionella pneumophila Brucella spp. Leptospira interrogans Campylobacter spp., Escherichia coli Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp. Chlamydia spp., Clostridium tetani, Treponema pallidum
X X
116
FIOCRUZ
Bactria
Via respiratria
Pele e Mucosas
Ingesto
Acidentes com agulhas X
Clostridium botulinum, Salmonella serovar typhi Listeria monocytogenes Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis, Haemophilus inuenza Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus Yersinia pestis X X
BORDETELLA PERTUSSIS
Classe de risco 2
Cocobacilo Gram negativo, pequenos (<1m), aerbios, transmitidos por via erea, agente etiolgico da coqueluche, uma doena mais freqente em crianas cujo perodo de incubao de 7-10 dias, tendo como caracterstica a manifestao de tosses repetidas que podem levar cianose, exigindo por vezes, um suporte ventilatrio. Adolescentes e adultos, raramente tm a doena e podem ser portadores desse microorganismo e eventualmente transmit-lo crianas. O gnero Bordetella engloba, alm da B. pertussis, tambm as espcies B. parapertussis, B. bronchiseptica. Risco de infeco laboratorial Foram descritos alguns casos de infeco laboratorial, apesar de no resultantes da manipulao de espcimes clnicos ou culturas. A bactria encontrada em secrees do trato respiratrio, particularmente na secreo do naso-faringe posterior. Em laboratrio a principal via de transmisso a respiratria, sendo a formao de aerossis um dos principais fatores de transmisso. Seguir as regras para NB-2, porm NB- 3 recomendado para o trabalho envolvendo produo de grandes volumes de culturas. Prolaxia/Vacina A vacina disponvel o DPT (Difteria/Pertussis/Ttano) e deve ser administrada em trs doses em crianas. No confere imunidade permanente e completa. No h recomendaes para laboratoristas.
117
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
BRUCELLA ABORTUS, B. CANIS, B. MELITENSIS, B. SUIS
Classe de risco 3
Bastonetes Gram negativos, aerbios que crescem em meios de cultura especcos. So agentes etiolgicos da brucelose, uma zoonose que acomete principalmente bovinos, caprinos, sunos e ces. A doena no homem dividida clinicamente em trs fases: 1) Subclnica: mais encontrada em fazendeiros, veterinrios e trabalhadores de matadouros, diagnosticada somente pela converso sorolgica na titulao de anticorpos; 2) Aguda: tem um perodo de incubao de semanas a meses. Do ponto de vista clnico o paciente apresenta febre, mialgia, artralgia, disria, dor nos olhos e testculos e, 3) Crnica: ocorre quando a doena persiste por mais de um ano, pela localizao intracelular do microorganismo no sistema retculo-endotelial. Assim, a Brucella pode estar presente nos ossos, corao, pulmes, fgado, bao e sistema nervoso. A brucelose a doena mais comum nas infeces laboratoriais: estima-se que 2% dos casos de brucelose ocorrem em laboratrios de microbiologia, atravs de ferimentos acidentais com material contaminado e tambm por via erea. Risco de infeco laboratorial O agente encontrado em sangue, lquido cfalo -raquidiano, smen e urina. A transmisso por contato direto ou indireto pela contaminao da pele lesada e conjuntiva. A via erea tem sido colocada em destaque em matadouros e tambm em laboratrios. J foi descrita a transmisso atravs de acidentes como pipetar com a boca, ferimentos com agulhas, jato de aerosssol nos olhos, nariz e boca. Seguir as regras para NB-3. Prolaxia/Vacinas No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 3
BURKHOLDERIA MALLEI, B PSEUDOMALLEI
Classe de risco 3
Bacilos Gram negativos, mveis, aerbios estritos, considerado um saprta natural, habitam comumente solo, gua e ambientes marinhos. Causa epizootias em algumas espcies de mamferos. O processo patolgico da melioidose compreende uma infeco supurativa localizada aguda caracterizada pela formao de um ndulo com rea de linfadenite regional. Usualmente ocorre febre e mal estar. Esta forma de infeco evolui rapidamente para a forma aguda septicmica. O perodo de incubao da doena de 3 dias. Quando a porta de entrada o trato respiratrio pode haver tambm uma infeco pulmonar aguda.
118
FIOCRUZ
Risco de infeco laboratorial Foram relatados 2 casos de melioidose adquiridas no laboratrio, os dois associados exposio a aerossis infectados. O agente pode estar presente no escarro, sangue, secrees de ferida e, tambm, em solo e colees de gua de reas endmicas. A transmisso se d pelo contacto direto com culturas e materiais infectados. A ingesto, a autoinoculao e a exposio a aerossis assumem extrema importncia na infeco laboratorial. Seguir as regras para NB-3. Prolaxia/Vacina No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 3
CAMPYLOBACTER SPP
Classe de risco 2
Bastonetes Gram negativos curvos, microaerlos, crescem em atmosfera e meios de cultura especcos a 42 C e causam diarria assim como doenas sistmicas. A campylobacteriose uma zoonose, cujo agente comumente encontrado como ora comensal do trato gastrintestinal de bovinos, sunos, ovinos, ces, gatos, roedores e aves. O perodo de incubao da doena varia entre 1 a 7 dias, sendo inversamente proporcional dose infectante. O C. jejuni coloniza o jejuno, leo e clon causando uma enterite exudativa edematosa, difusa e sanginolenta. A nvel tecidual h uma degenerao do epitlio, perda de muco e ulcerao da mucosa do epitlio, os pacientes excretam o microorganismo por 2-3 semanas. Os principais sintomas da doena so: febre, dor de cabea, mialgia, mal-estar, dor abdominal e diarria. Risco de infeco laboratorial Foram descritos trs casos de infeco laboratorial. O agente encontrado em fezes e material de bipsia do intestino. A infeco resulta do consumo de gua e alimentos contaminados sendo necessrios 500 microorganismos para produzir a doena. Alm desta via, o contato direto com animais domsticos tambm pode causar a doena. A nvel laboratorial, a ingesto de culturas constitui a principal via de causa de doena ocupacional por este microorganismo. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacinas No disponvel.
119
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Procedimento em caso de acidente Reidratao oral e tratamento com antimicrobiano sob orientao mdica. Trabalho com animais: NBA- 2
CHLAMYDIA SPP
Classe de risco 2
So parasitas obrigatrios de clulas eucariticas. A C. trachomatis sensvel as sulfonamidas e forma incluses contendo glicognio, que permite a deteco do agente por coloraes base de iodo. No contato com as clulas do hospedeiro ela adere membrana celular e induz uma internalizao pelas clulas do hospedeiro em um processo semelhante fagocitose. O homem o nico hospedeiro natural da C. trachomatis. Este microorganismo o agente etiolgico de LGV-TRIC (linfogranuloma venreo-conjuntivite/tracoma/incluso) e de uretrite no gonocccica, epididimite no homem, cervicite e doena inamatria plvica em mulheres. A C. psittaci uma doena infecciosa de pssaros, de grande distribuio mundial. A provvel via de infeco para humanos o trato respiratrio devido inalao de excretas ressecadas de pssaros. O perodo de incubao de 7-15 dias e depois de chegar aos pulmes, o microorganismo transportado para as clulas do sistema retculo endotelial do fgado e bao, onde tambm se multiplicam. Risco de infeco laboratorial A C. trachomatis pode estar presente em uidos conjuntivais e secreo genital. A transmisso se d por contato direto ou indireto com os espcimes e/ou pessoas infectadas. No laboratrio, a inoculao parenteral acidental e a exposio das mucosas dos olhos, nariz, boca e trato genital ao material clnico e ovos infectados constituem importantes fontes de transmisso. NB-2 indicado para a cultura de espcimes clnicos em ovos embrionados. NB-3 recomendado para atividades com alto potencial de produo de aerossis e grandes concentraes do microorganismo. A C. psitacci pode estar presente em tecidos, fezes, secreo nasal e sangue de pssaros infectados e no sangue, escarro e tecidos de humanos infectados. O contato com aerossis produzidos pelo trabalho com animais constitui o principal mecanismo de transmisso na infeco laboratorial. Prolaxia/Vacina No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 2 NBA- 2 satisfatrio desde que com equipamentos de conteno classe III.
120
FIOCRUZ
CLOSTRIDIUM BOTULINUM
Classe de risco 2
Bastonete Gram positivo esporulado, anaerbio, relacionado toxico-infeco alimentar provocada pela ingesto de toxina botulnica contida em alimentos contaminados. O esporo do bacilo sobrevive no solo e germina no momento que encontra condies ambientais adequadas. Durante o crescimento e autlise o microorganismo libera uma potente neurotoxina, classicada em oito tipos diferentes. A toxina, primariamente absorvida pelo estmago e intestino delgado, interfere na neurotransmisso das sinapses colinrgicas perifricas pelo bloqueio do neurotransmissor acetilcolina, resultando no relaxamento das bras adrenrgicas. Os principais sintomas da doena usualmente se manifestam aps 12-36 horas da ingesto do alimento contaminado, a interrupo da transmisso autnoma colinrgica provoca a diminuio da salivao; ressecamento da boca, lngua e faringe; dilatao das pupilas, paralisia descendente com insucincia respiratria progressiva e ausncia de febre. Risco de infeco laboratorial S existe um caso de infeco laboratorial descrito na literatura. O agente encontrado em alimentos (enlatados) em materiais clnicos (sangue, fezes) e tambm em solo contaminado com esporos. A transmisso por ingesto ou seguida pelo contato da toxina com a pele, olhos e mucosas, inclusive as do trato respiratrio. Pode ocorrer a inoculao da toxina por via parenteral, atravs de cortes provocados por agulhas contaminadas. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina A vacina Toxide Botulnico Pentavalente (ABCDE)- est sendo avaliada, com recomendao para uso em pessoas que trabalham com culturas de C. botulinum e/ou toxina botulnica. Trabalho com animais: NBA- 2
CLOSTRIDIUM TETANI
Classe de risco 2
Bastonete Gram positivo esporulado, anaerbio, as formas vegetativas, sensveis penicilina, podem ser inativadas pelo calor e desinfetantes. Entretanto, os esporos so muito resistentes s desinfeces fsicas e qumicas e sobrevivem a autoclavao (121 C/10min). Os clostrdios so encontrados em alta concentrao em fezes de humanos, animais domsticos, cavalos, bovinos e tambm em solo. A toxina tetnica atua em vrios nveis do sistema nervoso central. Seu principal mecanismo de ao consiste na inibio da liberao de acetilcolina na juno neuromuscular, inuindo assim,
121
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
semelhana da estriquinina, na funo dos reexos sinpticos na medula espinhal, levando inibio de antagonistas. Os esporos usualmente so introduzidos no corpo pela pele lesada. A presena de tecido necrtico e tambm de outros microorganismos gera um ambiente adequado para germinao dos esporos. O perodo de incubao da doena varia entre 2 a 3 semanas aps a inoculao dos esporos. Porm as feridas prximas ao sistema nervoso central podem provocar sintomas em um curto intervalo de tempo. Risco de infeco laboratorial Foram descritos 5 acidentes laboratoriais relacionados manipulao da toxina. O agente encontrado nas secrees de ferida em pacientes tetnicos. No laboratrio o risco de infeco consiste na transmisso por via parenteral atravs da inoculao da toxina acidentalmente por cortes com objetos prfuro-cortantes contaminados. NB-2 recomendado para atividades que envolvem a manipulao de culturas ou toxina, enquanto NB-3 indicado para o trabalho envolvendo grandes volumes de cultura do clostrdio e/ou toxina e para atividades que geram aerossis. Prolaxia/Vacina DPT (Difteria, Pertussis e Ttano) administrada na infncia. TD (Ttano, Difteria) deve ser aplicada como reforo na idade adulta ou na vigncia de feridas ou injrias que podem predispor ao ttano. Ambas so disponveis pelo Ministrio da Sade. A vacinao antitetnica altamente recomendada para todos que trabalham em laboratrio. Trabalho com animais: NBA- 2 Procedimento em caso de acidente O local do acidente deve ser limpo com gua oxigenada ou soluo de permanganato 1:5000. Em caso de acidente perfuro-cortante, deve-se aplicar soro antitetnico (SAT) e esquema completo da vacinao caso o indivduo tenha sido vacinado h mais de dez anos. Se o esquema vacinal do indivduo estiver atualizado (validade por 10 anos), aplicar uma dose de vacina.
CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE
Classe de risco 2
Bastonete Gram positivo, pleomrco, imvel. Na colorao de Albert-Laybourn apresentam grnulos metacromticos; cresce em aerobiose em meios comuns. As cepas de C. diphtheriae quando infectadas por um bacterifago lisognico produz a toxina diftrica. Uma vez colonizado o epitlio, a toxina liberada, penetra nas clulas epiteliais
122
FIOCRUZ
e, inativa o fator de elongao, necessrio na fase de translocao na sntese proteica. Este processo vai gerar um nmero grande de clulas mortas que em conjunto com leuccitos e brina vo formar a pseudomembrana acinzentada, caracterstica clnica da difteria. O perodo de incubao da doena de 2-6 dias, quando sistemicamente a toxina causa distrbios graves no de corao e pulmes. Risco de infeco laboratorial Foram descritos 33 casos de infeco laboratorial pelo C. diphtheriae. A transmisso, usualmente, se d por via erea em contato direto com outras pessoas infectadas. O microorganismo pode estar presente em secrees da orofaringe, nariz, exsudato de pele lesada infectada e sangue. Fmites e leite cru podem ser veculos do microorganismo. Em laboratrio, a principal via de transmisso a respiratria, pela possvel formao de aerossis ao manipular materiais e/ou culturas. Seguir as regras para NB-2 Prolaxia/Vacina DPT (Difteria, Pertussis e Ttano) administrada na infncia. Para pessoas que trabalham com culturas ou animais contaminados recomendado o uso da vacina TD (TtanoDifteria) de 10 em 10 anos. Ambas as vacinas esto disponveis no Ministrio da Sade.
ESCHERICHIA COLI
ENTEROPATOGNICAS
Classe de risco 2
As E. coli que provocam diarria so divididas em cinco grupos relacionados a seguir: 1) EPEC - E. coli enteropatognica - causa diarria em crianas, em particular at 1 ano de idade. 2) ETEC - E. coli enterotoxignica - diarria aquosa semelhante desencadeada pelo Vibrio cholerae. 3) EIEC - E. coli enteroinvasora - disenteria semelhante provocada pela Shigella sp. 4) EHEC - E. coli enterohemorrgica - principal agente da colite hemorrgica e da sndrome hemoltica urmica, produzem citoxinas para clulas VERO. 5) EAggEC - E. coli enteroagregativa - associada a casos de diarria crnica, possui um padro de aderncia especco para as clulas HEp-2. Risco de infeco laboratorial Os agentes so encontrados em fezes. A infeco resulta do contato direto pessoa a pessoa e do consumo de gua e alimentos contaminados. A nvel laboratorial a ingesto do microorganismo e/ou inoculao parenteral representam os meios de transmisso mais efetivos.
123
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina No disponvel. Trabalho com animais: NBA-2
FRANCISELLA TULARENSIS
Classe de risco 2
Cocobacilo Gram negativo, aerbio, no mvel tendendo ao pleomorsmo em cultura com meios especcos. uma zoonose, acometendo uma variedade grande de animais como roedores, lagomorfdeos e alguns invertebrados. As portas de entrada mais importantes incluem pele e mucosas, por onde 10-50 bacilos so requeridos para causar doena. Os carrapatos injetam as bactrias no momento do repasto e tambm podem contaminar a picada com fezes infectadas. Na pele, em 2-4 dias forma-se uma ulcerao acompanhada de febre e linfadenopatia. Pode tambm haver a ingesto do bacilo com conseqente inamao da mucosa farngea e linfadenopatia cervical. Na maior parte, os pacientes apresentam febre abrupta, mal estar, fadiga seguida das sndromes ulceroglandular na pele, glandular, oculoglandular ou tularemia orofarngea. Risco de infeco laboratorial A tularemia a terceira doena mais comum associada infeco laboratorial. Todos os casos ocorreram em laboratrio de pesquisa. Casos ocasionais esto relacionados ao trabalho com animais e ectoparasitas experimentalmente infectados. Os microorganismos esto presentes nos exudatos de leso, secrees do trato respiratrio, lquido cfaloraquidiano, sangue, urina e em animais e artrpodes infectados. As portas de entrada mais importantes em infeco laboratorial incluem pele e mucosas, por onde 10-50 bacilos so requeridos para causar doena. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina A vacina, embora no d uma proteo completa, atenua a severidade da doena, sendo recomendada para laboratoristas que manipulam animais potencialmente infectados. Trabalho com animais: NBA- 2
LEPTOSPIRA INTERROGANS
Classe de risco 2
So espiroquetas em mdia com 15 m de comprimento. So cultivados em meios de cultura especcos. Esto descritos aproximadamente 150 sorovares. A leptospirose
124
FIOCRUZ
uma zoonose de ampla distribuio mundial, acometendo muitas espcies de mamferos domsticos e selvagens. O rato considerado a fonte mais comum da doena humana. O perodo de incubao da doena de 7-12 dias, quando a leptospira pode ser isolada do lquido cfalo-raquidiano, sangue e alguns tecidos. Ocorre uma disfuno heptica e renal, hemorragia, ictercia, colapso vascular, alteraes severas da conscincia, mialgia, conjuntivite e febre. Risco de infeco laboratorial Foram relatados 70 casos de infeco laboratorial por leptospira com 10 mortes. A transmisso mais comum em laboratrio ocorre atravs do contato direto ou indireto com urina, sangue e tecidos de humanos ou animais infectados durante a experimentao ou necrpsia, quando a leptospira pode penetrar pela pele ou mucosas e ser carreada para vrias partes do corpo. Em animais com doena renal crnica o agente eliminado na urina em grande quantidade por longos perodos de tempo. A gua ou solo contaminados so importantes veculos na natureza. comum a doena ocupacional entre pessoas que trabalham com animais e ambientes alagadios. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina As medidas preventivas mais comuns se concentram no controle de ratos, evitar o contacto com gua contaminada (enchentes) e desinfeco das reas de trabalho contaminadas. Nos casos de contato de risco recomendado o uso preventivo de doxyciclina- 200mg/1 vez por semana. No existe vacina disponvel. Trabalho com animais: NBA- 2
LEGIONELLA PNEUMOPHILA E LEGIONELLA-LIKE
Classe de risco 2
Bacilo Gram negativo cresce em ovos embrionados inoculados com suspenses de origem pulmonar e tambm em meios de cultura especcos. A L. pneumophila parece fazer parte de comunidade microbiana natural de ecossistemas aquticos e tem grande distribuio mundial. A infeco resulta da transmisso area da bactria para os pulmes de humanos. As principais manifestaes clnicas so febre, tosse, taquipnia, dor de cabea, manifestaes neurolgicas (25-30%) e sintomas gastrintestinais (30-50%). Risco de infeco laboratorial At hoje apenas um caso de infeco laboratorial foi descrito. O microorganismo pode ser isolado a partir de lquido pleural, tecidos, escarro e em material proveniente de ambiente (gua de refrigerador central cooling tower water). A transmisso se d por
125
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
via area atravs da inalao do microorganismo presente na gua e aerossis. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacinas No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 2
LISTERIA MONOCYTOGENES
Classe de risco 2
Bastonete Gram positivo, no esporulado, aerbio, mvel. Este microorganismo tem sido isolado de solo, poeira, alimentos de origem animal, gua e animais. Embora a listeriose seja considerada uma zoonose, muitos casos descritos nos Estados Unidos da Amrica ocorrem em reas urbanas sem histria de contato animal. Tambm tem grande importncia a transmisso transplacentria alm da ingesto de leite contaminado. A Listeria pode invadir a pele de humanos aps a exposio direta. Na vigncia de um processo infeccioso na gravidez, este microorganismo pode atravessar a barreira placentria durante a bacteriemia materna e conseqentemente infectar a placenta, liqudo amnitico e feto. Assim, clinicamente o neonato pode apresentar granulomatose, septicemia e meningoencefalite, adultos e crianas podem apresentar infeces localizadas devido ao contato direto. Risco de infeco laboratorial A Listeria pode ser encontrada em lquido cfalo-raquidiano, fezes, secreo pulmonar, secreo uretral e fragmentos de placenta. Tm sido relatados casos de listeriose ocupacional em laboratoristas. O risco maior no processo de transmisso a penetrao do microorganismo pelos olhos e pele aps a exposio direta. Pode tambm ocorrer a transmisso atravs da ingesto e ou acidentes com objetos prfuro-cortantes contaminados. So necessrios 500 microorganismos para produzir a doena. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina Vacina - No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 2
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, M. BOVIS
Classe de risco 3
Estas duas espcies, assim como o M. leprae (descrita em separado) distinguem126
FIOCRUZ
se das outras micobactrias pelas diferenas quanto patogenicidade e importncia clnica. Na atualidade a doena por M. bovis rara em indivduos imunocompetentes. O M. tuberculosis um bacilo aerbio, imvel, com grande contedo de cidos graxos (cidos miclicos) na sua parede celular, lcool cido resistente na colorao de ZiehlNeelsen. Cresce em meios de cultura especcos, sendo seu crescimento lento com um tempo de gerao de 15-20 horas; as colnias no meio de cultura so visveis aps 3-6 semanas. Estima-se que a dose infectante para produzir a infeco no homem seja de 10 bacilos. A bactria encontrada em escarro, lavado gstrico, secrees do trato respiratrio, bipsias de pulmo, lquido cfalo-raquidiano, urina e em tecidos afetados. A principal via de transmisso a respiratria, assim, a exposio a aerossis gerados em laboratrio o fator de risco mais importante. Risco de infeco laboratorial As infeces laboratoriais por estes microorganismos so de extremo risco para laboratoristas que esto expostos aos aerossis. Mscaras com ltro HEPA devem ser usadas durante a manipulao de M. tuberculosis. Primatas no humanos, naturalmente ou experimentalmente, infectados so origem de infeco para o homem. Tm sido demonstrado que a taxa de converso ao teste cutneo (PPD) em pessoas que trabalham com animais infectados de 70/10.000, cerca de 3 vezes maior se comparado com a populao geral (3/10. 000). NB-3 indicado para trabalho envolvendo identicao de micobactrias, teste de sensibilidade a antimicrobianos e manuseio de grandes volumes de culturas concentradas. A utilizao de tcnicas fotogrcas especiais demonstrou e ao mesmo tempo permitiu o dimensionamento das partculas de aerossis liberadas ao tossir, espirrar e conversar: so muito pequenas, com tamanho variando entre um a milhares de m, as partculas maiores caem no cho em segundos, onde estas muito freqentemente formam um agregado de poeira que no redispersada no ar e que no tm muita importncia na transmisso da doena. Assim, as partculas maiores que 150 m caem no cho antes de evaporarem e aquelas menores evaporam antes do contato com o cho, podendo permanecer utuando por longo tempo. Estas ltimas que so de grande importncia no mecanismo de transmisso e devem ser consideradas no trabalho em laboratrio e com pacientes. O M. tuberculosis, quando carreado por gotculas menores que 5 m,
127
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
tem alto grau de sobrevivncia ambiental (90%) e tambm alta possibilidade de atingir os alvolos Tamanho da gotcula relacionado a aerosis em doenas infecciosas
Tamanho da Gotcula (SECA) Destino da Gotcula Modo Primrio Potencial de para estabelecer Transmisso a Doena Inalao da gotcula Gotculas > 5m geralmente no alcanam o alvolo, mas podem infectar membranas mucosas do trato respiratrio (M. tuberculosis deve alcanar o alvolo e estabelecer infeco no trato respiratrio superior. Partculas infecciosas podem estabelecer infeco no stio de contato inicial e/ou podem amplicar-se e disseminar-se. Comentrios
<150M
Evapora em 23 seg e forma gotculas secas (geralmente permanece no ar).
< 10% de Escherichia coli sobrevivem transio pelas gotculas; >90% de M. tuberculosis sobrevivem a esta transio.
>150m
Deposita-se nas superfcies, evapora e tornase parte da poeira ambiental.
Tocar na poeira e transferla para as membranas mucosas.
O Vrus Respiratrio Sincicial freqentemente transmite-se por esta via.
Adaptado do Clinical Microbiology Procedures Handbook. Editor: Henry D. Isenberg. American Society for Microbiology/Washington, D.C.
Prolaxia/Vacinas Um paciente ao tossir, libera grande quantidade de aerossol e o uso de mscara ou leno ao tossir pode reduzir consideravelmente a formao de aerossol e, portanto o nmero de microorganismos liberados no ambiente. Uma vez formado os aerossis e jogados no ambiente, estes podem penetrar em tecidos de bra e/ou mscaras cirrgicas, produtos que no representam barreira fsica adequada na transmiso de aerossis pequenos. Considera-se que a barreira apropriada seja o uso de um respirador que bloqueie a passagem do microorganismo por ltrao. Procedimento de vigilncia: teste de PPD e raio-X de trax uma vez por ano. Para o laboratorista no reator ao PPD, fazer testes de PPD a cada 6 meses. O Ministrio da Sade recomenda a vacinao com BCG. Indivduos imunossuprimidos ou portadores de HIV no devem ser expostos ao risco de contaminao.
128
FIOCRUZ
Descontaminao/Limpeza Todo o material contaminado deve ser descartado em recipientes de ao inoxidvel destinados autoclavao. As agulhas e objetos prfuro-cortantes contaminados devem ser desprezados em recipientes prprios e autoclavados. Os desinfetantes mais indicados so hipoclorito de sdio a 0,5% ou lcool a 70%. Trabalho com animais No trabalho com animais vertebrados, lembrar que estes podem produzir aerossis e tambm podem contaminar o laboratorista com mordeduras ou arranhes. NBA- 2 pode ser utilizado para trabalhos com roedores.NBA- 3 indicado para estudos com primatas no humanos experimentalmente ou naturalmente infectados. Aps o experimento, as carcaas dos animais devem ser autoclavados e/ou incinerados.
MYCOBACTERIUM
SPP
Classe de risco 2
Dentre as 40 espcies descritas de micobactria, 17 podem ocasionalmente produzir doena em humanos, porm com um poder menos patognico que o M. tuberculosis, M. leprae ou M. bovis. Apresentam maior risco para indivduos imunossuprimidos ou portadores de HIV. De acordo com o tempo de crescimento, estas espcies so divididas em dois grandes grupos: a. Crescimento lento: M. kansasii, complexo M. avium-intracellulare (MAIS) - Podem causar doena pulmonar principalmente em pacientes com imunodecincia generalizada (Aidticos). A apresentao clnica da doena semelhante tuberculose, com leses cavitrias nos pulmes e tosse produtiva crnica. O teste de PPD, em geral, d fraco reator. Como as micobactrias no tuberculosas esto comumente presentes no ambiente, tm baixa virulncia e podem ser saprtas do trato respiratrio, a diferenciao entre colonizao e doena deve ser feita com bastante critrio, devendo-se levar em considerao vrios parmetros de sinais, sintomas e mtodos diagnsticos. Estas duas espcies tambm podem causar linfadenite cervical e submandibular e doena disseminada progressiva atingindo tambm os ossos, rins e meninges. M. ulcerans e M. marinum - podem causar infeces granulomatosas na pele e tecido subcutneo. M. scrofulaceum, M. xenopi, M. szulgai e M. simiae. b. Crescimento rpido: M. fortuitum e M. chelonei - causam doena pulmonar crnica provocada por um
129
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
fator de risco pr-existente: bronquiectasia, silicose, doena progressiva produtiva. Tambm podem causar infeces em pele e tecidos. Risco de infeco laboratorial Quarenta casos de tuberculose no pulmonar relacionados a acidentes ou incidentes em laboratrio ou sala de autpsias foram descritos na literatura. As micobactrias atpicas podem ser encontradas no lavado gstrico, secrees do trato respiratrio, bipsias de pulmo, lquido cfalo-raquidiano, secreo de pele, urina, em tecidos afetados e no meio ambiente. O contato direto da pele ou mucosas com o material infeccioso, a ingesto, inoculao acidental parenteral e a via respiratria so os riscos laboratoriais primrios associados cultura de material clnico. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacinas Procedimento de vigilncia: teste de PPD e raio-X de trax uma vez por ano. Para o laboratorista no reator ao PPD, fazer testes de PPD a cada 6 meses. O Ministrio da Sade recomenda a vacinao com BCG. Indivduos imunossuprimidos ou portadores de HIV no devem ser expostos ao risco de contaminao.
NEISSERIA GONORRHOEAE
Classe de risco 2
Coco Gram negativo pequeno, riniforme, no mvel, se dispe aos pares (diplococos), cresce em meio de cultura especco na presena de uma atmosfera com 10% de CO2. Os gonococos so muito lbeis nas condies ambientais e as amostras dos pacientes devem ser semeadas rapidamente. Usualmente, o perodo de incubao de 2-7 dias. No homem, os principais sintomas so a disria e secreo uretral purulenta. Risco de infeco laboratorial Foram relatados nos EUA quatro casos de infeco laboratorial por gonococo. Os microorganismos esto presentes nas secrees cervicais, uretrais e conjuntivais alm de fezes, urina, lquido sinovial e lquido cfalo-raquidiano. A transmisso se d por contacto direto ou indireto das mucosas com o material clnico e/ou por inoculao parenteral acidental do microorganismo. NB- 2 indicado para o trabalho com material clnico e cultura, e NB- 3 quando o trabalho envolve produo de aerossis ou culturas em larga escala Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 2
130
FIOCRUZ
NEISSERIA MENINGITIDIS, HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B E STREPTOCOCCUS PNEUNOMONIAE
Classe de risco 2
Os trs microorganismos citados so agentes de meningite, sendo que os dois ltimos podem causar pneumonias, otites e outras infeces. Os trs, tambm possuem uma cpsula de natureza polissacardica que tem uma ao anti-fagoctica e, portanto confere maior potencial patognico. A cultura e/ou isolamento para diagnstico requer o uso do meio agar chocolate suplementado. Risco de infeco laboratorial: A infecco laboratorial rara. Os microorganismos esto presentes no sangue, lquido cfalo-raquidiano, saliva e secrees da orofaringe. O H. inuenzae e S. pneumoniae tambm podem ser encontrados em secreces do trato respiratrio, ouvido e secrees de articulaes. A transmisso no laboratrio se d por contacto direto ou indireto das mucosas com o material clnico, por inoculao parenteral acidental do microorganismo. A inalao de aerossis e a ingesto do microorganismo tambm so mecanismos importantes de infeco laboratorial. NB- 2 indicado para o trabalho com material clnico e cultura, e NB- 3 necessrio para atividades com potencial de gerar aerossis e culturas em larga escala. Prolaxia/Vacina O uso da vacina, disponvel no Ministrio da Sade - somente para alguns sorogrupos - pode ser considerado para laboratoristas que trabalham com grandes volumes e altas concentraes de material infeccioso. H. inuenzae Tipo B - vacina adquirida no exterior (Frana ou Estados Unidos da Amrica). S. pneumoniae- vacina confeccionada de acordo com os sorotipos prevalentes na regio, disponvel nos Estados Unidos da Amrica. Trabalho com animais: NBA- 2
SALMONELA TYPHI
Classe de risco 2
Bastonete Gram negativo da famlia Enterobacteriaceae, aerbio facultativo. Na classicao de Kauffmann-White pertence ao sorogrupo D1 e possui o antgeno capsular de virulncia (Vi). Em geral 106-109 bactrias devem ser ingeridas para produzir infeco sintomtica em pessoas hgidas. O nico reservatrio o homem, e o contacto direto com uma pessoa com febre tifide ou um portador crnico necessrio para estabelecer a infeco. A febre entrica (febre tifide) uma doena severa prolongada com alta taxa de complicaes. O perodo de incubao de 10-14 dias, as manifestaes iniciais no especcas so: febre, mal estar, anorexia, dor de
131
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
cabea e mialgia. Dentro das especcas cita-se: adenopatia cervical, hepatomegalia, esplenomegalia e manifestaes neurolgicas. Risco de infeco laboratorial O agente encontrado em fezes, sangue, urina e vescula biliar do homem. A infeco resulta do consumo de gua e alimentos contaminados. A nvel laboratorial a ingesto do microorganismo e/ou inoculao parenteral representam os meios de transmisso mais efetivos. NB-2 indicado para o trabalho com material clnico e cultura e, NB-3 para atividades com potencial de gerar aerossis e culturas em larga escala. Prolaxia/Vacina A vacina protege 70-90% dos receptores. Deve ser utilizada em laboratoristas que trabalham regularmente com culturas e materiais clnicos contaminados com S. typhi. Trabalho com animais: NBA- 2
SALMONELA
SP
Classe de risco 2
Existem cerca de 2500 sorovares de salmonela no tifidica caracterizados por serem primariamente patgenos de animais inferiores, tendo sido isolados de mamferos, aves, rpteis e peixes. O perodo de incubao para o desenvolvimento de gastrenterite varia entre 6 a 48 horas aps a ingesto da bactria. A doena se manifesta com nausea e vmito que usualmente se resolvem em poucas horas. Mialgia e dor de cabea so comuns. A principal manifestao a diarria, na maioria dos casos as fezes so de volume moderado sem sangue e dor abdominal ocorre em 2/3 dos pacientes. A doena pode evoluir para septicemia, meningite, endocardite, osteomielite e etc. Risco de infeco laboratorial Muitos casos de infeco laboratorial por salmonela tm sido documentados. O agente encontrado em fezes, sangue, urina, alimentos e meio ambiente. A infeco resulta do consumo de gua e alimentos contaminados. A nvel laboratorial a ingesto do microorganismo e/ou inoculao parenteral representam os meio de transmisso mais efetivos. Os animais contaminados so tambm uma origem potencial de infeco para laboratoristas e outros animais. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina No disponvel Trabalho com animais: NBA- 2
132
FIOCRUZ
SHIGELLA SPP
Classe de risco 2
Bastonete Gram negativo, aerbio, facultativo, agente etiolgico da disenteria bacilar, compreende atualmente 4 espcies (S. dysenteriae; S. boydii, S. sonnei, S. exneri). O homem considerado o nico reservatrio deste microorganismo, tendo sido relatado alguns surtos em primatas. Porm cobaias e outros roedores podem ser usados para experimentos laboratoriais e podem constituir uma fonte de infeco. Cerca de 200 bactrias viveis podem produzir a doena no adulto so. Risco de infeco laboratorial Inmeros casos de infeco laboratorial foram relatados nos Estados Unidos e Reino Unido. O agente encontrado em fezes e sangue. A infeco resulta do contato direto pessoa a pessoa e do consumo de gua e alimentos contaminados. No mbito laboratorial a ingesto do microorganismo e/ou inoculao parenteral representam os meios de transmisso mais efetivos. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 2
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (S. EPIDERMIDIS)
Classe de risco 2
So cocos Gram positivos, usualmente dispostos em agregados, aerbios facultativos, crescem em meios comuns utilizados em bacteriologia. Cerca de 30% dos adultos podem ser colonizados por estes microorganismos e carre-los pela nasofaringe e pele. A partir dessas localizaes o S. aureus pode contaminar outras pessoas atravs do contato direto ou transmisso por via erea. Se a barreira natural mecnica da pele e membranas mucosas lesada, por traumatismo ou cirurgia, este microorganismo pode ter acesso ao tecido subcutneo, originando um abscesso local, que consiste de tecido necrtico, brina e polimorfonucleares. Pode tambm haver liberao de toxina que se distribui sistemicamente causando a sndrome de choque txico. Risco de infeco laboratorial Os estalococos podem ser encontrados em inmeros espcimes: secrees de pele, naso-orofaringe e pulmonar, urina, lquido cfalo-raquidiano, sangue, fezes e etc. Em laboratrio a transmisso pode acontecer atravs do contato direto com o material clnico, ingesto e cortes acidentais com objetos prfuro-cortantes alm da inalao de
133
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
aerossis eventualmente produzidos no manuseio de material clnico e cultura. Em nvel hospitalar o portador so tem uma importncia efetiva na transmisso, devendo-se adotar medidas que interrompam a transferncia interpessoal atravs do uso de barreiras fsicas, uso de agentes tpico e lavagem de mos compulsiva entre os clnicos e enfermeiros. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina No disponvel. Trabalho com animais: NBA- 2
TREPONEMA PALLIDUM
Classe de risco 2
O T. pallidum pertence a famlia Spirochaetaceae ao contrrio dos outros treponemas no patognicos, no pode ser cultivado in vitro. A slis uma doena que comprovadamente oferece perigo para laboratoristas que manipulam ou coletam material clnico de leses cutneas. Os humanos so os nicos revervatrios naturais do agente. A transferncia hematognica da slis tem ocorrido aps transfuso de sangue obtido de um paciente com slis secundria. O nmero mnimo (LD50) de T. pallidum necessrio para infeco pela injeo subcutnea 23. A concentrao do T. pallidum em sangue de pacientes com slis primria no foi determinada. No houve descrio de casos de infeces associadas a animais, entretanto, as cepas de T. pallidum mantm seu grau de virulncia. Risco de infeco laboratorial O T. pallidum pode estar presente em sangue e em materiais coletados de leses cutneas e mucosas. A slis tem sido transmitida para pesssoal de laboratrio ao trabalharem com suspenses concentradas do T. pallidum obtidas de orquite experimental em coelhos, alm da transmisso atravs do contato direto com o material clnico infeccioso e inoculao parenteral atravs de cortes acidentais com objetos prfuro-cortantes, na realidade observada a slis nos dedos de pessoas da rea mdica. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina No disponvel. Monitorao sorolgica peridica deve ser considerada para pessoas que trabalham regularmente com o material infeccioso. Trabalho com animais: NBA- 2
134
FIOCRUZ
VIBRIO CHOLERAE, V. PARAHAEMOLYTICUS
Classe de risco 2
Bastonete Gram negativo, curvo, oxidase positivo, cresce em meios de cultura alcalinos na presena de sais biliares. A enterite vibrionica devido ao V. cholerae ou V. parahaemolyticus rara em infeco laboratorial, porm documentada. Animais, naturalmente ou experimentalmente, infectados so uma fonte potencial de infeco. O modo pelo qual estes dois microorganismos produzem diarria diferente. O primeiro no invasivo afetando o intestino delgado atravs da produo da secreo de enterotoxina, o segundo, um microorganismo invasivo afetando primariamente o clon. Risco de infeco laboratorial Todos os vbrios patognicos devem ocorrer em fezes. A ingesto de V. cholerae, e ingesto ou inoculao parenteral de outros vibrios constituem o risco laboratorial primrio. A dose infectante para o homem de aproximadamente 106 microorganismos. A importncia do aerossol desconhecida. O risco de infeco seguido exposio oral aumenta em indivduos aclordrico. Seguir as regras para NB-2. Prolaxia/Vacina Embora as vacinas promovam uma proteo parcial de curta durao (3-6 meses) para indivduos no imunes em reas de alta endemicidade, o uso de rotina da vacina em laboratrio no recomendado. Trabalho com animais: NBA- 2
YERSINIA PESTIS
Classe de risco 3
A Yersinia pestis um bastonete Gram negativo da famlia Enterobacteriaceae, agente etiolgico da peste bubnica, uma zoonose transmitida por roedores. No Brasil a peste se concentra na forma endmica, principalmente em alguns estados da regio nordeste (Piau, Cear, Pernambuco, Paraba e Bahia). Risco de infeco laboratorial A peste adquirida em laboratrio rara, porm comprovada. Desta forma, quatro casos foram relatados nos Estados Unidos da Amrica. O agente pode estar presente em uido de bubo, sangue, escarro, lquido cfalo-raquidiano, fezes, e urina de humanos, dependendo da forma clnica e estgio da doena. Os riscos primrios para laboratrio incluem: contato direto com culturas e material infeccioso proveniente de humanos e roedores, aerossis infecciosos gerados durante a manipulao de culturas, tecidos
135
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
infectados, e em necrpsia de roedores, auto-inoculao acidental, ingesto, e picadas de pulgas infectadas coletadas de roedores. NB-2 pode ser usado para atividades que envolvem manipulao de culturas em pequena escala ou material clnico potencialmente infectado, lembrando-se que prticas recomendadas para NB-3 devem ser usadas. NB3 necessrio no caso de grandes volumes de cultura, quando os bastonetes so resistentes ou em atividades com potencial de gerar aerossis. Prolaxia/Vacina A vacina recomendada para pessoal que regularmente trabalha com culturas ou roedores contaminados. Trabalho com animais: NBA- 3
Referncias Bibliogrcas
American Industrial Hygiene Association Biohazards Committe. Biohazards Reference Manual. American Industrial Hygiene Association, (Ohio, USA), 1985. Centers for Diseases Control - NIH. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 3a. Edio - CDC - (Atlanta), 1993. Clinical Microbiology Procedures Handbook - 1a. Edio. Ed. Isenberg H.D.. American Society for Microbiology (Washington, D.C.), 1994. Collins, C.H. & kennedy, D.A. Microbiological hazards of occupational needlestick and sharps injuries - A Review. J. Appl. Microbiol. 62:385-402; 1987. Fleming, D.O.; Richardson, J.H.; Tulis, J.J. & Vesley, D. Laboratory Safety: pinciples and practices- 2a. Edio. Ed. Flemming D.D. American Society for Microbiology (Weashington, D.C.), 1995. Grschel, D.H & Strain, B.A. Laboratory Safety in Clinical Microbiology, In Manual of Clinical Microbiology - 4a. Edio. American Society for Microbiologiy (Washington, D.C.), 1994. Guidelines for Preventing the Transmission of Tuberculosis in Health Care Facilities, Second Edition. U. S. Department of Health and Human Services - Centers for Disease Control and Prevention. Federal Register, 58 (195), 1993. Ishak, R.; Linhares, A.C. & Ishak, M.O.G. Biossegurana no Laboratrio. XXI Jornada de Hematologia e Hemoterapia do IEHASC. In Mdulo: Procedimentos de Biossegurana Curso de Sorologia - Hemoterapia. Manual of Clinical Microbiology, 6a. Edio. Ed. Murray, P.R.; Baron, E.J.; Pfaller, M.A.; Tenover, F.C & Yolken, R.H. American society for Microbiology ( Washington, D.C.), 1995. Principles and Practice of Infectious Diseases. Ed. Mandell, G.L.; Gordon Douglas, R.; Bennett, J.E. 2a. Edio, 1985. Pike R.M.; Sulkin, E. & Schulze, M.L. Continuing importance of Laboratory-acquired infections. A.J.P.H. 55(2), 1965. Pike, R.M. Laboratory-asssociated infections: Incidence, fatalities, cause and Prevention. Annu. Rev. Microbiol. 33:41-66, 1979.
136
FIOCRUZ
3.4.
Biossegurana no Trabalho com Protozorios
Classe de risco 2
TRYPANOSOMA CRUZI
O Trypanosoma cruzi um protozorio transmitido ao homem por: i) transfuso de sangue contendo formas tripomastigotas ou ii) atravs das fezes do hospedeiro invertebrado, um triatomneo, que contm formas tripomastigotas metacclicas. Outras formas de transmisso, menos freqentes, so a congnita, o leite materno ou transplantes. A infeco laboratorial pode ocorrer acidentalmente quando h contato com leses de pele ou com mucosas, principalmente a ocular. As formas tripomastigotas sejam sanguneas ou metacclicas, so capazes de penetrar na mucosa e nas solues de continuidade da pele, invadindo os tecidos e se diferenciando em formas amastigotas. Uma vez dentro do hospedeiro vertebrado, o parasita pode causar forma aguda que se manifesta, principalmente, por miocardite. Em termos de acidente de laboratrio a estratgia iniciar o tratamento imediatamente sem esperar o aparecimento de sintomas. Fazer o tratamento especco contra o parasita com Nifurtimos sob orientao mdica. Mesmo que no haja clinicamente um quadro agudo, cerca de 30% dos indivduos infectados podem vir a desenvolver a forma crnica, em geral mais de 10 anos aps a infeco. A forma crnica manifesta-se por miocardite, traduzida por arritmias e/ou insucincia cardaca, e ainda pelas formas digestivas, caracterizadas pelo megaclon e/ou megasfago. Nesta fase, no possvel reverter os efeitos causados pelo T. cruzi. Risco de infeco laboratorial O acidente de laboratrio mais frequente a auto-inoculao com seringas e agulhas contaminadas por T. cruzi. Embora as culturas axnicas sejam de menor risco dado forma predominante no ser infectante, lembrar que geralmente cerca de 10% dos parasitas so formas tripomastigotas metacclicas e, portanto, altamente infectantes. Por outro lado, as culturas feitas com clulas infectadas oferecem o mesmo risco que um animal infectado uma vez que contm formas tripomastigotas, potencialmente infectantes. Seguir as regras para NB-2. Procedimento em caso de acidente 1) Quando aerossis e/ou gotas forem projetadas distncia, limpar o local com papel absorvente ou gaze embebida em lcool 70%. Nas roupas ou na pele sature a rea com lcool etlico a 70%. 2) Se uma gotcula de cultura cair na pele ntegra, limpar a pele imediatamente com etanol 70% ou outro desinfetante.
137
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
3) Se o contato for com os olhos ou outras mucosas, lavar exaustivamente com gua corrente. 4) As feridas superciais devem ser lavadas exaustivamente e cauterizadas com nitrato de prata. 5) As feridas punctuais (agulha) devem ser espremidas para extrair o mximo de sangue possvel e cauterizadas. 6) Os itens 3, 4 e 5 mostram acidentes de Laboratrio em que se recomenda o tratamento com Nifurtimox; no se deve esperar a conrmao dos resultados parasitolgicos ou sorolgicos para iniciar o tratamento. O tratamento e o acompanhamento da evoluo do caso deve ser feito por equipe especializada, com controle sorolgico antes e aps o tratamento. 7) Comunicar imediatamente o responsvel para que sejam tomadas as providncias cabveis Vacinas/Prolaxia No h vacina ou tratamento proltico. Todo o pessoal que manipula o Trypanosoma cruzi deve ter monitorao sorolgica a cada seis meses. Trabalho com animais: NBA-2 O trabalho com animais infectados o que oferece maior risco dado que os animais tm comportamento imprevisvel e contm as formas tripomastigotas no sangue, potencialmente infectantes. Apenas pessoal treinado deve trabalhar com animais infectados. A mordida por um animal infectado deve ser evitada, pois existem relatos de transmisso por mordida de camundongo infectado. A coleta de sangue do animal deve ser feita com o animal imobilizado, usando os equipamentos de conteno usuais. Aps a coleta de sangue de animal infectado, nunca retire o ar da seringa sem colocar um chumao de algodo encharcado com soluo desinfetante na ponta da agulha. Os materiais utilizados para o sangramento devem ser colocados em soluo desinfetante aps o uso. Quando o sangramento feito na cauda de camundongos, cauterize-a. Quando utilizar sangue para microscopia, use lamnulas de tamanho inferior lmina. Desprezar as lminas em frasco contendo soluo desinfetante, observando se a lamnula se desprendeu da lmina. Estas mesmas regras devem ser aplicadas s cmaras de Neubauer. Limpar todas as partes do microscpio com soluo desinfetante aps o uso. Cuidado especial deve ser tomado nas inoculaes subcutneas: a pele do animal pode ser transxada pela agulha que atinge ento a mo do operador. A manipulao de seringas e agulhas deve SEMPRE ser feita com uma proteo na ponta. Aps a
138
FIOCRUZ
manipulao, aspirar soluo desinfetante na seringa e manter todo o material utilizado imerso nesta soluo por pelo menos 4 horas. Descarte de animais infectados Os animais mortos, infectados, no devem ser descartados no lixo comum. Aps o sacrifcio dos animais, coloc-los em sacos plsticos ou lates, bem vedados e autoclavlos antes da incinerao. As gaiolas dos animais devem ser imersas em gua sanitria por pelo menos quatro horas, e depois lavadas com detergente. A maravalha deve ser ensacada e autoclavada, antes de ser descartada. Descontaminao e Limpeza lcool 70%, hipoclorito de sdio 1%, Extran (ou outro sabo neutro), formalina 4%.
LEISHMANIA
SPP
Classe de risco 2
As vrias espcies de Leishmania so transmitidas ao homem por meio de um inseto vetor, um ebotomneo, que inocula formas promastigotas no hospedeiro vertebrado. Estas formas imediatamente se transformam em amastigotas que ir multiplicar-se em clulas do sistema fagoctico mononuclear. Na dependncia da espcie, a doena se manifesta por formas tegumentares, traduzidas clinicamente por lceras no ponto da inoculao (Leishmaniose tegumentar) ou formas viscerais (Calazar). No primeiro caso, h a agravante de algumas espcies poderem induzir formas difusas (Leishmaniose difusa) ou, anos aps o contato inicial, leses que destroem o trato areo-digestivo superior (Leishmaniose mucosa). Risco de infeco laboratorial Os acidentes laboratoriais podem ocorrer pelo contato de formas promastigotas com leses de pele ou mucosas, manipulao com agulhas ou ainda mordedura de animais infectados. As culturas axnicas oferecem o maior risco de contaminao uma vez que contm a forma infectante (promastigota). O acidente de laboratrio mais frequente a auto-inoculao com seringas e agulhas contaminadas. Seguir as regras para NB-2. Vacina/Prolaxia: No h. Procedimento em caso de acidente 1. Quando aerossis e/ou gotas forem projetadas distncia, limpar o local com papel absorvente ou gaze embebida em lcool 70%. Nas roupas, sature a rea com lcool 70%. Para descontaminar a pele, usar Povidine 10%.
139
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
2. Limpar a pele imediatamente com Povidine 10% (ou etanol 70% ou outro desinfetante). 3. Se o contato for com os olhos ou outras mucosas, lavar exaustivamente com gua corrente. 4. As feridas superciais devem ser lavadas exaustivamente e cauterizadas com nitrato de prata. 5. Observar o desenvolvimento de leses que possam surgir no stio da exposio. Inicia-se com uma ppula para depois desenvolver uma lcera no caso das Leishmania que induzem formas tegumentares. 6. Monitorar o acidentado atravs de exame sorolgico realizando teste de IgM especca nos dias 0, 15 e 30 e teste de IgG especca nos dias 30, 90 e 180 aps o acidente e demonstrar o parasita no sangue (puno de medula ssea, hemocultura, esfregao). 7. Comunicar imediatamente o responsvel para que sejam tomadas as providncias cabveis (teste ELISA para deteco de Anticorpos, acompanhamento clnicolaboratorial e tratamento) Trabalho com animais: NBA-2 Cuidado especial deve ser tomado nas inoculaes subcutneas pois a pele do animal pode ser transxada pela agulha atingindo assim a mo do operador. A manipulao de seringas e agulhas deve SEMPRE ser feita com uma proteo na ponta da agulha. As agulhas NUNCA so recapeadas; desprez-las sempre em recipiente prprio (de plstico rme, com tampa que contm um orifcio que no permite a sada do material). Aps a manipulao, aspirar soluo desinfetante na seringa e manter todo o material utilizado imerso nesta soluo por pelo menos 4 horas. Descontaminao/Limpeza lcool 70%, hipoclorito de sdio 1%, Extran (ou outro sabo neutro), Formalina 4%. O descarte de animais inoculados deve ser feito como no caso de T. cruzi.
PLASMODIUM
SPP
Classe de risco 2
Protozorios do gnero Plasmodium so os agentes causais da malria. Das quatro espcies que infectam o homem P. vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale somente o P. falciparum cultivado in vitro. A malria transmitida pela picada da fmea infectada de um mosquito do gnero Anopheles que, por ocasio do repasto sanguneo, inocula as formas infectantes (esporozotas) na corrente sangunea, dando incio ao ciclo pr-eritrocitrio seguido do eritrocitrio. O indivduo infectado apresenta
140
FIOCRUZ
como principais sintomas febre alta, mialgia, calafrios, nuseas e cefalia. Alguns laboratrios utilizam nos seus experimentos o modelo murino. Risco de infeco laboratorial Alm da infeco natural, a malria pode ser transmitida por transfuso de sangue e hemoderivados. Laboratorialmente, a infeco pode ocorrer pela manipulao do cultirvo in vitro atravs de cortes provocados por objetos perfuro-cortantes ou agulhas e seringas contaminados. Cuidados especiais devem ser tomados para evitar a contaminao por P. falciparum pois o cultivo in vitro de plasmdios requer hemcias e soro humanos e, portanto, h ainda o risco de manipulao com outros agentes patognicos de classe de risco 2 ou 3. A manipulao deve ser em nvel de conteno idealmente NB-3, embora o ambiente NB-2 seja satisfatrio quando as prticas e equipamentos do nvel 3 so aplicados. Vacina/Prolaxia Inexistente. Trabalho com animais: NBA-2 O nico modelo experimental para os plasmdios humanos o simiano. Portanto, a manipulao de macacos infectados exige, alm da conteno adequada dos animais, a utilizao de vestimenta de proteo individual (avental de manga comprida, luvas, mscara, gorro e culos protetores). A malria murina causada por plasmdio exclusivamente de reodores e, conseqentemente, no infecta o homem. Descontaminao/Limpeza lcool 70%, hipoclorito de sdio 1%, sabo neutro, Formalina 4%.
TOXOPLASMA GONDII
Classe de risco 2
O Toxoplasma gondii um protozorio parasita obrigatoriamente intracelular que capaz de infectar animais de sangue quente, incluindo o homem, e aves. Os ciclos reprodutivos sexuais (enteroepitelial) e assexual (extraintestinal) ocorrem em felinos, enquanto em outras espcies s h desenvolvimento da infeco extraintestinal. Os trs estgios infectivos para todos os hospedeiros so: os esporozotos (em oocistos), os taquizotos (individualmente ou em grupos) e bradizotos (em cistos teciduais). Gatos infectados so as nicas espcies a eliminar oocistos em suas fezes, com subseqente esporulao no ambiente, podendo contaminar alimentos, gua e solo, que por ingesto infectam mamferos e aves. Outra via de transmisso aos humanos na natureza ocorre pela ingesto de carnes cruas ou mal cozidas de animais infectados contendo cistos no tecido muscular. No estmago, sob a ao do suco gstrico, ocorre o rompimento
141
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
da parede cstica, liberarando os bradizotos que se transformam em taquizotos infecciosos invadindo potencialmente todas as clulas. Em funo da resposta imune do hospedeiro, taquizotos se transformam em bradizotos que daro origem aos cistos no crebro e musculaturas esqueltica e cardaca. A infeco pode variar de assintomtica em adultos saudveis sendo uma doena grave em indivduos imunocomprometidos e em fetos. A severidade da doena na transmisso congnita depende do estgio da gestao em que ocorra a infeco, podendo provocar retinocoroidites, hidroencefalia, convulses e calcicao intracerebral. Risco de infeco laboratorial O acidente de laboratrio mais freqente a auto-inoculao com seringas e agulhas contaminadas por T. gondii. A infeco pode ocorrer por ingesto de oocistos esporulados de material fecal de felinos ou pelo contato em regies de descontinuidade da pele ou mucosa com taquizotos ou bradizotos de tecido humano ou animal ou cultura de clulas ou ainda, corte com lamnulas contendo cultura de clulas infectadas. Todos os isolados de Toxoplasma devem ser considerados patognicos para humanos. Pessoas imunocomprometidas e mulheres soronegativas para T. gondii que esto grvidas ou em idade frtil devem ser orientadas sobre os riscos associados com a infeco pelo T. gondii (por exemplo, infeco de sistema nervoso central e infeco congnita) e avaliada a opo de no trabalhar com T. gondii vivo. Procedimento em caso de acidente 1. Quando aerossis e/ou gotas forem projetadas distncia, limpar o local com papel absorvente ou gaze embebida em lcool 70%. Nas roupas ou na pele sature a rea com lcool etlico a 70%. 2. Se uma gotcula de cultura cair na pele ntegra, limpar a pele imediatamente com etanol 70% ou outro desinfetante. 3. Se o contato for com os olhos ou outras mucosas, lavar exaustivamente com gua corrente. 4. As feridas superciais devem ser lavadas exaustivamente e cauterizadas com nitrato de prata. 5. As feridas punctuais (agulha) devem ser espremidas para extrair o mximo de sangue possvel e cauterizadas. 6. Os itens 3, 4 e 5 mostram acidentes de Laboratrio em que se recomenda o tratamento imediato no se deve esperar a conrmao dos resultados parasitolgicos ou sorolgicos para iniciar o tratamento. O tratamento e o acompanhamento da evoluo do caso deve ser feito por equipe especializada, com controle sorolgico antes e aps o tratamento.
142
FIOCRUZ
7) Comunicar imediatamente o responsvel para que sejam tomadas as providncias cabveis. Vacinas/Prolaxia No h vacina. Todo o pessoal que manipula o Toxoplasma gondii deve ter monitorao sorolgica antes de iniciar o trabalho e posteriormente a cada seis meses. Tratamento Tratamento adequado est disponvel. Atualmente, os mdicos recomendam a administrao de pirimetamina combinada com sulfadiazina para mulheres grvidas ou pacientes com envolvimento de rgos; espiramicina para prevenir transmisso placental. Pirimetamina contra indicada durante as primeiras 16 semanas de gravidez. Procure uma equipe mdica especializada, para escolha do tratamento adequado e para fazer o controle sorolgico antes e aps o tratamento. Trabalho com animais: NBA-2 O trabalho com animais infectados o que oferece maior risco dado que os animais tm comportamento imprevisvel e contm as formas infectantes no sangue. Apenas pessoal treinado deve trabalhar com animais infectados. A mordida por um animal infectado deve ser evitada, pois existem relatos de transmisso pela saliva e mordida de camundongo infectado. A coleta de sangue e do lquido peritoneal do animal infectado deve ser feita com o animal imobilizado, usando os equipamentos de conteno usuais. Aps a coleta, nunca retire o ar da seringa sem colocar um chumao de algodo encharcado com soluo desinfetante na ponta da agulha. Os materiais utilizados para a coleta de parasitas do sangue ou do peritneo ou para o isolamento, a partir de rgos infectados, devem ser colocados em soluo desinfetante aps o uso. Quando utilizar o sangue, o lquido peritoneal ou o macerado de rgos para microscopia, use lamnulas de tamanho inferior lmina. Desprezar as lminas em frasco contendo soluo desinfetante, observando se a lamnula se desprendeu da lmina. Estas mesmas regras devem ser aplicadas s cmaras de Neubauer. Limpar todas as partes do microscpio com soluo desinfetante aps o uso. Cuidado especial deve ser tomado nas inoculaes subcutneas: a pele do animal pode ser transxada pela agulha que atinge ento a mo do operador. A manipulao de seringas e agulhas deve SEMPRE ser feita com uma proteo na ponta. Aps a manipulao, aspirar soluo desinfetante na seringa e manter todo o material utilizado imerso nesta soluo por pelo menos 4 horas.
143
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Descarte de animais infectados Os animais mortos, infectados, NO devem ser descartados no lixo comum. Aps o sacrifcio dos animais, coloc-los em sacos plsticos ou lates e autoclav-los antes da incinerao. As gaiolas dos animais devem ser imersas em gua sanitria por pelo menos quatro horas, e depois lavadas com detergente. A maravalha deve ser ensacada e autoclavada, antes de ser descartada. Descontaminao e Limpeza Desinfetantes: oocistos (lcool 95% + cido actico 5%, por 1h ou tintura de iodo 7% por 10 min); taquizotos e cistos teciduais (hipoclorito de sdio 1% e lcool 70%).
Referncias Bibliogrcas
Bahia-Oliveira LM, Jones JL, Azevedo-Silva J, Alves CC, Orece F, Addiss DG. Highly endemic, waterborne toxoplasmosis in north Rio de Janeiro state, Brazil. Emerg Infect Dis. 9: 55, 2003. Dubey JP. Bradyzoite-induced murine toxoplasmosis: stage conversion, pathogenesis, and tissue cyst formation in mice fed bradyzoites of different strains of Toxoplasma gondii. J Eukaryot Microbiol. 44: 592, 1997. Dubey JP, Speer CA, Shen SK, Kwok OC, Blixt JA. Oocyst-induced murine toxoplasmosis: life cycle, pathogenicity, and stage conversion in mice fed Toxoplasma gondii oocysts. J Parasitol. 83: 870, 1997. Dubey JP. Advances in the life cycle of Toxoplasma gondii. Int J Parasitol. 28: 1019, 1998. Review. Dubey JP, Lindsay DS, Speer CA. Structures of Toxoplasma gondii tachyzoites, bradyzoites, and sporozoites and biology and development of tissue cysts. Clin Microbiol Rev. 11: 267, 1998. Review. Dubey JP. Toxoplasmosis - a waterborne zoonosis. Vet Parasitol. 126: 57, 2004. Herwaldt BL Laboratory-acquired parasitic infections from accidental exposures. Clin Microbiol Rev. 14: 659, 2001. Lopez A, Dietz VJ, Wilson M, Navin TR, Jones JL. Preventing congenital toxoplasmosis. MMWR Recomm Rep. 49: 59, 2000. Review. Montoya JG, Liesenfeld O. Toxoplasmosis. Lancet. 363: 1965, 2004. Weiss LM, Kim K. The development and biology of bradyzoites of Toxoplasma gondii. Front Biosci. 5:391, 2000. Review.
144
FIOCRUZ
3.5. Biossegurana no Trabalho com Helmintos WUCHERERIA BANCROFTI
Classe de risco 2
A Wuchereria bancrofti causa a doena bancroftose. Infecta sob condies naturais exclusivamente o homem. Os vermes adultos, habitam o sistema linftico, so brancos, cilndricos, translcidos, nos, longos, recobertos por uma cutcula delicada sob observao da microscopia tica e apresentam um padro morfolgico peculiar na cutcula, com profundas estrias (anulaes) ao longo do seu corpo, exceto nas extremidades, observadas na microscopia eletrnica de varredura. O tamanho e dimetro variam de acordo com seu estgio evolutivo de maturao que vai de adultos jovens a maduros. Estudos tm demonstrado que o verme adulto fmea mede de 6 a 10 cm e o macho entre 4 a 5 cm, com dimetro de 200 m e 50 m, respectivamente. Apresentam um perodo de longevidade de at cerca de 10.2 anos, quando no h interferncia de tratamento especco. A forma embrionria resultante do acasalamento do macho e da fmea denominada de microlria, que pode ser encontrada nos diversos uidos biolgicos. Tem o corpo recoberto por uma estrutura membranosa e lisa, denominada de bainha. Esta estrutura parasitria mede aproximadamente 240 a 300 m de comprimento por 10 m de largura. de fundamental importncia o conhecimento morfolgico detalhado deste estgio do parasita, para diferenci-lo de outras espcies de lria nas reas onde por ventura co-existam. Risco de infeco laboratorial No h relato de infeco com este helminto no laboratrio. Entretanto, no manuseio de amostras biolgicas para pesquisa desse parasita, devemos seguir as recomendaes citadas nos requisitos recomendados para o nvel de segurana NB-2. Vacina/Prolaxia A vacina at o momento inexistente. A forma de prolaxia o tratamento da populao infectada, educao da populao e saneamento bsico. Trabalho com animais Inexistente Descontaminao/Limpeza Todo material utilizado na pesquisa da forma embrionria de microlria nos diversos uidos biolgicos deve ser descartado em soluo de hipoclorito de sdio a 1%.
145
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Referncias Bibliogrcas
Rocha A., Addiss D., Eunice Ribeiro M., Nores J., Baliza M., Dreyer G. Evaluation of the OG4C3 ELISA in Wuchereria bancrofti infection: infected persons with undetectable or ultra-low microlarial densities. Tropical Medicine and International Health, v.1, p.859-864, 1996. Rocha A. Available laboratory diagnostic methods of lymphatic lariasis, Revista Brasileira de Anlises Clnicas, v. 32: 265-270, 2000. Rocha A., Junqueira Ayres C., Furtado A. Molecular Approach in the diagnosis of lymphatic lariasis by Wuchereria bancrofti. Revista de Patologia Tropical., v., 31, n.. 2, p. 161-174, 2002. Rocha. A., Lima G., Medeiros Z., Aguiar-Santos A., Alves S., Montarroyos U., Oliveira P., Bliz F., Jos Netto M. & Furtado A. Circulating larial antigen (CFA) in the hydrocele uid from individuals living in a bancroftian lariasis area- Recife-Brazil, detected by the monoclonal antibody Og4C3-assay, Memrias do Instituto Oswaldo Cruz, vol. 99, n. 1, p. 101-105, 2004.
3.6. Biossegurana no Trabalho com Artrpodos Vetores de Doenas
Algumas espcies de artrpodos so responsveis pela transmisso de vrus, bactrias, protozorios e helmintos para o homem e, do ponto de vista mdico e veterinrio, so consideradas importantes vetores e hospedeiros de agentes etiolgicos de doenas. Algumas molstias tidas como srios problemas de sade pblica, dentre elas dengue, malria, leishmaniose, doena de Chagas e oncocercose, tm seus agentes etiolgicos transmitidos ao homem e aos animais atravs de insetos artrpodes, carrapatos e caros vetores, que esto distribudos em algumas classes e ordens. Mais de 530 arbovrus (arthropod-borne viruses) foram registrados at 1991 (CDC, 1993), sendo que 171 deles esto classicados como risco 3. Vrias linhas de pesquisas relacionadas com biologia, gentica, siologia e controle de vetores de doenas, bem como os estudos das relaes parasito-hospedeiro invertebrado so desenvolvidas graas manuteno de colnias desses vetores possibilitando a realizao de estudos experimentais. importante ter em mente que a prtica que envolve estudos com vetores e os agentes etiolgicos que transmitem deve obedecer aos procedimentos gerais de normas de segurana em laboratrio, obedecendo aos nveis indicados para os diversos agentes patognicos. Neste sentido, importante estar atento ao NB- 3. Instalaes Para prticas que envolvem vetores e instalaes, algumas normas de segurana
146
FIOCRUZ
devendo ser adaptadas para criaes de outros artrpodos de interesse mdico. 1- A criao de vetores deve ser mantida em insetrio separado sicamente dos laboratrios de infeces experimentais e onde sejam mantidos animais infectados. 2- Por recomendao da Organizao Mundial de Sade, os insetrios devem ter uma mini ante-sala, totalmente vedada, com uma porta de comunicao para o ambiente externo provida de mola, para que esteja pernanentemente fechada. Esta saleta tem uma porta de comunicao com o insetrio. As duas portas devem abrir para dentro e o espao entre elas deve ser suciente para que uma porta seja fechada antes que a outra seja aberta. As portas devem fechar automaticamente. Pelo lado interno, na parte superior, antes de uma das portas do insetrio (a que faz comunicao com o ambiente externo), deve ser instalada uma cortina de ar (um uxo de ar, de cima para baixo) que acionada automaticamente to logo a porta seja aberta. 3- As superfcies do insetrio devem ser brancas para permitir detectar qualquer vetor que tenha escapado. De preferncia, o teto deve ser rebaixado para facilitar a recaptura dos insetos que fugirem. 4- As larvas e pupas devem ser mantidas em containers cobertos para evitar a fuga de adultos eclodidos. 5- Os vetores, em todos os estdios, devem ser mortos antes de serem descartados. 6- Nenhum substrato de oviposio ou qualquer fonte de alimento para larvas deve estar disponvel para sobrevivncia dos vetores fora dos containers apropriados para criao. 7- Se o laboratrio tem janelas que podem ser abertas, estas devem ser teladas. Recomenda-se, entretanto, que tais janelas sejam lacradas. 8- As portas dos laboratrios de infeces devem fechar automaticamente. 9- O insetrio deve ter um sistema eltrico independente com geradores e luzes de emergncia. Infeces experimentais 1- As infeces devem ser feitas em laboratrios separados do insetrio ou do local onde sejam mantidos os vetores. Em alguns casos aconselhvel a utilizao de uma cabine de segurana biolgica. A temperatura ambiente deve ser mais baixa que a normal (do insetrio), diminuindo a atividade dos insetos e conseqentemente evitando a fuga. 2- Vetores infectados devem ser mantidos com segurana para evitar fuga.
147
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
3- Qualquer vertebrado exposto infeco pela ao de vetores, ainda que anestesiado, quando transportado deve estar em container que conra proteo. Preferencialmente, os animais infectados cujos agentes etiolgicos sejam transmitidos por dpteros devem ser mantidos envoltos em tela. 4- Os vetores infectados, no caso de dpteros, devem ser coletados atravs de aspiradores mecnicos. Em caso de manipulao, os instrumentos devem ser esterilizados aps a utilizao. 5- Os insetos artrpodes devem sempre ser retirados em pequeno nmero e garantida a contagem durante todo o experimento. 6- Algum mtodo de anestesia deve ser escolhido, o que facilita a manuteno do inseto. O resfriamento prvio em geladeira, mtodo de imobilizao atravs de gs, ou manter os insetos em placas de Petri sobre o gelo no momento da disseco so alguns dos mtodos que devem ser adotados. A retirada das patas e asas, logo que possvel, aconselhada. 7- As disseces ou coleta de material (fezes e urina) de insetos infectados devem seguir as regras de segurana estabelecidas para manipulao de agentes patognicos. Para todo e qualquer trabalho na sala de infeco so obrigatrios os usos de: jaleco, culos, luvas cirrgicas, mscaras e sapatos fechados. 8- A lupa ou o aparato de infeco deve ser empurrado para o centro da bancada. Este procedimento extremamente importante nas disseces, pois evita acidentes oriundos de quedas de tesouras, pinas ou outros instrumentos que estiverem sendo manipulados. Ao lado da lupa ou do microscpio, quando for o caso, um papel absorvente e uma placa de Petri contendo algodo embebido em salina ou lcool facilita o apoio e limpeza dos instrumentos utilizados. 9- Precaues mximas podem ser tomadas, quando necessrio, mantendo o ar das salas do insetrio sob presso negativa do ar em relao ao corredor de passagem. Para isto um teto rebaixado coberto com tela, permite a exausto formada por tneis de vento adaptados a ltros. No caso de patgeno de classe de risco 3 o ltro aconselhado o HEPA. Esta medida promove um uxo de ar do corredor para dentro da sala impedindo que os insetos passem em direo contrria. 10- Quando se trabalha em larga escala com insetos infectados, a fuga inevitvel e os insetos devem ser destrudos imediatamente. Deve estar claro para a equipe que trabalha no insetrio que todos devero permanecer dentro do recinto at que os insetos perdidos sejam recapturados ou mortos. Recomenda-se o uso de armadilha luminosa ou aspirador mecnico para a captura dos insetos.
148
FIOCRUZ
Precaues Gerais 1. O nmero de pessoas tanto no insetrio de vetores como nas salas de infeces deve ser limitado e o acesso restrito tcnicos especialmente treinados. 2. O insetrio deve ser mantido sempre limpo e as salas regularmente inspecionadas procurando manter o mximo de organizao e o mnimo de material exposto. 3. Ao trmino do trabalho, todo o material (incluindo instrumentos ou restos de tecidos ou insetos mortos) deve ser desinfectado com lcool a 70%, mantido em estufa a 60oC durante a noite ou esterilizados em autoclave. Tanto nas atividades de campo como de laboratrio, os prossionais envolvidos encontram-se expostos ao dos artrpodos vetores, infectados ou no. Se algum membro da equipe for picado dentro do laboratrio, recomenda-se que o artrpodo seja imediatamente examinado para vericar a presena ou no de infeco. comum alguma forma de reao imediata (coceira, vermelhido e inchao), no local da picada ou de contato, que normalmente desaparece em algumas horas, dependendo do nvel de sensibilidade do indivduo. Se tais incmodos persistirem, recomenda-se o uso local de uma mistura, em partes iguais, de creme Fenergan e Xilocana (pomada). Entretanto, em alguns casos, outros sintomas podero surgir, tais como: febre, dor de cabea e nuseas. Deve-se procurar, ento um mdico que ir prescrever os medicamentos mais adequados. Ateno para no fazer uso de drogas, de quaisquer natureza, sem a orientao mdica. Outros sintomas, que no esses, podero surgir, em decorrncia do contato com vetores infectados. Qualquer manifestao clnica, deve ser imediatamente comunicada um mdico. O Instituto de Pesquisa Evandro Chagas, possui, em seu quadro de funcionrios, mdicos com experincia em doenas transmitidas por artrpodos. Classe Insecta Ordem Hemiptera: Nesta ordem encontram-se os triatomneos e os cimicdeos, sendo ambos hematfagos. Os triatomneos, da sub-famlia Triatominae, so conhecidos como barbeiros e transmitem a Doena de Chagas. Os cimicdeos, do gnero Cimex, vivem habitualmente no ambiente humano e so conhecidos como percevejos de cama. De um modo geral, suas picadas no causam danos, entretanto, em algumas situaes, podem ocorrer urticria ou, at mesmo, reaes alrgicas. Ordem Diptera: Podemos dividir essa ordem em duas subordens: Nematocera (antenas longas) e Brachycera (aspectos de moscas). Dentre os nematceros, destacam-se os psicoddeos, simuldeos, ceratopogondeos, culicdeos, cujas fmeas so hematfagas. De um modo geral, as suas picadas so bastante doloridas com eritema, prurido e edema.
149
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Os psicoddeos, pertencentes sub-famlia Phlebotominae so conhecidos como ebtomos, mosquito-palha e cangalhinha. So os transmissores das leishmanioses (cutnea e visceral). Os simuldeos, da famlia Simuliidae, tambm, fortemente atrados pelo gado, so conhecidos como borrachudos e pium e sua importncia mdica est ligada transmisso da oncocercose e mansonelose. Os ceratopogondeos (famlia Ceratopogonidae), do gnero Culicoides, so conhecidos vulgarmente como maruim e mosquito plvora, sendo os responsveis pela transmisso de algumas lrias ao homem e de arboviroses, como o Oropouche. A famlia Culicidae de fundamental importncia para as endemias parasitrias, onde destacam-se alguns gneros de mosquitos: Anopheles, Culex e Aedes. Espcies desses gneros so responsveis pela transmisso de malria, febre amarela, dengue, lariose e vrias arboviroses. Ainda, dentre os dpteros, chama-se a ateno para os braquceros onde se enquadram as moscas e as mutucas. Nesse grupo de dpteros encontramos os responsveis pelas miases humanas, ocasionadas pelo desenvolvimento das larvas em rgos e tecidos, podendo tambm acometer animais. Algumas espcies merecem destaque como a Cochliomyia hominivorax e Cochliomyia macellaria: a primeira responsvel pela bicheira, que uma praga importante para a pecuria, enquanto que a segunda pode afetar o homem pelo desenvolvimento de suas larvas em material necrtico de leses de outras origens patognicas. A Dermatobia hominis: responsvel pelo berne. Suas larvas quando penetram na pele, com sensao semelhante a de uma picada, podem provocar ou no prurido, a seguir desenvolve-se uma reao inamatria semelhante a um furnculo. A famlia Tabanidae, tambm de interesse mdico, est associada, principalmente, transmisso mecnica de tripanossomose de animais domsticos. Entretanto, algumas moscas picadoras, tambm, podem transmitir doenas como Stomoxys calcitrans, conhecida vulgarmente como mosca de estrebaria e est mais diretamente associada difuso de tripanossomoses de animais, bem como de vrus das encefalites dos equdeos; e espcies do gnero Glossina, responsveis pela transmisso de doena do sono e outras tripanossomoses na frica. Ordem Siphonaptera: nessa ordem enquadram-se as pulgas que so as responsveis pela transmisso da peste. A peste considerada como uma zoonose de roedores (domsticos e silvestres) sendo transmitida ao homem pela picada da pulga do rato, Xenopsylla cheopis. Ordem Anoplura: Os piolhos, representantes dessa ordem, so responsveis por infestaes conhecidas como pediculose, geralmente caracterizada por uma pequena leso papulosa elevada e hipermica acompanhada por intenso prurido. As espcies de piolhos que podem estar parasitando o homem pertencem famlia Pediculidae. Os piolhos, ainda, podem estar associados transmisso do tifo exantemtico ao homem.
150
FIOCRUZ
Classe Arachnida Dentre os aracndeos, na ordem Acarina destacam-se duas famlias de importncia mdica: a famlia Sarcoptidae, onde encontram-se os agentes de uma dermatose, conhecida vulgarmente como sarna ou escabiose e a famlia Trombiculidae, representante de caros, tambm, responsveis por uma dermatite pruriginosa. Os caros cari, tambm, tm sido relacionados com manifestaes alrgicas respiratrias, devido a sua presena na poeira domstica, principalmente os representantes da famlia Pyroglyphidae. Chama-se a ateno para os carrapatos, da famlia Ixodidae, que so importantes vetores, em todas as fases do ciclo biolgico, de agentes patognicos para o homem (febre maculosa e doena de Lyme) e animais (piroplasmoses, anaplasmoses, etc); da famlia Argasidae com espcies que parasitam o homem e com potencial vetor de agentes patognicos, alm de causar fortes leses cutneas. Desinfeco e coleta de lixo 1- Os equipamentos e rea de trabalho devem ser rotineiramente desinfectados com agentes qumicos e sempre aps a manipulao dos artrpodes e/ou agentes infecciosos. Artrpodes que por ventura sejam encontrados no laboratrio de infeco devem ser recolhidos com luvas, ou aspirados a vcuo, e imergidos em lcool 70% at o descarte apropriado. (ver item VI-3) 2- Gaiolas, frascos ou outros materiais utilizados devem ser resistentes a agentes qumicos, desinfetantes ou resistentes a temperaturas altas para a completa eliminao dos artrpodes. O congelamento pode ser tambm empregado para esta nalidade. 3- Ao trmino do trabalho, os objetos utilizados e bancadas devem ser desinfetados com lcool a 70%. O material biolgico, bem como o material descartado, devem ser mantidos em estufa a 60C durante a noite ou esterilizados em autoclave e descartados em lixo comum. Em caso de estoque, o lixo recolhido do laboratrio de criao dever ser previamente acondicionado em saco especial resistente autoclavao, selado e etiquetado at a esterilizao. Escrever a espcie, agente patognico, data e nome do responsvel. Observao Tanto nas atividades de campo como de laboratrio, os prossionais envolvidos encontram-se expostos ao dos artrpodes vetores. Se algum membro da equipe for picado dentro do laboratrio, recomenda-se que o artrpode seja imediatamente examinado. Esta medida visa avaliar a possibilidade de infeco do vetor capturado. Dependendo do nvel de sensibilidade do indivduo, comum haver alguma forma de reao alrgica por contato ou no local da picada (coceira, vermelhido e inchao), que
151
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
normalmente desaparece em algumas horas. No caso de persistirem os incmodos, recomenda-se o uso tpico de um antialrgico. Entretanto, em alguns casos, outros sintomas podero surgir, tais como: febre, dor de cabea, nuseas etc. o que indica a possibilidade de infeco laboratorial. Diante destes sintomas, deve-se procurar um mdico imediatamente. O Centro de Pesquisa Evandro Chagas possui, em seu quadro de funcionrios, mdicos com experincia em doenas transmitidas por artrpodes.
Referncias Bibliogrcas
Higgs S, Beaty BJ. Rearing and containment of mosquito vectors. In:The Biology of Disease Vector. Beaty BJ & Marquardt, WC ed., University Press of Colorado, Colorado, pp 595-605, 1996. Pessoa SB. Parasitologia Mdica. Guanabara Koogan S.A. edit., Rio de Janeiro, Brasil, 872 pp., 1982. Rey L. Parasitologia. Guanabara Koogan S.A. edit., Rio de Janeiro, Brasil, 731pp. 1991. Sals. 1980. Laboratory safety for arboviruses and certain other vertebrates. Am J Trop Med Hyg 29: 1359, 1980. Singh P & Moore RF. Handbook of insect rearing. Elsevier, New York, 1985. USDHHS 1993. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. U.S. Government Printing Ofce, Washington, 1993.
152
FIOCRUZ
II -
Legislao Nacional
Lei de Biossegurana:
Lei 11.105, 24 de maro de 2005
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
Presidncia da Repblica Casa Civil Subchea para Assuntos Jurdicos
LEI N 11.105, DE 24 DE MARO DE 2005. Regulamenta os incisos II, IV e V do 1o do art. 225 da Constituio Federal, estabelece normas de segurana e mecanismos de scalizao de atividades que envolvam organismos geneticamente modicados OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurana CNBS, reestrutura a Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana CTNBio, dispe sobre a Poltica Nacional de Biossegurana PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisria no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e d outras providncias.
Mensagem de veto
O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPTULO I DISPOSIES PRELIMINARES E GERAIS Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurana e mecanismos de scalizao sobre a construo, o cultivo, a produo, a manipulao, o transporte, a transferncia, a importao, a exportao, o armazenamento, a pesquisa, a comercializao, o consumo, a liberao no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modicados OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estmulo ao avano cientco na rea de biossegurana e biotecnologia, a proteo vida e sade humana, animal e vegetal, e a observncia do
153
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
princpio da precauo para a proteo do meio ambiente. 1o Para os ns desta Lei, considera-se atividade de pesquisa a realizada em laboratrio, regime de conteno ou campo, como parte do processo de obteno de OGM e seus derivados ou de avaliao da biossegurana de OGM e seus derivados, o que engloba, no mbito experimental, a construo, o cultivo, a manipulao, o transporte, a transferncia, a importao, a exportao, o armazenamento, a liberao no meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados. 2o Para os ns desta Lei, considera-se atividade de uso comercial de OGM e seus derivados a que no se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata do cultivo, da produo, da manipulao, do transporte, da transferncia, da comercializao, da importao, da exportao, do armazenamento, do consumo, da liberao e do descarte de OGM e seus derivados para ns comerciais. Art. 2o As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulao de organismos vivos, pesquisa cientca, ao desenvolvimento tecnolgico e produo industrial cam restritos ao mbito de entidades de direito pblico ou privado, que sero responsveis pela obedincia aos preceitos desta Lei e de sua regulamentao, bem como pelas eventuais conseqncias ou efeitos advindos de seu descumprimento. 1o Para os ns desta Lei, consideram-se atividades e projetos no mbito de entidade os conduzidos em instalaes prprias ou sob a responsabilidade administrativa, tcnica ou cientca da entidade. 2o As atividades e projetos de que trata este artigo so vedados a pessoas fsicas em atuao autnoma e independente, ainda que mantenham vnculo empregatcio ou qualquer outro com pessoas jurdicas. 3o Os interessados em realizar atividade prevista nesta Lei devero requerer autorizao Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana CTNBio, que se manifestar no prazo xado em regulamento. 4o As organizaes pblicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, nanciadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentao de Certicado de Qualidade em Biossegurana, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-responsveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua regulamentao. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I organismo: toda entidade biolgica capaz de reproduzir ou transferir material gentico, inclusive vrus e outras classes que venham a ser conhecidas; II cido desoxirribonuclico - ADN, cido ribonuclico - ARN: material gentico que contm informaes determinantes dos caracteres hereditrios transmissveis descendncia; III molculas de ADN/ARN recombinante: as molculas manipuladas fora das clulas vivas mediante a modicao de segmentos de ADN/ARN natural ou sinttico e que possam multiplicar-se em uma clula viva, ou ainda as molculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicao; consideram-se tambm os segmentos de ADN/ARN sintticos equivalentes aos de ADN/ARN natural;
154
FIOCRUZ
IV engenharia gentica: atividade de produo e manipulao de molculas de ADN/ARN recombinante; V organismo geneticamente modicado - OGM: organismo cujo material gentico ADN/ ARN tenha sido modicado por qualquer tcnica de engenharia gentica; VI derivado de OGM: produto obtido de OGM e que no possua capacidade autnoma de replicao ou que no contenha forma vivel de OGM; VII clula germinal humana: clula-me responsvel pela formao de gametas presentes nas glndulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; VIII clonagem: processo de reproduo assexuada, produzida articialmente, baseada em um nico patrimnio gentico, com ou sem utilizao de tcnicas de engenharia gentica; IX clonagem para ns reprodutivos: clonagem com a nalidade de obteno de um indivduo; X clonagem teraputica: clonagem com a nalidade de produo de clulas-tronco embrionrias para utilizao teraputica; XI clulas-tronco embrionrias: clulas de embrio que apresentam a capacidade de se transformar em clulas de qualquer tecido de um organismo. 1o No se inclui na categoria de OGM o resultante de tcnicas que impliquem a introduo direta, num organismo, de material hereditrio, desde que no envolvam a utilizao de molculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundao in vitro, conjugao, transduo, transformao, induo poliplide e qualquer outro processo natural. 2o No se inclui na categoria de derivado de OGM a substncia pura, quimicamente denida, obtida por meio de processos biolgicos e que no contenha OGM, protena heterloga ou ADN recombinante. Art. 4o Esta Lei no se aplica quando a modicao gentica for obtida por meio das seguintes tcnicas, desde que no impliquem a utilizao de OGM como receptor ou doador: I mutagnese; II formao e utilizao de clulas somticas de hibridoma animal; III fuso celular, inclusive a de protoplasma, de clulas vegetais, que possa ser produzida mediante mtodos tradicionais de cultivo; IV autoclonagem de organismos no-patognicos que se processe de maneira natural. Art. 5o permitida, para ns de pesquisa e terapia, a utilizao de clulas-tronco embrionrias obtidas de embries humanos produzidos por fertilizao in vitro e no utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condies: I sejam embries inviveis; ou II sejam embries congelados h 3 (trs) anos ou mais, na data da publicao desta Lei, ou que, j congelados na data da publicao desta Lei, depois de completarem 3 (trs) anos, contados a partir da data de congelamento.
155
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
1o Em qualquer caso, necessrio o consentimento dos genitores. 2o Instituies de pesquisa e servios de sade que realizem pesquisa ou terapia com clulas-tronco embrionrias humanas devero submeter seus projetos apreciao e aprovao dos respectivos comits de tica em pesquisa. 3o vedada a comercializao do material biolgico a que se refere este artigo e sua prtica implica o crime tipicado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Art. 6o Fica proibido: I implementao de projeto relativo a OGM sem a manuteno de registro de seu acompanhamento individual; II engenharia gentica em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei; III engenharia gentica em clula germinal humana, zigoto humano e embrio humano; IV clonagem humana; V destruio ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, e as constantes desta Lei e de sua regulamentao; VI liberao no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no mbito de atividades de pesquisa, sem a deciso tcnica favorvel da CTNBio e, nos casos de liberao comercial, sem o parecer tcnico favorvel da CTNBio, ou sem o licenciamento do rgo ou entidade ambiental responsvel, quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradao ambiental, ou sem a aprovao do Conselho Nacional de Biossegurana CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na forma desta Lei e de sua regulamentao; VII a utilizao, a comercializao, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genticas de restrio do uso. Pargrafo nico. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genticas de restrio do uso qualquer processo de interveno humana para gerao ou multiplicao de plantas geneticamente modicadas para produzir estruturas reprodutivas estreis, bem como qualquer forma de manipulao gentica que vise ativao ou desativao de genes relacionados fertilidade das plantas por indutores qumicos externos. Art. 7o So obrigatrias: I a investigao de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na rea de engenharia gentica e o envio de relatrio respectivo autoridade competente no prazo mximo de 5 (cinco) dias a contar da data do evento; II a notificao imediata CTNBio e s autoridades da sade pblica, da defesa agropecuria e do meio ambiente sobre acidente que possa provocar a disseminao de OGM e seus derivados; III a adoo de meios necessrios para plenamente informar CTNBio, s autoridades da sade pblica, do meio ambiente, da defesa agropecuria, coletividade e aos demais
156
FIOCRUZ
empregados da instituio ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com OGM.
CAPTULO II Do Conselho Nacional de Biossegurana CNBS Art. 8o Fica criado o Conselho Nacional de Biossegurana CNBS, vinculado Presidncia da Repblica, rgo de assessoramento superior do Presidente da Repblica para a formulao e implementao da Poltica Nacional de Biossegurana PNB. 1o Compete ao CNBS: I xar princpios e diretrizes para a ao administrativa dos rgos e entidades federais com competncias sobre a matria; II analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da convenincia e oportunidade socioeconmicas e do interesse nacional, os pedidos de liberao para uso comercial de OGM e seus derivados; III avocar e decidir, em ltima e denitiva instncia, com base em manifestao da CTNBio e, quando julgar necessrio, dos rgos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, no mbito de suas competncias, sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados; IV (VETADO) 2o (VETADO) 3o Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente realizao da atividade analisada, encaminhar sua manifestao aos rgos e entidades de registro e scalizao referidos no art. 16 desta Lei. 4o Sempre que o CNBS deliberar contrariamente atividade analisada, encaminhar sua manifestao CTNBio para informao ao requerente. Art. 9o O CNBS composto pelos seguintes membros: I Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica, que o presidir; II Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia; III Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrrio; IV Ministro de Estado da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; V Ministro de Estado da Justia; VI Ministro de Estado da Sade; VII Ministro de Estado do Meio Ambiente; VIII Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior; IX Ministro de Estado das Relaes Exteriores;
157
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
X Ministro de Estado da Defesa; XI Secretrio Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica. 1o O CNBS reunir-se- sempre que convocado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica, ou mediante provocao da maioria de seus membros. 2o (VETADO) 3o Podero ser convidados a participar das reunies, em carter excepcional, representantes do setor pblico e de entidades da sociedade civil. 4o O CNBS contar com uma Secretaria-Executiva, vinculada Casa Civil da Presidncia da Repblica. 5o A reunio do CNBS poder ser instalada com a presena de 6 (seis) de seus membros e as decises sero tomadas com votos favorveis da maioria absoluta.
CAPTULO III Da Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana CTNBio Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministrio da Cincia e Tecnologia, instncia colegiada multidisciplinar de carter consultivo e deliberativo, para prestar apoio tcnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulao, atualizao e implementao da PNB de OGM e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas tcnicas de segurana e de pareceres tcnicos referentes autorizao para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliao de seu risco zootossanitrio, sade humana e ao meio ambiente. Pargrafo nico. A CTNBio dever acompanhar o desenvolvimento e o progresso tcnico e cientco nas reas de biossegurana, biotecnologia, biotica e ans, com o objetivo de aumentar sua capacitao para a proteo da sade humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente. Art. 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia, ser constituda por 27 (vinte e sete) cidados brasileiros de reconhecida competncia tcnica, de notria atuao e saber cientcos, com grau acadmico de doutor e com destacada atividade prossional nas reas de biossegurana, biotecnologia, biologia, sade humana e animal ou meio ambiente, sendo: I 12 (doze) especialistas de notrio saber cientco e tcnico, em efetivo exerccio prossional, sendo: a) 3 (trs) da rea de sade humana; b) 3 (trs) da rea animal; c) 3 (trs) da rea vegetal; d) 3 (trs) da rea de meio ambiente; II um representante de cada um dos seguintes rgos, indicados pelos respectivos titulares:
158
FIOCRUZ
a) Ministrio da Cincia e Tecnologia; b) Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; c) Ministrio da Sade; d) Ministrio do Meio Ambiente; e) Ministrio do Desenvolvimento Agrrio; f) Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior; g) Ministrio da Defesa; h) Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica; i) Ministrio das Relaes Exteriores; III um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justia; IV um especialista na rea de sade, indicado pelo Ministro da Sade; V um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente; VI um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; VII um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrrio; VIII um especialista em sade do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. 1o Os especialistas de que trata o inciso I do caput deste artigo sero escolhidos a partir de lista trplice, elaborada com a participao das sociedades cientcas, conforme disposto em regulamento. 2o Os especialistas de que tratam os incisos III a VIII do caput deste artigo sero escolhidos a partir de lista trplice, elaborada pelas organizaes da sociedade civil, conforme disposto em regulamento. 3o Cada membro efetivo ter um suplente, que participar dos trabalhos na ausncia do titular. 4o Os membros da CTNBio tero mandato de 2 (dois) anos, renovvel por at mais 2 (dois) perodos consecutivos. 5o O presidente da CTNBio ser designado, entre seus membros, pelo Ministro da Cincia e Tecnologia para um mandato de 2 (dois) anos, renovvel por igual perodo. 6o Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuao pela observncia estrita dos conceitos tico-prossionais, sendo vedado participar do julgamento de questes com as quais tenham algum envolvimento de ordem prossional ou pessoal, sob pena de perda de mandato, na forma do regulamento. 7o A reunio da CTNBio poder ser instalada com a presena de 14 (catorze) de seus
159
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
membros, includo pelo menos um representante de cada uma das reas referidas no inciso I do caput deste artigo. 8o (VETADO) 9o rgos e entidades integrantes da administrao pblica federal podero solicitar participao nas reunies da CTNBio para tratar de assuntos de seu especial interesse, sem direito a voto. 10. Podero ser convidados a participar das reunies, em carter excepcional, representantes da comunidade cientca e do setor pblico e entidades da sociedade civil, sem direito a voto. Art. 12. O funcionamento da CTNBio ser denido pelo regulamento desta Lei. 1o A CTNBio contar com uma Secretaria-Executiva e cabe ao Ministrio da Cincia e Tecnologia prestar-lhe o apoio tcnico e administrativo. 2o (VETADO) Art. 13. A CTNBio constituir subcomisses setoriais permanentes na rea de sade humana, na rea animal, na rea vegetal e na rea ambiental, e poder constituir subcomisses extraordinrias, para anlise prvia dos temas a serem submetidos ao plenrio da Comisso. 1o Tanto os membros titulares quanto os suplentes participaro das subcomisses setoriais e caber a todos a distribuio dos processos para anlise. 2o O funcionamento e a coordenao dos trabalhos nas subcomisses setoriais e extraordinrias sero denidos no regimento interno da CTNBio. Art. 14. Compete CTNBio: I estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM; II estabelecer normas relativamente s atividades e aos projetos relacionados a OGM e seus derivados; III estabelecer, no mbito de suas competncias, critrios de avaliao e monitoramento de risco de OGM e seus derivados; IV proceder anlise da avaliao de risco, caso a caso, relativamente a atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados; V estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comisses Internas de Biossegurana CIBio, no mbito de cada instituio que se dedique ao ensino, pesquisa cientca, ao desenvolvimento tecnolgico e produo industrial que envolvam OGM ou seus derivados; VI estabelecer requisitos relativos biossegurana para autorizao de funcionamento de laboratrio, instituio ou empresa que desenvolver atividades relacionadas a OGM e seus derivados; VII relacionar-se com instituies voltadas para a biossegurana de OGM e seus derivados, em mbito nacional e internacional;
160
FIOCRUZ
VIII autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou derivado de OGM, nos termos da legislao em vigor; IX autorizar a importao de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa; X prestar apoio tcnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulao da PNB de OGM e seus derivados; XI emitir Certicado de Qualidade em Biossegurana CQB para o desenvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratrio, instituio ou empresa e enviar cpia do processo aos rgos de registro e scalizao referidos no art. 16 desta Lei; XII emitir deciso tcnica, caso a caso, sobre a biossegurana de OGM e seus derivados no mbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classicao quanto ao grau de risco e nvel de biossegurana exigido, bem como medidas de segurana exigidas e restries ao uso; XIII denir o nvel de biossegurana a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedimentos e medidas de segurana quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentao desta Lei, bem como quanto aos seus derivados; XIV classicar os OGM segundo a classe de risco, observados os critrios estabelecidos no regulamento desta Lei; XV acompanhar o desenvolvimento e o progresso tcnico-cientco na biossegurana de OGM e seus derivados; XVI emitir resolues, de natureza normativa, sobre as matrias de sua competncia; XVII apoiar tecnicamente os rgos competentes no processo de preveno e investigao de acidentes e de enfermidades, vericados no curso dos projetos e das atividades com tcnicas de ADN/ARN recombinante; XVIII apoiar tecnicamente os rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, no exerccio de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados; XIX divulgar no Dirio Ocial da Unio, previamente anlise, os extratos dos pleitos e, posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informaes em Biossegurana SIB a sua agenda, processos em trmite, relatrios anuais, atas das reunies e demais informaes sobre suas atividades, excludas as informaes sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim consideradas pela CTNBio; XX identicar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente causadores de degradao do meio ambiente ou que possam causar riscos sade humana; XXI reavaliar suas decises tcnicas por solicitao de seus membros ou por recurso dos rgos e entidades de registro e scalizao, fundamentado em fatos ou conhecimentos cientcos novos, que sejam relevantes quanto biossegurana do OGM ou derivado, na forma desta Lei e seu regulamento;
161
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
XXII propor a realizao de pesquisas e estudos cientcos no campo da biossegurana de OGM e seus derivados; XXIII apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Cincia e Tecnologia. 1o Quanto aos aspectos de biossegurana do OGM e seus derivados, a deciso tcnica da CTNBio vincula os demais rgos e entidades da administrao. 2o Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos tcnicos de sua anlise, os rgos de registro e scalizao, no exerccio de suas atribuies em caso de solicitao pela CTNBio, observaro, quanto aos aspectos de biossegurana do OGM e seus derivados, a deciso tcnica da CTNBio. 3o Em caso de deciso tcnica favorvel sobre a biossegurana no mbito da atividade de pesquisa, a CTNBio remeter o processo respectivo aos rgos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, para o exerccio de suas atribuies. 4o A deciso tcnica da CTNBio dever conter resumo de sua fundamentao tcnica, explicitar as medidas de segurana e restries ao uso do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes regies do Pas, com o objetivo de orientar e subsidiar os rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, no exerccio de suas atribuies. 5o No se submeter a anlise e emisso de parecer tcnico da CTNBio o derivado cujo OGM j tenha sido por ela aprovado. 6o As pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas em qualquer das fases do processo de produo agrcola, comercializao ou transporte de produto geneticamente modicado que tenham obtido a liberao para uso comercial esto dispensadas de apresentao do CQB e constituio de CIBio, salvo deciso em contrrio da CTNBio. Art. 15. A CTNBio poder realizar audincias pblicas, garantida participao da sociedade civil, na forma do regulamento. Pargrafo nico. Em casos de liberao comercial, audincia pblica poder ser requerida por partes interessadas, incluindo-se entre estas organizaes da sociedade civil que comprovem interesse relacionado matria, na forma do regulamento.
CAPTULO IV Dos rgos e entidades de registro e scalizao Art. 16. Caber aos rgos e entidades de registro e scalizao do Ministrio da Sade, do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento e do Ministrio do Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica entre outras atribuies, no campo de suas competncias, observadas a deciso tcnica da CTNBio, as deliberaes do CNBS e os mecanismos estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentao: I scalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; II registrar e scalizar a liberao comercial de OGM e seus derivados;
162
FIOCRUZ
III emitir autorizao para a importao de OGM e seus derivados para uso comercial; IV manter atualizado no SIB o cadastro das instituies e responsveis tcnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; V tornar pblicos, inclusive no SIB, os registros e autorizaes concedidas; VI aplicar as penalidades de que trata esta Lei; VII subsidiar a CTNBio na denio de quesitos de avaliao de biossegurana de OGM e seus derivados. 1o Aps manifestao favorvel da CTNBio, ou do CNBS, em caso de avocao ou recurso, caber, em decorrncia de anlise especca e deciso pertinente: I ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento emitir as autorizaes e registros e scalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na agricultura, pecuria, agroindstria e reas ans, de acordo com a legislao em vigor e segundo o regulamento desta Lei; II ao rgo competente do Ministrio da Sade emitir as autorizaes e registros e scalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacolgico, domissanitrio e reas ans, de acordo com a legislao em vigor e segundo o regulamento desta Lei; III ao rgo competente do Ministrio do Meio Ambiente emitir as autorizaes e registros e scalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislao em vigor e segundo o regulamento desta Lei, bem como o licenciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar, na forma desta Lei, que o OGM potencialmente causador de signicativa degradao do meio ambiente; IV Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica emitir as autorizaes e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso na pesca e aqicultura, de acordo com a legislao em vigor e segundo esta Lei e seu regulamento. 2o Somente se aplicam as disposies dos incisos I e II do art. 8o e do caput do art. 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM potencialmente causador de signicativa degradao do meio ambiente. 3o A CTNBio delibera, em ltima e denitiva instncia, sobre os casos em que a atividade potencial ou efetivamente causadora de degradao ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. 4o A emisso dos registros, das autorizaes e do licenciamento ambiental referidos nesta Lei dever ocorrer no prazo mximo de 120 (cento e vinte) dias. 5o A contagem do prazo previsto no 4o deste artigo ser suspensa, por at 180 (cento e oitenta) dias, durante a elaborao, pelo requerente, dos estudos ou esclarecimentos necessrios. 6o As autorizaes e registros de que trata este artigo estaro vinculados deciso tcnica
163
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
da CTNBio correspondente, sendo vedadas exigncias tcnicas que extrapolem as condies estabelecidas naquela deciso, nos aspectos relacionados biossegurana. 7o Em caso de divergncia quanto deciso tcnica da CTNBio sobre a liberao comercial de OGM e derivados, os rgos e entidades de registro e scalizao, no mbito de suas competncias, podero apresentar recurso ao CNBS, no prazo de at 30 (trinta) dias, a contar da data de publicao da deciso tcnica da CTNBio.
CAPTULO V Da Comisso Interna de Biossegurana CIBio Art. 17. Toda instituio que utilizar tcnicas e mtodos de engenharia gentica ou realizar pesquisas com OGM e seus derivados dever criar uma Comisso Interna de Biossegurana CIBio, alm de indicar um tcnico principal responsvel para cada projeto especco. Art. 18. Compete CIBio, no mbito da instituio onde constituda: I manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetveis de serem afetados pela atividade, sobre as questes relacionadas com a sade e a segurana, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes; II estabelecer programas preventivos e de inspeo para garantir o funcionamento das instalaes sob sua responsabilidade, dentro dos padres e normas de biossegurana, denidos pela CTNBio na regulamentao desta Lei; III encaminhar CTNBio os documentos cuja relao ser estabelecida na regulamentao desta Lei, para efeito de anlise, registro ou autorizao do rgo competente, quando couber; IV manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolvam OGM ou seus derivados; V noticar CTNBio, aos rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, e s entidades de trabalhadores o resultado de avaliaes de risco a que esto submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminao de agente biolgico; VI investigar a ocorrncia de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionados a OGM e seus derivados e noticar suas concluses e providncias CTNBio.
CAPTULO VI Do Sistema de Informaes em Biossegurana SIB Art. 19. Fica criado, no mbito do Ministrio da Cincia e Tecnologia, o Sistema de Informaes em Biossegurana SIB, destinado gesto das informaes decorrentes das atividades de anlise, autorizao, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus derivados. 1o As disposies dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem, complementem ou produzam efeitos sobre a legislao de biossegurana de OGM e seus derivados
164
FIOCRUZ
devero ser divulgadas no SIB concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. 2o Os rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, devero alimentar o SIB com as informaes relativas s atividades de que trata esta Lei, processadas no mbito de sua competncia. CAPTULO VII Da Responsabilidade Civil e Administrativa Art. 20. Sem prejuzo da aplicao das penas previstas nesta Lei, os responsveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros respondero, solidariamente, por sua indenizao ou reparao integral, independentemente da existncia de culpa. Art. 21. Considera-se infrao administrativa toda ao ou omisso que viole as normas previstas nesta Lei e demais disposies legais pertinentes. Pargrafo nico. As infraes administrativas sero punidas na forma estabelecida no regulamento desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreenso de produtos, suspenso de venda de produto e embargos de atividades, com as seguintes sanes: I advertncia; II multa; III apreenso de OGM e seus derivados; IV suspenso da venda de OGM e seus derivados; V embargo da atividade; VI interdio parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; VII suspenso de registro, licena ou autorizao; VIII cancelamento de registro, licena ou autorizao; IX perda ou restrio de incentivo e benefcio scal concedidos pelo governo; X perda ou suspenso da participao em linha de nanciamento em estabelecimento ocial de crdito; XI interveno no estabelecimento; XII proibio de contratar com a administrao pblica, por perodo de at 5 (cinco) anos. Art. 22. Compete aos rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, denir critrios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), proporcionalmente gravidade da infrao. 1o As multas podero ser aplicadas cumulativamente com as demais sanes previstas neste artigo. 2o No caso de reincidncia, a multa ser aplicada em dobro. 3o No caso de infrao continuada, caracterizada pela permanncia da ao ou omisso inicialmente punida, ser a respectiva penalidade aplicada diariamente at cessar sua causa,
165
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
sem prejuzo da paralisao imediata da atividade ou da interdio do laboratrio ou da instituio ou empresa responsvel. Art. 23. As multas previstas nesta Lei sero aplicadas pelos rgos e entidades de registro e scalizao dos Ministrios da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, da Sade, do Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica, referidos no art. 16 desta Lei, de acordo com suas respectivas competncias. 1o Os recursos arrecadados com a aplicao de multas sero destinados aos rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, que aplicarem a multa. 2o Os rgos e entidades scalizadores da administrao pblica federal podero celebrar convnios com os Estados, Distrito Federal e Municpios, para a execuo de servios relacionados atividade de scalizao prevista nesta Lei e podero repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicao de multas. 3o A autoridade scalizadora encaminhar cpia do auto de infrao CTNBio. 4o Quando a infrao constituir crime ou contraveno, ou leso Fazenda Pblica ou ao consumidor, a autoridade scalizadora representar junto ao rgo competente para apurao das responsabilidades administrativa e penal. CAPTULO VIII Dos Crimes e das Penas Art. 24. Utilizar embrio humano em desacordo com o que dispe o art. 5o desta Lei: Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) anos, e multa. Art. 25. Praticar engenharia gentica em clula germinal humana, zigoto humano ou embrio humano: Pena recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 26. Realizar clonagem humana: Pena recluso, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos rgos e entidades de registro e scalizao: Pena recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 1o (VETADO) 2o Agrava-se a pena: I de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um tero), se resultar dano propriedade alheia; II de 1/3 (um tero) at a metade, se resultar dano ao meio ambiente; III da metade at 2/3 (dois teros), se resultar leso corporal de natureza grave em outrem;
166
FIOCRUZ
IV de 2/3 (dois teros) at o dobro, se resultar a morte de outrem. Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genticas de restrio do uso: Pena recluso, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, sem autorizao ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos rgos e entidades de registro e scalizao: Pena recluso, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. CAPTULO IX Disposies Finais e Transitrias Art. 30. Os OGM que tenham obtido deciso tcnica da CTNBio favorvel a sua liberao comercial at a entrada em vigor desta Lei podero ser registrados e comercializados, salvo manifestao contrria do CNBS, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicao desta Lei. Art. 31. A CTNBio e os rgos e entidades de registro e scalizao, referidos no art. 16 desta Lei, devero rever suas deliberaes de carter normativo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a m de promover sua adequao s disposies desta Lei. Art. 32. Permanecem em vigor os Certicados de Qualidade em Biossegurana, comunicados e decises tcnicas j emitidos pela CTNBio, bem como, no que no contrariarem o disposto nesta Lei, os atos normativos emitidos ao amparo da Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995. Art. 33. As instituies que desenvolverem atividades reguladas por esta Lei na data de sua publicao devero adequar-se as suas disposies no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da publicao do decreto que a regulamentar. Art. 34. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros provisrios concedidos sob a gide da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. Art. 35. Ficam autorizadas a produo e a comercializao de sementes de cultivares de soja geneticamente modicadas tolerantes a glifosato registradas no Registro Nacional de Cultivares - RNC do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Art. 36. Fica autorizado o plantio de gros de soja geneticamente modicada tolerante a glifosato, reservados pelos produtores rurais para uso prprio, na safra 2004/2005, sendo vedada a comercializao da produo como semente. Pargrafo nico. O Poder Executivo poder prorrogar a autorizao de que trata o caput deste artigo. Art. 37. A descrio do Cdigo 20 do Anexo VIII da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, acrescido pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redao:
167
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
ANEXO VIII Cdigo Categoria 20 Descrio Pp/gu
Uso de Silvicultura; explorao econmica da madeira ou lenha e Recursos subprodutos orestais; importao ou exportao da fauna Naturais e ora nativas brasileiras; atividade de criao e explorao econmica de fauna extica e de fauna silvestre; utilizao do patrimnio gentico natural; explorao de recursos aquticos vivos; introduo de espcies exticas, exceto para melhoramento gentico vegetal e uso na agricultura; introduo de espcies geneticamente modicadas previamente identicadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de signicativa degradao do meio ambiente; uso da diversidade biolgica pela biotecnologia em atividades previamente identicadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de signicativa degradao do meio ambiente.
Mdio
Art. 38. (VETADO) Art. 39. No se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, e suas alteraes, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para servir de matria-prima para a produo de agrotxicos. Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados devero conter informao nesse sentido em seus rtulos, conforme regulamento. Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 42. Revogam-se a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, a Medida Provisria no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. Braslia, 24 de maro de 2005; 184o da Independncia e 117o da Repblica. LUIZ INCIO LULA DA SILVA Mrcio Thomaz Bastos Celso Luiz Nunes Amorim Roberto Rodrigues Humberto Srgio Costa Lima Luiz Fernando Furlan Patrus Ananias Eduardo Campos Marina Silva Miguel Soldatelli Rossetto Jos Dirceu de Oliveira e Silva
Este texto no substitui o publicado no D.O.U. de 28.3.2005.
168
FIOCRUZ
Decreto N 5.591, de 22 de Novembro de 2005
Regulamenta dispositivos da Lei no 11.105, de 24 de maro de 2005, que regulamenta os incisos II, IV e V do 1o do art. 225 da Constituio, e d outras providncias. O PRESIDENTE DA REPBLICA, no uso das atribuies que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alnea a, da Constituio, e tendo em vista o disposto na Lei no 11.105, de 24 de maro de 2005, DECRETA: CAPTULO I DAS DISPOSIES PRELIMINARES E GERAIS Art. 1o Este Decreto regulamenta dispositivos da Lei no 11.105, de 24 de maro de 2005, que estabelece normas de segurana e mecanismos de scalizao sobre a construo, o cultivo, a produo, a manipulao, o transporte, a transferncia, a importao, a exportao, o armazenamento, a pesquisa, a comercializao, o consumo, a liberao no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modicados OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estmulo ao avano cientco na rea de biossegurana e biotecnologia, a proteo vida e sade humana, animal e vegetal, e a observncia do princpio da precauo para a proteo do meio ambiente, bem como normas para o uso mediante autorizao de clulas-tronco embrionrias obtidas de embries humanos produzidos por fertilizao in vitro e no utilizados no respectivo procedimento, para ns de pesquisa e terapia. Art. 2o As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com manipulao de organismos vivos, pesquisa cientca, ao desenvolvimento tecnolgico e produo industrial cam restritos ao mbito de entidades de direito pblico ou privado, que sero responsveis pela obedincia aos preceitos da Lei no 11.105, de 2005, deste Decreto e de normas complementares, bem como pelas eventuais conseqncias ou efeitos advindos de seu descumprimento. 1o Para os ns deste Decreto, consideram-se atividades e projetos no mbito de entidade os conduzidos em instalaes prprias ou sob a responsabilidade administrativa, tcnica ou cientca da entidade. 2o As atividades e projetos de que trata este artigo so vedados a pessoas fsicas
169
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
em atuao autnoma e independente, ainda que mantenham vnculo empregatcio ou qualquer outro com pessoas jurdicas. 3o Os interessados em realizar atividade prevista neste Decreto devero requerer autorizao Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana - CTNBio, que se manifestar no prazo xado em norma prpria. Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - atividade de pesquisa: a realizada em laboratrio, regime de conteno ou campo, como parte do processo de obteno de OGM e seus derivados ou de avaliao da biossegurana de OGM e seus derivados, o que engloba, no mbito experimental, a construo, o cultivo, a manipulao, o transporte, a transferncia, a importao, a exportao, o armazenamento, a liberao no meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados; II - atividade de uso comercial de OGM e seus derivados: a que no se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata do cultivo, da produo, da manipulao, do transporte, da transferncia, da comercializao, da importao, da exportao, do armazenamento, do consumo, da liberao e do descarte de OGM e seus derivados para ns comerciais; III - organismo: toda entidade biolgica capaz de reproduzir ou transferir material gentico, inclusive vrus e outras classes que venham a ser conhecidas; IV - cido desoxirribonuclico - ADN, cido ribonuclico - ARN: material gentico que contm informaes determinantes dos caracteres hereditrios transmissveis descendncia; V - molculas de ADN/ARN recombinante: as molculas manipuladas fora das clulas vivas mediante a modicao de segmentos de ADN/ARN natural ou sinttico e que possam multiplicar-se em uma clula viva, ou ainda as molculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicao; consideram-se tambm os segmentos de ADN/ARN sintticos equivalentes aos de ADN/ARN natural; VI - engenharia gentica: atividade de produo e manipulao de molculas de ADN/ARN recombinante; VII - organismo geneticamente modicado - OGM: organismo cujo material gentico - ADN/ARN tenha sido modicado por qualquer tcnica de engenharia gentica; VIII - derivado de OGM: produto obtido de OGM e que no possua capacidade autnoma de replicao ou que no contenha forma vivel de OGM; IX - clula germinal humana: clula-me responsvel pela formao de gametas presentes nas glndulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; X - fertilizao in vitro: a fuso dos gametas realizada por qualquer tcnica de fecundao extracorprea;
170
FIOCRUZ
XI - clonagem: processo de reproduo assexuada, produzida articialmente, baseada em um nico patrimnio gentico, com ou sem utilizao de tcnicas de engenharia gentica; XII - clulas-tronco embrionrias: clulas de embrio que apresentam a capacidade de se transformar em clulas de qualquer tecido de um organismo; XIII - embries inviveis: aqueles com alteraes genticas comprovadas por diagnstico pr implantacional, conforme normas especcas estabelecidas pelo Ministrio da Sade, que tiveram seu desenvolvimento interrompido por ausncia espontnea de clivagem aps perodo superior a vinte e quatro horas a partir da fertilizao in vitro, ou com alteraes morfolgicas que comprometam o pleno desenvolvimento do embrio; XIV - embries congelados disponveis: aqueles congelados at o dia 28 de maro de 2005, depois de completados trs anos contados a partir da data do seu congelamento; XV - genitores: usurios nais da fertilizao in vitro; XVI - rgos e entidades de registro e scalizao: aqueles referidos no caput do art. 53; XVII - tecnologias genticas de restrio do uso: qualquer processo de interveno humana para gerao ou multiplicao de plantas geneticamente modicadas para produzir estruturas reprodutivas estreis, bem como qualquer forma de manipulao gentica que vise ativao ou desativao de genes relacionados fertilidade das plantas por indutores qumicos externos. 1o No se inclui na categoria de OGM o resultante de tcnicas que impliquem a introduo direta, num organismo, de material hereditrio, desde que no envolvam a utilizao de molculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, inclusive fecundao in vitro, conjugao, transduo, transformao, induo poliplide e qualquer outro processo natural. 2o No se inclui na categoria de derivado de OGM a substncia pura, quimicamente denida, obtida por meio de processos biolgicos e que no contenha OGM, protena heterloga ou ADN recombinante. CAPTULO II DA COMISSO TCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANA Art. 4o A CTNBio, integrante do Ministrio da Cincia e Tecnologia, instncia colegiada multidisciplinar de carter consultivo e deliberativo, para prestar apoio tcnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulao, atualizao e implementao da Poltica Nacional de Biossegurana - PNB de OGM e seus derivados, bem como no
171
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
estabelecimento de normas tcnicas de segurana e de pareceres tcnicos referentes autorizao para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliao de seu risco zootossanitrio, sade humana e ao meio ambiente. Pargrafo nico. A CTNBio dever acompanhar o desenvolvimento e o progresso tcnico e cientco nas reas de biossegurana, biotecnologia, biotica e ans, com o objetivo de aumentar sua capacitao para a proteo da sade humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente. Seo I Das Atribuies Art. 5o Compete CTNBio: I - estabelecer normas para as pesquisas com OGM e seus derivados; II - estabelecer normas relativamente s atividades e aos projetos relacionados a OGM e seus derivados; III - estabelecer, no mbito de suas competncias, critrios de avaliao e monitoramento de risco de OGM e seus derivados; IV - proceder anlise da avaliao de risco, caso a caso, relativamente a atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados; V - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comisses Internas de Biossegurana - CIBio, no mbito de cada instituio que se dedique ao ensino, pesquisa cientca, ao desenvolvimento tecnolgico e produo industrial que envolvam OGM e seus derivados; VI - estabelecer requisitos relativos a biossegurana para autorizao de funcionamento de laboratrio, instituio ou empresa que desenvolver atividades relacionadas a OGM e seus derivados; VII - relacionar-se com instituies voltadas para a biossegurana de OGM e seus derivados, em mbito nacional e internacional; VIII - autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM e seus derivados, nos termos da legislao em vigor; IX - autorizar a importao de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa; X - prestar apoio tcnico consultivo e de assessoramento ao Conselho Nacional de Biossegurana - CNBS na formulao da Poltica Nacional de Biossegurana de OGM e seus derivados;
172
FIOCRUZ
XI - emitir Certicado de Qualidade em Biossegurana - CQB para o desenvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratrio, instituio ou empresa e enviar cpia do processo aos rgos de registro e scalizao; XII - emitir deciso tcnica, caso a caso, sobre a biossegurana de OGM e seus derivados, no mbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classicao quanto ao grau de risco e nvel de biossegurana exigido, bem como medidas de segurana exigidas e restries ao uso; XIII - denir o nvel de biossegurana a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedimentos e medidas de segurana quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas neste Decreto, bem como quanto aos seus derivados; XIV - classicar os OGM segundo a classe de risco, observados os critrios estabelecidos neste Decreto; XV - acompanhar o desenvolvimento e o progresso tcnico-cientco na biossegurana de OGM e seus derivados; XVI - emitir resolues, de natureza normativa, sobre as matrias de sua competncia; XVII - apoiar tecnicamente os rgos competentes no processo de preveno e investigao de acidentes e de enfermidades, vericados no curso dos projetos e das atividades com tcnicas de ADN/ARN recombinante; XVIII - apoiar tecnicamente os rgos e entidades de registro e scalizao, no exerccio de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados; XIX - divulgar no Dirio Ocial da Unio, previamente anlise, os extratos dos pleitos e, posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informaes em Biossegurana - SIB a sua agenda, processos em trmite, relatrios anuais, atas das reunies e demais informaes sobre suas atividades, excludas as informaes sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim por ela consideradas; XX - identicar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente causadores de degradao do meio ambiente ou que possam causar riscos sade humana; XXI - reavaliar suas decises tcnicas por solicitao de seus membros ou por recurso dos rgos e entidades de registro e scalizao, fundamentado em fatos ou conhecimentos cientcos novos, que sejam relevantes quanto biossegurana de OGM e seus derivados; XXII - propor a realizao de pesquisas e estudos cientcos no campo da biossegurana de OGM e seus derivados;
173
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
XXIII - apresentar proposta de seu regimento interno ao Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia. Pargrafo nico. A reavaliao de que trata o inciso XXI deste artigo ser solicitada ao Presidente da CTNBio em petio que conter o nome e qualicao do solicitante, o fundamento instrudo com descrio dos fatos ou relato dos conhecimentos cientcos novos que a ensejem e o pedido de nova deciso a respeito da biossegurana de OGM e seus derivados a que se reram.
Seo II Da Composio Art. 6o A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia, ser constituda por vinte e sete cidados brasileiros de reconhecida competncia tcnica, de notria atuao e saber cientcos, com grau acadmico de doutor e com destacada atividade prossional nas reas de biossegurana, biotecnologia, biologia, sade humana e animal ou meio ambiente, sendo: I - doze especialistas de notrio saber cientco e tcnico, em efetivo exerccio prossional, sendo: a) trs da rea de sade humana; b) trs da rea animal; c) trs da rea vegetal; d) trs da rea de meio ambiente; II - um representante de cada um dos seguintes rgos, indicados pelos respectivos titulares: a) Ministrio da Cincia e Tecnologia; b) Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; c) Ministrio da Sade; d) Ministrio do Meio Ambiente; e) Ministrio do Desenvolvimento Agrrio; f) Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior; g) Ministrio da Defesa; h) Ministrio das Relaes Exteriores; i) Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica;
174
FIOCRUZ
III - um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro de Estado da Justia; IV - um especialista na rea de sade, indicado pelo Ministro de Estado da Sade; V - um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente; VI - um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; VII - um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrrio; VIII - um especialista em sade do trabalhador, indicado pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Pargrafo nico. Cada membro efetivo ter um suplente, que participar dos trabalhos na ausncia do titular. Art. 7o Os especialistas de que trata o inciso I do art. 6o sero escolhidos a partir de lista trplice de titulares e suplentes. Pargrafo nico. O Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia constituir comisso ad hoc, integrada por membros externos CTNBio, representantes de sociedades cientcas, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia - SBPC e da Academia Brasileira de Cincias - ABC, encarregada de elaborar a lista trplice de que trata o caput deste artigo, no prazo de at trinta dias de sua constituio. Art. 8o Os representantes de que trata o inciso II do art. 6o, e seus suplentes, sero indicados pelos titulares dos respectivos rgos no prazo de trinta dias da data do aviso do Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia. Art. 9o A indicao dos especialistas de que tratam os incisos III a VIII do art. 6o ser feita pelos respectivos Ministros de Estado, a partir de lista trplice elaborada por organizaes da sociedade civil providas de personalidade jurdica, cujo objetivo social seja compatvel com a especializao prevista naqueles incisos, em procedimento a ser denido pelos respectivos Ministrios. Art. 10. As consultas s organizaes da sociedade civil, para os ns de que trata o art. 9o, devero ser realizadas sessenta dias antes do trmino do mandato do membro a ser substitudo. Art. 11. A designao de qualquer membro da CTNBio em razo de vacncia obedecer aos mesmos procedimentos a que a designao ordinria esteja submetida. Art. 12. Os membros da CTNBio tero mandato de dois anos, renovvel por at mais dois perodos consecutivos.
175
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Pargrafo nico. A contagem do perodo do mandato de membro suplente contnua, ainda que assuma o mandato de titular. Art. 13. As despesas com transporte, alimentao e hospedagem dos membros da CTNBio sero de responsabilidade do Ministrio da Cincia e Tecnologia. Pargrafo nico. As funes e atividades desenvolvidas pelos membros da CTNBio sero consideradas de alta relevncia e honorcas. Art. 14. Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuao pela observncia estrita dos conceitos tico-prossionais, sendo vedado participar do julgamento de questes com as quais tenham algum envolvimento de ordem prossional ou pessoal, sob pena de perda de mandato. 1o O membro da CTNBio, ao ser empossado, assinar declarao de conduta, explicitando eventual conito de interesse, na forma do regimento interno. 2o O membro da CTNBio dever manifestar seu eventual impedimento nos processos a ele distribudos para anlise, quando do seu recebimento, ou, quando no for o relator, no momento das deliberaes nas reunies das subcomisses ou do plenrio. 3o Poder argir o impedimento o membro da CTNBio ou aquele legitimado como interessado, nos termos do art. 9o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 4o A argio de impedimento ser formalizada em petio fundamentada e devidamente instruda, e ser decidida pelo plenrio da CTNBio. 5o nula a deciso tcnica em que o voto de membro declarado impedido tenha sido decisivo para o resultado do julgamento. 6o O plenrio da CTNBio, ao deliberar pelo impedimento, proferir nova deciso tcnica, na qual regular expressamente o objeto da deciso viciada e os efeitos dela decorrentes, desde a sua publicao. Art. 15. O Presidente da CTNBio e seu substituto sero designados, entre os seus membros, pelo Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia, a partir de lista trplice votada pelo plenrio. 1o O mandado do Presidente da CTNBio ser de dois anos, renovvel por igual perodo. 2o Cabe ao Presidente da CTNBio, entre outras atribuies a serem denidas no regimento interno: I - representar a CTNBio; II - presidir a reunio plenria da CTNBio; III - delegar suas atribuies;
176
FIOCRUZ
IV - determinar a prestao de informaes e franquear acesso a documentos, solicitados pelos rgos de registro e scalizao. Seo III Da Estrutura Administrativa Art. 16. A CTNBio contar com uma Secretaria-Executiva, cabendo ao Ministrio da Cincia e Tecnologia prestar-lhe o apoio tcnico e administrativo. Pargrafo nico. Cabe Secretaria-Executiva da CTNBio, entre outras atribuies a serem denidas no regimento interno: I - prestar apoio tcnico e administrativo aos membros da CTNBio; II - receber, instruir e fazer tramitar os pleitos submetidos deliberao da CTNBio; III - encaminhar as deliberaes da CTNBio aos rgos governamentais responsveis pela sua implementao e providenciar a devida publicidade; IV - atualizar o SIB. Art. 17. A CTNBio constituir subcomisses setoriais permanentes na rea de sade humana, na rea animal, na rea vegetal e na rea ambiental, e poder constituir subcomisses extraordinrias, para anlise prvia dos temas a serem submetidos ao plenrio. 1o Membros titulares e suplentes participaro das subcomisses setoriais, e a distribuio dos processos para anlise poder ser feita a qualquer deles. 2o O funcionamento e a coordenao dos trabalhos nas subcomisses setoriais e extraordinrias sero denidos no regimento interno da CTNBio. Seo IV Das Reunies e Deliberaes Art. 18. O membro suplente ter direito voz e, na ausncia do respectivo titular, a voto nas deliberaes. Art. 19. A reunio da CTNBio poder ser instalada com a presena de catorze de seus membros, includo pelo menos um representante de cada uma das reas referidas no inciso I do art. 6o. Pargrafo nico. As decises da CTNBio sero tomadas com votos favorveis da maioria absoluta de seus membros, exceto nos processos de liberao comercial de OGM e derivados, para os quais se exigir que a deciso seja tomada com votos
177
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
favorveis de pelo menos dois teros dos membros. Art. 20. Perder seu mandato o membro que: I - violar o disposto no art. 14; II - no comparecer a trs reunies ordinrias consecutivas do plenrio da CTNBio, sem justicativa. Art. 21. A CTNBio reunir-se-, em carter ordinrio, uma vez por ms e, extraordinariamente, a qualquer momento, mediante convocao de seu Presidente ou por solicitao fundamentada subscrita pela maioria absoluta dos seus membros. Pargrafo nico. A periodicidade das reunies ordinrias poder, em carter excepcional, ser alterada por deliberao da CTNBio. Art. 22. As reunies da CTNBio sero gravadas, e as respectivas atas, no que decidirem sobre pleitos, devero conter ementa que indique nmero do processo, interessado, objeto, motivao da deciso, eventual divergncia e resultado. Art. 23. Os extratos de pleito devero ser divulgados no Dirio Ocial da Unio e no SIB, com, no mnimo, trinta dias de antecedncia de sua colocao em pauta, excetuados os casos de urgncia, que sero denidos pelo Presidente da CTNBio. Art. 24. Os extratos de parecer e as decises tcnicas devero ser publicados no Dirio Ocial da Unio. Pargrafo nico. Os votos fundamentados de cada membro devero constar no SIB. Art. 25. Os rgos e entidades integrantes da administrao pblica federal podero solicitar participao em reunies da CTNBio para tratar de assuntos de seu especial interesse, sem direito a voto. Pargrafo nico. A solicitao Secretaria-Executiva da CTNBio dever ser acompanhada de justicao que demonstre a motivao e comprove o interesse do solicitante na biossegurana de OGM e seus derivados submetidos deliberao da CTNBio. Art. 26. Podero ser convidados a participar das reunies, em carter excepcional, representantes da comunidade cientca, do setor pblico e de entidades da sociedade civil, sem direito a voto. Seo V Da Tramitao de Processos Art. 27. Os processos pertinentes s competncias da CTNBio, de que tratam os incisos IV, VIII, IX, XII, e XXI do art. 5o, obedecero ao trmite denido nesta Seo.
178
FIOCRUZ
Art. 28. O requerimento protocolado na Secretaria-Executiva da CTNBio, depois de autuado e devidamente instrudo, ter seu extrato prvio publicado no Dirio Ocial da Unio e divulgado no SIB. Art. 29. O processo ser distribudo a um dos membros, titular ou suplente, para relatoria e elaborao de parecer. Art. 30. O parecer ser submetido a uma ou mais subcomisses setoriais permanentes ou extraordinrias para formao e aprovao do parecer nal. Art. 31. O parecer nal, aps sua aprovao nas subcomisses setoriais ou extraordinrias para as quais o processo foi distribudo, ser encaminhado ao plenrio da CTNBio para deliberao. Art. 32. O voto vencido de membro de subcomisso setorial permanente ou extraordinria dever ser apresentado de forma expressa e fundamentada e ser consignado como voto divergente no parecer nal para apreciao e deliberao do plenrio. Art. 33. Os processos de liberao comercial de OGM e seus derivados sero submetidos a todas as subcomisses permanentes. Art. 34. O relator de parecer de subcomisses e do plenrio dever considerar, alm dos relatrios dos proponentes, a literatura cientca existente, bem como estudos e outros documentos protocolados em audincias pblicas ou na CTNBio. Art. 35. A CTNBio adotar as providncias necessrias para resguardar as informaes sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim por ela consideradas, desde que sobre essas informaes no recaiam interesses particulares ou coletivos constitucionalmente garantidos. 1o A m de que seja resguardado o sigilo a que se refere o caput deste artigo, o requerente dever dirigir ao Presidente da CTNBio solicitao expressa e fundamentada, contendo a especicao das informaes cujo sigilo pretende resguardar. 2o O pedido ser indeferido mediante despacho fundamentado, contra o qual caber recurso ao plenrio, em procedimento a ser estabelecido no regimento interno da CTNBio, garantido o sigilo requerido at deciso nal em contrrio. 3o O requerente poder optar por desistir do pleito, caso tenha seu pedido de sigilo indeferido denitivamente, hiptese em que ser vedado CTNBio dar publicidade informao objeto do pretendido sigilo. Art. 36. Os rgos e entidades de registro e scalizao requisitaro acesso a determinada informao sigilosa, desde que indispensvel ao exerccio de suas funes, em petio que fundamentar o pedido e indicar o agente que a ela ter acesso.
179
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Seo VI Da Deciso Tcnica Art. 37. Quanto aos aspectos de biossegurana de OGM e seus derivados, a deciso tcnica da CTNBio vincula os demais rgos e entidades da administrao. Art. 38. Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos tcnicos de sua anlise, os rgos de registro e scalizao, no exerccio de suas atribuies em caso de solicitao pela CTNBio, observaro, quanto aos aspectos de biossegurana de OGM e seus derivados, a deciso tcnica da CTNBio. Art. 39. Em caso de deciso tcnica favorvel sobre a biossegurana no mbito da atividade de pesquisa, a CTNBio remeter o processo respectivo aos rgos e entidades de registro e scalizao, para o exerccio de suas atribuies. Art. 40. A deciso tcnica da CTNBio dever conter resumo de sua fundamentao tcnica, explicitar as medidas de segurana e restries ao uso de OGM e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes regies do Pas, com o objetivo de orientar e subsidiar os rgos e entidades de registro e scalizao, no exerccio de suas atribuies. Art. 41. No se submeter a anlise e emisso de parecer tcnico da CTNBio o derivado cujo OGM j tenha sido por ela aprovado. Art. 42. As pessoas fsicas ou jurdicas envolvidas em qualquer das fases do processo de produo agrcola, comercializao ou transporte de produto geneticamente modicado que tenham obtido a liberao para uso comercial esto dispensadas de apresentao do CQB e constituio de CIBio, salvo deciso em contrrio da CTNBio.
Seo VII Das Audincias Pblicas Art. 43. A CTNBio poder realizar audincias pblicas, garantida a participao da sociedade civil, que ser requerida: I - por um de seus membros e aprovada por maioria absoluta, em qualquer hiptese; II - por parte comprovadamente interessada na matria objeto de deliberao e aprovada por maioria absoluta, no caso de liberao comercial. 1o A CTNBio publicar no SIB e no Dirio Ocial da Unio, com antecedncia mnima de trinta dias, a convocao para audincia pblica, dela fazendo constar a matria, a data, o horrio e o local dos trabalhos.
180
FIOCRUZ
2o A audincia pblica ser coordenada pelo Presidente da CTNBio que, aps a exposio objetiva da matria objeto da audincia, abrir as discusses com os interessados presentes. 3o Aps a concluso dos trabalhos da audincia pblica, as manifestaes, opinies, sugestes e documentos caro disponveis aos interessados na SecretariaExecutiva da CTNBio. 4o Considera-se parte interessada, para efeitos do inciso II do caput deste artigo, o requerente do processo ou pessoa jurdica cujo objetivo social seja relacionado s reas previstas no caput e nos incisos III, VII e VIII do art 6o.
Seo VIII Das Regras Gerais de Classicao de Risco de OGM Art. 44. Para a classicao dos OGM de acordo com classes de risco, a CTNBio dever considerar, entre outros critrios: I - caractersticas gerais do OGM; II - caractersticas do vetor; III - caractersticas do inserto; IV - caractersticas dos organismos doador e receptor; V - produto da expresso gnica das seqncias inseridas; VI - atividade proposta e o meio receptor do OGM; VII - uso proposto do OGM; VIII - efeitos adversos do OGM sade humana e ao meio ambiente.
Seo IX Do Certicado de Qualidade em Biossegurana Art. 45. A instituio de direito pblico ou privado que pretender realizar pesquisa em laboratrio, regime de conteno ou campo, como parte do processo de obteno de OGM ou de avaliao da biossegurana de OGM, o que engloba, no mbito experimental, a construo, o cultivo, a manipulao, o transporte, a transferncia, a importao, a exportao, o armazenamento, a liberao no meio ambiente e o descarte de OGM, dever requerer, junto CTNBio, a emisso do CQB.
181
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
1o A CTNBio estabelecer os critrios e procedimentos para requerimento, emisso, reviso, extenso, suspenso e cancelamento de CQB. 2o A CTNBio enviar cpia do processo de emisso de CQB e suas atualizaes aos rgos de registro e scalizao. Art. 46. As organizaes pblicas e privadas, nacionais e estrangeiras, nanciadoras ou patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput do art. 2o, devem exigir a apresentao de CQB, sob pena de se tornarem co-responsveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento deste Decreto. Art. 47. Os casos no previstos neste Captulo sero denidos pelo regimento interno da CTNBio. CAPTULO III DO CONSELHO NACIONAL DE BIOSSEGURANA Art. 48. O CNBS, vinculado Presidncia da Repblica, rgo de assessoramento superior do Presidente da Repblica para a formulao e implementao da PNB. 1o Compete ao CNBS: I - xar princpios e diretrizes para a ao administrativa dos rgos e entidades federais com competncias sobre a matria; II - analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da convenincia e oportunidade socioeconmicas e do interesse nacional, os pedidos de liberao para uso comercial de OGM e seus derivados; III - avocar e decidir, em ltima e denitiva instncia, com base em manifestao da CTNBio e, quando julgar necessrio, dos rgos e entidades de registro e scalizao, no mbito de suas competncias, sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados. 2o Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente realizao da atividade analisada, 3o Sempre que o CNBS deliberar contrariamente atividade analisada, encaminhar sua manifestao CTNBio para informao ao requerente. Art. 49. O CNBS composto pelos seguintes membros: I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica, que o presidir; II - Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia;
182
FIOCRUZ
III - Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrrio; IV - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; V - Ministro de Estado da Justia; VI - Ministro de Estado da Sade; VII - Ministro de Estado do Meio Ambiente; VIII - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior; IX - Ministro de Estado das Relaes Exteriores; X - Ministro de Estado da Defesa; XI - Secretrio Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica. 1o O CNBS reunir-se- sempre que convocado por seu Presidente ou mediante provocao da maioria dos seus membros. 2o Os membros do CNBS sero substitudos, em suas ausncias ou impedimentos, pelos respectivos Secretrios-Executivos ou, na inexistncia do cargo, por seus substitutos legais. 3o Na ausncia do Presidente, este indicar Ministro de Estado para presidir os trabalhos. 4o A reunio do CNBS ser instalada com a presena de, no mnimo, seis de seus membros e as decises sero tomadas por maioria absoluta dos seus membros. 5o O regimento interno do CNBS denir os procedimentos para convocao e realizao de reunies e deliberaes. Art. 50. O CNBS decidir, a pedido da CTNBio, sobre os aspectos de convenincia e oportunidade socioeconmicas e do interesse nacional na liberao para uso comercial de OGM e seus derivados. 1o A CTNBio dever protocolar, junto Secretaria-Executiva do CNBS, cpia integral do processo relativo atividade a ser analisada, com indicao dos motivos desse encaminhamento. 2o A eccia da deciso tcnica da CTNBio, se esta tiver sido proferida no caso especco, permanecer suspensa at deciso nal do CNBS. 3o O CNBS decidir o pedido de anlise referido no caput no prazo de sessenta dias, contados da data de protocolo da solicitao em sua Secretaria-Executiva. 4o O prazo previsto no 3o poder ser suspenso para cumprimento de diligncias
183
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
ou emisso de pareceres por consultores ad hoc, conforme deciso do CNBS. Art. 51. O CNBS poder avocar os processos relativos s atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados para anlise e deciso, em ltima e denitiva instncia, no prazo de trinta dias, contados da data da publicao da deciso tcnica da CTNBio no Dirio Ocial da Unio. 1o O CNBS poder requerer, quando julgar necessrio, manifestao dos rgos e entidades de registro e scalizao. 2o A deciso tcnica da CTNBio permanecer suspensa at a expirao do prazo previsto no caput sem a devida avocao do processo ou at a deciso nal do CNBS, caso por ele o processo tenha sido avocado. 3o O CNBS decidir no prazo de sessenta dias, contados da data de recebimento, por sua Secretaria-Executiva, de cpia integral do processo avocado. 4o O prazo previsto no 3o poder ser suspenso para cumprimento de diligncias ou emisso de pareceres por consultores ad hoc, conforme deciso do CNBS. Art. 52. O CNBS decidir sobre os recursos dos rgos e entidades de registro e scalizao relacionados liberao comercial de OGM e seus derivados, que tenham sido protocolados em sua Secretaria-Executiva, no prazo de at trinta dias contados da data da publicao da deciso tcnica da CTNBio no Dirio Ocial da Unio. 1o O recurso de que trata este artigo dever ser instrudo com justicao tecnicamente fundamentada que demonstre a divergncia do rgo ou entidade de registro e scalizao, no mbito de suas competncias, quanto deciso da CTNBio em relao aos aspectos de biossegurana de OGM e seus derivados. 2o A eccia da deciso tcnica da CTNBio permanecer suspensa at a expirao do prazo previsto no caput sem a devida interposio de recursos pelos rgos de scalizao e registro ou at o julgamento nal pelo CNBS, caso recebido e conhecido o recurso interposto. 3o O CNBS julgar o recurso no prazo de sessenta dias, contados da data do protocolo em sua Secretaria-Executiva. 4o O prazo previsto no 3o poder ser suspenso para cumprimento de diligncias ou emisso de pareceres por consultores ad hoc, conforme deciso do CNBS.
184
FIOCRUZ
CAPTULO IV DOS RGOS E ENTIDADES DE REGISTRO E FISCALIZAO Art. 53. Caber aos rgos e entidades de registro e scalizao do Ministrio da Sade, do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento e do Ministrio do Meio Ambiente, e da Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica entre outras atribuies, no campo de suas competncias, observadas a deciso tcnica da CTNBio, as deliberaes do CNBS e os mecanismos estabelecidos neste Decreto: I - scalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; II - registrar e scalizar a liberao comercial de OGM e seus derivados; III - emitir autorizao para a importao de OGM e seus derivados para uso comercial; IV - estabelecer normas de registro, autorizao, scalizao e licenciamento ambiental de OGM e seus derivados; V - scalizar o cumprimento das normas e medidas de biossegurana estabelecidas pela CTNBio; VI - promover a capacitao dos scais e tcnicos incumbidos de registro, autorizao, scalizao e licenciamento ambiental de OGM e seus derivados; VII - instituir comisso interna especializada em biossegurana de OGM e seus derivados; VIII - manter atualizado no SIB o cadastro das instituies e responsveis tcnicos que realizam atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; IX - tornar pblicos, inclusive no SIB, os registros, autorizaes e licenciamentos ambientais concedidos; X - aplicar as penalidades de que trata este Decreto; XI - subsidiar a CTNBio na denio de quesitos de avaliao de biossegurana de OGM e seus derivados. 1o As normas a que se refere o inciso IV consistiro, quando couber, na adequao s decises da CTNBio dos procedimentos, meios e aes em vigor aplicveis aos produtos convencionais. 2o Aps manifestao favorvel da CTNBio, ou do CNBS, em caso de avocao
185
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
ou recurso, caber, em decorrncia de anlise especca e deciso pertinente: I - ao Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento emitir as autorizaes e registros e scalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na agricultura, pecuria, agroindstria e reas ans, de acordo com a legislao em vigor e segundo as normas que vier a estabelecer; II - ao rgo competente do Ministrio da Sade emitir as autorizaes e registros e scalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacolgico, domissanitrio e reas ans, de acordo com a legislao em vigor e as normas que vier a estabelecer; III - ao rgo competente do Ministrio do Meio Ambiente emitir as autorizaes e registros e scalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislao em vigor e segundo as normas que vier a estabelecer, bem como o licenciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar, na forma deste Decreto, que o OGM potencialmente causador de signicativa degradao do meio ambiente; IV - Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia da Repblica emitir as autorizaes e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso na pesca e aqicultura, de acordo com a legislao em vigor e segundo este Decreto e as normas que vier a estabelecer. Art. 54. A CTNBio delibera, em ltima e denitiva instncia, sobre os casos em que a atividade potencial ou efetivamente causadora de degradao ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Art. 55. A emisso dos registros, das autorizaes e do licenciamento ambiental referidos neste Decreto dever ocorrer no prazo mximo de cento e vinte dias. Pargrafo nico. A contagem do prazo previsto no caput ser suspensa, por at cento e oitenta dias, durante a elaborao, pelo requerente, dos estudos ou esclarecimentos necessrios. Art. 56. As autorizaes e registros de que trata este Captulo estaro vinculados deciso tcnica da CTNBio correspondente, sendo vedadas exigncias tcnicas que extrapolem as condies estabelecidas naquela deciso, nos aspectos relacionados biossegurana. Art. 57. Os rgos e entidades de registro e scalizao podero estabelecer aes conjuntas com vistas ao exerccio de suas competncias.
186
FIOCRUZ
CAPTULO V DO SISTEMA DE INFORMAES EM BIOSSEGURANA Art. 58. O SIB, vinculado Secretaria-Executiva da CTNBio, destinado gesto das informaes decorrentes das atividades de anlise, autorizao, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus derivados. 1o As disposies dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem, complementem ou produzam efeitos sobre a legislao de biossegurana de OGM e seus derivados devero ser divulgadas no SIB concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. 2o Os rgos e entidades de registro e scalizao devero alimentar o SIB com as informaes relativas s atividades de que trata este Decreto, processadas no mbito de sua competncia. Art. 59. A CTNBio dar ampla publicidade a suas atividades por intermdio do SIB, entre as quais, sua agenda de trabalho, calendrio de reunies, processos em tramitao e seus respectivos relatores, relatrios anuais, atas das reunies e demais informaes sobre suas atividades, excludas apenas as informaes sigilosas, de interesse comercial, assim por ela consideradas. Art. 60. O SIB permitir a interao eletrnica entre o CNBS, a CTNBio e os rgos e entidades federais responsveis pelo registro e scalizao de OGM. CAPTULO VI DAS COMISSES INTERNAS DE BIOSSEGURANA - CIBio Art. 61. A instituio que se dedique ao ensino, pesquisa cientca, ao desenvolvimento tecnolgico e produo industrial, que utilize tcnicas e mtodos de engenharia gentica ou realize pesquisas com OGM e seus derivados, dever criar uma Comisso Interna de Biossegurana - CIBio, cujos mecanismos de funcionamento sero estabelecidos pela CTNBio. Pargrafo nico. A instituio de que trata o caput deste artigo indicar um tcnico principal responsvel para cada projeto especico. Art. 62. Compete a CIBio, no mbito de cada instituio: I - manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetveis de serem afetados pela atividade, sobre as questes relacionadas com a sade e a segurana, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes; II - estabelecer programas preventivos e de inspeo para garantir o funcionamento das instalaes sob sua responsabilidade, dentro dos padres e normas
187
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
de biossegurana, denidos pela CTNBio; III - encaminhar CTNBio os documentos cuja relao ser por esta estabelecida, para os ns de anlise, registro ou autorizao do rgo competente, quando couber; IV - manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolva OGM e seus derivados; V - noticar a CTNBio, aos rgos e entidades de registro e scalizao e s entidades de trabalhadores o resultado de avaliaes de risco a que esto submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminao de agente biolgico; VI - investigar a ocorrncia de acidentes e enfermidades possivelmente relacionados a OGM e seus derivados e noticar suas concluses e providencias CTNBio. CAPTULO VII DA PESQUISA E DA TERAPIA COM CLULAS-TRONCO EMBIONRIAS HUMANAS OBTIDAS POR FERTILIZAO IN VITRO Art. 63. permitida, para ns de pesquisa e terapia, a utilizao de clulas-tronco embrionrias obtidas de embries humanos produzidos por fertilizao in vitro e no utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condies: I - sejam embries inviveis; ou II - sejam embries congelados disponveis. 1o Em qualquer caso, necessrio o consentimento dos genitores. 2o Instituies de pesquisa e servios de sade que realizem pesquisa ou terapia com clulas-tronco embrionrias humanas devero submeter seus projetos apreciao e aprovao dos respectivos comits de tica em pesquisa, na forma de resoluo do Conselho Nacional de Sade. 3o vedada a comercializao do material biolgico a que se refere este artigo, e sua prtica implica o crime tipicado no art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Art. 64. Cabe ao Ministrio da Sade promover levantamento e manter cadastro atualizado de embries humanos obtidos por fertilizao in vitro e no utilizados no respectivo procedimento. 1o As instituies que exercem atividades que envolvam congelamento e armazenamento de embries humanos devero informar, conforme norma especca que estabelecer prazos, os dados necessrios identicao dos embries inviveis produzidos em seus estabelecimentos e dos embries congelados disponveis.
188
FIOCRUZ
2o O Ministrio da Sade expedir a norma de que trata o 1o no prazo de trinta dias da publicao deste Decreto. Art. 65. A Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria - ANVISA estabelecer normas para procedimentos de coleta, processamento, teste, armazenamento, transporte, controle de qualidade e uso de clulas-tronco embrionrias humanas para os ns deste Captulo. Art. 66. Os genitores que doarem, para ns de pesquisa ou terapia, clulas-tronco embrionrias humanas obtidas em conformidade com o disposto neste Captulo, devero assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme norma especca do Ministrio da Sade. Art. 67. A utilizao, em terapia, de clulas tronco embrionrias humanas, observado o art. 63, ser realizada em conformidade com as diretrizes do Ministrio da Sade para a avaliao de novas tecnologias. CAPTULO VIII DA RESPONSABILIDADE CIVIL E ADMINISTRATIVA Art. 68. Sem prejuzo da aplicao das penas previstas na Lei no 11.105, de 2005, e neste Decreto, os responsveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros respondero, solidariamente, por sua indenizao ou reparao integral, independentemente da existncia de culpa. Seo I Das Infraes Administrativas Art. 69. Considera-se infrao administrativa toda ao ou omisso que viole as normas previstas na Lei no 11.105, de 2005, e neste Decreto e demais disposies legais pertinentes, em especial: I - realizar atividade ou projeto que envolva OGM e seus derivados, relacionado ao ensino com manipulao de organismos vivos, pesquisa cientca, ao desenvolvimento tecnolgico e produo industrial como pessoa fsica em atuao autnoma; II - realizar atividades de pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados sem autorizao da CTNBio ou em desacordo com as normas por ela expedidas; III - deixar de exigir a apresentao do CQB emitido pela CTNBio a pessoa jurdica que nancie ou patrocine atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados; IV - utilizar, para ns de pesquisa e terapia, clulas-tronco embrionrias obtidas de embries humanos produzidos por fertilizao in vitro sem o consentimento dos genitores;
189
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
V - realizar atividades de pesquisa ou terapia com clulas-tronco embrionrias humanas sem aprovao do respectivo comit de tica em pesquisa, conforme norma do Conselho Nacional de Sade; VI - comercializar clulas-tronco embrionrias obtidas de embries humanos produzidos por fertilizao in vitro; VII - utilizar, para ns de pesquisa e terapia, clulas tronco embrionrias obtidas de embries humanos produzidos por fertilizao in vitro sem atender s disposies previstas no Captulo VII; VIII - deixar de manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolva OGM e seus derivados; IX - realizar engenharia gentica em organismo vivo em desacordo com as normas deste Decreto; X - realizar o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante em desacordo com as normas previstas neste Decreto; XI - realizar engenharia gentica em clula germinal humana, zigoto humano e embrio humano; XII - realizar clonagem humana; XIII - destruir ou descartar no meio ambiente OGM e seus derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio, pelos rgos e entidades de registro e scalizao e neste Decreto; XIV - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no mbito de atividades de pesquisa, sem a deciso tcnica favorvel da CTNBio, ou em desacordo com as normas desta; XV - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no mbito de atividade comercial, sem o licenciamento do rgo ou entidade ambiental responsvel, quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradao ambiental; XVI - liberar no meio ambiente OGM e seus derivados, no mbito de atividade comercial, sem a aprovao do CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado; XVII - utilizar, comercializar, registrar, patentear ou licenciar tecnologias genticas de restrio do uso; XVIII - deixar a instituio de enviar relatrio de investigao de acidente ocorrido no curso de pesquisas e projetos na rea de engenharia gentica no prazo mximo de cinco dias a contar da data do evento; XIX - deixar a instituio de notificar imediatamente a CTNBio e as autoridades da sade pblica, da defesa agropecuria e do meio ambiente sobre acidente que
190
FIOCRUZ
possa provocar a disseminao de OGM e seus derivados; XX - deixar a instituio de adotar meios necessrios para plenamente informar CTNBio, s autoridades da sade pblica, do meio ambiente, da defesa agropecuria, coletividade e aos demais empregados da instituio ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem tomados no caso de acidentes com OGM e seus derivados; XXI - deixar de criar CIBio, conforme as normas da CTNBio, a instituio que utiliza tcnicas e mtodos de engenharia gentica ou realiza pesquisa com OGM e seus derivados; XXII - manter em funcionamento a CIBio em desacordo com as normas da CTNBio; XXIII - deixar a instituio de manter informados, por meio da CIBio, os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetveis de serem afetados pela atividade, sobre as questes relacionadas com a sade e a segurana, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes; XXIV - deixar a instituio de estabelecer programas preventivos e de inspeo, por meio da CIBio, para garantir o funcionamento das instalaes sob sua responsabilidade, dentro dos padres e normas de biossegurana, denidos pela CTNBio; XXV - deixar a instituio de noticar a CTNBio, os rgos e entidades de registro e scalizao, e as entidades de trabalhadores, por meio da CIBio, do resultado de avaliaes de risco a que esto submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminao de agente biolgico; XXVI - deixar a instituio de investigar a ocorrncia de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionados a OGM e seus derivados e noticar suas concluses e providncias CTNBio; XXVII - produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM e seus derivados, sem autorizao ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos rgos e entidades de registro e scalizao. Seo II Das Sanes Administrativas Art. 70. As infraes administrativas, independentemente das medidas cautelares de apreenso de produtos, suspenso de venda de produto e embargos de atividades, sero punidas com as seguintes sanes: I - advertncia; II - multa;
191
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
III - apreenso de OGM e seus derivados; IV - suspenso da venda de OGM e seus derivados; V - embargo da atividade; VI - interdio parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; VII - suspenso de registro, licena ou autorizao; VIII - cancelamento de registro, licena ou autorizao; IX - perda ou restrio de incentivo e benefcio scal concedidos pelo governo; X - perda ou suspenso da participao em linha de nanciamento em estabelecimento ocial de crdito; XI - interveno no estabelecimento; XII - proibio de contratar com a administrao pblica, por perodo de at cinco anos. Art. 71. Para a imposio da pena e sua gradao, os rgos e entidades de registro e scalizao levaro em conta: I - a gravidade da infrao; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas agrcolas, sanitrias, ambientais e de biossegurana; III - a vantagem econmica auferida pelo infrator; IV - a situao econmica do infrator. Pargrafo nico. Para efeito do inciso I, as infraes previstas neste Decreto sero classicadas em leves, graves e gravssimas, segundo os seguintes critrios: I - a classicao de risco do OGM; II - os meios utilizados para consecuo da infrao; III - as conseqncias, efetivas ou potenciais, para a dignidade humana, a sade humana, animal e das plantas e para o meio ambiente; IV - a culpabilidade do infrator. Art. 72. A advertncia ser aplicada somente nas infraes de natureza leve. Art. 73. A multa ser aplicada obedecendo a seguinte gradao: I - de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nas infraes de natureza leve; II - de R$ 60.001,00 (sessenta mil e um reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) nas infraes de natureza grave; III - de R$ 500.001,00 (quinhentos mil e um reais) a R$ 1.500.000,00 (um milho
192
FIOCRUZ
e quinhentos mil reais) nas infraes de natureza gravssima. 1o A multa ser aplicada em dobro nos casos de reincidncia. 2o As multas podero ser aplicadas cumulativamente com as demais sanes previstas neste Decreto. Art. 74. As multas previstas na Lei no 11.105, de 2005, e neste Decreto sero aplicadas pelos rgos e entidades de registro e scalizao, de acordo com suas respectivas competncias. 1o Os recursos arrecadados com a aplicao de multas sero destinados aos rgos e entidades de registro e scalizao que aplicarem a multa. 2o Os rgos e entidades scalizadores da administrao pblica federal podero celebrar convnios com os Estados, Distrito Federal e Municpios, para a execuo de servios relacionados atividade de scalizao prevista neste Decreto, facultado o repasse de parcela da receita obtida com a aplicao de multas. Art. 75. As sanes previstas nos incisos III, IV, V, VI, VII, IX e X do art. 70 sero aplicadas somente nas infraes de natureza grave ou gravssima. Art. 76. As sanes previstas nos incisos VIII, XI e XII do art. 70 sero aplicadas somente nas infraes de natureza gravssima. Art. 77. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infraes, ser-lheo aplicadas, cumulativamente, as sanes cominadas a cada qual. Art. 78. No caso de infrao continuada, caracterizada pela permanncia da ao ou omisso inicialmente punida, ser a respectiva penalidade aplicada diariamente at cessar sua causa, sem prejuzo da paralisao imediata da atividade ou da interdio do laboratrio ou da instituio ou empresa responsvel. Art. 79. Os rgos e entidades de registro e scalizao podero, independentemente da aplicao das sanes administrativas, impor medidas cautelares de apreenso de produtos, suspenso de venda de produto e embargos de atividades sempre que se vericar risco iminente de dano dignidade humana, sade humana, animal e das plantas e ao meio ambiente. Seo III Do Processo Administrativo Art. 80. Qualquer pessoa, constatando a ocorrncia de infrao administrativa, poder dirigir representao ao rgo ou entidade de scalizao competente, para efeito do exerccio de poder de polcia. Art. 81. As infraes administrativas so apuradas em processo administrativo prprio, assegurado o direito a ampla defesa e o contraditrio.
193
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Art. 82. So autoridades competentes para lavrar auto de infrao, instaurar processo administrativo e indicar as penalidades cabveis, os funcionrios dos rgos de scalizao previstos no art. 53. Art. 83. A autoridade scalizadora encaminhar cpia do auto de infrao CTNBio. Art. 84. Quando a infrao constituir crime ou contraveno, ou leso Fazenda Pblica ou ao consumidor, a autoridade scalizadora representar junto ao rgo competente para apurao das responsabilidades administrativa e penal. Art. 85. Aplicam-se a este Decreto, no que couberem, as disposies da Lei no 9.784, de 1999.
CAPTULO IX DAS DISPOSIES FINAIS E TRANSITRIAS Art. 86. A CTNBio, em noventa dias de sua instalao, denir: I - proposta de seu regimento interno, a ser submetida aprovao do Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia; II - as classes de risco dos OGM; III - os nveis de biossegurana a serem aplicados aos OGM e seus derivados, observada a classe de risco do OGM. Pargrafo nico. At a denio das classes de risco dos OGM pela CTNBio, ser observada, para efeito de classicao, a tabela do Anexo deste Decreto. Art. 87. A Secretaria-Executiva do CNBS submeter, no prazo de noventa dias, proposta de regimento interno ao colegiado. Art. 88. Os OGM que tenham obtido deciso tcnica da CTNBio favorvel a sua liberao comercial at o dia 28 de maro de 2005 podero ser registrados e comercializados, observada a Resoluo CNBS no 1, de 27 de maio de 2005. Art. 89. As instituies que desenvolvam atividades reguladas por este Decreto devero adequar-se s suas disposies no prazo de cento e vinte dias, contado da sua publicao. Art. 90. No se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para servir de matria-prima para a produo de agrotxicos. Art. 91. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM e seus derivados devero
194
FIOCRUZ
conter informao nesse sentido em seus rtulos, na forma de decreto especco. Art. 92. A CTNBio promover a reviso e se necessrio, a adequao dos CQB, dos comunicados, decises tcnicas e atos normativos, emitidos sob a gide da Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, os quais no estejam em conformidade com a Lei no 11.105, de 2005, e este Decreto. Art. 93. A CTNBio e os rgos e entidades de registro e scalizao devero rever suas deliberaes de carter normativo no prazo de cento e vinte dias, contados da publicao deste Decreto, a m de promover sua adequao s disposies nele contidas. Art. 94. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. Art. 95. Fica revogado o Decreto no 4.602, de 21 de fevereiro de 2003. Braslia, 22 de novembro de 2005; 184o da Independncia e 117o da Repblica.
LUIZ INCIO LULA DA SILVA Roberto Rodrigues Saraiva Felipe Sergio Machado Rezende Marina Silva Este texto no substitui o publicado no DOU de 23.11.2005
195
III - ANEXOS
FIOCRUZ
1. ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO (OGM): CLASSIFICAO
Grupo I Compreende os organismos que preencham os seguintes critrios: A. Organismo receptor ou parental: - no patognico; - isento de agentes adventcios; - com amplo histrico documentado de utilizao segura, ou com a incorporao de barreiras biolgicas que, sem interferir no crescimento timo em reator ou fermentador, permita uma sobrevivncia e multiplicao limitadas, sem efeitos negativos para o meio ambiente. B. Vetor/Inseto - deve ser adequadamente caracterizado quanto a todos os aspectos, destacando-se aqueles que possam representar riscos ao homem e ao meio ambiente, e desprovido de sequncias nocivas conhecidas; - deve ser de tamanho limitado, no que for possvel, s sequncias genticas necessrias para realizar a funo projetada; - no deve incrementar a estabilidade do organismo modicado no meio ambiente; - deve ser escassamente mobilizvel; - no deve transmitir nenhum marcador de resistncia a organismos que, de acordo com os conhecimentos disponveis, no o adquira de forma natural. C. Microrganismos geneticamente modicados - no-patognicos; - que ofeream a mesma segurana que o organismo receptor ou parental no reator ou fermentador, mas com sobrevivncia e/ou multiplicao limitadas, sem efeitos negativos para o meio ambiente. D- Outros microrganismos geneticamente modicados que poderiam incluir-se no Grupo I, desde que reunam as condies estipuladas no item C anterior. - microrganismos construdos inteiramente a partir de um nico receptor procaritico (incluindo plasmdeos e vrus endgenos) ou de um nico receptor eucaritico (incluindo cloroplastos, mitocndrias e plasmdeos, mas excluindo os vrus); - organismos compostos inteiramente por seqncias genticas de diferentes espcies que troquem tais seqncias mediante processos siolgicos conhecidos. Grupo II Todos aqueles no includos no Grupo I.
199
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
2. FORMULRIO PARA NOTIFICAO DE ACIDENTES Rotina para noticao de Acidentes de Trabalho no mbito da Fiocruz
Noticao de Acidentes de Trabalho (Art. 211/214 da Lei n 8112/90 do R.J.U.)
1 - Todas as Unidades devero ter a cha de noticao (em anexo) para o preenchimento quando for necessrio. 2 - Se houver qualquer necessidade de atendimento mdico, o trabalhador dever ser encaminhado ao Ncleo de Sade do Trabalhador-NUST, para que o referido atendimento seja feito. Em caso de necessidade de remoo, telefonar para 2598-4295. 3 - A noticao dever ser preenchida corretamente, com letra legvel (preferencialmente letra de forma), para que os dados possam ser digitados em microcomputador. Nenhum campo dever car em branco para que possamos ter certeza de que o item foi lido e respondido. Mesmo aqueles tens que no tenham resposta especca, como por exemplo o de nmero 17 (Descrio das Leses) quando o acidente no tiver causado nenhuma leso, devero a resposta no se aplica ou conter pelo menos um trao horizontal, caso contrrio poder parecer no resposta por distrao ou esquecimento. 4 - Em caso de leses leves em que o trabalhador julgue que no necessrio o atendimento mdico, a cha ser preenchida na Unidade onde ocorreu o acidente, pelo prprio trabalhador, por outro trabalhador que tenha testemunhado o acidente, por um representante da Comisso de Sade do Trabalhador ou pela chea imediata do trabalhador ou seu substituto. 5 - Quando houver necessidade de atendimento mdico e/ou de enfermagem, a cha dever ser preenchida pelos prossionais que participaram efetivamente do atendimento (mdico, enfermeiro, tcnico ou auxiliar de enfermagem, ou qualquer prossional do NUST), sendo entretanto indispensvel que a descrio das leses e a conduta prescrita sejam especicadas pelo(a) mdico(a). 6 - Todo acidente de trabalho em que haja bito, leso grave ou exposio a quaisquer riscos para outros trabalhadores e/ou contaminao ambiental dever ser imediatamente noticado por telefone CST (2598 4405). 7 - As chas devero ser arquivadas na prpria Unidade ou no NUST durante a semana e encaminhadas Coordenao de Sade do Trabalhador (CST) toda segunda-feira, com exceo daquelas referentes a acidentes graves onde ocorra morte, necessidade de internao hospitalar ou de interveno imediata no ambiente de trabalho, que devero ser encaminhadas CST imediatamente, para que as aes de vigilncia pertinentes sejam deagradas no mais breve espao de tempo. 8 - No preencher os campos direita da cha reservados para a codicao que devero ser preenchidos pela CST para processamento das informaes. 9 - Os incidentes e as situaes crticas devero ser objeto de relatrio mensal CST, especialmente nos casos em que haja risco sade dos trabalhadores.
200
FIOCRUZ
Noticao de Acidentes de Trabalho - (Art. 211/214 da Lei n 8112/90 do R.J.U.)
DATA DA NOTIFICAO:
Dados do Acidentado Nom Matrcula (Servidor RJU) ou CPF : Cargo/funo: Unidade: Dept (Laboratrio/Setor/ Sala): Pavilho: Andar:
/ 200
Horrio de trabalho: [ ] Integral [ ] Parcial [ ] Planto N [ ] Planto D [ ] Outro [ ] Ignorado Data de admisso: Vnculo: [ ] RJU [ ] COOTRAM [ ] Empresas de alimentao Data do acidente: [ ] at 30 dias [ ] de 1 a 12 meses Acidente : [ ] Tpico [ ] Trajeto / / Hora do acidente: [ ] de 1 a 5 anos [ ] de 5 a 10 anos Leso: [ ] Sim [ ] No [ ] Sim H quanto tempo trabalha com o agente especco do acidente: [ ] mais de 10 anos [ ] no se aplica bito: [ ] Sim [ ] No Quais? [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] No [ ] Outros [ ] Ignorado/ Sem informao [ ] Escadas [ ] reas administrativas [ ] Outros [ ] Ignorado/ Sem informao [ ] No Rudo Eletricidade Agentes Biolgicos Animais Outros: Ignorado/ Sem informao [ ] Bolsista Tempo na funo: [ ] Terceirizado [ ] Outros [ ] Ign/Sem informao [ ] Empreiteiras de Const. Civil [ ] Ignorada/ Sem informao [ ] Outra. Qual? Dia da semana:
Empresa (se terceirizado):
Acidente causado por agentes qumicos, fsicos ou biolgicos? [ ] Instrumental/ equipamento de Laboratrio [ ] Instrumental/ equipamento Hospitalar [ ] Instrumental/ equipamento de Jardinagem [ ] Instrumental/ equipamento de Const. Civil [ ] Instrumental/ equipamento de Ocina [ ] Equipamento ou produtos de limpeza Acidente devido a causas externas? [ ] Veculos [ ] Arma de Fogo Local do acidente: [ ] Hospital/ Centro de Sade [ ] Laboratrios [ ] Obras [ ] Instalaes Sanitrias
[ ] Produtos Qumicos [ ] Gs/ Poeiras/ Vapores [ ] Radiao [ ] Fogo [ ] Calor [ ] Frio [ ] Sim Quais?
[ ] Arma Branca [ ] Altitude [ ] reas externas na Fiocruz [ ] Ocinas [ ] Jardim/ Horto [ ] Via pblica (trajeto)
[ ] Cozinhas/ Restaurantes
[ ] Fbricas
201
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Descrio do Acidente: Natureza da Leso : [ [ [ [ ] ] ] ] Corte/ Perfurao Queimadura Esmagamento Fratura/ Entorse/ Luxao [ [ [ [ ] ] ] ] Choque Eltrico Envenenamento ou Intoxicao Reaes Analticas Sufocao [ [ [ [ [ ] Atropelamento ] Politraumatismo ] Afogamento ] Outros ] gnorado/ Sem informao
[ ] Contuso/ Distenso Muscular [ ] Cabea [ ] Pescoo [ ] Membro(s) Superior(es) [ ] Membro(s) Inferior(es)
[ ] Queda [ ] Face Anterior do Trax [ ] Abdomen [ ] Dorso [ ] Olhos 1- Sim 1- Sim
Parte(s) do corpo atingida(s): (se for o caso) [ ] No se aplica [ ] Outros [ ] Ignorado/ Sem informao 2- No 2- No [ ] Botas [ ] Outros 99- Ign 99- Ign
Existia equipamento de proteo no local do acidente? Na ocasio do acidente usava equipamento de proteo? Em caso armativo, quais os equipamentos? [ ] Capacete [ ] culos [ ] Mscara [ ] Protetor facial [ ] Luvas [ ] Avental [ ] Perneira [ ] Sapato de segurana
Houve necessidade de atendimento no local do acidente? Houve atendimento mdico no NUST ? Em caso armativo, especicar a conduta : [ ] Prescrio [ ] Medicao no momento [ ] Sutura/Curativo [ ] Repouso no momento [ ] Vacina [ ] Exames Complementares
1- Sim 1- Sim
2- No 2- No
99- Ign 99- Ign
[ ] Removido Hospital SUS [ ] Outros [ ] Ignorado/ Sem informao
[ ] Recusou atendimento/ medicao [ ] Encaminhamento Interno (Fiocruz) [ ] Encaminhamento Externo [ ] Removido Hospital Fiosade 1- Sim
Houve necessidade de remoo do local do acidente? Qual o tipo de veculo utilizado para remoo? [ ] Ambulncia da Fiocruz [ ] Ambulncia externa Houve abono de dias de trabalho? Atendimento feito por: [ ] Mdicos NUST [ ] Outros Mdicos Nome: Nome: [ ] Outros Prossionais do NUST [ ] Prof. de Enfermagem do NUST [ ] Carro particular [ ] Carro de servio
2- No
99- Ign
[ ] Outros [ ] Ignorado 1- Sim 2- No 99- Ign
[ ] Outros Prossionais [ ] Ignorado/ Sem informao
Noticante: [ ] NUST [ ] NUST-IFF [ ] NUST-FAR [ ] SRH [ ] Eng/Tc. Segurana [ ] Outro:
202
FIOCRUZ
3. CABINE DE SEGURANA BIOLGICA (CSB)
Critrios a serem observados em sua utilizao: Avaliao dos riscos biolgico e qumico do material a ser manipulado. Tipo de proteo desejada - pessoal, do material manipulado ou ambiental. Tipo de instalao requerida para o equipamento e a diculdade de execuo. Impacto sobre o sistema de refrigerao da sala e seus custos operacionais. Ter certicao de atendimento s normas nacionais ou internacionais. Custo de aquisio. Custo de manuteno e disponibilidade de peas de reposio. A proteo oferecida pela Cabina de Segurana Biolgica (CSB) depende de sistemas de ltrao de ar por ltros de alta ecincia (HEPA), dos sentidos e velocidades de uxos de ar, e da sua construo e instalao. Os ltros HEPA so ecazes apenas para materiais particulados, como p e aerossol, no tendo efeito sobre gases, vapores e odores. Da combinao destas caractersticas pode-se classicar as CSBs em trs classes. Classe I: Um uxo de ar do ambiente, entrando pela janela de acesso, impede a sada de aerossis da rea de trabalho e protege o trabalhador.Todo o ar que sai pelo sistema de exausto da cabina ltrado protegendo o ambiente.O material manipulado ca exposto ao ar sujo do ambiente. Classe II: Um uxo de ar ltrado, vertical e descendente sobre a rea de trabalho protege o material manipulado.Um uxo de ar do ambiente, entrando pela janela de acesso, impede a sada de aerossis da rea de trabalho e protege o trabalhador. Todo o ar que sai pelo sistema de exausto da cabina ltrado protegendo o ambiente. Pode ser de quatro tipos: A1: recircula 70% do ar utilizado e a exausto dos 30% feita na prpria sala. Espaos com ar contaminado podem ter presso positiva. A2: recircula 70% do ar utilizado e a exausto dos 30% feita na prpria sala, ou pode ser conectada a um sistema de exausto externo. Espaos internos com ar contaminado tm presso negativa ou so envolvidos por espaos sob presso negativa. (antiga B3). B1: recircula 30% do ar utilizado e a exausto dos 70%, captados pela grelha posterior da rea de trabalho, feita atravs de um sistema de exausto
203
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
externo. Espaos internos com ar contaminado tm presso negativa ou so envolvidos por espaos sob presso negativa. A manipulao de material voltil deve ser feita na poro posterior da rea de trabalho. B2: 100% do ar utilizado expelido atravs de um sistema de exausto externo. Espaos internos com ar contaminado tm presso negativa. Classe III: No possui janela de acesso rea de trabalho, este feito por cmara com dupla porta e por luvas de borracha integradas ao gabinete, protegendo o operador. O ar que entra ltrado, sai pelo sistema de exausto da cabina duplamente ltrado, protegendo o ambiente. A proteo do material manipulado depender da existncia de um uxo de ar vertical descendente, que nem todas possuem. Aplicao das CSBs em funo do tipo de risco e da proteo desejada
Classe e tipo de CSB Agente de risco biolgico classe 1 Agente de risco biolgico classe 2 Agente de risco biolgico classe 3 Agente de risco biolgico classe 4
IIA1
IIA2
IIB1
IIB2
III
III com uxo vertical
Trabalhador Produto Ambiente **** Trabalhador Produto Ambiente **** Trabalhador Produto Ambiente **** Trabalhador Produto Ambiente ****
Tabalhador Ambiente **** -
Trabalhador Trabalhador Produto Produto Ambiente Ambiente * Trabalhador Produto Ambiente * Trabalhador Produto Ambiente * -
Trabalhador Produto Ambiente ** Trabalhador Produto Ambiente ** Trabalhador Produto Ambiente ** -
Trabalhador Produto Ambiente **** Trabalhador Produto Ambiente **** Trabalhador Produto Ambiente **** -
Trabalhador Ambiente *** Trabalhador Ambiente *** Trabalhador Ambiente *** Trabalhador Ambiente ***
Algumas CSBs podem ser conectadas a um sistema de exausto externo, permitindo que os produtos biolgicos sejam preparados e manipulados com produtos qumicos volteis. A proteo contra estes produtos restrita. O trabalho exclusivo com produtos qumicos deve ser feito em capela de exausto qumica e no em CSB. * ** Proteger o trabalhador contra nmas quantidades de produtos volteis. Proteger o trabalhador e o produto, se manipulado na parte posterior da mesa de trabalho, contra nmas quantidades de produtos volteis.
*** Proteger o trabalhador contra pequenas quantidades de produtos volteis. **** Proteger o trabalhador e o produto contra pequenas quantidades de produtos volteis.
204
FIOCRUZ
4. INSTNCIAS RESPONSVEIS PARA BIOSSEGURANA
CTNBio Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana Setor Policial Sul -SPO rea 5 Quadra 3 Bloco B - Trreo Salas 10 14; Cep 70610-200 Braslia- DF Tel: (61)411-5516 FAX: (61)317-7475: (61) 317-7515, e-mail: ctnbio@mct.gov.br CTBio-FIOCRUZ Comisso Tcnica de Biosseguranca da FIOCRUZ Vice-Presidncia de Servios de Referncia e Ambiente, Fundao Oswaldo Cruz Av. Brasil, 4.365 - Pavilho Mourisco, Sala 18, Manguinhos, Cep 21045-900 Rio de Janeiro, RJ Tel. 55 (21) 2590-5114, 3885-1626/1651, Fax 55 (21) 2590-9539, Secretaria CTBio: Tel:55 (21) 3882-9157/9158, Fax 55 (21) 2590-9539, e-mail: secretariactbio@ocruz.br CIBio/BM Comisso Interna de Biossegurana de BioManguinhos Fundao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto de Tecnologia em Imunobiolgicos (BioManguinhos), Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnolgico, Pavilho Rocha Lima, sala 418, Av. Brasil, 4365 Manguinhos, Cep 21045-900 - Rio de Janeiro, RJ, Tel: (21) 3882-9536, Fax: (21) 2260-4727, e-mail: adriano@bio.ocruz.br CIBio-CECAL Comisso Interna de Biossegurana do Centro de Criao de Animais de Laboratrio Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Cep 21040-900 Rio de Janeiro - RJ, Tel: (21) 2598-4388 Ramal 218; 219; 227. Fax: (21) 2598-4388 Ramal 234 Fax: (21) 2590-2434, e-mail: scouto@ocruz.br CIBio-IFF Comisso Interna de Biossegurana do Instituto Fernandes Figueira Avenida Rui Barbosa, 716 - 5.andar - Flamengo - 22.250-020 Rio de Janeiro, RJ Tel: 2554-1865, e-mail: hscoelho@iff.ocruz.br
205
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
CIBio-IOC Comisso Interna de Biossegurana do Instituto Oswaldo Cruz Av. Brasil, 4365 Pavilho Gomes de Faria Salas 209 e 210 21040-900, Rio de Janeiro RJ Tel: (21) 2598-4440, Fax:(21) 2560-7864, e-mail: cibioioc@ioc.ocruz.br CIBio-INCQS Comisso Interna de Biossegurana do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Sade Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - RJ - CEP21045-900 tel: 3865-5151; 2573-1072; 2573-5624 e-mail: farprado@ocruz.br cibio@incqs.ocruz.br CIBio/CPqAM/FIOCRUZ Comisso Interna de Biossegurana do Centro de Pesquisas Aggeu MagalhesCampus da UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Cep 50670-420 - Recife PE, Tel: (81) 2101-2639 Fax: (81) 2101-2639, e-mail:cbio@cpqam.ocruz.br CIBio-CPqGM Comisso Interna de Biossegurana do Centro de Pesquisas Gonalo Muniz Rua Waldemar Falco, 121, Brotas; Cep 40296-710 - Salvador Bahia, Tel: 71-3356-8783, ramal 239, e-mail: mmoreno@cpqgm.ocruz.br CIBio-CPqL&MD-FIOCRUZ/Amaznia Comisso Interna de Biossegurana do Centro de Pesquisas Lenidas e Maria Deane Laboratrio de Biodiversidade em Sade, Rua Teresina, 476, Adrianpolis, Cep 69057- 070 Manaus - AM Telefones: (092) 621-2329 / 62123-23 Fax: (092) 621-2363, e-mail: soteromartins@amazonia.ocruz.br CIBio-CPqRR Comisso Interna de Biossegurana do Centro de Pesquisa Ren Rachou Avenida Augusto de Lima 1715 Barro Preto, Cep 30190-002 - Belo Horizonte - MG Tel: (31) 3295-3566 Ramal 127 Fax: (31) 3295-3115, e-mail: cibiocpqrr@cpqrr.ocruz.br
206
FIOCRUZ
NuBio Ncleo de Biossegurana Av. Brasil, 4036 7o andar S 716, Rio de Janeiro, RJ Tel: (21) 3882-9158/9157/9175, Fax: (21) 2590-5988, e-mail: secretarianubio@ocruz.br CEUA Comisso de tica no Uso de Animais Vice-Presidncia de Pesquisa e Desenvolvimento Tcnolgico, Fundao Oswaldo Cruz Av. Brasil, 4365 - Pavilho Mourisco - Sala 110, Manguinhos - Rio de Janeiro RJ, Cep 21045-900 Telefone: (21) 3885-1696, e-mail: walcampelo@ocruz.br CST Coordenao de Sade do Trabalhador Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - 21040-900, Rio de Janeiro, RJ Telefone: (21) 2598-4236 r.: 126, Fax:(21) 2598-4236 t.: 130, e-mail: jorgemhm@procc.ocruz.br NUST-FIOCRUZ Ncleos de Sade da FIOCRUZ Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Cep 21040-900, Rio de Janeiro, RJ Telefone: (21) 2598-4479, Fax:(21) 2598-4295, e-mail: denise@direh.ocruz.br Nust-IFF Ncleo de Sade do Instituto Fernandes Figueira NUST- IFF: Av. Rui Barbosa,716 sala 1 do SRH - Flamengo/RJ tel: 2554-1747 / Geral: 2554-1700, e-mail: denise@direh.ocruz.br Nust CPqRR Ncleo de Sade do Centro de Pesquisas Ren Rachou Av. Augusto de Lima, 1715 - Barro Preto, 39100-002 Belo Horizonte - MG Tel: (31)-3295-3566 - r:100, e-mail: ascampos@cpqrr.ocruz.br
207
FIOCRUZ
5. LINKS IMPORTANTES - BIOSSEGURANA
AGRICULTURA Agricultural Safety Information, North Carolina State University. www.ipmwww.ncsu.edu/safety/safety_contents.html Agricultural Safety Manual, Kansas States University. www.vet.ksu.edu/safety/contents.htm Associao Brasileira de Produtores de Semente ABRASEM, www.abrasem.com.br EPA Worker Protection Standard for Agricultural Pesticides - How to Comply www.ipmwww.ncsu.edu/safety/safety/epawps_intro.html Institute of Agriculture and Natural Resources, University of Nebraska, www.pested.unl.edu/ Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, www.ifas.u.edu National Agricultural Safety Database, www.agen.u.edu/~nasd/nasdhome.html National IPM Network, www.ipmwww.ncsu.edu Pesticide Poisoning Handbook - University of Florida, www.gnv.ifas.u.edu/ Transgnicos, www.genomic.com.br QUALIDADE DO AR Action on Smoking and Health (ASH), www.ash.org/ash American Lung Association, www.lungusa.org Biotech Agency, www.biotechagency.com EPA Indoor Air Quality Page, www.epa.gov/iaq BIOSSEGURANA CTBio Fiocruz, www.ocruz.br/ctbio CIBio IOC- Fiocruz, www.ioc.ocruz.br/biosseguranca.htm CIBio UFRRJ, www.ufrrj.br/institutos/ib/denf/cibio.htm
209
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Sistema de Informao em Biossegurana do Ncleo de Biossegurana da Fiocruz, www.ocruz.br/biosseguranca American Biological Safety Association (ABSA), www.absa.org Bioline, www.bdt.org.br/bioline/dbsearch?bioline.rpt.+readc+103 Biosafety Manual - University of Georgia, www.ovpr.uga.edu/bio/bsm/bsm_toc.html Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories CDC. www.orcbs.msu.edu/biological/BMBL/BMBL-1.htm Biosafety Reference Manual, www.aiha.org Biosafety Resources on the net, www.orcbs.msu.edu/absa/resource.html CDC, www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmb1/bmb1-1.htm CDC Conteno Primria de Produtos de Risco Biolgico. www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bsc/bsc.html CDC Cuidados Gerais em Sade no Laboratrio, www.cdc.gov/od/ohs/manual/labsfty.htm CDC Laboratrios Biomdicos e Microbiolgicos. www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmb1/bmb1-1.html Equipamentos de Proteo Individual, www.cdc.gov/od/ohs/manual/pprotect.html Fundao Oswaldo Cruz, www.ocruz.br Georgia University, www.ovpr.uga.edu/bio/bsm/bsm_toc.html GMAC/ Australia, www.dist.gov.au/science/gmac_prg.htm GMAC/Canada, www.ec.gc.ca Health Canada, www.hc-sc.gc.ca/main/lcdc/web/bmb/biosafety/index.html Health Ministry, www.cbi.pku.cn ICGEB, www.icgeb.trieste.it/biosafety/bsfcode.htm Index to the Health and Safety Manual - University of Toronto. www.utoronto.ca/safety/manindex.htm Indiana University Physical Plant Joint Safety Manual. www.indiana.edu/~phyplant/pubs/safeman.htm INRA, Frana, www.inra.fr Laboratory Biosafety - Reference Manual, www.safety.ubc.ca/Biosafety/Manual/manual.htm Laboratory Center for Disease Control, www.hc-sc.gc.ca/english/azindex.htm
210
FIOCRUZ
Laboratory Safety Manual - Oklahoma State, www.pp.okstate.edu/ehs/hazmat/labman.htm McGill Laboratory Biosafety Manual - McGill University, www.mcgill.ca/eso/biosafe Michigan State University (ORCBS) Biological Safety Pages . www.orcbs.msu.edu/biological/biolsaf.htm Mississippi University. www.sunset.backbone.olemiss.edu/depts/enviromental_biosafety/biosafety.html Monash University, www.monash.edu.au/resgrant/h_a_ethics/biosafety/guiddna.htma Montana University, www.umt.edu/ NIH, www.nih.gov Oakland University, www.www3.oakland.edu/ Oakland University Biosafety Manual, www.www3.oakland.edu/oakland/search/searchresu Pensilvnia University, www.oehs.upenn.edu/bio/bsm/ Philippine Biosafety Guidelines, www.dost.gov.ph/DOST/NCBP/biosafety.html Selection, Installation and use of Biological Safety Cabinets CDC. www.orcbs.msu.edu/biological/bsc/bsc.htm Stanford University, www.med.stanford.edu/ Swiss Guidelines for work with GMOs, www.biosafety.ihe.be/Guidelines/CH/GuideCH.html Tennessee University, www.ra.utk.edu/ora/sections/compliances/biosafe/dnatoc.2.html#3 UBC Laboratory Biosafety Reference Manual. www.safety.ubc.ca/Biosafety/manual/mainmenu.htm UC Irvine Environmental Health & Safety Biosafety Manual, www.abs.uci.edu/ University of British Columbia, www.safety.ubc.ca University of Edinburgh, www.safety.ed.ac.uk/ University of Texas, www.utep.edu/eh&s/ppm/biosafety/home.html University of Iowa, www.uiowa.edu/~hpo/reference/hpobsm1.htm SEGURANA QUMICA American Chemical Society, www.acs.org CDC Produtos Qumicos, www.cdc.gov/od/ohs/manual/chemical/chemical.html
211
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Chemical Abstract Service, www.info.cas.org Chemical Emergency Preparedness and Prevention Ofce (CEPPO). www.epa.gov/swercepp Chemistry Resources on the Internet, www.rpi.edu/dept/chem/cheminfo/chemres.html Michigan State University (ORCBS) NFPA. Tables. www.orcbs.msu.edu/chemical/nfpa/nfpa.html Michigan State University (ORCBS) Chemical Safety Pages. www.orcbs.msu.edu/chemical/chemical.html Revista Eletrnica do Departamento de Qumica UFSC, www.qmc.ufsc.br/qmcweb/ ESPAOS CONFINADOS 911 Web Pages, www.reweb.com American Rescue Team International (ARTI), www.amerrescue.org California EMS Authority, www.emsa.cahwnet.gov Disaster Planning Information, www.ag.uiuc.edu/~disaster/disaster.html Earthquake Essentials, www.quakesafe.com Earthquake Safety, www.spyderwebb.com/quake Emergency Management Guide for Business and Industry, www.fema.gov Emergency Response and Research Institute, www.emergency.com Michigan State University (ORCBS) Conned Space Program. www.orcbs.msu.edu/chemical/confspacemain.html Mine Safety & Health Administration (MSHA) - Working in Conned Spaces. www.wwwmsha.gov/S&HINFO/HHICMO2.HTM Rescue Training Associates Inc. www.rscuetrain.com/courseselections/connedadvanced.htm AMBIENTE Biodiversidade, www.biodv.org Biotech Agency, www.biotechagency.com Center for Environmental Health and Safety, www.cehs.siu.edu Earth Week Homepage, www.slip.net/~earthenv Environmental Risk, www.idrisi.clarku.edu
212
FIOCRUZ
Lixo, www.lixo.com.br Lixo Hospitalar, www.lixohospitalar.vila.bol.com.br/ Meio Ambiente. www.designslaboratorio.com.br/Pesquisa/meio_ambiente/meio_ambiente_titulo.htm Reciclagem 2000, www.geocities.com/reciclagem2000/ Reciclagem de Lixo, www.reciclarte.hpg.com.br/html Reciclveis, www.reciclaveis.com.br/ ERGONOMIA Cornell Ergonomics, www.ergo.human.cornell.edu CTD News, www.ctdnews.com Ergo Web, www.ergoweb.com The Ergonomics Home Pages, www.distrib.com/ergonomics/homepage.html SEGURANA - FOGO Fire/EMS Departments on the Net, www.relink.com Fire Wise Home Page, www.rewise.org PRIMEIROS SOCORROS American Red Cross, www.redcross.org Curso de Socorrista, www.rescue.hpg.com.br/ EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI e EPC) Backboards and Splintpaks, www.skippyboard Equipamentos de Proteo Coletiva, www.cristofoli.ind.br/; www.jvquipamentos.com.br/bio_fr_p.htm Equipamentos de Proteo Individual, www.laorellini_rs.com.br/ SEGURANA GERAL American Society of Safety Engineers, www.asse.org AT&T Environment, Health and Safety, www.att.com/ehs
213
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Biossegurana em Laboratrio de Microbiologia. www.cafb.hpg.com.br/micro/micro3.htm Inmetro, www.inmetro.gov.br International Product Safety News, www.safetylink.com Lightning & Chemical Storage Tanks, www.aware.msu.edu/links/lightning.html National Safety Council, www.nsc.org Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico, www.oecd.org Safety Connection, www.safetydeck.com Safety Online, www.safetyonline.net Vermont SIRI Web Page, www.hazard.com AGNCIAS GOVERNAMENTAIS / INFORMAES Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, www.anvisa.gov.br/ Associao Nacional de Biossegurana ANBio, www.anbio.org.br Canadian Center for Occupational Health and Safety (CCOHS), www.ccohs.ca Centers for Disease Control (CDC), www.cdc.gov Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana, www.mct.gov.br/ctnbio/bio Conselho Federal de Medicina, www.cfm.org.br/ Consumer Product Safety Commission, www.cpsc.gov Department of Transportation, www.dot.gov Embrapa, www.embrapa.br Environmental Protection Agency (EPA), www.epa.gov Federal Emergency - Management Agency (FEMA), www.fema.gov Food and Drug Administration (FDA), www.fda.gov Fundao Estadual de Meio Ambiente, www.feam.br Fundao Giacometti, www.giacometti.org.br Fundao Oswaldo Cruz, www.ocruz.br Government Printing Ofce, www.access.gpo.gov/su-docs Inmetro, www.inmetro.gov.br Institute Pasteur www.pasteur.fr/externe
214
FIOCRUZ
Michigan Department of Environmental Quality, www.deq.state.mi.us Mine Safety and Health Administration (MSHA), www.msha.gov National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). www.cdc.gov/niosh/homepage.html National Institutes of Health (NIH), www.nih.gov NFPA International, www.nfpa.org/ Nuclear Regulatory Commission (NRC), www.nrc.gov Occupational Safety and Health Administration (OSHA), www.osha.gov Rede Governo, www.redegoverno.gov.br MATERIAIS PERIGOSOS E SUBSTNCIAS TXICAS Material Safety Data Sheets, www.orcbs.msu.edu/chemical/msdsmain.html Michigan State University (ORCBS) Hazardous Waste Page(s) . www.orcbs.msu.edu/newhazard/hazardous.html SADE Allergy Archives, www.immune.com/allergy Cncer News, www.cancer.med.upenn.edu/cancer_news/index.html Chronic Fatigue Syndrome, www.santel.lu Health Issues Homepage, www.santarosa.edu/ HIGIENE INDUSTRIAL American Board of Industrial Hygiene (ABIH), www.ABIH.org American Industrial Hygiene Association (AIHA), www.aiha.org Army Industrial Hygiene Program, www.chppm-www.apgea.army.mil/ Safety Online, www.safetyonline.net/ishn LEPC Ingham County (Michigan) LEPC, www.AWARE.msu.edu/ LEPC/SERC Home Page, www.RTK.NET:80/lepc LEPC Information Exchange Home Page, www.lepcinfoexchange.com
215
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
DIVERSOS Bicycle Helmet Safety Institute, www.bhsi.org Bioatualidades, www.ronniebiologia.hpg.com.br Childrens Safety Zone, www.sosnet.com/safety/safety1.html Comisso Interna de Biossegurana - CIBio - ICB UFMG, www.icb.ufmg.br/~cibio/ Divulgao de Livros de medicina e Sade sem Custos, www.medicsite.com.br Family Disaster Plan, www.fema.gov/PDF/fdp.htm Fundacin Ciencia Para La Vida, www.cienciavida.cl/ Publicao de Materias, Artigos e Trabalhos Prossionais na Sade www.zpz.com.br/medicsite/materias.htm Temas de Cincia e Tecnologia, www.mct.gov.br/temas/biosseg RADIOPROTEO Michigan State University (ORCBS) Radiation Safety Page(s) www.orcbs.msu.edu/radiation/radsaf.html National Council on Radiation Protection, www.ncrp.com National Super Conducting Cyclotron Lab. (Michigan State University, www.nscl.msu.edu/ Radiation Protection Homepage - University of Michigan School of Public Health. www.sph.umich.edu/ University of Missouri - American Nuclear Society, www.nova.nuc.umr.edu/~ans SANEAMENTO National Sanitation Foundation, www.nsf.org NORMAS, LEIS E REGULAMENTAES Cdigo de tica, www.cfm.org.br/codetic.htm Leis Ambientais, www.amisap.hpg.com.br/leis.html Ministrio da Cincia e Tecnologia do Brasil, www.mct.gov.br/ctnbio/ctnbio.htm Segurana e Sade do Trabalho, www.mte.gov.br/sit/sst/default.htm TREINAMENTO American Safety & Health Training Inc., www.safety-training.com
216
FIOCRUZ
MEDICINA Aids, www.medcost.fr/ Alergias, www.swmed.edu/home_pages/allergy/ Allergy & Clinical Immunology International, www.hhpub.com/journals/aci/ Anatomia e Embriologia, www.gen.emory.edu/ Anatomia Interativa, www1.biostr.washington.edu Anatomopatologia (Epitlio), www.grad.twhsc.edu/courses/histo/epith/ Anatomopatologia (Ginecologia), www.anapath.necker.fr/ Angio Web, www.angioweb.fr/ Asma, www.ginasthma.com/ Asma na Mulher, www.pratique.fr/ Asmanet, www.asmanet.com Asma (Educao), www.crhsc.umontreal.ca/hscm/ Asma Prossional, www.ed.ac.uk/~rma/ Asthma Information Center, www.gsf.de/ Atlas de Endoscopia Digestiva, www.luz.ve/index2.html; www.mindspring.com/~dmmmd Bibliografa, www3.healthgate.com/ Cncer, www.nerdworld.com/users/dstein/ Cancerologia, OMS www.iarc.fr Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano, www.genethon.fr/ Cirurgia Vascular, www.planete.net/~jhirsch/ Citokinas, www.mdsystems.com/ CNRS, www.urec.fr/ Creutzfeldt - Jacob e Doena de Kuru, www.vh.org/providers/teachingles/cnsinfdisr2/text/ Doenas Prossionais, www.cdc.gov/niosh/ Doenas Pulmonares Raras, www.univ-lyon1.fr/germop/ Drogas e Toxicomanias, www.ofdt.fr/ Formao Contnua, www.medscape.com/
217
Procedimentos para a manipulao de microorganismos patognicos e/ou recombinantes - FIOCRUZ
Gastroenterologia, www.univ-lille2.fr/icare/ Ginecologia, www.crhsc.umontreal.ca/hscm/ Helicobacter Pylori, www.helico.com/ INSERM, www.inserm.fr/ Medicamentos, www.cri.ensmp.fr/biam/ Medicina e Sade, www.viasaude.com.br Medweb - Electronic Newsletters and Journals, www.cc.emory.edu/whscl/ National Cancer Institute, www.nci.nih.gov/ Nature Medicine, www.medicine.nature.com/ New England Journal of Medicine, www.content.nejm.org/ O medico e seus Direitos, www.zpz.com.br/medicsite Oncolink (University of Pennsylvania), www.cancer.med.upenn.edu/ Poluio e Sade, www.dsi.univ-paris5.fr/ Radiologia, www.med.univ-rennes1.fr/cerf/iconocerf/ Rinites, www.njc.org Sinusites, www.froedtert.com/grandrounds Tuberculose, www.cpmc.columbia.edu/tbcpp/ Urologia Online, www.urolink.fr/ World Health Organization, www.who.org/ MEDICINA VETERINRIA American Association for Laboratory Animal Science AALAS, www.aalas.org/ American College of Laboratory Animal Medicine ACLAM, www.aclam.org/ Animal Welfare Information Center AWIC, www.nal.usda.gov/awic/labanimals/lab.htm Bem Estar Animal diversos, www.frame.org.uk/index.htm Canadian Council on Animal Care CCAC. www.ccac.ca/english/welcome.htm Colgio Brasileiro de Experimentao Animal, www.meusite.com.br/COBEA/animais.htm Federation of European Laboratory Animal Science Associations FELASA. www.felasa.org/
218
FIOCRUZ
Foundation for Biomedical Research, www.fbresearch.org/ Manejo e uso de Animais de Laboratrio, www.labanimal.com Medicina Veterinria e Sade Animal, www.masaio.com.br Sistemas de Informao sobre a Diversidade de Animais de Laboratrio. www.fao.org/DAD-IS/ Sociedad Espaola para las Ciencias del Animal de Laboratorio SECAL. www.secal.es Taconic - Providing High Quality Animals & Services to the Biomedical Research Community. www.taconic.com/ The Jackson Laboratory, www.jax.org/ Univ Fed RS - Depto Medicina Animal - Setor de Animais de Biotrio e de Pequenas Criaes, www.ufrgs.br/favet/anilab/anilab.htm Zoonoses, www.mic.ki.se/Diseases/index.html BIOTICA Asociacin Argentina de Bioetica, www.aabioetica.org/ Ncleo de tica Aplicada e Biotica - ENSP FIOCRUZ. www.homestad.com/nucleo/index.html Ncleo de Estudos de Biotica, www.enf.ufmg.br/neb.htm Projeto ghente, www.ghente.org/ Revista Biotica, www.cfmorg.br/revbio.htm Univ Fed Minas Gerais Biotica, www.enf.ufmg.br/neb.htm
219
Projeto Grco/Editorao: Ruben Fernandes - Multimeios
Você também pode gostar
- 8POR - Guião Vanessa Vai À Luta PDFDocumento4 páginas8POR - Guião Vanessa Vai À Luta PDFCarla Nabais100% (9)
- Análise Crítica NR17Documento6 páginasAnálise Crítica NR17Junior Menezes100% (1)
- Aula 2 Bioquimica Da Transformacao Do Músculo Esquelético em Carne. Parte IDocumento19 páginasAula 2 Bioquimica Da Transformacao Do Músculo Esquelético em Carne. Parte IRodrigo AcioliAinda não há avaliações
- Clima UrbanoDocumento27 páginasClima UrbanoCarlos NanesAinda não há avaliações
- Estudoemcasa - CN 6 Ano Volume 2 3Documento16 páginasEstudoemcasa - CN 6 Ano Volume 2 3Cintia KellyAinda não há avaliações
- Tese Mestrado Ana Garcia - Autoridade e AfetosDocumento94 páginasTese Mestrado Ana Garcia - Autoridade e AfetosAna Paula GarciaAinda não há avaliações
- Possibilidades Tto Ligamento CruzadoDocumento12 páginasPossibilidades Tto Ligamento CruzadoMV Meybe ReginaAinda não há avaliações
- O Sistema CardiovascularDocumento1 páginaO Sistema CardiovascularLina MagalhaesAinda não há avaliações
- Fisioterapia Na Saúde Da CriançaDocumento214 páginasFisioterapia Na Saúde Da CriançaThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- O Amor Do LírioDocumento10 páginasO Amor Do LíriomariajaneAinda não há avaliações
- Esutes - Homilética 2Documento69 páginasEsutes - Homilética 2Daniel SouzaAinda não há avaliações
- Insetos Pragas Na Cultura Do Trigo PDFDocumento178 páginasInsetos Pragas Na Cultura Do Trigo PDFCarlosBiazotoAinda não há avaliações
- 2014 Ic UspDocumento89 páginas2014 Ic UspGeovania AlmeidaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino Biologia Aplicada A EFDocumento2 páginasPlano de Ensino Biologia Aplicada A EFWillian Reis100% (1)
- Sistema ArticularDocumento32 páginasSistema ArticularBianca SilvaAinda não há avaliações
- Fluxo - A Psicologia Da Felicidade - Mihály CsíkszentmihályiDocumento275 páginasFluxo - A Psicologia Da Felicidade - Mihály CsíkszentmihályiSolange Marques RolloAinda não há avaliações
- Floresta Tapauá Vol - I PDFDocumento344 páginasFloresta Tapauá Vol - I PDFJosé Soares Narbaes100% (1)
- Voluntary Product Standard PS 1-19 - PTBRDocumento67 páginasVoluntary Product Standard PS 1-19 - PTBRGisele PaimAinda não há avaliações
- 3 - Disturbios RespiratóriosDocumento64 páginas3 - Disturbios RespiratóriosJididias Rodrigues da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 8Documento21 páginasAula 8beccasp05Ainda não há avaliações
- Memorial BotânicoDocumento43 páginasMemorial BotânicoCintia RibeiroAinda não há avaliações
- CPE 721 Serie Exercicios 1Documento3 páginasCPE 721 Serie Exercicios 1Raymundo CorderoAinda não há avaliações
- Manual Aparelho Gastrointestinal 2012 FINALDocumento308 páginasManual Aparelho Gastrointestinal 2012 FINALAntoninho antonio Mostiço50% (2)
- FISPQ Loctite 510Documento13 páginasFISPQ Loctite 510aleAinda não há avaliações
- 01 - Love in Lingerie - Série Unzipped - ALessandra TorreDocumento249 páginas01 - Love in Lingerie - Série Unzipped - ALessandra TorreGabi C. SilvaAinda não há avaliações
- 10 Ética É Intervenção Do Profissional de Educação FísicaDocumento154 páginas10 Ética É Intervenção Do Profissional de Educação FísicaDavi GetulioAinda não há avaliações
- Fisiologia humana 2013 sistema imunologico - Vacinas- sorosDocumento109 páginasFisiologia humana 2013 sistema imunologico - Vacinas- sorosana.karolina0247Ainda não há avaliações
- Apostila de TDAH Site 13802781Documento28 páginasApostila de TDAH Site 13802781Erondy OliveiraAinda não há avaliações
- Simulado Ciências-7ano 03 - Tudo Sala de AulaDocumento2 páginasSimulado Ciências-7ano 03 - Tudo Sala de AuladalmolinAinda não há avaliações