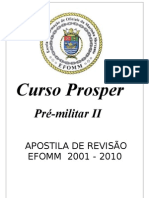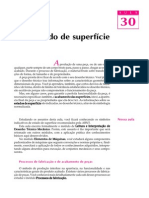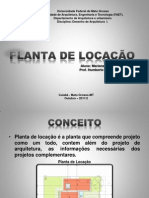Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
10112009-123904hooks 1
10112009-123904hooks 1
Enviado por
Filipe BritoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
10112009-123904hooks 1
10112009-123904hooks 1
Enviado por
Filipe BritoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ASPECTOS NO-CIVIS DA SOCIEDADEASPECTOS NO-CIVIS DA SOCIEDADE Espao, tempo e funo (*) Jeffrey Alexander
A discusso desenvolvida nos captulos anteriores teve o objetivo de trazer luz o conceito de sociedade civil, esse segredo embaraoso que a teoria soc ial vem guardando h tantos sculos, mas nunca foi examinado de modo sufici entemente emprico. As teorias da modernizao, do desenvolvimento e da racionaliza o partiram do pressuposto que, no curso do desenvolvimento social, estruturas abrangentes de solidariedade foram criadas como subproduto de outros proc essos estruturais mais visveis e mais familiares, tais como a urbanizao, a mercantilizao, a socializao, a burocratizao e a secularizao. Sugeri, diferentemente, que a construo de uma esfera mais ampla e inclusiva de solidariedade uma questo a ser estudada em si mesma. Desde que surge n as sociedades humanas, a sociedade civil tem se organizado, na medida em que efetivamente assume uma forma organizada, em torno de cdigos culturais peculiares. Ela consegue disseminar sua imagem idealizada das relaes soci ais porque organizada por determinados tipos de instituio comunicativa e p orque todo desvio daquelas relaes sancionado ou recompensado por determina dos tipos de instituio reguladora. A sociedade civil sustenta-se tambm em diferentes tipos de estrutura de personalidade e em certas formas incomuns d e interao. Minha anlise da cultura, das instituies e das interaes da sociedade civil seguiu uma linha sutil. De um lado, quis acentuar a independncia analtica
dessas esferas. Elas devem ser pensadas em si mesmas, como estruturas de existncia autnoma. Seu status no pode ser deduzido do estado das esferas que circundam a sociedade civil; elas no so meras variveis dependentes. Ao mesmo tempo sustentei que, do ponto de vista concreto, esses modos internos de organizao esto sempre profundamente interligados com o restante da soci edade. Existem sempre pontos de conexo com as atividades realizadas em outras es feras. Esses modos de organizao se expandem muito alm da sociedade civil, def inida em sentido estrito, estabelecendo padres e criando imagens em outras esfera s. Por outro lado, o que se passa nas demais esferas da sociedade, o que poss vel e o que no , afeta fundamentalmente a estrutura e o funcionamento da cult ura, das instituies e das interaes na sociedade civil. De fato, ao longo de toda a discusso anterior, sugeri que a tenso entre as referncias internas e as externas da sociedade civil no uma questo meramente terica, mas uma preocupao emprica e ideolgica fundamenta l. medida que a sociedade civil ganha autonomia diante das demais esferas, ela passa a definir relaes sociais de modo consistentemente mais universalista .A estrutura binria do discurso da sociedade civil sugere que, mesmo em circunstncias ideais, esse universalismo jamais alcanado, seno de modo muito aproximado. Alm disso, como a realidade social est longe de corres ponder ao ideal, a autonomia da sociedade civil incessantemente comprometida e limitada. As necessidades das esferas no-civis, das instituies e dos modos de interao impregnam a sociedade civil e a linguagem da represso passa a se r largamente utilizada. O universo do ns se estreita; o universo do eles se
amplia e assume mltiplas formas. Nega-se a admisso na sociedade civil n o s aos grupos situados fora do Estado nacional, mas tambm a muitos daqueles que esto dentro do Estado. A discusso se volta agora para a formulao de um modelo sistemtico de explicao desses processos contguos. Para tanto, as abordagens que denom inei idealistas da civilidade [civility] e da esfera pblica no sero de grande valia. Quer expressem crticas, quer se mostrem apologticas, essas abordag ens sugerem que a sociedade civil deve ser capaz de se manter por si mesma e d e eliminar a influncia das outras esferas, ou no se sustentar de forma algum a. De Aristteles e Rousseau a Arendt e Habermas, todos os pensadores idealist as se renderam utopia da sociedade civil, no como uma idia reguladora, ou um a norma, mas como uma expresso possvel da sociedade real. Eles afirmam q ue possvel construir um sistema social totalmente civil, solidrio, altrusta e inclusivo, um sistema homlogo prpria sociedade civil. Definem o mundo da economia como o domnio corrupto da necessidade, que simplesmente excl ui toda idia normativa de reciprocidade. Rejeitam o mundo da poltica como sendo intrinsecamente burocrtico, instrumental, sempre e em toda parte baseado a penas na dominao. Esses sistemas so entendidos como intrinsecamente incivi s, como colonizadores do mundo da vida de uma rbita da solidariedade que vista como condenada ao fracasso por ser, por definio, vulnervel a esferas dotadas de uma materialidade mais forte e mais slida. Da mesma maneira, a religio encarada como uma rbita intrnseca de dominao, porque fundada em um conhecimento circunscrito que se ope ao conhecimento tpico da esfera civil
, construdo por meio de um dilogo aberto e universalista. O erro dessas abordagens no est nas vigorosas crticas que dirigem esfer a no-civil. Na verdade, farei extenso uso dessas e de outras crticas na discusso que segue. Essas abordagens falham porque ignoram a complexida de e a necessidade da diferenciao funcional, no s no sentido institucional, mas tambm no moral. Quanto mais desenvolvida uma sociedade, maior divers idade de discursos e de esferas institucionais aparece. claro que a concretizao da sociedade civil restringida por essas esferas; mas, ao mesmo tempo, a rbit a civil estabelece trocas institucionais e morais com essas outras esferas, embo ra sejam de natureza muito diversa. Essas interpenetraes podem se dar nos do is sentidos: a sociedade civil tambm pode corromper as outras esferas, em vez de ser apenas corrompida por elas. Para evitar a falcia idealista, temos de admitir que a sociedade civil sempre se abriga nos mundos prticos das esfer as no-civis, e preciso estudar as composies e fragmentaes, isto , a sociedade civil real, mais que a verso idealizada que resulta de tais intercmbios. A sociedade civil se concretiza no real porque os sistemas sociais existem n um espao real, foram construdos num tempo real e devem desempenhar fune s que vo alm da construo da prpria solidariedade. Essa concretizao reduz o ideal de participao igualitria e livre compromete e fragmenta a rbita potencialmente civil , atribuindo status a qualidades primordiais que no tm nada a ver com o status ocupado por uma pessoa na sociedade civil como tal . Qualidades primordiais so as que se atribuem s pessoas pelo fato de
pertencerem a um determinado grupo, que visto como caracterizado por cer tas qualidades singulares inalcanveis para qualquer pessoa de fora do grupo. Essas qualidades podem ser definidas como anlogas a atributos fsicos tais como a raa e o sangue; mas quase todo atributo social pode assumir uma posio primordial. Dependendo da situao histrica, o idioma, a raa, as origens nacionais, a religio, a classe, a inteligncia e a regio foram usados como referentes primordiais. Em diferentes pocas e em diferentes lugares, se fixo ua convico de que somente os detentores de determinadas verses desses atri butos cumpriam as exigncias para se tornarem membros da sociedade civil. Desenvolveu-se a crena segundo a qual as pessoas e os grupos no-portador es dessas qualidades so incivis e no podem ser admitidos na sociedade. Dess a maneira, civil se torna o oposto de primordial. Na verdade, naturalmente, a prpria introduo de critrios especficos , em si mesma, incivil. A expres so primordialidade civil contraditria em seus termos. Espao: a geografia da sociedade civil Tanto filsofos quanto leigos idealizam a sociedade civil como um espao universalista e abstrato, um mundo aberto, ilimitado, um horizonte sem fim. Mas a verdade que o territrio elemento bsico de qualquer sociedade histric a realmente existente. O territrio converte o espao da sociedade civil num lugar particularizado. Na verdade, a sociedade civil s pode se tornar nica e significativa como um lugar especfico. No se trata apenas de um lugar, ou de qualquer lugar, mas de nosso lugar, um centro, um lugar que diferente do s lugares situados fora daquele territrio. Pertencer a esse lugar central passa a ser uma qualidade primordial. Na medida em que se torna primordial, o terri
trio divide e se vincula ao discurso binrio da sociedade civil. Somente aqueles que tm os ps fincados na terra sagrada so tidos como aptos para o exerccio d a liberdade e, com isso, as instituies e as interaes da sociedade civil se desvirtuam e se segmentam. O nacionalismo pode ser visto, nesse sentido, como a corrupo do espao demarcado pelos limites territoriais dos Estados. claro que a civilidade sempre esteve circunscrita por centros, mas antes do sculo XVI esses territrios primordiais eram entendidos de maneira mais localizada; tratava-s e de aldeias, cidades, regies ou simplesmente reas fsicas habitadas por tribo s e redes extensas de parentesco. Desde o Renascimento, porm, a idia de territrio comeou a ser entendida do ponto de vista nacional. Pertencer a u m lugar significava ter uma ligao com o territrio nacional. importante notar que essa bifurcao geogrfica era considerada verdadeira qualquer qu e fosse a definio do territrio nacional: uma comunidade nacional de lngua e sangue, como no caso alemo, ou uma comunidade universal e abstrata de id ias, como a Frana ps-revolucionria. Qualquer que fosse a definio, apenas o s membros de uma nao eram considerados capazes de racionalidade, honrad ez, sinceridade e civilidade; quem pertencesse a outras naes no possua essas qualidades. Pertencer a outros territrios implicava desonestidade, desconfia na e dissimulao. Os ltimos eram os inimigos naturais dos primeiros. Essa extraordinria limitao imposta ao universalismo teve conseqncias extraordinrias para a histria real das sociedades civis. Uma delas o contnuo entrelaamento entre sociedades civis concretas e guerra, a express o ltima de relaes do tipo incivil. Kant achava que as democracias no faria m
guerra umas contra as outras; a seu ver, as qualidades de universalismo e racionalidade que lhes eram prprias fariam com que se inclinassem mais pa ra o dilogo do que para a fora e as impediriam de se conduzir de modo estereo tipado e brutal com relao aos povos colocados do outro lado. Mas a virtude democrtica de outras naes sempre questionvel e a bifurcao territoria l do carisma civil torna muito mais difcil discernir a civilidade dos outros. Isso explica por que, ao longo da histria das sociedades civis, a guerra tem sido uma obrigao sagrada; fazer guerra contra populaes de outros territrios tem sido uma tarefa ao mesmo tempo nacional e civilizadora. Atenas, a primeira democracia verdadeira, embora limitada, cuja polis ainda hoje um modelo para as sociedades civis, esteve permanentemente em guerra contra as cidades-es tado vizinhas, lutando contra o barbarismo dos territrios estrangeiros. Nas cidades-estado da Itlia renascentista, a glria militar era uma virtude essencial e suas populaes defendiam e expandiam os limites de suas socie dades por meio da guerra contra comunidades civis estrangeiras, embora igualme nte civis em seu contexto nacional. A expanso imperial das naes do norte eu ropeu, entre os sculos XVI e XIX, teve sem dvida razes econmicas; mas tamb m se inspirou na urgente necessidade de levar a civilizao aos povos inimigos da civilizao, que no haviam tido a sorte de se desenvolver na mesma rea do mundo em que os europeus do Norte se haviam constitudo. Mas a grande repblica imperial, como denomina Raymond Aron, que d emonstra esta bifurcao territorial da civilidade de maneira mais patente. Quando ingleses e franceses travaram uma guerra que durou do sculo XVI at o sc ulo XIX, formavam sociedades muito parecidas em aspectos essenciais, mas ca da uma
delas considerava possuir uma dimenso fundamentalmente civil, seno democrtica, da vida social. As elites e os homens comuns dessas naes es tavam igualmente convencidos de que somente seus territrios nacionais lhes perm itiam respirar a liberdade. Por acaso teriam sido outras as razes que levaram a Frana napolenica a impor guerras de libertao nacional, colocando na m esma categoria de impureza os cidados escravizados de naes to diversas qua nto o Egito e a Alemanha, para no falar da Itlia e mesmo, potencialmente, da pr pria Inglaterra? Isso para no mencionar a secular histria militar dos to democrticos Estados Unidos, onde toda guerra foi travada como um ritual d e sacrifcio para converter os oprimidos de outros pases em americanos e torn-los livres. No quero dizer com isso que muitas dessas guerras no te nham sido, de fato, exerccios de autodefesa ou de libertao nacional. Mas, na realidade, acredito que h uma notria associao entre territrio nacional e discurso binrio das sociedades civis e que essa associao tem incentivado a deflagrao, por toda a parte, de guerras cruis com fins punitivos. A interpretao nacionalista da civilidade, alm disso, tem resultado em fragmentaes internas. Ela permitiu que se construsse uma representao d os excludos da sociedade civil como estrangeiros e como aliados dos inimigo s do territrio nacional, contra os quais se trava a guerra. Em outras palavras, os excludos so freqentemente vistos no s como incivilizados, mas como verdadeiras ameaas segurana nacional. Nos Estados Unidos, isso tomou a forma do nativismo que John Higham define como a profunda rejeio a uma m inoria interna com base em suas ligaes com o estrangeiro. No curso da histria americana, praticamente todos os grupos imigrantes foram objeto dessa construo, desde os ndios at os afro-americanos, dos imigrantes catlicos aos
judeus, dos alemes na Primeira Guerra Mundial aos japoneses durante a Se gunda Guerra. No preciso multiplicar os exemplos, nem explicar como o anti-semitismo francs fez de Dreyfuss um espio alemo e o nazismo germ nico transformou a nao judaica no emblema de uma conspirao capitalista internacional que ameaava a independncia do Estado alemo. Esses fatos s o bastante conhecidos, mas suas implicaes tericas no esto bem compreen didas. O problema no se reduz ao fato de que extremistas e fundamentalistas tenh am tantas vezes ameaado a tranqilidade da vida democrtica. A questo remet ea uma ordem sistmica muito mais ampla. Como a sociedade civil fixada territorial e espacialmente, ela produz seus prprios inimigos. At mesmo na mais civil das sociedades o discurso da liberdade territorialmente bifurcado. Tornando a impuridade primordial, es sa bifurcao torna a represso mais provvel. por isso que, em sua luta pela incluso no universo da sociedade civil, os excludos muitas vezes tentam reconstruir a representao de si mesmos como patriotas. Durante a ascenso do anti-semitismo alemo em Weimar, as organizaes judaicas propagaram o f ato de que centenas de seus compatriotas haviam dado suas vidas pelo kaiser. Dura nte a longa batalha que travaram em defesa de sua incluso social, os defensores d a comunidade afro-americana enfatizaram com orgulho que os negros haviam participado voluntariamente de todas as grandes guerras americanas, a come ar pela prpria Revoluo Americana. Segundo T.H. Marshall, foi a participa o patritica da classe operria inglesa na Segunda Guerra Mundial que criou a solidariedade entre classes, responsvel pela criao do welfare state no ps-guerra.
Se o nacionalismo restringe a civilidade por bifurcar o espao exterior de uma nao, o regionalismo recria uma limitao semelhante, embora s vezes me nos violenta, no seu espao interno. No so apenas as naes que constituem centros; cidades e regies internas evidentemente tambm o fazem. Esses ce ntros domsticos tornam primordial o discurso da liberdade, construindo a representao da periferia como um espao no qual o carisma da civilidade nacional est ausente, uma espcie de territrio estrangeiro dentro da prpria nao. Cidade e campo foram durante sculos uma das mais perniciosas dist ines desse tipo. Na Alemanha, o provrbio burgus o ar da cidade nos faz livres pretendia ser muito mais que uma observao sociolgica acerca dos efeitos dos direitos legais. Em toda a histria das sociedades civis europias, os camponeses foram comparados a animais, ou na inigualvel frase de Karl M arx a lumps of clay [amontoados de barro]. Divises regionais como Norte e Sul , Leste e Oeste, sempre tiveram em todos os lugares uma forte carga de significados. Essas divises regionais fragmentaram a sociedade civil das naes, sua cultura, suas interaes e muitas vezes suas instituies reguladoras e comunicativas. Sobrepondo-se a outros tipos de excluso econmica, tnica, poltica ou religiosa , formaram a base dos movimento s repressivos de cerceamento, da. construo de guetos, dos exerccios agressi vos e brutais de incorporao forada e dos movimentos separatistas e guerras civ is. Tempo: a sociedade civil como sedimentao histrica Assim como nascem num espao real, as sociedades civis so sempre criada s num tempo real. A idia utpica da civilidade sugere um tempo eterno em que as pessoas sempre foram e sempre sero as mesmas. Mas, na realidade, toda so
ciedade civil teve um inicio, provocado por algum, num tempo determinado, e, praticamente em todos os espaos territoriais, diferentes regimes de sociedad e, mais ou menos civis, comeam e recomeam sem cessar. A importncia dessa temporalidade est no fato de que ela pode ser transfor mada em qualidade primordial. As origens de quase todas as comunidades so ima ginadas como tendo ocorrido num tempo sagrado, um tempo mitolgico descrito nas narrativas e reproduzido nos rituais comemorativos. Os fundadores da comu nidade so igualmente sacralizados. A eles, os que estavam l no comeo, se atrib ui um carisma do tempo. Os mitos de origem lhes conferem no s uma posi o elevada, como tambm explicam seus feitos pelas caractersticas primordiais do grupo fundador: religio, raa, classe, lngua, pas de origem- se este for diferente do pas que fundaram mais tarde. Esses mitos contam a histria dos fundadores pelo discurso de liberdade, mas a aptido para o exerccio da liberdade percebida sob uma perspectiva temporal. Costuma-se atribuir exclusivamente s caractersticas primordiais do grupo fundador o sucesso n a fundao da sociedade nacional num tempo histrico de tal maneira propcio . Se as caractersticas dos fundadores so equiparadas s categorias puras da sociedade civil, existe uma lgica, no sentido cultural, em equiparar as qualidades dos que vieram depois, na medida em que eram diferentes dos atr ibutos dos fundadores, s categorias impuras desse discurso civil. Em outras palavr as, a temporalidade cria uma ordem de civilidade no tempo, uma ordenao de qualidades categricas que se transforma no fundamento de reivindicaes d e privilgio no interior da prpria sociedade civil. Na histria dos Estados Unidos, todo novo grupo de imigrantes foi considerado impuro com relao
a algum critrio essencial. A dificuldade de falar ingls corretamente tem sido atribuda a uma inaptido para a racionalidade e a clareza de pensamento. As redes extensas de parentesco, tpicas das comunidades tnicas pioneiras, for am vistas como prova de um comportamento fechado, oposto a uma conduta fran ca, e geradoras de faccionalismos contrrios livre competio; foram tidas como prova de dissimulao, antagnicas franqueza e confiana. Prticas religiosas diferentes so invariavelmente consideradas inferiores, descritas como dominadas pelo emocionalismo, em vez do autodomnio, e marcadas p ela hierarquia, em vez da igualdade. A conseqncia disso no s a discriminao, mas tambm a rejeio e o medo. Seu resultado a suspeita de que os grupos que chegaram mais tarde no se ajustam s categorias da prp ria sociedade civil. Ser que os novos imigrantes irlandeses algum dia se tornar o bons americanos? E os judeus? E os novos imigrantes chineses e japoneses ? Como o conseguiro, se so to diferentes de ns? Mas, se a inevitvel chegada cria tais bifurcaes, a passagem do tempo pod e atenu-las. A sucesso de migraes tnicas no apenas um fato econmico , produto de presses ecolgicas e materiais que permitem que, enquanto um grupo deixa um lugar, outros nele ingressem. Trata-se de um processo de aprendi zagem cultural que pode ser trabalhado com o tempo. A familiaridade no leva a u m perfeito entendimento, mas conduz identificao, um processo que intercal a tempo e espao. A permanncia por longo tempo no espao primordial muita s vezes limpa e purifica certas qualidades primordiais, fazendo com que caracterstic as antes consideradas essencialmente distintas passem a ser vistas como varia
es de um tema comum. Mas esse no um processo evolutivo que se desenrole automaticamente. Estabelecer pontes, criar vnculos e entrecruzamentos u m projeto empreendido pelos prprios grupos temporalmente desprivilegiados. Lanando mo das instituies comunicativas e reguladoras da sociedade civi l, eles reivindicam ser reconsiderados em termos mais civis. Na literatura tnica, por exemplo, os escritores reconstroem a representao das qualida des primordiais de seu grupo como estando inseridas numa tradio comum, ta nto no sentido esttico quanto no sentido moral. Fornecem referncias alternativas dos traos primordiais, usando o humor, a tragdia ou o romance para afastar o perigo e criar um sentimento de familiaridade. Movimentos sociais e personalidades muito conhecidas do grupo imigrante se apresentam como po rtadores das qualidades civis tradicionais. Alegam que, assim procedendo, contribue m para revitalizar o discurso nacional da liberdade, e que suas qualidades tnicas s o anlogas e complementares s prprias caractersticas dos grupos fundadore s. Para compreender adequadamente as implicaes da temporalidade preciso , porm, levar em conta que as origens de uma comunidade civil tambm so reconstr udas de um modo muito menos voluntarista que as qualidades pacifistas da imigr ao. A concretizao temporal das sociedades civis significa que seus fundadores deslocaram outras sociedades existentes em um tempo anterior. As novas sociedades podem ter se originado de insurreies revolucionrias contra um regime mais conservador ou mais radical; podem ter sido conseqncia da conquista militar de povos nativos ou grupos nacionais; podem ter envolvido a dominao por meio de compra, por tratados comerciais ou aquisies polti cas
menos diretas. Quando o Parlamento radical ingls organizou sua revoluo poltica contra a monarquia, no se limitou a acentuar a expanso da socieda de civil; tambm apresentou a revoluo como a vitria de um grupo tnico diferente, os anglo-saxes, sobre a linhagem consangnea real. Os revolucionrios franceses no fizeram apenas uma insurreio universal e democrtica: eles proclamaram uma vitria dos gauleses sobre os francos. A revoluo americana tambm trouxe consigo um deslocamento temporal; foi no s uma vitria sobre os povos aborgines, mas tambm sobre os grupos tnicos de origem no anglo-sax. Qualquer que tenha sido o tipo de deslocamento, as caractersticas primordiais do grupo dominado so estigmatizadas; eles so representados pelas categorias impuras do Estado civil vitorioso. A sociedad e civil , desde suas origens, fragmentada e distorcida, e freqentemente da maneira mais abominvel. As autopercepes distorcidas da sociedade civil induzem a reaes em cade ia que muitas vezes incitam a refundaes igualmente violentas. As repercusses posteriores dessas reconstrues podem ser fonte de deslocamentos fsicos e da formao de guetos. O apartheid na frica do Sul ocorreu depois que os afrikaaner refundaram a antiga sociedade criada pelos ingleses. Quando os nazistas fundaram a nova Alemanha como um Estado ariano e cristo, o resu ltado foi no s o deslocamento fsico e a coero, mas o extermnio em massa. A s refundaes podem dar origem opresso e a sculos de lutas de libertao , que freqentemente conduzem guerra civil, como fez o sistema racial de castas americano, intrnseco fundao de uma sociedade civil to profundamente democrtica. Evidentemente as bifurcaes temporais das sociedades civis se entrelaam com as
fragmentaes fundadas no territrio. Principalmente porque ambas implica m construes que tomam como referncia os fundadores das sociedades nacio nais. As qualidades primordiais que as sociedades identificam com a liberdade se ref erem aos fundadores que estavam l no comeo. Quando os grupos excludos r eformulam a representao de si mesmos como patriotas, como povos cujas contribuie s para a segurana nacional foram injustamente ignoradas, eles esto tentando se inserir simbolicamente no s no espao particular de uma nao, mas tamb m no seu tempo histrico. Como a memria histrica preserva o carisma do tempo, ela sempre contestada pelos grupos deslocados temporalmente. Os aconteciment os originrios, assim como os eventos crticos posteriores, so permanentement e reconstitudos para legitimar uma nova definio primordial da civilidade. O s grupos que foram excludos ou dominados reconstroem a histria de sua na o, de modo a descrever a civilidade de forma mais abrangente e expansiva; os gru pos ameaados tentam manter definies primordiais mais restritas, ou mesmo t endem a estreit-las ainda mais. Os movimentos sociais se utilizam das instituies comunicativas para persuadir a opinio pblica de que preciso rever a histria; recorrem s instituies reguladoras para forar a opinio pblica a tornar ilegais as leis decorrentes dessa verso obsoleta da histria. Funo: a destruio das relaes de fronteira e sua reconstruo As sociedades so mais que coletividades localizadas no tempo e enraizada s no espao. So sistemas sociais de imensa complexidade, cujas instituies se tornam cada vez mais especializadas, separadas umas das outras no s pela diferenciao de sua organizao fsica e de sua equipe administrativa, mas
tambm pelas normas que as informam e regulam. A possibilidade de difere nciao institucional e cultural, gerando esferas cada vez mais isoladas, reside, naturalmente, no prprio cerne da noo de sociedade civil que acabei de examinar. Sua capacidade de justia, igualdade e liberdade, sua prpria existncia, depende da criao de um espao que possa se situar fora de esfe ras mais restritivas. Porm, conforme venho sugerindo de uma maneira ou de ou tra ao longo deste trabalho, essa autonomia deve ser compreendida de modo dialti co. A prpria independncia, que torna possvel a sociedade civil, tambm a torna mais vulnervel. H uma tendncia perigosa e essencialmente ilusria na teoria sociolgica clssica e moderna a compreender a diferenciao funcional como um proce sso que contribui para a estabilidade e a individualizao. Ela pode ser integradora e enobrecedora, mas nem sempre assim. Se a solidariedade e o universalism o da sociedade civil constituem uma dimenso do sistema social, essas proprieda des so postas em xeque por esferas contguas voltadas para interesses funcionai s radicalmente distintos e que funcionam de acordo com objetivos contraditri os, utilizam diferentes tipos de meio e produzem relaes sociais de uma espci e totalmente diferente. O objetivo da esfera econmica a riqueza, no a justi a no sentido civil; ela se organiza em torno da eficincia, no da solidariedade, e depende da hierarquia, no da igualdade, para concretizar seus objetivos. A esfera poltica gera poder, no reciprocidade; requer lealdade, no crtica, e busca o exerccio de formas coercitivas, ainda que legtimas, de controle social. A esfera religiosa produz a salvao, no distribui justia terrena; se fundamenta numa desigualdade bsica, no s entre Deus e os fiis humanos
, mas entre os representantes de Deus, seus pastores e aqueles a quem devem guiar e instruir na terra; e no importa at que ponto a mensagem seja igualitria ou reformista, o prprio carter transcendental da relao religiosa exige o ritua l e a reverncia, no a reciprocidade ou o dilogo transparente. Na famlia, a espcie se reproduz no sentido biolgico e moral; a famlia se organiza em t orno do erotismo e do amor, no da conteno e da dvida; sua organizao depe nde fundamentalmente da deferncia. Cada uma dessas esferas no-civis cria tipos funcionais especficos de desigualdade. Ao longo da histria, os pais tm exercido poder sobre as mul heres e as crianas dentro das famlias; proprietrios e gerentes organizam, dirige me comandam trabalhadores na economia; polticos e burocratas exercem domi nao sobre os que no ocupam postos de mando no Estado; chefes religiosos, padr es, rabinos ou sheiks detm uma autoridade categrica sobre os leigos em suas congregaes. Essas acumulaes privilegiadas de poder podem ser conside radas como usurpaes, mas no necessariamente assim. No fcil imaginar c omo essas esferas no-civis poderiam funcionar com eficcia e independncia se no fossem os especialistas cuja autoridade lhes deu condies de coordenar e comandar relaes institucionais, isto , governar. Na verdade, possvel a existncia de formas justas e legtimas de desigualdade, quando o poder sobr e os bens e os processos dominado por pessoas de percepes diferentes e habilidades efetivamente especializadas. O problema que as acumulaes privilegiadas de poder nessas outras esfer as so sistemtica e rotineiramente traduzidas na linguagem da prpria sociedade ci
vil. A mesma coisa acontece com os bens sobre os quais se fundamentam essas acumulaes. Os prprios bens possuem um carisma especial, assim como a s posies de poder que dispem de autoridade para falar e agir em seu nome. O dinheiro importante no s por causa de seu poder instrumental, mas porqu e sua posse representa uma conquista distinguida e respeitada na vida econmica. O papel da graa na esfera da salvao, da autoridade patriarcal na famlia ou do poder na rbita poltica deve ser compreendido de maneira semelhante. Mas , em virtude desse carisma, tais atributos so representados no s como posses valiosas adquiridas em esferas especializadas, mas tambm como qualidades dotadas de significado na prpria sociedade civil. A estratificao existente nessas outras esferas se transfere para os discursos bifurcados da sociedade civil. Ser rico, por exemplo, muitas vezes insinua virtude moral e, nessa medida, se traduz para o discurso da liberdade. Ser pobre, por outro lado, ex pe muitas vezes a pessoa a uma degradao, a construes que a conspurcam de vrias maneiras. Num certo sentido, essa traduo no fcil, j que envolve comp lexas cadeias analgicas que atravessam diferentes cdigos semiticos, transform aes metafricas e narrativas que estabelecem relaes de homologia entre motiv aes, relaes e instituies em diversas instncias da vida. Em outro sentido, a traduo muito simples. As acumulaes privilegiadas de bens nas esferas no-civis so usadas para adquirir poder e reconhecimento na sociedade civil , para ter acesso a seus discursos, para controlar suas instituies e para reconstruir a representao das elites de outras esferas como participantes ideais dos processos interativos da vida civil. Tratarei essas relaes de fronteira como inputs facilitadores,
interferncias destruidoras e reparaes civis. As tenses de fronteira entre as esferas podem desfigurar seriamente a sociedade civil, chegando a ameaar a possibilidade de uma vida social verdadeiramente democrtica. Es ses fatores de deturpao so interferncias destruidoras; para enfrent-las a sociedade civil efetua reparaes, procurando introduzir regulaes e reform as nas esferas no-civis. Mas essa interpenetrao subsistmica tambm pode s e processar na direo inversa. Alguns dos bens e formas sociais produzidos p elas outras esferas efetivamente facilitam a concretizao de uma vida social mai s civil. Tericos e polticos conservadores, para no falar das elites das prprias esferas no-civis, tendem a acentuar os inputs facilitadores das esferas no-civis, no sentido de criar uma vida social positiva. Os liberais e a esquerda radical tendem a ressaltar as interferncias destruidoras que essas interpenetraes necessariamente provocam, bem como as reparaes que, p or conseguinte, precisam ser realizadas. Nenhum desses argumentos pode ser i gnorado na tentativa de explicar teoricamente a sociedade civil em geral. Que a esfera econmica facilita a construo de uma sociedade civil em importantes aspectos um fato histrico e sociolgico inegvel. Quando um a economia estruturada por mercados, h um estmulo para o comportamento independente, racional e autocontrolado. Por isso, os primeiros pensadores d o capitalismo, de Montesquieu a Adam Smith, exaltaram as sociedades de mer cado como um antdoto seguro e civilizador para as glrias militares da vida aristocrtica. Essa tambm a razo pela qual as sociedades recm-sadas do comunismo apostaram na construo de sociedades de mercado em suas nov as democracias. Independentemente dos mercados, a prpria industrializao tambm pode ser vista por uma ptica positiva. Criando uma enorme oferta de bens materiais baratos e de fcil disponibilidade, a produo em massa reduz as
injustas distines de status que separam ricos e pobres, nas economias de recursos mais limitados. Por intermdio do consumo, um nmero crescente de pessoas pode expressar individualidade, autonomia e igualdade e, com isso, participar da herana simblica da vida cultural. Recursos facilitadores so tambm proporcionados pela produo. Marx foi um dos primeiros a assinal ar que as formas complexas de trabalho cooperativo exigidas pelas empresas produt ivas podem ser vistas como formas de socializao, nas quais as pessoas aprende ma respeitar e a confiarem seus parceiros na esfera civil. Na medida em que a economia supre a esfera civil de recursos como indepen dncia, autodomnio, racionalidade, igualdade, auto-realizao, cooperao e confia na, as relaes entre essas duas esferas transcorrem sem atritos e a diferenciao estrutural, por sua vez, parece causar integrao e individualizao. Mas, to do mundo tem certeza, exceto os mais empedernidos defensores do livre merca do, uma economia industrializada tambm cria obstculos ao projeto da sociedade civ il. Na linguagem usual das cincias sociais esses bloqueios so conhecidos co mo desigualdades econmicas, divises de classe, diferenas nas condies habitacionais, mercados de trabalho duais, misria e desemprego. Esses fato s somente se cristalizam em termos sociais porque so vistos como interfernc ias destruidoras na esfera social. Os critrios econmicos colidem com os critri os civis. A estratificao dos produtos humanos ou materiais da economia estreita e polariza a sociedade civil. Abre um amplo espao para a linguagem da repre sso, que conspurca e degrada o fracasso econmico. Embora no haja nenhuma r elao
intrnseca entre fracassar na conquista de distino na esfera econmica e n o corresponder s expectativas da sociedade civil essa falta de relao a razo de ser da construo de uma esfera civil independente , essa conex o continuamente realizada. Se uma pessoa pobre, tende a ser vista como irracional, dependente e preguiosa, no s na economia, mas tambm na sociedade. Em outras palavras, a relativa assimetria de recursos inerente vi da econmica se traduz em projees sobre a competncia ou incompetncia na esfera civil. Para os que no so ricos, nem possuem bens econmicos, muitas ve zes difcil conseguir uma comunicao satisfatria na esfera civil, fazer valer se us direitos diante das instituies reguladoras e interagir com outras pessoas economicamente bem-sucedidas. Por ltimo, o poder material em si mesmo, um poder acumulado exclusivamente na economia, quase sempre se transforma numa f onte imediata e eficiente de demandas na sociedade civil. Embora a profissionali zao do jornalismo tenha separado a propriedade do controle dos rgos de impre nsa, os capitalistas podem comprar os jornais, instituies comunicativas essencia is para a sociedade civil, e alterar profundamente a maneira como constroem o cenrio social. Contudo, na medida em que a sociedade civil existe como uma fora indepen dente, os atores economicamente desprivilegiados contam com uma dupla insero . No so apenas os derrotados da economia; eles tm condies de reclamar respeito e poder a partir de sua posio de membros parcialmente integrados na socied ade civil. Apoiando-se no universalismo implcito da solidariedade na sociedade civil, eles acreditam que essas demandas deveriam ser atendidas. Recorrem s
instituies comunicativas da sociedade civil, como os movimentos sociais que defendem o socialismo ou simplesmente a justia econmica, e as organiza es voluntrias, como os sindicatos, que demandam eqidade para os assalariado s. s vezes, lanam mo de seu espao na sociedade civil para confrontarem dire tamente as elites e as instituies econmicas, obtendo concesses por intermdio de negociaes diretas. Outras vezes apelam s instituies reguladoras, como a lei e as franquias, para forar o Estado a intervir a seu favor na vida econmica. Embora essas tentativas de reparao freqentemente fracassem, s vezes o btm xito e eles conseguem institucionalizar direitos dos trabalhadores. Nesse caso, so os padres da sociedade civil que interferem diretamente na esfera econmica. Condies perigosas de trabalho so proibidas; a discriminao nos mercados de trabalho considerada ilegal; o exerccio discricionrio da autoridade econmica coibido; controla-se o desemprego, e os demitidos passam a receber tratamento compensatrio; a prpria riqueza redistribuda segund o critrios antitticos aos estritamente econmicos. Em diferentes pocas e de diferentes maneiras, cada uma das esferas no-civ is tambm contribuiu para corroer as bases da sociedade, principalmente ao se combinarem com as segmentaes temporais e espaciais. A imagem de judeu se protestantes nos pases catlicos foi muitas vezes construda como a de grup os incivilizados aos quais se recusou a plena participao na vida social. Duran te a maior parte da histria das sociedades civis, o poder patriarcal na famlia s e traduziu diretamente na falta de status civil da mulher. O poder da cincia e da
tcnica se transferiu para os especialistas e excluiu as pessoas comuns da participao integral em discusses vitais acerca da sociedade civil. As oligarquias polticas, seja nas organizaes privadas seja nos governos nacionais, se utilizaram da dissimulao e da manipulao para privar os m embros da sociedade civil do acesso informao a respeito de muitas decises cruci ais que afetam sua vida coletiva. Ao longo da histria ocidental, essas interferncias tm se revelado to destruidoras que os movimentos sociais organizados em torno da questo da reparao, e os analistas que formulam suas demandas, se convenceram de q ue esses bloqueios so inerentes prpria sociedade civil. Os socialistas argumentaram que a sociedade civil essencial e irrecuperavelmente burgue sa, que enquanto houver mercados e propriedade privada os participantes da or dem econmica jamais sero tratados com respeito e igualitarismo. As feministas radicais alegam que as sociedades civis so essencialmente patriarcais, que a prpria idia de uma sociedade civil dificilmente se realizar numa socieda de em que as famlias deixem os homens dominar as mulheres. Os sionistas afirma m que as sociedades europias so fundamentalmente anti-semitas. Os nacionalista s negros declararam que o racismo um fato essencial e que os negros sero sempre excludos da esfera civil nas sociedades colonizadas por brancos. Diante desses argumentos, os intelectuais radicais, e muitos de seus seguidor es, preferiram se abster de tomar posio. Defenderam a construo de um tipo completamente diferente de sociedade, na qual a natureza incivil das esferas que fazem fronteira com a sociedade civil fosse fundamentalmente modificada. s vezes essas demandas revolucionrias, e as tentativas reacionrias de cont-l
as, acabaram destruindo as sociedades civis. Na medida em que os regimes nacionalistas conseguiram institucionalizar uma verdadeira autonomia de se us domnios, o efeito dessas demandas no foi a revoluo, mas grandes reform as. As tentativas revolucionrias geralmente fracassaram, mas os argumentos que propunham acabaram por expandir de modo significativo a sociedade civil. O resultado, mais do que a soluo, tem sido uma integrao gradual mas autn tica de grupos anteriormente excludos. Se essa incluso no total, bem significativa. Na medida em que a sociedade civil contm um certo grau de institucionaliz ao, os problemas econmicos, polticos e religiosos no so tratados como mero s dilemas surgidos no interior dessas esferas, mas como problemas de nossa sociedade. Tanto os formuladores das demandas quanto seus destinatrios encaram esses problemas como deficincias da prpria sociedade civil, como foras que ameaam sua coeso, sua integridade, seus princpios morais e sua liberdade . Isso acontece principalmente porque a estratificao funcional da sociedade civil freqentemente se funde com a estratificao provocada pela sua concretizao no tempo e no espao. Problemas funcionais se somam a ques tes primordiais acerca das qualidades decorrentes de raa, lngua, regio, poca da imigrao e lealdade prpria nao. Essa combinao torna ainda mais pro vvel que os diferentes tipos de conflito funcional, espacial e temporal seja m vistos basicamente como demandas de incluso na sociedade civil. Nessas condies, a incluso se torna um fim em si mesmo, no um simples instrum ento de reparao. Os conflitos se tornam lutas para obter identidade e reconhecimen to social, para reparar as fragmentaes e distores da prpria sociedade civil.
NOTAS * Este texto corresponde a uma verso preliminar do captulo que ser o conclusivo no prximo livro de Jeffrey Alexander, provisoriamente intitula do The Possibility of Justice: A Sociological Theory of Civil Society. Traduo de Vera Pereira
Você também pode gostar
- Passo A Passo Upload Step 7 300Documento9 páginasPasso A Passo Upload Step 7 300Ronie ToledoAinda não há avaliações
- 382 Exercicios Resolucao de Programacao LinearbDocumento5 páginas382 Exercicios Resolucao de Programacao LinearbMellanie LoweAinda não há avaliações
- Aula Nº 6 - Tecido Ósseo + OssificaçãoDocumento30 páginasAula Nº 6 - Tecido Ósseo + OssificaçãoAline Paula FontesAinda não há avaliações
- Historia A 10 11 12Documento80 páginasHistoria A 10 11 12atome67% (6)
- Indumentaria A Cultura MaterialDocumento220 páginasIndumentaria A Cultura MaterialAline SanthiagoAinda não há avaliações
- Associacao Livre Ana Maria SabrosaDocumento2 páginasAssociacao Livre Ana Maria SabrosaMaria Beatriz Barros ChagasAinda não há avaliações
- Introdução Ao StataDocumento18 páginasIntrodução Ao StataAna LaresAinda não há avaliações
- Apostila de Provas DA EFOMMDocumento85 páginasApostila de Provas DA EFOMMVinny Vieira50% (4)
- 4400-4 BR Manual PDFDocumento30 páginas4400-4 BR Manual PDFleoAinda não há avaliações
- Avaliação 1Documento6 páginasAvaliação 1joao victor santiagoAinda não há avaliações
- Ficha MOCDocumento4 páginasFicha MOCMarta De Almeida SilvaAinda não há avaliações
- Pare de Se Enganar - Sucesso Pede Autoconhecimento - EXAMEDocumento9 páginasPare de Se Enganar - Sucesso Pede Autoconhecimento - EXAMELyu AngelAinda não há avaliações
- Desenho Técnico Aula30Documento18 páginasDesenho Técnico Aula30Robrangel100% (8)
- Apostila - O Ludico Da PsicopedagogiaDocumento26 páginasApostila - O Ludico Da PsicopedagogiaRenato Oliveira100% (2)
- AD-P-SGI-00-014-00 - Análise CríticaDocumento5 páginasAD-P-SGI-00-014-00 - Análise CríticaTalita ZanardoAinda não há avaliações
- (Slides) - Novo Regime de Controlo Das Instalações de Serviço Particular - DGEGDocumento31 páginas(Slides) - Novo Regime de Controlo Das Instalações de Serviço Particular - DGEGNuno HenriquesAinda não há avaliações
- Anatomia Ocular e NeuroanatomiaDocumento61 páginasAnatomia Ocular e Neuroanatomiamlatv4230Ainda não há avaliações
- O Psicoterapeuta Diante Do Comportamento SuicidaDocumento6 páginasO Psicoterapeuta Diante Do Comportamento SuicidaOlivia de OliveiraAinda não há avaliações
- Bloco de Atividades 14 - 3º Ano - Recurso NaturalDocumento8 páginasBloco de Atividades 14 - 3º Ano - Recurso Naturalfabio.imp3Ainda não há avaliações
- Planta de LocaçãoDocumento10 páginasPlanta de LocaçãoMariana HondoAinda não há avaliações
- LetrasDocumento58 páginasLetrasKetlencostaAinda não há avaliações
- #Manual de Regras PKM Ultimate BattleDocumento20 páginas#Manual de Regras PKM Ultimate BattleThi CardozoAinda não há avaliações
- Capa UnitinsDocumento5 páginasCapa UnitinsJacob Skinner100% (1)
- Roteiro Relatorio Final Pesquisa Plataforma BrasilDocumento1 páginaRoteiro Relatorio Final Pesquisa Plataforma Brasilghost_724Ainda não há avaliações
- Fátima Irene Pinto - SomDocumento9 páginasFátima Irene Pinto - Somapi-3818481Ainda não há avaliações
- Nutricao - Enade 2016 PDFDocumento375 páginasNutricao - Enade 2016 PDFWylliana MeloAinda não há avaliações
- Clareamento Dental - Projeto de PesquisaDocumento8 páginasClareamento Dental - Projeto de PesquisaIgor RibeiroAinda não há avaliações
- Avaliação - Matematica 7° AnoDocumento1 páginaAvaliação - Matematica 7° AnoAna ClaraAinda não há avaliações
- BBC ComDocumento15 páginasBBC Com15. 14.5Ainda não há avaliações
- Contribuição de Taylor e Fayol para AdministraçãoDocumento7 páginasContribuição de Taylor e Fayol para AdministraçãoClaudio Martins Jr.0% (1)