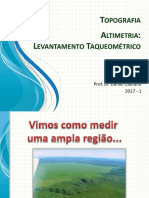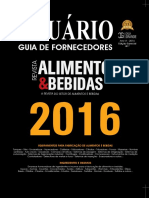Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo Ciencias Amb
Artigo Ciencias Amb
Enviado por
Vinicius FreitasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo Ciencias Amb
Artigo Ciencias Amb
Enviado por
Vinicius FreitasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Brasileira de Meteorologia, v.20, n.
3, 355-366, 2005
ALGUNS EFEITOS DE REAS URBANAS NA GERAO DE UMA ILHA DE CALOR
Edmilson Dias de Freitas e Pedro Leite da Silva Dias Departamento de Cincias Atmosfricas, Instituto de Astronomia, Geofsica e Cincias Atmosfricas da Universidade de So Paulo Rua do Mato, 1226 - CEP 05508-090 So Paulo - SP, Brasil E-mail: efreitas@model.iag.usp.br
Recebido Junho 2004 - Aceito Novembro 2004
Resumo Neste trabalho so verificados alguns aspectos sobre o efeito da urbanizao na formao de uma ilha de calor. O trabalho foi realizado atravs da modelagem numrica da atmosfera com o Regional Atmospheric Modeling System (RAMS) acoplado a uma representao apropriada ao tratamento de reas urbanas, o esquema Town Energy Budget (TEB). As anlises foram realizadas atravs da diferena entre uma simulao real para o perodo de inverno na Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), simulao de controle, e uma simulao hipottica em que as reas urbanizadas foram substitudas pelo tipo de vegetao equivalente ao cdigo 26 do RAMS (mata aberta) e, quando necessrio, atravs da anlise dos campos obtidos na simulao de controle. Os resultados obtidos mostram que diferenas de temperatura significativas s so verificadas em reas urbanas relativamente extensas. A presena da RMSP e outras reas urbanas de menor porte contribuem para a formao de zonas de convergncia e divergncia no s sobre essas reas, mas tambm sobre regies remotas. A altura da CLP altamente influenciada pela presena das reas urbanas, principalmente quando a contribuio de fontes antropognicas de calor mais intensa. Efeitos sobre a velocidade do vento tambm foram verificados. Palavras-chave: Ilha de Calor Urbana, RAMS, modelagem numrica da atmosfera. ABSTRACT: SOME EFFECTS OF URBAN AREAS ON THE GENERATION OF A HEAT ISLAND In this work, some features related with the urbanization effect over urban heat island development are addressed. The work was made by using of numerical modeling of the atmosphere with the Regional Atmospheric Modeling System (RAMS) coupled with an appropriated parameterization for urban regions, the Town Energy Budget (TEB) scheme. The analyses were performed through the difference between a real simulation for the wintertime in the Metropolitan Area of So Paulo (MASP), control simulation, and a hypothetic simulation where the urbanized areas were changed by the vegetation type 26 of RAMS (open shrub) and through the control simulation when it is necessary. The results show that significant temperature differences are only observed when the urban areas are relatively extended. The presence of MASP and other urban areas of minor extension contribute for the convergence zones formation not only over these areas but also in remote regions. The PBL height is highly influenced by the presence of the urban areas, especially when the anthropogenic heat sources contribution is more intense. Effects over the wind speed were also identified. Keywords: Urban Heat Island, RAMS, numerical modeling of the atmosphere.
1. INTRODUO A temperatura mdia anual em um centro urbano tipicamente mais alta que a de suas redondezas. Em alguns dias esse contraste pode atingir cerca de 10 C ou mais (STULL, 1980; LOMBARDO, 1984; OKE, 1987). O contraste de temperatura forma uma circulao convectiva que contribui para a concentrao de poluentes sobre as grandes cidades (OKE, 1987). Vrios fatores contribuem para o desenvolvimento de uma ilha de calor urbana, conforme observado por OKE (1987). Um deles a concentrao relativamente alta de fontes de calor nas cidades. As propriedades trmicas dos materiais das construes urbanas tambm facilitam a conduo de calor mais rapidamente que o solo e a vegetao das reas rurais, contribuindo para um aumento no contraste de temperatura entre essas regies. A perda de calor durante a noite, por radiao
infravermelha para a atmosfera e para o espao, parcialmente compensada nas cidades pela liberao de calor das fontes antropognicas, tais como veculos, indstrias e construes em geral. Segundo ICHINOSE et al. (1999), em um estudo realizado sobre a cidade de Tquio, Japo, a contribuio das fontes antropognicas ultrapassa 50% do fluxo de calor total durante o dia no perodo de inverno. Alm disso, os altos edifcios entre ruas relativamente estreitas aprisionam energia solar atravs de mltiplas reflexes dos raios solares. Na cidade, a taxa de evapotranspirao, tipicamente mais baixa, acentua ainda mais o contraste de temperatura com suas redondezas. O sistema de drenagem (bueiros) rapidamente remove a maior parte da gua das chuvas, de modo que apenas uma pequena parcela da radiao absorvida utilizada para evaporao (calor latente) e a maior parte dessa radiao utilizada para aquecer a terra e o ar diretamente (calor sensvel).
356
Edmilson Dias de Freitas e Pedro Leite da Silva Dias
Volume 20(3)
Por outro lado, as superfcies midas das reas rurais (lagos, riachos, solo e vegetao) aumentam a frao de radiao absorvida que utilizada para evaporao. A razo de Bowen (razo entre calor sensvel e calor latente) , portanto, maior na cidade que no campo. Uma ilha de calor urbana se desenvolve, na maior parte das vezes, quando ventos de escala sintica so fracos (fortes ventos misturariam o ar da cidade e das reas rurais e diminuiriam o contraste de temperatura). Nessas condies, em algumas grandes reas metropolitanas o aquecimento relativo da cidade, comparado com seus arredores, pode promover uma circulao convectiva do ar: ar relativamente quente sobe sobre o centro da cidade e trocado por ar mais frio e mais denso, convergente das zonas rurais. A coluna de ar ascendente acumula aerossis sobre a cidade formando uma nuvem de poeira (poluentes), que podem tornar-se muitas vezes mais concentrados sobre uma rea urbana que sobre as reas rurais. Numerosas investigaes tm sido aplicadas aos efeitos de ilhas de calor urbanas. LOMBARDO (1984) observou, atravs da utilizao de imagens de satlite e observaes de campo, altas concentraes de poluentes associadas ao efeito da ilha de calor para vrias localidades na Regio Metropolitana de So Paulo. A intensidade da ilha de calor altamente influenciada pela condio sintica atuante. Os maiores gradientes de temperatura encontrados entre a rea urbana de So Paulo e as reas rurais atingiram valores superiores a 10 C no perodo de inverno, sendo os maiores gradientes trmicos verificados entre as 15 e 21 h (hora local). FUJIBE & ASAI (1980), atravs de uma mdia de condies de fraco gradiente de presso, detectaram padres de convergncia sobre a cidade de Tquio devido ao aquecimento elevado da regio urbana. Baseado em mdias dirias, YOSHIKADO & TSUCHIDA (1996) verificaram a presena de uma massa de ar frio sobre a poro central da plancie de Kanto, Japo, acompanhada de condies calmas e estveis, resultando em altos nveis de poluio sobre grande parte da plancie. Em sua poro sudeste, essa massa de ar era bloqueada pela grande rea urbana de Tquio. Algumas das caractersticas das ilhas de calor diferem entre dia e noite. Por exemplo, a espessura da cobertura de poeira muito maior durante o dia quando o campo bsico apresenta ventos calmos, pois desta forma as circulaes relacionadas ilha de calor podem ter maiores dimenses (YOSHIKADO, 1992). YOSHIKADO (1994), em um estudo feito para a regio urbana prxima baa de Tquio, ressalta que previses mais realistas do efeito de uma ilha de calor urbana podem ser obtidas por modelagens utilizando condies mais detalhadas, tais como topografia, vegetao, etc. Apesar dos modelos atualmente utilizados para a previso de tempo local inclurem uma boa representao destas propriedades em regies com vegetao, solo nu e corpos dgua, os efeitos gerados pelas ilhas de calor urbanas no so tratados adequadamente. Os modelos mais sofisticados, aqueles que possuem uma parametrizao para a interao entre solo-vegetao-atmosfera, conhecidos como SVAT (Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer scheme), fazem uma adaptao de parmetros da vegetao,
na tentativa de representar os efeitos observados nas regies urbanas. Como observado por MASSON (2000), esta aproximao satisfatria para simulaes que no exigem alta resoluo espacial, tais como aquelas utilizadas em estudos climatolgicos, entretanto, em simulaes que exigem uma melhor definio do ciclo diurno, necessrio o uso de uma formulao especfica para reas urbanas, como o caso do Town Energy Budget (TEB), utilizado neste trabalho. Detalhes sobre o esquema TEB e do seu acoplamento com o modelo RAMS podem ser encontrados em MASSON (2000) e em FREITAS (2003), respectivamente. O objetivo do trabalho identificar algumas caractersticas do efeito de reas urbanizadas na gerao de uma ilha de calor. A seo 2 deste trabalho apresenta a metodologia utilizada nesta anlise, bem como a configurao do modelo RAMS e do esquema TEB. A seo 3 apresenta os resultados obtidos e, finalmente, na seo 4 so apresentadas as concluses. 2. METODOLOGIA Para a execuo deste estudo foi utilizado o Regional Atmospheric Modeling System RAMS (COTTON et al., 2003), em sua verso 4.3, designado para simular circulaes atmosfricas que vo desde a micro at a grande escala. O RAMS utiliza um conjunto completo de equaes que governam a evoluo do estado atmosfrico, baseadas nas leis de movimento de Newton e na termodinmica de um fluido, incluindo parametrizaes dos diversos processos fsicos presentes nestas equaes. equipado com um esquema de aninhamento mltiplo de grades, permitindo que as equaes do modelo sejam resolvidas simultaneamente sob qualquer nmero de grades computacionais com diferentes resolues espaciais. Grades de maior resoluo so utilizadas para modelar detalhes dos sistemas atmosfricos de menor escala, tais como escoamento sobre terrenos complexos e circulaes termicamente induzidas pela superfcie. As grades maiores, de menor resoluo, so utilizadas para modelar o ambiente destes sistemas menores, fornecendo assim as condies de fronteira para as grades mais finas. Para a condio de fronteira inferior, o RAMS utiliza o LEAF-2 (COTTON et al., 2003), o qual faz uma adaptao dos parmetros da vegetao para a representao de reas urbanizadas. Neste trabalho, tal adaptao no foi utilizada, sendo ento as reas urbanas tratadas pelo esquema TEB que ser brevemente descrito a seguir. No esquema TEB (Town Energy Budget), proposto por MASSON (2000), utilizada uma geometria de canyon local, proposta inicialmente por Oke e colaboradores, permitindo o refinamento dos balanos radiativos bem como momento, calor turbulento e fluxos da superfcie atravs de um tratamento fisicamente mais apropriado. As regies urbanas no esquema TEB so tratadas da seguinte maneira: 1) As construes (prdios) tm todas as mesmas alturas e larguras (dimenses); 2) As construes esto localizadas ao longo de ruas idnticas, das quais o comprimento considerado bem maior que a largura sendo o espao entre as faces de duas construes definido como canyon; 3) Qualquer orientao das ruas pos-
Dezembro 2005
Revista Brasileira de Meteorologia
357
svel e todas existem com a mesma probabilidade. Alm disso, contribuies antropognicas para os fluxos de calor sensvel e latente so consideradas no esquema. Essas contribuies so contempladas pelo esquema considerando duas fontes principais: veicular e industrial. Durante este estudo, foram utilizadas trs grades em aninhamento sucessivo e resoluo horizontal de 16, 4 e 1 km para as grades 1, 2 e 3, respectivamente. O domnio das trs grades utilizadas apresentado na Figura 1. Na vertical, foram utilizados 28 nveis em coordenadas sigma-z, com um espaamento inicial de 70 m prximo superfcie e uma amplificao por um fator de 1,2 at a altura de 1000 m (grade telescpica) para permitir um melhor detalhamento da Camada Limite Planetria (CLP). Acima de 1000 m o espaamento permaneceu constante e igual a 1000 m. A Tabela 1 mostra algumas das opes utilizadas nesta anlise. Para a representao da ocupao do solo foi utilizado um arquivo composto pela classificao original fornecida pelo programa IGBP (International Geosphere Biosphere Programme), disponvel na pgina do USGS (U. S. Geological Survey) via internet (http://edcdaac.usgs. gov), com a substituio das classes urbana e suburbana, obtidas por um processo de classificao de imagens de satlite. A descrio do procedimento para a obteno deste arquivo pode ser encontrada em FREITAS (2003).
Figura 1: Domnio das trs grades utilizadas neste trabalho.
Tabela 1: Opes disponveis no RAMS utilizadas neste trabalho.
Tabela 2: Parmetros do esquema TEB.
358
Edmilson Dias de Freitas e Pedro Leite da Silva Dias
Volume 20(3)
Para a inicializao e condio de contorno do modelo foram utilizadas as anlises do modelo global do Centro de Previso de Tempo e Estudos Climticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE) (XUE et al., 1991; KINTER et al.,1997), com resoluo horizontal de 1,875, em um intervalo de seis horas, com a incluso dos dados de temperatura e umidade relativa obtidos da rede automtica da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB). Como dito anteriormente, foram definidos dois tipos de regies urbanas para a representao da RMSP. Essas regies diferem principalmente na altura e na distncia entre as construes. O tipo urbano 1 constitudo principalmente de edifcios enquanto que o tipo urbano 2 constitudo de construes de pequeno e mdio porte. Maiores detalhes sobre essas reas e a metodologia para a obteno das mesmas pode ser encontrada em FREITAS (2003). Na simulao realizada com o esquema TEB foram utilizadas duas configuraes correspondentes aos dois tipos de ocupao urbana. A Tabela 2 mostra as diferenas entre elas. As fontes veiculares de calor sensvel e latente foram ajustadas a um ciclo diurno correspondente a uma dupla gaussiana para representar os horrios de maior circulao de veculos, seguindo o esquema identificado em CASTANHO (1999) que mostra o ciclo das emisses veiculares para a RMSP. As anlises foram realizadas atravs da diferena entre uma simulao real para o perodo de inverno, entre as 00 UTC do dia 01 e 00 UTC do dia 04 de agosto de 1999, na Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), simulao de controle, e uma simulao hipottica em que as reas urbanizadas foram substitudas pelo tipo de vegetao equivalente ao cdigo 26 do RAMS (mata aberta) e, quando necessrio, atravs da anlise dos campos obtidos na simulao de controle. As diferenas foram calculadas para os resultados obtidos pela segunda grade com resoluo de 4 km. 3. RESULTADOS A Figura 2 mostra o campo da diferena de temperatura no primeiro nvel vertical do modelo (33,4 m) entre as duas simulaes para o horrio das 09 Z (06 HL) do dia 01 de agosto de 1999. Esse horrio corresponde a um dos valores mximos dessa diferena. Observa-se a configurao em forma de ilha na rea da RMSP com diferenas de at 3,5C, ou seja, a regio urbana 3,5 C mais quente do que seria caso a rea que ela ocupa fosse coberta pelo tipo de vegetao escolhido. Como essa configurao resultante da diferena de temperatura semelhante quelas observadas em ilhas nos oceanos, o efeito recebe o nome de ilha de calor urbana. Vale notar que as diferenas observadas poderiam ser um pouco diferentes caso fosse escolhido algum outro tipo de vegetao. Entretanto, o efeito seria praticamente o mesmo, com temperaturas maiores nas reas urbanas que nas reas vegetadas. Outro aspecto observado nessa figura que, em algumas regies urbanizadas (reas em cinza claro na figura), no se observam diferenas de temperatura. Isso se deve ao fato
Figura 2: Diferena de temperatura ( C) no primeiro nvel vertical do modelo (33,4 m) entre as simulaes com e sem cidade para o horrio das 09 Z do dia 01 de agosto de 1999. As regies urbanas e os corpos dgua esto representados em tons de cinza ao fundo. de que em alguns casos a rea urbana no grande o suficiente para causar alteraes no campo de temperatura, pois o ar mais quente existente nessas regies rapidamente misturado com o ar das vizinhanas. Em outras reas, tais como as reas urbanas localizadas no litoral, outros tipos de circulaes mais intensas podem se sobrepor ao efeito de ilha de calor, tal que essas diferenas no sejam notadas ou at mesmo no existam. No caso das reas urbanas localizadas no litoral, existe uma forte circulao originada pelos ventos de montanha e pela prpria brisa terrestre, que tem maior intensidade nesse horrio, fazendo com que o efeito de ilha de calor no cause modificaes significativas no campo de temperatura. Uma comparao com os resultados obtidos por FREITAS & SILVA DIAS (2000) enfatiza ainda mais o grande benefcio da implementao do esquema TEB no RAMS para a representao adequada de uma ilha de calor. Uma das grandes dificuldades encontradas pelos autores naquela ocasio foi a tentativa de representar reas urbanas como se elas se comportassem de maneira semelhante a um deserto, que era uma imposio da verso do RAMS utilizada (verso 4a). Durante o dia essa aproximao era razovel, pois representava bem o aquecimento da rea urbana. Porm, durante a noite, existia um resfriamento acentuado resultando em um efeito inverso, ou seja, a rea urbana era geralmente mais fria que as suas vizinhanas, pois no existia um armazenamento de energia pelas construes e nenhuma contribuio de fontes antropognicas. A Figura 3 apresenta uma comparao entre a srie de temperatura obtida pelo modelo RAMS utilizando a parame-
Dezembro 2005
Revista Brasileira de Meteorologia
359
Figura 3: Comparao entre as sries de temperatura na estao Parque D. Pedro II. A linha cheia representa os valores observados, () representam os valores obtidos com a aproximao do LEAF-2 e (+) representam os valores obtidos com o TEB. Adaptado de FREITAS (2003). trizao original, aquela obtida com o TEB e as observaes em superfcie realizadas na estao da CETESB do Parque D. Pedro II para 48 horas do perodo de estudo, onde possvel verificar esse fato. A Figura 4 mostra a diferena no campo de divergncia de massa ao nvel de 33,4 m acima da superfcie para o horrio das 18 Z (15 HL), na qual possvel notar uma complexa configurao de zonas de convergncia e divergncia na RMSP. O posicionamento dessas zonas bastante varivel com o tempo, entretanto, bastante comum que as zonas de convergncia se localizem nas bordas da rea urbana e, em conjunto, contribuam para a formao de uma zona divergente no centro da rea urbana como apresentado nessa figura. Eventualmente, h uma unio dessas zonas de convergncia no centro da cidade, formando uma configurao geralmente esperada para uma ilha de calor, com uma grande zona de convergncia no centro e zonas de divergncia nas bordas. Nesse horrio possvel notar que clulas de circulao devidas ao efeito de ilha de calor aparecem em toda a faixa litornea onde existe uma ocupao urbana razovel. Para se ter uma idia da extenso vertical dessas clulas na RMSP, fez-se um corte na direo Norte-Sul na longitude de 46,6 W para esse horrio, apresentado na Figura 5. Juntamente nessa figura, so apresentados os componentes meridional e vertical do vento. Da Figura 5 verifica-se que a extenso vertical das zonas de convergncia em superfcie de cerca de 200 m com as respectivas correntes de retorno indo desde a altura de 300 m at cerca de 800 m. Neste horrio, uma corrente descendente no centro da zona de divergncia em superfcie se estende at uma altura de aproximadamente 400 m com ventos 0,04 m/s mais intensos do que seriam se no houvesse a presena da cidade. A Figura 6 (a-d) apresenta a diferena dos fluxos de calor sensvel e latente, razo de Bowen e altura da CLP para
Figura 4: Diferena no campo de divergncia (10-5 s-1) ao nvel de 33,4 m acima da superfcie para o horrio das 18 Z (15 HL) do dia 01 de agosto de 1999.
Figura 5: Corte vertical na longitude de 46,6 W da diferena do campo de divergncia de massa (10-3 s-1) e componentes meridional e vertical do vento para o horrio das 18 Z do dia 01 de agosto de 1999. A barra de cores logo abaixo da figura indica a localizao aproximada da RMSP (em cinza escuro ao centro). esse mesmo horrio. Em toda a regio da RMSP aparecem diferenas positivas no fluxo de calor sensvel (Figura 6a) que chegam a atingir valores de at 120 W/m2 em algumas reas localizadas em suas bordas e entre 40 e 80 W/m2 em seu centro. Outras regies urbanas de menor porte tais como a regio de Jundia (23,2 S 46,8 W), a regio de So Jos dos Campos (23,2 S 45,8 W) e a regio do litoral paulista tambm apresentam grandes diferenas positivas nesse fluxo. Por outro lado, os fluxos de calor latente (Figura 6b) so bem me-
360
Edmilson Dias de Freitas e Pedro Leite da Silva Dias
Volume 20(3)
nores na simulao com a presena da cidade e valores de at 180 W/m2 podem ser observados na poro sul da RMSP e em algumas das outras regies anteriormente citadas. Uma das conseqncias dessas diferenas nos fluxos de calor sensvel e latente pode ser vista atravs da diferena entre a razo de Bowen entre as duas simulaes (Figura 6c). A presena da cidade faz com que essa razo chegue a ser at 3,5 vezes maior do que seria caso essa regio fosse ocupada pelo tipo de vegetao escolhido para a anlise, confirmando que numa regio urbana, apesar da existncia de fontes antropognicas de umidade, a maior parte da energia disponvel utilizada para o aquecimento da atmosfera. Outro efeito causado pela presena da malha urbana observado na evoluo da altura da CLP. A Figura 6d mostra a diferena desse parmetro entre as duas simulaes. Nesse a) Fluxo de Calor Sensvel (W/m2)
horrio, a presena da RMSP faz com que a altura da CLP seja cerca de 150 m mais alta do que seria caso ela no existisse. Da mesma forma que o efeito urbano gera zonas de convergncia e divergncia em outras reas, verifica-se que a altura da CLP tambm modificada em regies relativamente distantes das reas urbanas, como pode ser observado na regio sudoeste da RMSP, onde diferenas da mesma ordem so encontradas nesse parmetro. Outro aspecto que pode ser observado na Figura 6d que em grande parte do litoral paulista no existe diferena significativa na altura da CLP. Isso se deve ao fato de que essas reas, apesar de apresentarem alguma diferena nos fluxos de calor sensvel e latente, so influenciadas por circulaes mais intensas, tais como a brisa martima, contribuindo para uma mistura muito rpida com o ar oriundo de outras regies, nesse caso o oceano. b) Fluxo de Calor Latente (W/m2)
c) Razo de Bowen
d) Altura da Camada Limite (m)
Figura 6: Diferenas entre os Fluxos de Calor Sensvel (a) e Latente (b), Razo de Bowen (c) e Altura da Camada Limite (d) para as simulaes com e sem cidade no horrio das 18 Z (15 HL) do dia 01 de agosto de 1999.
Dezembro 2005
Revista Brasileira de Meteorologia
361
Durante o perodo noturno entre o dia 01 e o dia 02 a situao com relao a esses fluxos bastante semelhante quela do dia anterior e no ser discutida. Porm, durante o dia, dada a uma maior contribuio das fontes antropognicas e da modificao da circulao de maior escala, a situao relativamente diferente. A Figura 7 apresenta o campo da diferena de divergncia de massa (10-5 s-1) ao nvel de 33,4 m acima da superfcie para o horrio das 18 Z do dia 02 de agosto de 1999. Apesar das diferenas serem um pouco menores que as do dia anterior, nota-se um predomnio das zonas de convergncia sobre a RMSP. Existe uma pequena zona de divergncia no centro da regio urbana tambm menos intensa que no dia anterior. Zonas de divergncia so observadas em grande parte nas bordas da RMSP. Na regio entre a RMSP e o litoral paulista ( 23,8 S) observa-se a presena de vrias zonas de divergncia e convergncia alternadas. Em toda a faixa litornea tambm verifica-se a formao dessas zonas. As diferenas nos fluxos de calor sensvel e latente, razo de Bowen e altura da CLP para esse dia e horrio so apresentadas na Figura 8. Em grande parte da RMSP existe uma diferena superior a 90 W/m2 nos fluxos de calor sensvel (Figura 8a), sendo cerca de 20 W/m2 maiores que no mesmo horrio do dia anterior e apresentando uma configurao mais homognea. Tambm h um aumento na diferena dos fluxos de calor latente que so cerca de 30 W/m2 menores (Figura 8b). As diferenas na razo de Bowen so bastante semelhantes s do dia anterior, havendo uma maior alterao na regio do litoral paulista (Figura 8c). Uma das maiores diferenas entre os dois dias ocorreu na altura da CLP (Figura 8d). Dada a grande contribuio das fontes antropognicas de origem veicular para os fluxos de calor sensvel, diferenas de cerca de 250 m so observadas na RMSP, sendo que em algumas regies, essas diferenas chegam a ser maiores que 400 m. Para se ter uma idia real sobre a diferena entre a altura da camada limite entre as reas urbanizadas e as reas rurais adjacentes foi feita uma comparao entre a evoluo temporal desse parmetro para alguns pontos na rea de domnio da segunda grade do modelo, com resoluo horizontal de 4 km. A Figura 9 apresenta a evoluo temporal da altura da CLP para trs localizaes rurais e uma urbana. Verifica-se que durante o perodo simulado a altura da CLP em grande parte maior na rea urbana. A diferena entre a rea urbana e as reas nordeste (retngulo cheio) e oeste (retngulo) na figura chega a atingir 200 m no final da tarde e incio da noite. Na regio localizada entre a RMSP e o litoral (crculo cheio) as diferenas chegam a atingir valores de at 600 m. Essa diferena pode ser uma conseqncia da presena das represas nessa localidade. As diferenas verificadas na altura da CLP, como dito anteriormente, podem ser devidas s diferenas na partio de energia entre os fluxos de calor sensvel e latente. Como pode ser verificado numa inspeo na Figura 10, com exceo ao ponto localizado na rea urbana, nos horrios de pico os fluxos de calor latente so bem prximos dos fluxos de calor sensvel, em alguns casos superiores, resultando numa
Figura 7: Diferena no campo de divergncia (10-5 s-1) ao nvel de 33,4 m acima da superfcie para o horrio das 18 Z (15 HL) do dia 02 de agosto de 1999. razo de Bowen prxima ou menor que um. Na regio urbana, existe um predomnio do fluxo de calor sensvel entre as 14 Z e 21 Z e o predomnio do fluxo de calor latente nos outros horrios. A influncia da urbanizao sobre o campo do vento tambm foi analisada nessas simulaes. A Figura 11 mostra a diferena do mdulo da velocidade do vento (m/s), ao nvel de 33,4 m acima da superfcie, no horrio das 18 Z (15 HL) para os dias 01 de agosto (Figura 11a) e 02 de agosto (Figura 11b) na qual possvel notar que sobre as reas urbanas h uma diminuio na velocidade do vento e, por continuidade, em algumas reas fora das regies urbanizadas h um aumento. As diferenas encontradas so bastante semelhantes nos dois dias e mostram que a rea urbana da RMSP faz com que o vento seja cerca de 1 m/s menos intenso durante o perodo diurno. Essa diminuio na velocidade do vento decorrncia do aumento da rugosidade nessas reas urbanas que causam um aumento no cisalhamento vertical do vento e, conseqentemente, um aumento no fluxo de momento na vertical. Tambm, h um aumento no gradiente trmico (mistura menos intensa com o ar oriundo das regies vizinhas) e conseqentemente um aumento na intensidade da ilha de calor urbana. Durante o perodo noturno observa-se um comportamento oposto, como pode ser verificado nas Figuras 11c e 11d, indicando que na rea urbana os ventos tendem a ser mais intensos que em reas vegetadas.
362
Edmilson Dias de Freitas e Pedro Leite da Silva Dias
Volume 20(3)
a) Calor Sensvel (W/m2)
b) Calor Latente (W/m2)
c) Razo de Bowen
d) Altura da CLP (m)
Figura 8: Diferenas entre os Fluxos de Calor Sensvel (a) e Latente (b), Razo de Bowen (c) e Altura da Camada Limite (d) para as simulaes com e sem cidade no horrio das 18 Z (15 HL) do dia 02 de agosto de 1999.
Dezembro 2005
Revista Brasileira de Meteorologia
363
Figura 9: Evoluo da altura da CLP para quatro localizaes, indicadas direita na figura, para o perodo de 01 a 04 de agosto de 1999, obtidos da segunda grade do modelo da simulao de controle. As latitudes e longitudes dos pontos so: 23,6 S - 46,7 W (crculo), 23,8 S 46,4 W (crculo cheio), 23,6 S 47,2 W (retngulo) e 23,2 S 46,2 W (retngulo cheio). a) b)
c)
d)
Figura 10: Evoluo dos fluxos de calor sensvel (crculo aberto) e latente (crculo cheio) em W/m2 para as quatro localidades indicadas na Figura 9 , para o perodo de 01 a 04 de agosto de 1999, obtidos da segunda grade do modelo da simulao de controle. Em (a) para as coordenadas 23,6 S - 46,7 W, em (b) 23,8 S 46,4 W, em (c) 23,6 S 47,2 W e em (d) 23,2 S 46,2 W.
364
Edmilson Dias de Freitas e Pedro Leite da Silva Dias
Volume 20(3)
a)
b)
c)
d)
Figura 11: Campo da diferena do mdulo da velocidade do vento (m/s) no nvel de 33,4 m acima da superfcie. Em (a) para o horrio das 18 Z do dia 01 de agosto, em (b) para o horrio das 18 Z do dia 02, em (c) para o horrio das 07 Z do dia 01 e em (d) para o horrio das 07 Z do dia 02. 4. CONCLUSES Embora este estudo utilize como ferramenta principal a modelagem numrica, que apresenta algumas limitaes, e apenas uma comparao com sries de temperatura observadas tenha sido feita, as anlises realizadas permitiram a identificao de alguns aspectos relacionados presena de reas urbanas, principalmente da RMSP, sobre a formao de uma ilha de calor. Alguns desses aspectos podem ser destacados: - As diferenas de temperatura encontradas entre as reas urbanas e suas vizinhanas so altamente dependentes das dimenses da rea urbana. Em regies urbanas relativamente pequenas o efeito de ilha de calor pode ser imperceptvel em conseqncia da rpida mistura com o ar das regies vizinhas;
Dezembro 2005
Revista Brasileira de Meteorologia
365
- A presena das reas urbanas contribui para a formao de zonas de convergncia e divergncia no s sobre essas reas, mas tambm sobre regies remotas. Essas zonas tm extenso vertical relativamente pequena (cerca de 800 m, incluindo-se as respectivas correntes de retorno) quando comparados, por exemplo, com as circulaes associadas brisa martima. Sobre a RMSP, as zonas de convergncia ficam geralmente localizadas prximo s bordas da rea urbana, sendo que em seu centro forma-se uma zona de divergncia. Essa zona de divergncia menos intensa nos dias em que a contribuio de fontes antropognicas de origem veicular mais efetiva; - Em conseqncia de um maior fluxo de calor sensvel e um menor fluxo de calor latente, sobre as reas urbanas a razo de Bowen chega a ser cerca de 3,5 vezes maior do que seria caso essas regies fossem cobertas por vegetao; - A altura da CLP altamente modificada pela presena de reas urbanas sendo cerca de 150 m mais alta que seria no caso de uma rea vegetada nos dias em que as fontes antropognicas so menos intensas. Quando a participao dessas fontes mais efetiva, a diferena pode chegar a at 400 m (ou mais). Assim como para as zonas de divergncia/convergncia, esse parmetro pode ser influenciado em regies relativamente distantes das reas urbanas. Comparaes entre a rea urbana e suas vizinhanas indicam que durante o perodo diurno essas diferenas variam entre 200 e 600 m, dependendo da regio escolhida. Essas diferenas podem ser explicadas como sendo um reflexo do balano de energia em superfcie. Na regio urbana verificam-se altos valores para a razo de Bowen, em contraste com outras regies, relativamente distantes da rea urbana, onde os fluxos de calor sensvel e latente so equivalentes; - A velocidade do vento, em nveis mais baixos da atmosfera, tambm sofre uma influncia significativa das regies urbanas chegando a ser cerca de 1 m/s (ou mais) menos intensas nessas regies durante o perodo diurno. Durante a noite a situao se inverte e a intensidade do vento na regio urbana chega a ser cerca de 1,8 m/s maior. 5. AGRADECIMENTOS Os autores gostariam de agradecer ao Dr. Valery Masson e ao Meteo-France por possibilitar a utilizao do TEB. Especial agradecimento Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo que, num pas cheio de dificuldades, principalmente financeiras, prima pelo desenvolvimento de pesquisas de alto nvel, fornecendo o auxlio necessrio. Este trabalho foi parte da tese de Doutorado do primeiro autor, financiado pela FAPESP (Processo: 98/15663-3). Este trabalho tambm contou com apoio do programa PROSUR, financiado pelo IAI. 6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS CASTANHO, A. D. A. A determinao quantitativa de fontes de material particulado na atmosfera da cidade de So Paulo. So Paulo, 1999. 131p. Dissertao de Mestrado do Instituto de Fsica da Universidade de So Paulo.
CHEN, C.; COTTON, W. R. A one dimensional simulation of the stratocumulus capped mixed layer. Bound- Layer Meteor., 25, 289-3321, 1983. COTTON, W. R.; PIELKE SR., R. A.; WALKO, R. L.; LISTON, G. E.; TREMBACK, C. J.; JIANG, H.; MCANELLY, R. L.; HARRINGTON, J. Y.; NICHOLLS, M. E.; CARRIO, G. G.; MCFADDEN, J. P. RAMS 2001: Current status and future directions. Meteor. Atmos. Phys., 82, 5-29, 2003. FREITAS, E. D.; SILVA DIAS, P. L. O efeito da Ilha de calor urbana sobre os fluxos de calor atravs da utilizao do modelo RAMS. In: Congresso Brasileiro de Meteorologia, 11, Rio de Janeiro. 2000. CDROM. FREITAS, E. D. Circulaes locais em So Paulo e sua in fluncia sobre a disperso de poluentes. So Paulo, 2003, 156p. Tese de Doutoramento do Departamento de Cincias Atmosfricas do Instituto de Astronomia, Geofsica e Cincias Atmosfricas da Universidade de So Paulo. FUJIBE, F.; ASAI, T. Some features of a surface wind system associated with the Tokyo heat island. J. Meteor. Soc. Japan, 58, 149-152, 1980. HILL, G. E. Factors controlling the size and spacing of cumulus clouds as revealed by numerical experiments. J. Atmos. Sci., 31, 3, 646-673, 1974. ICHINOSE, T.; SHIMODOZONO, K.; HANAKI, K. Im pact of anthropogenic heat on urban climate in Tokyo. At mos. Environ., 33, 3897-3909, 1999. KINTER III, J. L.; DEWITT, D.; DIRMEYER, P. A.; FENNESSY, M. J.; KIRTMAN, B. P.; MARX, L.; SCH NEIDER, E. K.; SHUKLA, J.; STRAUS, D. The COLA atmosphere-biosphere general circulation model, Vol.1: Formulation. Report n0.51, 46 pp, COLA, Maryland, 1997 KLEMP, J. B.; WILHELMSON, R. B. The simulation of three-dimensional convective storm dynamics. J. Atmos. Sci., 35, 1070-1096, 1978. KUO, H. L. Further studies of the parameterization of the influence of cumulus convection on large scale flow. J. Atmos. Sci., 31, 1232-1240, 1974. LILLY, D. K. On the numerical simulation of buoyant con vection. TELLUS, XIV, 2, 148-172, 1962. LOMBARDO, M. A. Ilha de calor da metropole paulistana. So Paulo, 1984, 210p. Tese de Doutoramento do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo.
366
Edmilson Dias de Freitas e Pedro Leite da Silva Dias
Volume 20(3)
MASSON, V. A physically-based scheme for the urban energy budget in atmospheric models. Bound-Layer Meteorol., 94, 357-397, 2000. OKE, T. R. Boundary Layer Climates. Second Edition. Routledge London & New York. 435 pp. 1987. SMAGORINSKY, J. General circulation experiments with the primitive equations: 1. The basic experiment. Mon Wea. Rev., 91, 99-164, 1963. STULL, R. B. An introduction to boundary layer meteorology. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands. 666 p. 1980.
XUE, Y.; SELLERS, P.J.; KINTER III, J.L.; SHUKLA, J. A simplified biosphere model for global climate studies. J.Climate, 4, 345-364, 1991. YOSHIKADO, H. Numerical study of the daytime urban effect and its interaction with the sea breeze. J. Appl. Meteor., 31, 1146-1164, 1992. YOSHIKADO, H. Interaction of the sea breeze with urban heat islands of different sizes and locations, J. Meteor. Soc. of Japan, 72, 139-143, 1994. YOSHIKADO, H.; TSUCHIDA, M. High levels of winter air pollution under the influence of the urban heat island along the shore of Tokyo Bay. J. Appl. Meteor., 35, 1804-1814, 1996.
Você também pode gostar
- MO Pulverizador Patriot 350Documento212 páginasMO Pulverizador Patriot 350juan100% (4)
- Top Aula07Documento76 páginasTop Aula07RomuloAinda não há avaliações
- LAUDO TEC SPDA Exemplo PDFDocumento2 páginasLAUDO TEC SPDA Exemplo PDFandreAinda não há avaliações
- Check List de VistoriaDocumento11 páginasCheck List de VistoriaVânia ReginaAinda não há avaliações
- WEG Critical Power Fonte Retifcador Inversor Estabilizador Chave Estatica Bateria 50032773 Catalogo Portugues BRDocumento68 páginasWEG Critical Power Fonte Retifcador Inversor Estabilizador Chave Estatica Bateria 50032773 Catalogo Portugues BRRafael CarmoAinda não há avaliações
- Catalogo de Pisos 2020 - Ceral - C. MarquesDocumento13 páginasCatalogo de Pisos 2020 - Ceral - C. MarquesProdutos e Investimentos OnlineAinda não há avaliações
- Aplicativos de Cálculo NuméricoDocumento2 páginasAplicativos de Cálculo NuméricoRicardo SousaAinda não há avaliações
- Ab 17Documento100 páginasAb 17Eduardo Rebelo ModaAinda não há avaliações
- Manual 5W2HDocumento23 páginasManual 5W2HGuilherme FariaAinda não há avaliações
- AT102 Aula06Documento53 páginasAT102 Aula06Junior C. SilvaAinda não há avaliações
- Apostila de HardwareDocumento50 páginasApostila de HardwareadartesAinda não há avaliações
- Relés de Tempo SIEMENSDocumento8 páginasRelés de Tempo SIEMENSMario RHAinda não há avaliações
- Relatório I: Medidas Elétricas e Leis de KirchhoffDocumento7 páginasRelatório I: Medidas Elétricas e Leis de KirchhoffAllan MartinsAinda não há avaliações
- TSE Arquivologia 20111201161448Documento20 páginasTSE Arquivologia 20111201161448Marcy DutraAinda não há avaliações
- Apc 24Documento1 páginaApc 24jhitaloAinda não há avaliações
- Carvão Mineral PDFDocumento27 páginasCarvão Mineral PDFzeqs9Ainda não há avaliações
- Apresentação Vazamento ZeroDocumento41 páginasApresentação Vazamento ZeroGuilherme Moreira RaimundoAinda não há avaliações
- Octavio PazDocumento18 páginasOctavio PazSimone Burgues100% (1)
- Forno SolarDocumento11 páginasForno SolarEco-EscolasAinda não há avaliações
- TERDocumento105 páginasTEROrnan RodriguesAinda não há avaliações
- Apontamentos de AutoCAD PDFDocumento18 páginasApontamentos de AutoCAD PDFThiago GomesAinda não há avaliações
- Calco de SegurancaDocumento2 páginasCalco de SegurancagersonplovasAinda não há avaliações
- Principais Modificações No Formulário de Plano de VooDocumento5 páginasPrincipais Modificações No Formulário de Plano de VooDiogo Fonseca SantosAinda não há avaliações
- EmpreendedorismoDocumento2 páginasEmpreendedorismoaracoogenAinda não há avaliações
- Ficha 11 - Redes Móveis Da 3 Geração (3g)Documento12 páginasFicha 11 - Redes Móveis Da 3 Geração (3g)José Eduardo SantosAinda não há avaliações
- Manutenção Industria FarmaceuticaDocumento34 páginasManutenção Industria FarmaceuticaJoão NogueiraAinda não há avaliações
- Controle de Nivel Longa Distancia IcosDocumento1 páginaControle de Nivel Longa Distancia IcosAnderson Oliveira100% (1)
- Cartilha Economia Solidária Nº4Documento26 páginasCartilha Economia Solidária Nº4Ibase Na Rede100% (1)
- PTBR-06-369 Cheetah Xi 50 Install ManualDocumento76 páginasPTBR-06-369 Cheetah Xi 50 Install ManualCesar HenriqueAinda não há avaliações
- PPC Engenharia Producao CEEDocumento94 páginasPPC Engenharia Producao CEEJoacir Carvalho LeiteAinda não há avaliações