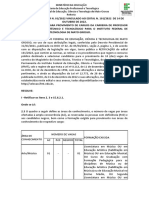Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TESE - Mapeamento Da Producao Academica PDF
TESE - Mapeamento Da Producao Academica PDF
Enviado por
Klaudio Cóffani Nunes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações0 páginaTítulo original
TESE - Mapeamento da producao academica.........pdf
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações0 páginaTESE - Mapeamento Da Producao Academica PDF
TESE - Mapeamento Da Producao Academica PDF
Enviado por
Klaudio Cóffani NunesDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 0
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAES E ARTES
ANA CLAUDIA SILVERIO NASCIMENTO
Mapeamento temtico das teses defendidas nos
Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
no Brasil (1994-2008)
So Paulo
2010
ANA CLAUDIA SILVERIO NASCIMENTO
Mapeamento temtico das teses defendidas nos
Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
no Brasil (1994-2008)
Tese de Doutorado apresentada ao Programa
de Ps-Graduao em Cincia da Informao
da Escola de Comunicaes e Artes da
Universidade de So Paulo como
cumprimento aos requisitos para a obteno
do ttulo de doutor.
Orientadora: Prof. Dr. Dinah Aparecida de
Aguiar Poblacin
So Paulo
2010
FOLHA DE APROVAO
Nome: NASCIMENTO, Ana Claudia Silverio
Ttulo: Mapeamento temtico das teses defendidas nos Programas de Ps-
Graduao em Educao Fsica no Brasil (1994-2008)
Tese apresentada Escola de Comunicaes e Artes
da Universidade de So Paulo para obteno do
ttulo de doutor em Cincia da Informao.
Aprovado em:
Banca Examinadora
Prof. Dr. Dinah Aparecida de Aguiar Poblacin
Assinatura: ________________________________
Instituio: ECA/USP
_____________________ Assinatura: ________________________________
Instituio: _________________________________
_____________________ Assinatura: ________________________________
Instituio: _________________________________
_____________________ Assinatura: ________________________________
Instituio: _________________________________
_____________________ Assinatura: ________________________________
Instituio: _________________________________
AGRADECIMENTOS
A Professora Dinah Poblacin, pelas contribuies e, sobretudo, pelo apoio e
compreenso desde meu ingresso no curso.
Aos professores que compem a banca, especialmente, aos professores
Valdomiro Vergueiro e Edison de Jesus Manoel pelas contribuies na
qualificao e por acreditarem que o trabalho seria possvel.
Ao Professor Amarlio Ferreira Neto, pelo apoio no enfrentamento dos desafios
e o acompanhamento de minha trajetria.
Aos professores do Programa de Ps-Graduao em Cincia da Informao,
que, por meio de suas disciplinas, contriburam para a realizao deste
trabalho.
Aos amigos do PROTEORIA, pela possibilidade de construirmos juntos uma
carreira acadmica. Em especial, a Andrea Locatelli e Omar Schneider, pela
companhia e o compartilhamento dos aprendizados.
Ao Professor Edson Castardelli, pela importante contribuio na classificao
temticas das teses.
minha me, pelo apoio incondicional em todos os momentos.
A Joergues, cujo apoio ajudou a tornar possvel este trabalho.
NASCIMENTO, A. C. S. Mapeamento temtico das teses defendidas nos
Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica no Brasil (1994-2008). 2010.
Tese (Doutorado) Programa de Ps-Graduao em Cincia da Informao,
Universidade de So Paulo. So Paulo, 2010.
RESUMO: A pesquisa tem como objetivo geral apresentar um mapeamento temtico
das teses defendidas nos Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica, no
perodo de 1994 a 2008. Os objetivos especficos so: caracterizar os PPGEF que
possuem cursos de doutorado quanto ao ano de criao, reas de concentrao,
linhas de pesquisa e nmero de teses defendidas; identificar as palavras-chave
utilizadas para identificao das teses; identificar as temticas das teses e relacion-
las com a rea de concentrao e linha de pesquisa em que foram produzidas. O
corpus da pesquisa formado por 333 teses defendidas em seis programas da rea:
Universidade de So Paulo, Universidade Gama Filho, Universidade Estadual de
Campinas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual
Paulista e Universidade Catlica de Braslia. A pesquisa de natureza exploratria e a
anlise dos dados foi feita a partir de tcnicas cientomtricas revelando que os
programas esto organizados em doze reas de concentrao e 42 linhas de pesquisa
e que apresentam uma tendncia de organizao em torno de duas reas
(biodinmica e cultura). O trabalho identificou 733 palavras-chaves, citadas 1073
vezes. Do total, 604 palavras aparecem uma nica vez e as demais, mais de uma vez,
indicando disperso de termos e que esses se aproximam de uma linguagem natural.
Demonstra, ainda, que a rea carece de uma linguagem de especialidade. O
mapeamento temtico revelou o predomnio dos seguintes assuntos: Treinamento
fsico/desportivo (12,9%); Biomecnica (8,7%); Atividade fsica/desporto para grupos
especiais (8,4%); Formao e atuao do professor/Educao Fsica e currculo
(8,1%); Fisiologia (7,5%); Sociologia (6,6%) e Educao Fsica escolar/desporto
escolar (6,3%). Demonstrou que existe boa coerncia entre as temticas abordadas,
as reas de concentrao e as linhas de pesquisa, ainda que haja um grande nmero
de linhas que apresenta baixa produo e que, em funo de sua abrangncia,
abriguem uma disperso de temas.
Palavras-chave: Mapeamento temtico. Educao Fsica. Ps-Graduao. Teses.
Cientometria.
NASCIMENTO, A. C. S. Thematic survey about Physical Education thesis in
Brasil (1994-2008). 2010. Thesis (Doctorate) Information Scienses PhD Programme,
Universidade de So Paulo. So Paulo, 2010.
This research general aim is to survey thematically the defended thesis on Physical
Education PhD Programme from 1994 to 2008. The specific aims are: to feature the
PPGEF (Physical Education Postgraduate Programme) which have PhD course related
to the year they have been created and its particular areas, research lines and amount
of thesis defended; to identify the key-words used in the thesis; to identify the thesis
subjects and relate it to its particular areas and research lines which were produced.
The research corpus is composed for 333 thesis defended on six programmes:
Universidade de So Paulo, Universidade Gama Filho, Universidade Estadual de
Campinas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual
Paulista and Universidade Catlica de Braslia. The nature of research is to explore
and the data analysis were made from scientometrics techniques proving that the
programmes are organized in twelve particular areas and 42 research lines that
present a way of organizing around two areas ( biodynamics and culture) . The work
indentified 733 key-words , mentioned 1073 times. From the total, 604 words appear
only once and the others more than once pointing out dispersion of terms and those
are close of a natural speech. It shows the lack of specific language of the area. The
survey pointed the dominance of the following subjects: Physical/Sportive Training
(12,9%), Biomechanics (8,7%) Physical Activity/Sportive to special groups (8,4%);
Teacher Training/Physical Education and curriculum (8,1%); Physiology (7,5%);
Sociology (6,6%) e Physical Education in school / sportive school (6,3%). It shows that
there is a good coherence between the themes mentioned, specific areas and research
lines, even though there is a big amount of research lines that present low production
and that, because its range, nestle a theme dispersion.
Keywords: Thematic Survey. Physical Education. PhD. Thesis. Scientometrics Method.
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
recomendados pela CAPES 96
Quadro 2 Quadro Temtico Referencial da Educao Fsica 103
Quadro 3 - Caracterizao dos Programas de Ps-Graduao em
Educao Fsica segundo denominao, localizao
geogrfica, ano de criao dos cursos e natureza
institucional 106
Quadro 4 reas de Concentrao e Linhas de Pesquisa dos
Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
estudados 137
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1 - Distribuio dos Programas de Ps-Graduao em
Educao Fsica quanto terminologia utilizada para sua
denominao 107
Grfico 2 - Distribuio regional dos Programas de Ps-Graduao
em Educao Fsica 115
Grfico 3 - Distribuio regional dos cursos de mestrado e doutorado
em Educao Fsica 116
Grfico 4 - Nmero de cursos de mestrado e doutorado em Educao Fsica
por dcada 118
Grfico 5 - Distribuio dos mestrados e doutorados em Educao Fsica
pela natureza institucional 120
Grfico 6 - Nmero de teses defendidas por ano nos Programas de Ps-
Graduao em Educao Fsica 141
Grfico 7 - Nmero de teses defendidas por Instituio de Ensino
Superior 143
Grfico 8 - Distribuio das teses da USP por rea de Concentrao
do programa 145
Grfico 9 - Distribuio das teses da Unicamp por rea de Concentrao
do programa 147
Grfico 10 - Distribuio das teses da UGF por rea de Concentrao
do programa 149
Grfico 11 - Distribuio das teses da UFRGS por rea de Concentrao
do programa 151
Grfico 12 - Distribuio das teses defendidas nos Programas de
Ps-Graduao em Educao Fsica por rea de
Concentrao 153
Grfico 13 - Distribuio das teses da USP por Linha de Pesquisa
do programa 156
Grfico 14 - Distribuio das teses da UNICAMP por Linha de Pesquisa
do programa 156
Grfico 15 - Distribuio das teses da UGF por Linha de Pesquisa
do programa 160
Grfico 16 - Distribuio das teses da UFRGS por Linha de Pesquisa
do programa 161
Grfico 17 - Distribuio das teses da UNESP por Linha de Pesquisa
do programa 163
Grfico 18 - Palavras-chave das teses da USP 167
Grfico 19 - Palavras-chave das teses da Unicamp 168
Grfico 20 - Palavras-chave das teses da UGF 170
Grfico 21 - Palavras-chave das teses da UNESP 171
Grfico 22 - Palavras-chave mais citadas nas teses analisadas 174
Grfico 23 - Mapeamento temtico das teses da USP 179
Grfico 24 - Relao entre temtica das teses da USP e Linhas de
Pesquisa do programa 181
Grfico 25 - Mapeamento temtico das teses da Unicamp 185
Grfico 26 - Relao entre as temticas das teses da Unicamp e
reas de Concentrao do programa 188
Grfico 27 - Relao entre as temticas das teses da Unicamp e Linhas
de Pesquisa do programa (1) 191
Grfico 28 - Relao entre as temticas das teses da Unicamp e Linhas
de Pesquisa do programa (2) 192
Grfico 29 - Mapeamento temtico das teses da UGF 198
Grfico 30 - Relao entre temtica das teses da UGF e reas
de Concentrao do programa 200
Grfico 31 - Relao entre temtica das teses da UGF e Linhas de
Pesquisa do programa 201
Grfico 32 - Mapeamento temtico das teses da UFRGS 204
Grfico 33 - Relao entre temticas das teses da UFRGS e reas
de Concentrao do programa 205
Grfico 34 - Relao entre temticas das teses da UFRGS e Linhas
de Pesquisa do programa 206
Grfico 35 - Relao entre temticas das teses da UNESP e Linhas
de Pesquisa do programa 208
Grfico 36 - Relao entre temticas das teses da UNESP e Linhas
de Pesquisa do programa 209
Grfico 37 - Mapeamento temtico das teses defendidas nos
programas estudados 213
Grfico 38 - Temticas das teses analisadas por programa 217
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Nmero de teses defendidas nos Programas de Ps-Graduao
em Educao Fsica de 1994 a 2008 99
Tabela 2 - Freqncia acumulada das palavras-chave das teses
defendidas nos Programas de Ps-Graduao em Educao
Fsica 173
LISTA DE SIGLAS
CAPES Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
CONBRACE Congresso Brasileiro de Cincias do Esporte
EF Educao Fsica
IES Instituio de Ensino Superior
MEC Ministrio da Educao e Cultura
PNPG Plano Nacional de Ps-Graduao
PPGEF Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica
TAC Tabela de reas do Conhecimento
UCB/DF Universidade Catlica de Braslia
UCB/RJ Universidade Castelo Branco/RJ
UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
UEL Universidade Estadual de Londrina
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais
UFPEL Universidade Federal de Pelotas
UFPR Universidade Federal do Paran
UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
UFSM Universidade Federal de Santa Maria
UFV Universidade Federal de Viosa
UGF Universidade Gama Filho
UNB Universidade de Braslia
UNESP Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas
UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul
UNIMEP Universidade Metodista de Piracicaba
USP Universidade de So Paulo
SUMRIO
1 INTRODUO 19
1.1 OBJETO DE ESTUDO 21
1.2 OBJETIVOS 24
1.2.1 Objetivo geral 24
1.2.2 Objetivos especficos 25
1.3 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAO DO ESTUDO 26
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 28
2. OS INDICADORES DE C&T E A AVALIAO DA CINCIA 31
2.1 UNIVERSIDADE, PRODUO CIENTFICA E SEU PROCESSO
DE AVALIAO 31
2.2 INDICADORES DE C&T: ANLISE HISTRICA 35
2.3 A CIENTOMETRIA E A BIBLIOMETRIA NA AVALIAO DA
CINCIA 40
2.4 OS INDICADORES BIBLIOMTRICOS 44
2.5 OS ESTUDOS SOBRE MAPEAMENTO TEMTICO NA
CINCIA DA INFORMAO 47
2.6 OS ESTUDOS SOBRE MAPEAMENTO TEMTICO NA
EDUCAO FSICA 49
3. CONSTITUIO E LEGITIMIDADE DA EDUCAO FISICA
NO BRASIL 55
3.1 OS PRIMEIROS PASSOS DE UMA PRTICA CHAMADA
EDUCAO FSICA 55
3.2 O DEBATE SOBRE A CONSTITUIO DO CAMPO 61
3.3 A DIVERSIDADE EPISTEMOLGICA DA EDUCAO FSICA: EM
BUSCA DA LEGITIMIDADE 65
3.4 A DIVERSIDADE EPISTEMOLGICA DOS PROGRAMAS DE
PS-GRADUAO EM EDUCAO FSICA 71
4. PERFIL INSTITUCIONAL DA EDUCAO FSICA NO BRASIL 75
4.1 A IMPLANTAO DO ENSINO SUPERIOR E DA PS-GRADUAO
NO BRASIL 75
4.2 UMA POLTICA PARA A PS-GRADUAO 78
4.3 A IMPLANTAO DE CURSOS DE PS-GRADUAO
STRICTO SENSU EM EDUCAO FSICA NO BRASIL 81
4.4 A AVALIAO DA PS-GRADUAO EM EDUCAO FSICA:
PONTOS DE DIVERGNCIA 84
5. PROCEDIMENTOS METODOLGICOS 95
5.1 SELEO DOS PROGRAMAS DE PS-GRADUAO EM
EDUCAO FSICA COM TESES DEFENDIDAS NO PERODO
ESTUDADO 95
5.2 CONSTITUIO DO CORPUS DE PESQUISA 97
5.3 IDENTIFICAO DOS DADOS ANALISADOS 100
5.4 PROCEDIMENTOS DE ANLISE DOS DADOS 100
6. RESULTADOS E DISCUSSO 105
6.1 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DOS PROGRAMAS DE
PS-GRADUAO EM EDUCAO FSICA 106
6.1.1 A diversidade terminolgica na denominao dos Programas
de Ps-Graduao em Educao Fsica 107
6.1.2 Distribuio regional dos Programas de Ps-Graduao
em Educao Fsica 115
6.1.3 Data de criao dos cursos de mestrado e doutorado 118
6.1.4 A natureza institucional dos Programas de Ps-Graduao
em Educao Fsica 120
6.2 CARACTERIZAO DOS PROGRAMAS ESTUDADOS: REAS DE
CONCENTRAO, LINHA DE PESQUISA E NUMERO DE
TESES DEFENDIDAS 122
6.2.1 O Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da USP 123
6.2.2 O Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da
Unicamp 125
6.2.3 O Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da UGF 129
6.2.4 O Programa de Ps-Graduao em Cincias do Movimento
Humano da UFRGS 131
6.2.5 O Programa de Ps-Graduao em Cincia da Motricidade
da UNESP 133
6.2.6 O Programa de Ps-Graduao em Atividade Fsica da
UCB/DF 134
6.2.7 Anlise da configurao dos programas estudados 136
6.3 NMERO DE TESES DEFENDIDAS NOS PROGRAMAS
ESTUDADOS 141
6.4 DISTRIBUIO DAS TESES POR REA DE CONCENTRAO
DOS PROGRAMAS ESTUDADOS 144
6.4 1. Distribuio das teses por rea de concentrao dos
programas 144
6.5 DISTRIBUIO DAS TESES POR LINHA DE PESQUISA 156
6.6 PALAVRAS-CHAVE DAS TESES ANALISADAS 164
6.6.1 Palavras-chave mais citadas nas teses defendidas nos
programas estudados 172
6.7 MAPEAMENTO TEMTICO DAS TESES ANALISADAS 177
6.7 1 Mapeamento temtico das teses da USP 178
6.7.2 Mapeamento temtico das teses da Unicamp 184
6.7.3 Mapeamento temtico das teses da UGF 197
6.7.4 Mapeamento temtico das teses da UFRGS 204
6.7.5 Mapeamento temtico das teses da UNESP 208
6.7.6 Mapeamento temtico das teses da UCB 210
6.7.7 Mapeamento temtico das teses da Educao Fsica 212
CONSIDERAES FINAIS 219
REFERNCIAS 225
APNDICE A CLASSIFICAO TEMTICA DAS TESES 250
19
1 INTRODUO
O interesse pela anlise da produo cientfica de determinado pas, regio,
rea de conhecimento ou instituio tem crescido nos ltimos anos e mobilizado
autores por permitir entender melhor a natureza e amplitude das atividades de
pesquisas desenvolvidas e, assim, compreender o seu estgio de desenvolvimento.
A produo de indicadores em Cincia e Tecnologia (C&T) se fortalece
mediante o reconhecimento da necessidade de se dispor de instrumentos que
possam subsidiar a definio de diretrizes, a distribuio de recursos e a formulao
da poltica cientfica, alm da avaliao de seus resultados. Em funo disso, a
construo e o uso de indicadores de produo cientfica tm se configurado como
objeto de estudo de diferentes reas do conhecimento, sendo usados tanto para o
planejamento e a execuo de polticas para o setor como tambm para que a
comunidade cientfica conhea melhor o sistema no qual est inserida.
A publicao de trabalhos metacientficos que avaliam a produo de
subreas, realizam a comparao entre elas e tambm com outras tem se tornado
constante nas diferentes reas, visto que seus resultados permitem avaliar o nvel
do conhecimento disponvel, delinear polticas de desenvolvimento e investimento,
conhecer as necessidades de pesquisadores, alm de permitir conhecer o estgio
alcanado sobre determinado assunto que se pretende pesquisar.
O olhar sobre a produo cientfica permite, ainda, identificar tendncias,
divergncias, lacunas e possibilidades na e para a produo do conhecimento, e se
constitui em subsdio para fomento e anlise sobre os rumos dessa produo. Nesse
contexto, diferentes suportes possibilitam a reflexo sobre a produo de uma rea:
livros, revistas, teses, dissertaes, monografias, comunicaes em eventos,
currculos.
Dessa maneira, o presente estudo se interessa pelo mapeamento temtico
das teses defendidas nos Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
(PPGEF), no Brasil, no perodo de 1994 a 2008. Busco, com a anlise proposta,
contribuir para a reflexo sobre a rea, pois, ao focar a produo dos PPGEF,
20
permite-se uma leitura de como se constitui e se movimenta o campo
1
da Educao
Fsica (EF).
A opo pela anlise das teses ocorre com base no entendimento de que
elas, como documentos produzidos no contexto cientfico, so formas conceituadas
de produo cientfica, dado o rigor metodolgico exigido para sua elaborao.
Assim, podem ser consideradas formas representativas da produo de um pas ou
de uma instituio (NOZAKI et al., 2007).
A anlise desses trabalhos pode caracterizar quantitativa e qualitativamente,
de maneira confivel, um dado espectro da atividade cientfica, visto que so
elementos importantes da literatura cientfica, pois revelam as preocupaes dos
pesquisadores quanto configurao do campo em perodos especficos ou ao
longo de uma trajetria, ao mesmo tempo em que podem apontar problemas
disciplinares, bem como teorias e metodologias utilizadas pela rea (VANZ et al.,
2007).
Assim, entre as possibilidades para avaliar a produo cientfica de
determinada rea encontra-se a identificao das temticas pesquisadas. Os
estudos de mapeamento, segundo Arajo (2006) buscam definir os principais
assuntos de uma cincia particular e determinar quanto da atividade cientfica
dedicada a cada um deles. Contribui ainda, neste estudo, para a leitura da rea, a
identificao das palavras-chave utilizadas pelos pesquisadores tendo em vista que
essas tm papel fundamental na representao do conhecimento por sua relao
com os contedos especficos das idias cientficas representadas pelos termos.
Entendo, portanto, que mapear as temticas e identificar as terminologias
utilizadas nas produes da EF se constitui em tarefa til para compreender os
esforos feitos (lutas e acordos) pela rea em se autorrepresentar e elaborar um tipo
de estrutura especfica e comum ao grupo de pesquisadores. Nesse sentido, o
trabalho busca compreender o momento de interao/tenso entre os que
participam da constituio do campo, num contexto cientfico marcado pelo debate.
Dessa forma, a tentativa de traar um quadro conceitual no qual se realiza a
investigao na rea decorre do fato de que reconheo que nesse espao so
1
Para Bourdieu (2004) o campo cientfico se apresenta como um campo de foras e um campo de
lutas para conserv-lo ou transform-lo. Nesse campo, os agentes criam o espao e esse s existe
pelos agentes e pelas relaes objetivas dadas entre eles. Nessas condies a estrutura das
relaes objetivas entre os diferentes agentes que determinam os pontos de vista, as intervenes
cientficas, os lugares de publicao, os tema escolhidos, os objetos estudados, etc.
21
dadas as condies de produo e circulao do capital cientfico gerado e que a
partir desse quadro que os agentes constroem (auto) representaes e
pressuposies sobre o conhecimento vlido, alm de compor um campo semntico
e lxico (ROMANCINI, 2006).
Assim, destaco que investigaes dessa natureza podem contribuir para a
reflexo epistemolgica das diferentes reas, pois abrangem o estudo da sua
realidade social. Para isso, tomam a rea estudada como um espao social ocupado
por agentes que se dedicam a pesquisar temticas que consideram relevantes para
o seu progresso. Dessa maneira, ainda que apresentem limitaes e no sejam
capazes de dizer tudo sobre a natureza de um campo, esses estudos permitem
levantar elementos significativos que, em sua combinao, podem propiciar marcos
de inteligibilidade sobre o estado de uma rea de conhecimento.
1.1 OBJETO DE ESTUDO
Sem dvida, a criao de programas de ps-graduao nas diferentes reas
de conhecimento pode ser entendida como elemento importante para a capacitao
de pessoas para o desenvolvimento de pesquisas, gerando, por conseqncia,
aumento da produo cientfica. Esta, por sua vez, divulgada por meio de
diferentes canais que podem variar de rea para rea ou de pesquisa para pesquisa,
formando um sistema de comunicao cientfica.
Esse sistema inclui todas as formas de comunicao que podem ser
utilizadas pelos cientistas no momento da difuso dos resultados de seu trabalho.
Entre eles, documentos amplamente difundidos e que podem ser adquiridos no
mercado, denominados literatura branca, como artigos de peridicos e livros, e
documentos que tm pouca ou nenhuma probabilidade de serem adquiridos
comercialmente, denominados literatura cinzenta.
2
Esses ltimos incluem, entre
outros, atas de congresso, boletins, dissertao de mestrado, normas, patentes,
2
Segundo Gomes, Mendona e Souza (2000) a expresso literatura cinzenta traduo do termo
grey literature usada para designar documentos no convencionais e semipublicados produzidos
nos mbitos governamental, acadmico.
22
publicaes oficiais, relatrios tcnicos, teses de doutorado (FUNARO; NORONHA,
2006).
Segundo esclarecem Funaro e Noronha (2006), a cor cinza foi determinada
como representativa da nvoa que obscurecia a localizao e obteno desses
documentos, mas apesar disso, no tem uma conotao negativa, pois essa
literatura tem sido cada vez mais utilizada por trazer originalidade e contribuies
significativas para a rea acadmica.
De fato, em funo do avano das novas tecnologias de informao e
comunicao, inmeras bibliotecas digitais de teses e dissertaes foram
organizadas e passaram a disponibilizar essa literatura cinzenta cujo acesso era, at
ento, restrito. Nesse sentido, elas atuam como canais privilegiados para difuso do
conhecimento produzido e minimizam as dificuldades advindas da respectiva
localizao e acesso dessas produes, uma vez que esses trabalhos contm
informaes que muitas vezes no se encontram publicadas em outro local e seu
contedo pode ser mais detalhado que o encontrado em outras formas de
publicao.
Essas mudanas, que possibilitaram maior acesso do usurio chamada
literatura cinzenta, geraram um debate sobre a manuteno da classificao desses
documentos, j que a facilidade do acesso rompe com uma de suas principais
caractersticas fazendo com que alguns autores
3
passem a defender a possibilidade
de reclassificao dessa literatura.
Apesar dessa considerao, preciso enfatizar que dissertaes e teses
podem ser compreendidas como dispositivos com funes de perpetuao da
memria da atividade intelectual desenvolvida no mbito acadmico. Dessa
maneira, explorar as bases
4
que contenham esses dados significa rememorar e
reavaliar a atividade cientfica desenvolvida na universidade (KOBASHI; SANTOS,
2006). Assim, como enfatiza Kobashi (2007), resgatar essas inscries e analis-las
um modo de promover a reapropriao do conhecimento produzido.
Com base nas leituras realizadas, considero, portanto, que a anlise temtica
das dissertaes e teses fornece dados sobre a pesquisa feita no pas, tendo em
vista que os programas passam por avaliaes constantes que exigem a criao de
3
Sobre a discusso ver: Funaro, Noronha (2006).
4
O termo base de dados refere-se ao conjunto de dados interrelacionados, organizados de forma a
permitir a recuperao da informao. (ALBRECHT; OHIRA, 2000).
23
repositrios para atender as demandas desse processo. Em funo disso, existe
uma grande quantidade de informaes que podem ser utilizadas na gerao de
indicadores. Na viso de Kobashi (2007), a escolha das dissertaes e teses como
base emprica de pesquisas configura-se como hiptese de trabalho alternativa para
sustentar os processos de mapeamento da pesquisa cientfica do pas, tendo em
vista que os programas so instncias altamente institucionalizadas.
Nesse sentido, vrias possibilidades de estudo esto colocadas a partir da
utilizao das teses e dissertaes: refletir sobre as pesquisas da rea; investigar a
base de fundamentao dos discursos correntes dos pesquisadores; conhecer a(s)
problemtica(s) central (is) de investigao e mtodos utilizados, etc. Isso faz com
que a reflexo seja possvel sob diversos enfoques e abordagens.
Assim, os dispositivos de memria institucionalizados, dentre eles as
dissertaes e teses, so inscries que, se adequadamente analisadas, podem
gerar representaes da cultura cientfica de um pas ou de uma rea especfica.
Analisar essas inscries, descobrir relaes entre os dados e apresent-los sob a
forma de mapeamento temtico constitui-se, portanto, em um modo de resgatar a
produo de conhecimento. Esse resgate pode se configurar, alm disso, como
insumo para promover a produo de novos conhecimentos e para orientar as
polticas de pesquisa. (KOBASHI; SANTOS, 2008).
Nesse contexto, alguns estudos concentram-se em tcnicas bibliomtricas
5
para monitorar o desenvolvimento cientfico, uma vez que essas so consideradas
instrumentos teis para identificar padres na estrutura dos campos cientficos,
processos de disseminao do conhecimento e visualizar as dinmicas do
desenvolvimento cientfico, tecnolgico e de sua efetiva adoo na produo de
bens e servios (KOBASHI; SANTOS, 2008)
Os mapas gerados a partir desses dados e mtodos so representaes da
produo cientfica das reas. Tem-se, neste caso, garantia na gerao das
representaes da institucionalizao de uma rea do conhecimento. Nota-se,
portanto, que a anlise da pesquisa cientfica a partir de registros de bases de dados
5
A anlise bibliomtrica tem sido aplicada em estudos para a produo de indicadores cientficos e
mapas da cincia que dizem respeito anlise e monitoramento da produo cientfica para orientar
a elaborao de polticas cientficas (KOBASHI; SANTOS; CARVALHO, 2006). A produo de
indicadores da cincia, por mtodos bibliomtricos, requer um conjunto de dados padronizados,
sistematizados e consistentes, em princpio encontrveis nas bases de dados bibliogrficos. Essas
fontes favorecem as abordagens bibliomtricas em razo da forma em que os dados se encontram
estruturados.
24
tem sido entendida como um procedimento clssico para gerar indicadores e o tipo
de cobertura das fontes utilizadas torna-se fator fundamental para validar os
indicadores produzidos (KOBASHI, 2007).
Na EF, em funo do aumento do nmero de programas de ps-graduao
implantados a partir do final da dcada de 1970 observa-se uma tendncia de
crescimento da produo de dissertaes e teses, o que leva necessidade de
refletir sobre a evoluo da comunidade cientfica e a contribuio que esta parcela
est oferecendo para a definio dos rumos da rea. Em funo disso, proponho,
neste estudo, realizar o mapeamento temtico das teses aprovadas nos PPGEF por
entender que essas produes so bases de informaes confiveis para
formulao de indicadores e gerao e interpretao de cartografias temticas
6
e de
relaes sociais.
A partir dessas consideraes, busco responder ao seguinte questionamento:
quais as temticas abordadas nas teses defendidas nos Programas de Ps-
Graduao em Educao Fsica, no Brasil, no perodo de 1994 a 2008?
1. 2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Realizar um mapeamento temtico das teses defendidas nos Programas de
Ps-Graduao em Educao Fsica
7
, no Brasil, no perodo de 1994 a 2008.
6
O termo cartografia temtica est presente nos trabalhos de Kobashi e Santos (2006) e de Eliel,
Santos e Eliel (2006). No estudo ora proposto, ser utilizado para referir-se a um mecanismo de
representao das temticas inscritas em recursos informacionais, como tese, livros, etc. (ELIEL,
2007).
7
Na configurao atual, onze programas da rea oferecem cursos de doutorado. Contudo, apenas
seis: Universidade de So Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Universidade Gama Filho (UGF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade
Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho (UNESP) e Universidade Catlica de Braslia (UCB), em
funo do ano de criao, apresentam teses defendidas no perodo estudado e, portanto, sero
analisados.
25
1.2.2 Objetivos especficos
- Caracterizar os PPGEF, do Brasil, que possuem cursos de doutorado quanto ao
ano de criao, rea(s) de concentrao, linhas de pesquisa e nmero de teses
defendidas, permitindo analisar a configurao institucional do campo;
- Identificar a terminologia utilizada nas palavras-chave a fim de analisar o nvel de
consenso sobre o sistema conceitual da rea.
- Identificar as temticas das teses defendidas e relacion-las com a rea de
concentrao e linha de pesquisa em que foram produzidas;
Para alcanar os objetivos propostos, alguns questionamentos so
formulados:
- Como se caracterizam os PPGEF brasileiros que apresentam cursos de doutorado
e teses defendidas no que se refere ao ano de criao, rea(s) de concentrao,
linhas de pesquisa e nmeros de teses defendidas?
- Quais as palavras-chave utilizadas para identificao das teses?
- Quais as temticas abordadas nas teses defendidas nos programas estudados?
- H relao entre a temtica abordada na tese e a rea de concentrao do
programa em que foi desenvolvida?
- H relao entre a temtica abordada na tese e a linha de pesquisa em que foi
desenvolvida?
- Como a anlise das temticas das teses pode contribuir para pensar em
indicadores de avaliao mais apropriados para a rea?
Para isso, o corpus desta pesquisa compreende as teses aprovadas nos
PPGEF, entre 1994 a 2008, por entender que elas constituem importante
contribuio como produto da cincia e por evidenciarem as mais recentes prticas,
aplicaes e delineamentos de pesquisa da rea. Desse modo, o estudo procura
identificar caminhos alternativos para o entendimento da institucionalizao da
cincia e sua representao, considerando que as teses so reflexos da atividade de
pesquisa institucional. Contudo, deseja ir alm da simples identificao de
caractersticas, pretendendo explicar como elas ajudam a configurar o campo
cientfico da rea.
26
1.3 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAO DO ESTUDO
As pesquisas que buscam estudar a prpria cincia so, muitas vezes,
estimuladas pela certeza de que esta necessita ser constantemente analisada,
qualquer que seja a rea, no que se refere qualidade e efetividade do
conhecimento produzido ou mesmo a qualidade do produtor.
Partindo desse entendimento, considero que a anlise temtica das teses
defendidas nos PPGEF torna-se relevante, pois permite mapear o desenvolvimento
da rea, analisando sua configurao. Por meio de seus resultados, torna-se
possvel indicar perspectivas para o campo, j que o estudo possibilita a realizao
de um mapeamento sistemtico da pesquisa em EF nos ltimos anos, alm de
contribuir para melhor entendimento das linhas de pesquisa dos programas,
podendo subsidiar as suas polticas acadmicas e permitir que sejam construdos
indicadores de produo. Pode, ainda, fornecer uma leitura confivel da pesquisa
realizada e no apenas ser uma foto instantnea que quase nada revela sobre a
atividade de pesquisa da rea (KOBASHI, 2007).
A observao dos trabalhos realizados na EF possibilita concluir que j h
algum tempo existe interesse em sistematizar informaes sobre a produo
cientfica. Contudo, Kroeff (2000) destaca que, embora a interface entre Cincia da
Informao e Sociologia - que enfatizam processos de produo e comunicao
cientfica - ocorra desde o final da dcada de 1970, os estudos sobre produo
cientfica na EF pouco usufruram dessa concepo (KROEFF, 2000). Dessa
maneira, analisar as temticas das produes e relacion-las aos programas e
contextos mais abrangentes possibilita uma leitura de como se tem processado a
prpria concepo de cincia na rea e dos fundamentos terico-metodolgicos que
tm orientado a produo do conhecimento reconhecido como cientfico na EF. De
fato, corroboro com Silva (1997) ao afirmar que a investigao continuada dos
assuntos relacionados produo cientfica da EF permite uma maior aproximao
e compreenso de qual tem sido a contribuio da pesquisa cientfica no processo
de anlise, crtica e busca de solues para os problemas enfrentados pela rea e
suas articulaes com as questes sociais mais abrangentes. Possibilitam, ainda,
explicitar qual o papel, o alcance e o significado da pesquisa desenvolvida no mbito
da EF no Brasil.
27
A opo por esse caminho se faz em funo de considerar que a definio do
campo cientfico, bem como a atualizao dos critrios de comunicao devem ser
realizadas sempre a partir do que praticado pela comunidade (FERREIRA NETO,
2005). Nesse entendimento, as teses aprovadas nos PPGEF apontam indcios das
prticas da comunidade cientfica da EF. Corroborando essa idia, Nbrega (2005,
p. 117) destaca que [...] a configurao acadmica ocorre no esforo concreto da
produo do conhecimento, bem como do debate qualificado sobre essa mesma
produo.
Logo, parto, nesse trabalho, do entendimento de que as teses defendidas nos
PPGEF fornecem dados importantes para o mapeamento dos temas de pesquisa,
reas e linhas, sobretudo, se considerarmos que os programas so avaliados de
forma sistemtica.
Com efeito, de todas as atividades acadmicas, tais como publicao de
artigos em revistas, organizao de colquios e financiamento de projetos
de pesquisa, ela [a tese] a mais organizada, certificada por pares e
controlada pelas instituies universitrias; ela tambm que participa
ativamente da reproduo do corpo de pesquisadores da disciplina, sob a
superviso de um orientador previamente reconhecido por autoridades
legitimadas. Analisar as teses [...] permitir, portanto, ter um olhar
privilegiado sobre a produo de saber de uma dada disciplina (KOBASHI;
SANTOS, 2006, p. 31).
Os autores ainda destacam que no se dispem, no pas, de estudos
abrangentes sobre as temticas de pesquisa dos programas de ps-graduao, as
relaes sociais estabelecidas (cooperao) e seu mapeamento. Para eles, essa
situao responsvel, em larga medida, pelas dificuldades enfrentadas pelas
universidades e institutos de pesquisa para avaliar sua produo e produzir
indicadores confiveis. Compromete-se, dessa forma, a formulao de polticas de
pesquisa, includas a a definio de reas ou projetos prioritrios para destinao
de recursos (KOBASHI; SANTOS, 2006, p. 31).
Ademais, explorar as bases de dados de dissertaes e teses produzidas no
pas, descrev-las e produzir indicadores pode fornecer subsdios para compreender
a comunidade cientfica e o processo de produo cientfica. Mais do que o
conhecimento de pontos isolados, pode contribuir para conhecer melhor os
elementos que influenciam o processo de produo e de institucionalizao da rea.
Por fim, vale destacar que a escolha da temtica justifica-se pelo meu
percurso acadmico. Durante a graduao em EF me inseri no Instituto de Pesquisa
28
em Educao e Educao Fsica (PROTEORIA)
8
que utiliza os peridicos
9
como
fonte e como objeto para as pesquisas realizadas. Dentro desta proposta, me
envolvi, inicialmente, com o trabalho sobre a avaliao das revistas cientficas da
EF
10
e, posteriormente, no mestrado, desenvolvi pesquisa sobre a produo
cientfica dos doutores da rea
11
buscando dialogar com a ps-graduao. Assim, o
envolvimento com essas temticas e as leituras realizadas no processo de
elaborao dos trabalhos me aproximaram da rea da Cincia da Informao,
despertando o interesse pela proposta aqui desenvolvida.
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
Para alcanar os objetivos propostos, o trabalho se estrutura em seis
captulos.
No Captulo II busco construir um referencial para a discusso proposta a
partir da reflexo sobre os indicadores de C&T, a avaliao da cincia, a
Cientometria
12
e a Bibliometria. Parto da relao entre universidade, cincia e
8
O PROTEORIA foi criado em 1999 com o objetivo de compreender o itinerrio de sistematizao
da(s) teoria(s) da Educao Fsica brasileira no sculo XX, de modo a captar suas caractersticas
cientfico-pedaggicas, tendo como referncia sua insero, limites e contribuies para a
implantao e consolidao da Educao Fsica como componente curricular nas escolas do Brasil.
As fontes privilegiadas so os peridicos da rea de Educao Fsica com circulao no sculo XX
9
Segundo Stumpf (2000), o uso dos termos "peridicos cientficos" e "revistas cientficas"
diferenciado pelo tipo de profissionais que os utilizam. Bibliotecrios preferem a denominao
peridicos cientficos, j pesquisadores preferem revistas. Contudo, a mesma autora declara que na
literatura brasileira, os dois termos se apresentam tanto como sinnimos, como gnero e espcie.
Neste estudo, os termos sero tomados como sinnimos.
10
Durante a graduao, participei da pesquisa Avaliao de peridicos cientficos da Educao
Fsica brasileira, sob orientao do Professor Dr. Amarlio Ferreira Neto, que resultou na produo
de monografia final de curso e da publicao de dezesseis relatrios tcnicos sobre avaliao dos
peridicos da rea e um artigo na revista Movimento, em 2003, disponveis em: www.proteoria.org.
11
Como trabalho final de mestrado, apresentei a dissertao intitulada A produo cientfica dos
doutores em Educao Fsica no Brasil (1990-2000), no PPGEF da Universidade Gama Filho/RJ,
sob orientao do Professor Dr. Hugo Lovisolo e co-orientao do Professor Dr. Amarlio Ferreira
Neto. O trabalho teve como objetivo mensurar a produo cientfica dos doutores titulados pelos
PPGEF das Instituies de Ensino Superior (IES) brasileiras, no perodo de 1990 a 2000, buscando
traar o perfil do grupo quanto ao gnero, formao profissional e atividades profissionais exercidas,
e das caractersticas da produo quanto ao idioma, tipo de autoria e suporte bibliogrfico utilizado na
divulgao.
12
Stumpf et al (2006), em estudo sobre a utilizao dos termos cientometria e cienciometria pela
comunidade cientfica brasileira, informam que eles no aparecem nos dicionrios da lngua
portuguesa e que no h predominncia, nas anlises quantitativas realizadas, da utilizao de uma
das expresses. Em funo disso, indicam que quando no h predomnio no uso de um ou outro
termo, deve ser buscada a sua origem etimolgica. Assim, considerando que o termo deriva da
29
produo cientfica e construo um histrico do uso de indicadores cientficos no pas.
Em seguida proponho uma reflexo sobre as reas que se dedicam a avaliao da
produo cientfica e realizo levantamento de pesquisas brasileiras que enfocam o
mapeamento temtico da produo, na Cincia da Informao e na EF.
O Captulo III apresenta uma anlise da constituio do campo da EF em que
busco enfocar o debate em torno da sua identidade e legitimidade, alm de discutir a
diversidade epistemolgica dos programas de ps-graduao da EF por entender
que esses so aspectos essenciais na determinao de caractersticas da produo
cientfica da rea.
No Captulo IV proponho uma reflexo sobre a ps-graduao no pas
buscando explicitar os condicionantes socioeconmicos e polticos que efetivaram a
expanso desse sistema e determinaram caractersticas e tendncias presentes at
hoje. Busco situar a EF nesse processo por meio de dados referentes ao processo
de criao, constituio e avaliao dos cursos com a finalidade de estabelecer
nexos entre a produo cientfica analisada, as teses e o contexto no qual essas
esto inseridas.
No Captulo V apresentado os procedimentos metodolgicos adotados na
pesquisa.
O Captulo VI dedica-se apresentao dos resultados da pesquisa a partir
da anlise dos PPGEF em que abordo suas caractersticas (nmero de teses
defendidas, reas de concentrao, linhas de pesquisas), bem como apresento a
anlise das teses (temtica e terminologias empregadas) buscando relacionar suas
caractersticas com o contexto da ps-graduao da rea.
Nas Consideraes Finais apresento a problematizao dos resultados
buscando indicar novos problemas/questes para pesquisas que resultem em
avanos na rea quando observados a partir do olhar da Cincia da Informao.
expresso latina scientia os autores afirmam que deve ser escrito com a letra t. Contudo, nesse
estudo, ao realizar citaes, opta-se por respeitar a denominao utilizada pelos autores tomados
como referncia.
30
31
2. OS INDICADORES DE C&T E A AVALIAO DA CINCIA
Neste captulo pretendo construir um referencial para a discusso proposta no
trabalho, buscando pensar no mapeamento temtico como indicador de atividade
cientfica. Para isso, parto de uma reflexo sobre a relao entre a universidade e
produo cientfica e abordo um histrico do processo de construo de indicadores
cientficos no pas. Em seguida, enfoco a consolidao da Cientometria e
Bibliometria no processo de avaliao da produo cientfica para, ento, apresentar
um levantamento de estudos, na Cincia da Informao e na EF, que realizaram
mapeamento temtico da produo por entender que eles podem servir de
parmetro para uma comparao entre os resultados por eles alcanados e pela
pesquisa que ora apresento.
2.1 UNIVERSIDADE, PRODUO CIENTFICA E SEU PROCESSO DE
AVALIAO
Quando se discute o papel social da universidade, a pesquisa assunto
constante, sobretudo, pela importncia que assume no desenvolvimento da
sociedade. Por ser uma das instituies responsveis pela formao de profissionais
capacitados nas mais diversas reas, tem sido considerada como grande plo
produtor de conhecimento cientfico e tecnolgico.
No contexto brasileiro, as universidades apoiadas no trip ensino, pesquisa e
extenso assumem papel de destaque na pesquisa cientfica e tecnolgica que so
concretizadas, na maioria das vezes, nos cursos de ps-graduao stricto sensu
(FUGINO, 2006). Nessa perspectiva, considera-se a universidade como lugar
propcio ao cultivo dos conhecimentos e gerao de novos saberes, devendo
proporcionar, portanto, condies e meios para a criao e a transmisso das
informaes produzidas. De fato, ela tem se responsabilizado pela produo do
conhecimento cientfico em nosso pas e, de acordo com Schelp (2004), responde
32
por 89% da produo cientfica enquanto, nos Estados Unidos, esse nmero de
28%.
Ainda que o sistema educacional e, consequentemente, o sistema de C&T
brasileiros tenham sido estruturados tardiamente e, em funo disso, ainda estejam
em processo de consolidao, nas ltimas quatro dcadas houve considervel
avano no segmento de C&T no pas mostrado pelos indicadores internacionais.
Entre os 30 pases mais destacados no ranking da cincia mundial responsveis por
90% dessa produo, o crescimento do Brasil s foi menor do que o de alguns
poucos pases desse conjunto, que tambm tiveram crescimento excepcional, como
Coria do Sul, Taiwan, China, Espanha e Turquia (GUIMARES, 2004).
O autor destaca, ainda, que, apesar das deficincias apresentadas no
componente qualitativo, o desempenho da cincia brasileira guarda paralelismo
inequvoco com o processo de formao de recursos humanos em C&T, centrado no
reconhecido sucesso da ps-graduao. Assim, os processos de capacitao de
recursos humanos em C&T alimentam a formao e a consolidao dos grupos de
pesquisa formando, no conjunto, um eficiente ciclo virtuoso, executado
predominantemente nas universidades pblicas (GUIMARES, 2004).
Nesse sentido, a produo cientfica pode ser compreendida como a forma
pela qual a universidade ou instituio de pesquisa se faz presente no saber-fazer-
poder cincia; a base para o desenvolvimento e a superao de dependncia
entre pases e entre regies de um mesmo pas (WITTER, 1997). Isso revela a
estreita relao entre a produo cientfica e atuao dos cursos de ps-graduao,
de forma que se tornou comum entender pesquisa e produo cientfica como a
essncia das universidades.
O resultado final do trabalho dos cientistas, denominado produo cientfica,
pode ser apresentado em forma de patentes, objetos, inovaes tecnolgicas e
outros, sendo os mais comuns os textos que podem ser entendidos como a
formalizao da produo cientfica e buscam a construo do saber, pois,
independente da rea, visam a ser um veculo de informao para outros cientistas,
se no o forem para a sociedade.
Na viso de Moura (1997), a produo cientfica pode ser entendida como
importante vetor para a consolidao do conhecimento nas diferentes reas e a
universidade deve ser vista como o locus, por excelncia, onde esta produo
gerada. Seguindo esse entendimento, Noronha, Kiyotani e Juanes (2003) afirmam
33
que as instituies acadmicas tm como um de seus atributos principais gerar e
comunicar os conhecimentos que serviro de base para o crescimento da cincia e
abertura de novas frentes de pesquisa e estudo.
Essa relao entre produo cientfica e ps-graduao reconhecida por
autores de diversas reas. Na EF, Resende e Votre (2003, p. 51) afirmam que a
qualidade da produo do conhecimento e da interveno profissional nas diversas
subreas da EF deve-se ao surgimento dos cursos de mestrados e doutorados nas
dcadas de 1970 e 1980, respectivamente, e enfatizam que [...] faz parte da
tradio brasileira o estabelecimento de estreita relao entre ps-graduao stricto
sensu e produo cientfica. Lovisolo (2003, p. 98), por sua vez, destaca que, [...]
nas ltimas dcadas, a poltica pblica no Brasil associou o funcionamento das ps-
graduaes estrito senso (mestrado e doutorado) com a pesquisa, sendo consenso
nacional que esta se realiza dominantemente nos programas de ps-graduao.
Ao analisar o conjunto de conceitos apresentados por diferentes autores
sobre produo cientfica, Domingos (1999) destaca que eles englobam a idia de
utilizao de mtodos especficos por profissionais de diferentes reas para
obteno de um produto que visa ao desenvolvimento do conhecimento e que
apresentado em uma linguagem e normas ditadas pela comunidade cientfica, por
meios especficos de comunicao. Nesse contexto, os estudos relativos produo
cientfica podem enfocar produtor, produto, consumidor ou a interao entre esses
elementos. O que se produz, a quem se comunica e quais os canais de
comunicao utilizados so aspectos essenciais para o conhecimento da produo
cientfica.
Ao tratar da produo cientfica, portanto, no se pode ignorar o fato de a
realizao da pesquisa e a comunicao de seus resultados estarem
intrinsecamente relacionadas. A contribuio da comunicao cientfica na produo
e divulgao da cincia incontestvel, j que a comunicao dos resultados da
pesquisa parte essencial do processo de construo de conhecimento e deve ser
feita para informar a sociedade e fazer com que haja apoio cincia, inclusive com
recursos financeiros.
Dessa forma, da necessidade de discutir a qualidade da cincia a partir da
experincia dos pesquisadores, de conferir credibilidade aos resultados alcanados
e da necessidade de estabelecer critrios de avaliao para financiamento, surgiu a
formalizao de indicadores que contemplavam esses questionamentos. Para o
34
monitoramento da atividade cientfica, seu impacto e resultados, foram elaboradas
metodologias de avaliao, dentre elas as que utilizam critrios quantitativos que
ajudam a desvincular a avaliao de aspectos subjetivos, de forma que se pode
afirmar que a avaliao da produo cientfica no uma prtica recente.
Assim, com o crescimento da produo surge, tambm, a necessidade de sua
avaliao que toma como base os documentos produzidos e divulgados pela
comunidade cientfica e tem se tornado atividade constante. Mais que instrumentos
gerenciais, as ferramentas de avaliao fornecem legitimidade para prticas e
concepes dominantes da atividade cientfica, oferecendo uma referncia
importante para o cotidiano dos pesquisadores.
No Brasil, a produo bibliogrfica tem sido vista como a parte mais visvel da
atividade cientfica e a sua avaliao tem sido feita para permitir, entre outras, a
distribuio de recursos financeiros. Para isso, algumas metodologias tm sido
adotadas visando a explicar o status quo do setor de cincia e tecnologia e seu
modus operandi. O conceito-chave do processo a qualidade e seu instrumento de
legalidade, a quantificao. A avaliao, nesses moldes, usada para a tomada de
deciso e justificativa racional e objetiva na administrao de recursos destinados
pesquisa (SILVA; MENEZES; PINHEIRO, 2003).
V-se, ento, que a avaliao da produo cientfica torna-se tarefa
fundamental para medir a qualidade das pesquisas realizadas de forma que para
Oliveira (1999) ela deve ser um dos elementos principais para o estabelecimento e
acompanhamento das polticas de ensino e pesquisa, tendo em vista que permite a
realizao de um diagnstico das potencialidades das instituies acadmicas.
Na viso de Davyt e Velho (2000) a avaliao parte integrante do processo
de construo do conhecimento cientfico e, por meio dela, definem-se os rumos,
tanto do prprio contedo da cincia quanto das instituies, e isso faz do tema um
elemento central em diversas abordagens da Sociologia da Cincia e no estudo das
prticas cientficas. Assim, algumas formas de avaliar a cincia e o fluxo de
informao passaram a ser adotadas e cada uma delas busca tcnicas que podem
ser quantitativas, qualitativas ou a unio de ambas - para medir diferentes enfoques
do conhecimento cientfico.
A anlise quantitativa pode ser vista, de acordo com Mugnaini (2006), como
decorrncia da mensurao da magnitude da cincia que passa a ser realizada
quando ela deixa de ser pequena. Para ele, a amplitude da cincia produzida em um
35
pas pode ser apontada pela mensurao de sua produo bibliogrfica e, devido a
quantidade de informao nesse mbito, a necessidade de classificar, organizar,
resumir evidente, pois pode minimizar os custos e o tempo de execuo da
avaliao. Essa opinio compartilhada por Davyt e Velho (2000) ao afirmarem que
a opo pelos mtodos quantitativos de anlise de produo cientfica por parte de
governos e agncias responsveis pela alocao de recursos ocorreu em funo da
exigncia de uma quantidade cada vez maior de informao para a definio de
prioridades e investimento na cincia.
No que se refere avaliao qualitativa, Kobashi e Santos (2006) entendem
como aquela realizada por pares e que tem como objetivo julgar propostas de
pesquisa, avaliar grupos, dentre outros aspectos. Complementam essa viso Davyt
e Velho (2000) ao acrescentarem que a reviso por pares pode ser compreendida
como mtodo de avaliao formal e como mecanismo autorregulador da cincia
moderna, contribuindo para a consolidao da comunidade cientfica na medida em
que seus integrantes definem as regras (de acesso e excluso) e que, por meio de
uma hierarquia, distribuem prestgio e autoridade como recursos. Sobre o processo,
afirmam que
A arbitragem , assim, o ponto de encontro de duas transformaes: o
processo de negociao para atingir consensos na atividade cientfica, no
qual as mltiplas realidades transformam-se na verdade cientfica; e o
processo pelo qual interpretaes subjetivas de resultados so colocadas
num texto manuscrito seguindo determinadas regras, transformando-se
num artigo cientfico, e logo, numa entidade quantificvel. Isto descreve um
processo de legitimao mtua de atores diferentes: pesquisadores e
artigos (DAVYT; VELHO, 2000, p. 95).
2.2 INDICADORES DE C&T: ANLISE HISTRICA
O desenvolvimento de uma ampla rede de informaes sobre as atividades
de C&T pode ser notado como uma preocupao constante do governo de
diferentes pases, tendo em vista que um sistema abrangente nesse setor pode se
constituir em ferramenta fundamental para avaliar as potencialidades da sua base
cientfica e tecnolgica; para monitorar as oportunidades nas diversas reas; e para
identificar atividades e projetos promissores, auxiliando as decises estratgicas dos
36
gestores da poltica cientfica e tecnolgica (MCT, 2004). De fato, nas ltimas
dcadas, os indicadores de produo cientfica vm ganhando importncia
crescente como instrumentos para anlise da atividade cientfica e das suas
relaes com o desenvolvimento econmico e social.
Contudo, o interesse pelos indicadores cientficos no novo. De acordo com
Ramos (2008), o ano de 2006 marcou o centenrio da coleta e produo sistemtica
de estatsticas e indicadores de cincia, tecnologia e inovao (CT&I) no mundo.
Esse perodo, como destaca a autora, pode ser, de maneira didtica, dividido em
trs grandes fases.
[...] de 1906 a 1930, a comunidade cientfica e a produo de
conhecimento constituam o ncleo dos esforos de mensurao; no
perodo ps-segunda guerra mundial at fins da dcada de 80, passaram a
ocupar essa posio as atividades de pesquisa e desenvolvimento
institucionalizadas e sistemticas; e a partir de meados da dcada de 90,
as atividades de inovao tornaram-se o fenmeno observado central
(RAMOS, 2008, p. 3).
A autora destaca que, na primeira fase, os esforos - pioneiramente
realizados nos Estados Unidos, Canad e Gr-Bretanha - destinavam-se
mensurao do tamanho da comunidade cientfica e de sua produtividade. As
anlises, realizadas pelos prprios cientistas, recaam sobre a demografia, a
geografia e o desempenho da comunidade cientfica. No perodo posterior
Segunda Guerra, a pesquisa passou a ser vista como a condutora da prosperidade
econmica e demandou o acompanhamento da eficincia e produtividade do
sistema de cincia pelos departamentos e institutos nacionais de estatsticas. Na
fase mais recente de produo de estatsticas houve um esforo de coleta e
divulgao dessas em bases regulares, procurando seguir recomendaes
metodolgicas internacionais. A inteno era quantificar a inovao geral da
economia, levando em conta as interaes entre atores e instituies (RAMOS,
2008).
De fato, o interesse pelos indicadores de produo cientfica, segundo Velho
(2001), cresceu no perodo ps-guerra, momento em que a nfase na coleta de
informaes e estatsticas acompanhou a expanso das organizaes, dos recursos
humanos e financeiros, voltados para a investigao cientfica e tecnolgica. Esse
interesse na compilao de dados para planejar, monitorar e avaliar as atividades de
C&T pode ser atribudo a diferentes razes.
37
Algumas delas derivam do desenvolvimento institucional do aparato
governamental da poltica de C&T e da teia de relaes estabelecidas com
outros segmentos sociais; outras relacionam-se com o contexto scio-
poltico-econmico mais geral e com a mudana na viso predominante
sobre o papel da C&T no desenvolvimento dos diferentes pases. Outra
explicao, de diferente natureza, reside na evoluo terica e
metodolgica das disciplinas que constituem os chamados estudos sociais
da C&T (VELHO, 2001, p. 110).
Mugnaini (2006) salienta que o potencial do conhecimento para produo de
bens de consumo, avano das sociedades modernas e como acelerador do
progresso econmico das naes no ps-Segunda Guerra fez com que a cincia se
tornasse parte dos planos de governo de pases desenvolvidos, impondo a ela
autoavaliao.
Sobre o assunto, Davyt e Velho (2000) esclarecem que o julgamento por
pares para alocao de recursos para pesquisa passou a ser adotado,
sistematicamente, nos Estados Unidos, durante as dcadas de 1940 e 1950, com a
concepo e o estabelecimento do aparato institucional da poltica
cientfica. Diferentemente da reviso de artigos cientficos, instituda por iniciativa
dos prprios cientistas, a reviso por pares para fins de financiamento da pesquisa
originou-se nas agncias de fomento, estabelecendo uma relao da comunidade
cientfica com os organismos do Estado, tendo em vista que estes necessitavam do
aconselhamento de cientistas reconhecidos para a nova atividade de alocar recursos
para a cincia.
Esse modelo de institucionalizao da poltica cientfica, ento, logo
influenciou os governos da maioria dos pases industrializados, que estabeleceram
instituies com funes semelhantes. Assim, o sucesso desse sistema resultou na
sua disseminao, principalmente a partir da dcada de 1960, quando os recursos
para a C&T ganharam destaque no oramento dos pases e instituies para gerir
recursos foram criadas e consolidadas (DAVYT; VELHO, 2000).
Nota-se que, a partir de 1960, ocorreu o fortalecimento das evidncias de que
C&T eram fatores fundamentais para o desenvolvimento e que, portanto, tornava-se
necessrio assegurar que participassem efetivamente do alcance dos objetivos
econmicos e sociais. Como conseqncia do novo papel, o modelo da poltica
cientfica sofreu uma mudana significativa durante os anos de 1970, passando de
uma racionalidade ofertista para uma racionalidade de identificao de prioridade.
Ou seja, medida que C&T foram deslocadas da periferia para uma posio central
38
na poltica governamental, a cincia deixou de ser vista como motor do progresso
para ser encarada como uma soluo para os problemas econmicos e sociais
(VELHO, 2001).
Na opinio de Brisolla (1998), foi a crise do capitalismo, que se instalou a
partir da dcada de 1970, que gerou uma sensao de que o investimento em
cincia estava tendo rendimentos decrescentes e determinou mudana no modelo
da poltica adotada. Em funo disso, a onda de avaliao institucional que se
propagou por todos os rgos pblicos nos pases centrais chegou ao setor
cientfico e tecnolgico. Tratava-se de acompanhar a eficincia do sistema com a
clara finalidade de aumentar sua produtividade e, principalmente, o impacto sobre o
setor econmico. Portanto, para o autor, os indicadores de cincia e tecnologia
surgiram para subsidiar a avaliao institucional e permitir estudos sobre a atividade
cientfica e tecnolgica, tornando-se elementos imprescindveis nesse processo.
Mugnaini (2006) acrescenta que a relao entre cincia, tecnologia e
sociedade (CT&S) passou a ser analisada, nesse perodo, com o objetivo de
identificar agentes propiciadores de desenvolvimento econmico nacional, poder
blico, poltico, tecnolgico e de solues de problemas sociais. Em virtude do novo
cenrio, houve uma reestruturao institucional do aparato governamental dedicado
poltica em C&T e os setores responsveis pela poltica cientfica foram
fortalecidos em todos os pases, fazendo aparecer servios tcnicos e cientficos,
entre eles, o de compilao de estatsticas para a construo de indicadores. Para
ele, nesse momento comea a existir a conscincia da importncia da informao,
preparando-se para o acesso a ela, equipando-se com infra-estrutura prpria.
O suporte massivo dos governos de pases desenvolvidos cincia gerou
desenvolvimento e aumento quantitativo. Nesse suporte estavam
embutidos a necessidade de controle e direcionamento da cincia,
mudanas qualitativas em sua estrutura interna e organizacional, os novos
problemas de comunicao; apatia poltica e pblica diante dos efeitos
negativos de desenvolvimentos cientficos no verificados, limites de
crescimento oramentrio, necessidade de financiamento igualitrio para
todas as reas, entre outros (MUGNAINI, 2006, p. 39).
Assim, na tentativa de definir os indicadores, Mugnaini, Januzzi e Quoniam
(2004) informam que eles podem ser considerados como medidas quantitativas que
buscam representar conceitos muitas vezes intangveis dentro do universo do fazer
da cincia e da tecnologia.
39
Mais precisamente, o indicador em C&T , em analogia a um indicador
social ou econmico, uma medida quantitativa usada para substituir,
quantificar ou operacionalizar dimenses relacionadas avaliao do
processo e grau de desenvolvimento cientfico e tecnolgico (MUGNAINI;
JANUZZI; QUONIAM, 2004, p. 124).
Atualmente, os indicadores da atividade cientfica esto no centro dos
debates, sob a perspectiva das relaes entre o avano da C&T por um lado, e o
progresso econmico e social, por outro (MACIAS-CHAPULA, 1998). A literatura
aponta que revises de polticas cientficas pareceriam inconcebveis hoje sem
recorrer aos indicadores existentes e se, por muito tempo, o foco das atenes
permaneceu orientado para medir os insumos, como verbas e pessoal,
crescentemente, o interesse est se voltando para os indicadores de resultados.
Nesse sentido, Velho (2001) destaca que a busca de informaes
quantitativas sobre as atividades de C&T, atualmente, faz parte da agenda de
governos dos mais diversos pases
13
e, como resultado desse interesse, tem havido
um esforo no sentido de desenvolver conceitos, tcnicas e base de dados para a
construo de indicadores quantitativos.
A partir desse desenvolvimento, as ferramentas da cincia comearam a ser
utilizadas para estudar a prpria atividade cientfica. Com componentes
metodolgicos da sociologia e da histria, foi criada uma rea de pesquisa
denominada "cincia da cincia", por estudar a evoluo, a quantificao do esforo,
o comportamento e o impacto social da cincia, abrangendo o sistema de pesquisa
como um todo. Aplicam-se, assim, os mtodos de pesquisa habituais das cincias
naturais, fundamentalmente os quantitativos, ao objeto cincia enquanto fenmeno
e instituio social.
Esta nova rea de investigao, chamada Cientometria
14
desenvolve seus
mtodos, seus instrumentos, seus meios de comunicao, sua prpria comunidade,
sendo definida como a rea que compreende todos os tipos de anlises
13
Segundo Velho (2001) o Brasil no tem ficado alheio a esta tendncia. O pas foi um dos primeiros
a fornecer informaes sobre suas atividades de C&T em resposta solicitao da Organizao das
Naes Unidas para Educao, Cincia e Sade (UNESCO) e, ainda nos anos 70, instituiu junto ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq) uma unidade responsvel
pela compilao de dados relativos aos dispndios em C&T, a Coordenao de Oramento e
Estatstica, que capacitou uma equipe e publicou as informaes durante anos seguidos, alm da
iniciativa da criao de bases de dados.
14
A Cientometria, [...] nasce na confluncia da documentao cientfica, sociologia da cincia e
histria social da cincia, com objetivo de estudar a atividade cientfica como fenmeno social e
mediante indicadores e modelos matemticos (BORDONS, apud MUGNAINI; JANNUZZI;
QUONIAM, 2004, p. 14).
40
quantitativas dos recursos e resultados dos processos cientficos, sem observao
direta da atividade de pesquisa (DAVYT; VELHO, 2000). Se no incio a cincia da
cincia mediu os feitos, a estrutura e magnitude das comunidades cientficas, com o
passar dos anos, de forma ainda mais abrangente, todo o sistema de C&T passou a
ser medido e manipulado (MUGNAINI, 2006).
Na Cientometria, os indicadores bibliomtricos
15
tm um papel de destaque e
passam a ter importncia crescente dentro dos sistemas nacionais de indicadores de
C&T. Isso decorre do fato de que esses indicadores fornecem uma medida dos
resultados concretos e potenciais dos recursos humanos e financeiros investidos em
pesquisa. Eles cumprem a finalidade de apontar o resultado imediato e o efeito
impactante do esforo destinado C&T (MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAM, 2004).
Assim, observa-se que, em tudo o que se refere cincia, os indicadores
bibliomtricos e cientomtricos tornaram-se essenciais, tendo em vista que os
estudos sobre produo em C&T vm servindo de base para os critrios adotados
na elaborao de indicadores cientficos e na formulao de polticas cientficas.
Esses estudos possibilitam traar um perfil dos campos cientficos e tecnolgicos,
permitindo que se estabelea uma cartografia da cincia e da tecnologia que inclua
as fronteiras de cada disciplina, a posio dos principais atores dentro do mapa e as
representaes especficas de cada um dos ramos do conhecimento (VANTI, 2002).
2.3 A CIENTOMETRIA E A BIBLIOMETRIA NA AVALIAO DA CINCIA
Ao examinar a evoluo das cincias, Silva e Bianchi (2001) observaram que
o problema da medida se tornou objeto de ateno h muito tempo, de tal modo que
quanto mais evoluda uma cincia se mostra, mais cedo aconteceu sua preocupao
com a mensurao. Para os autores, em face desta grande preocupao com o
desenvolvimento da medida em diferentes campos da cincia, era inevitvel o
15
Trata de informaes bibliogrficas provenientes de um campo de estudos denominado por
Pritchard Bibliometria, em 1969. Os indicadores bibliomtricos so denominados indicadores-
produto quando se referem a resultados mais imediatos das polticas, como a produo de artigos ou
nmero de patentes. So indicadores de impacto quando se referem a desdobramentos mais a mdio
prazo ou a efeitos mais abrangentes do fomento s atividades de C&T, como o fator de impacto de
publicaes (MUGNAINI; JANNUZZI; QUONIAM, 2004).
41
surgimento da Bibliometria ou Cientometria definida por eles como o [...] estudo da
mensurao do progresso cientfico e tecnolgico e que consiste na avaliao
quantitativa e na anlise das inter-comparaes da atividade, produtividade e
progresso cientfico (SILVA; BIANCHI, 2001, p.6).
Ainda que o interesse pela avaliao da cincia no seja recente, foi na
dcada de 1980 que a Cientometria passou a despertar o interesse acadmico
quando o Institut for Scientif Information (ISI) vendeu sua base de dados para
diferentes instituies como uma ferramenta auxiliar na elaborao de polticas
cientficas. Atualmente, ela largamente usada para medir o conhecimento cientfico
e, segundo expe Macias-Chapula (1998), um segmento da sociologia da cincia
que se dedica ao estudo dos aspectos quantitativos da atividade cientfica, incluindo
a publicao.
O autor acrescenta que a Cientometria aplica tcnicas bibliomtricas cincia
e inclui outras informaes, por exemplo, as polticas cientficas e destaca que a
Bibliometria um meio de situar a produo de um pas em relao ao mundo, uma
instituio em relao a seu pas e, at mesmo, cientistas em relao s suas
prprias comunidades. Assim, os indicadores bibliomtricos, combinados a outros,
podem ajudar tanto na avaliao do estado atual da cincia como na tomada de
decises e no gerenciamento da pesquisa (MACIAS-CHAPULA, 1998).
Cabe destacar que a Cientometria abarca o estudo das cincias com o
objetivo de compreender sua estrutura, evoluo e conexes e buscando
estabelecer relaes dessas com o desenvolvimento tecnolgico, econmico e
social. Para isso, baseia-se em indicadores bibliomtricos construdos a partir de
documentos publicados em canais especializados e envolve inmeros parmetros,
tais como a quantidade de publicaes, co-autorias, citaes, co-ocorrncia de
palavras e outros. Esses parmetros so empregados como medidas indiretas da
atividade da pesquisa cientfica e contribuem para a compreenso dos objetivos da
pesquisa, das estruturas da comunidade cientfica, do seu impacto social, poltico e
econmico (FAPESP, 2005).
Mugnaini (2006) contribui para o entendimento ao esclarecer que a
Cientometria analisa de forma abrangente o aparato cientfico tecnolgico, fazendo
uso dos indicadores e preocupando-se em garantir sua validade e facilitar a
compreenso desse universo. Para isso, no se restringe s publicaes, mas se
interessa pelo sistema de pesquisa como um todo, englobando indicadores de
42
insumo e produto, buscando associar causas e efeitos dentro do sistema. Alm
disso, destaca que utilizada tambm para examinar o desenvolvimento das
polticas cientficas. J a Bibliometria, em sua viso, est inserida na Cientometria,
voltando-se ao estudo da gerao e uso da informao cientfica (e/ou tecnolgica) e
lanando mo de mtodos matemticos e estatsticos capazes de propor modelos
com vistas representao da realidade observada.
Na opinio de Vanti (2002, p. 154) a cientometria [...] se dedica a realizar
estudos quantitativos em cincia e tecnologia e a descobrir os laos existentes entre
ambas, visando ao avano do conhecimento e buscando relacionar este com
questes sociais e polticas pblicas.
Ao fazer a distino entre Bibliometria e Cientometria, Spinak (1998, p. 143)
afirma que
La bibliometria estudia la organizacin de los sectores cientficos y
tecnolgicos a partir de las fuentes bibliogrficas y patentes para identificar
los actores, a sus relaciones y a sus tendencias. Por el contrario, la
cienciometra se encarga de la evaluacin de la produccin cientfica
mediante indicadores numricos de publicaciones, patentes, etc. La
bibliometra trata con las varias mediciones de la literatura, de los
documentos y otros medios de comunicacin, mientras que la cienciometria
tiene que ver com la produtividad y utilidad cientfica.
No que se refere relao entre as duas disciplinas, o autor destaca que a
Cientometria aplica tcnicas bibliomtricas cincia. Contudo, vai mais alm, pois
tambm examina o desenvolvimento e as polticas cientficas, podendo estabelecer
comparaes entre os pases analisando seus aspectos econmicos e sociais.
Moya e Hernndez (1997, p. 236), em estudo sobre o uso de indicadores
bibliomtricos na rea mdica, tambm empreenderam esforo no sentido de definir
Bibliometria e destacam que
Denominamos bibliometria a la ciencia que estudia la naturaleza y curso de
una disciplina (en tanto en cuanto que d lugar a publicaciones), por medio
del cmputo y anlisis de las varias facetas de la comunicacin escrita. [...]
Sus objetivos fundamentales son, por una parte, el estudio del tamao,
crecimiento y distribuicin de los documentos cientficos y, por otra, la
indagacin de la estructura y dinmica de los grupos que producen y
consumen dichos documentos y la informacin que contienen.
Quanto Cientometria, os autores a definem como [...] a la aplicacin de
mtodos cuantitativos para la investigacin sobre el desarrollo de la ciencia
43
considerada como processo informativo (MOYA; HERNANDEZ, 1997, p. 236).
Sobre a aplicao, os autores informam as seguintes possibilidades
El crecimiento de cualquier campo de la ciencia, segn la variacin
cronolgica del nmero de trabajos publicados en l [...]. La evolucin
cronolgica de la produccin cientfica, segn el ao de publicacin de los
documentos [...]. La produtividad de los autores o instituciones, medida por
el numero de sus trabajos (MOYA; HERNANDZ, 1997, p. 236).
Em termos genricos, Vanti (2002, p. 155) enfatiza as seguintes
possibilidades:
[...] identificar as tendncias e o crescimento do conhecimento em uma
rea; mensurar a cobertura das revistas secundrias; identificar os usurios
de uma disciplina; prever as tendncias de publicao; estudar a disperso
e a obsolescncia da literatura cientfica; prever a produtividade de autores
individuais, organizaes e pases; medir o grau e padres de colaborao
entre autores; analisar os processos de citao e co-citao; determinar o
desempenho dos sistemas de recuperao da informao; avaliar os
aspectos estatsticos da linguagem, das palavras e frases; avaliar a
circulao e uso de documentos em um centro de documentao; medir o
crescimento de determinada rea e o surgimento de novos temas.
De fato, a pesquisa cientomtrica apresenta grande potencial de aplicabilidade.
A partir da anlise cuidadosa dos indicadores pode-se acompanhar a evoluo ou o
declnio de campos da cincia e tambm identificar reas emergentes que
necessitam de maiores suportes financeiros ou de recursos humanos para
progredirem.
Cabe salientar que os estudos da produtividade cientfica tiveram incio com o
enfoque descritivo em que o mtodo da anlise de citao auxiliava no processo de
julgamento, principalmente no aspecto quantitativo da produo cientfica. Dentro da
Cientometria, os estudos explicativos constituem um novo enfoque ao considerar
que o conhecimento cientfico reflete a cultura do contexto em que gerado, sendo
resultante da combinao dos fatores econmicos e sociais. Assim, os estudos
explicativos analisam a produtividade em suas vrias dimenses, alm de contribuir
para uma viso mais ampla que possibilita avaliar a produtividade cientfica de
determinada rea do conhecimento.
Sob essa tica, entende-se que o conhecimento cientfico afetado pelas
condies sociais de um contexto especfico, ou seja, como produto, o
44
conhecimento traz consigo o reflexo da cultura do contexto em todas as suas
particularidades, refletindo os efeitos do ambiente de pesquisa, do prprio cientista,
bem como as limitaes impostas pelo meio (KROEFF, 2000).
Dessa maneira, guardadas as diferenas teminolgicas, alguns aspectos
operacionais e campos de aplicao, possvel concluir que a Cientometria e a
Bibliometria tm em comum o fato de se ocuparem do desenvolvimento de
metodologias para anlise e construo de indicadores, com base em abordagem
interdisciplinar. Baseiam-se, pois, em indicadores construdos a partir de
documentos publicados que so observados quanto quantidade, autoria, citaes
e temas. Esses parmetros so empregados como medidas indiretas da atividade
da pesquisa cientfica e contribuem para a compreenso dos objetivos da pesquisa,
das estruturas da comunidade (KOBASHI; SANTOS, 2006).
Contudo, preciso destacar que a fidedignidade ou a confiabilidade dos
resultados dos estudos bibliomtricos ir depender substancialmente de sua
aplicao correta, considerando suas vantagens, mas tambm as limitaes e
condies necessrias de sua utilizao. Para Silva, Menezes e Pinheiro (2003, p.
13) [...] para garantir uma avaliao sensata necessrio que se considere as
especificidades da cultura cientfica em cada rea e as idiossincrasias de seus
pesquisadores.
2.4 OS INDICADORES BIBLIOMTRICOS
Os indicadores consistem em elemento imprescindvel para o planejamento,
monitoramento e avaliao de programas, projetos e/ou reas e podem ser
entendidos como
[...] dados estatsticos usados para avaliar as potencialidades da base
cientfica e tecnolgica dos pases, monitorar as oportunidades em
diferentes reas e identificar atividades e projetos mais promissores para o
futuro, de modo a auxiliar as decises estratgicas dos gestores da poltica
cientfica e tecnolgica e tambm para que a comunidade cientfica
conhea o sistema no qual est inserida (SANTOS; KOBASHI, 2007, p. 3).
45
Na anlise da produo cientfica, existe um conjunto expressivo de
indicadores bibliomtricos que so empregados. Eles podem ser divididos em
indicadores de produo, indicadores de citao e indicadores de ligao (MACIAS-
CHAPULA, 1998; SPINAK, 1998).
Os indicadores de produo cientfica so construdos pela contagem do
nmero de publicaes por tipo de documento (livros, artigos, publicaes
cientficas, relatrios etc.), por instituio, rea de conhecimento, pas, etc. O
indicador bsico o nmero de publicaes que procura refletir caractersticas da
produo ou do esforo empreendido, mas no mede a qualidade das publicaes.
Os indicadores de citao so construdos pela contagem do nmero de
citaes recebidas por uma publicao de artigo de peridico. Eles refletem, acima
de tudo, o impacto, a influncia ou a visibilidade dos artigos cientficos ou dos
autores citados junto comunidade cientfica. Em outras palavras, o meio mais
conhecido de atribuir crdito aos autores. Entretanto, devem ser compreendidos
como parmetros complexos que no so equivalentes nem esto inequivocamente
correlacionados qualidade cientfica. J os indicadores de ligao so construdos
pela coocorrncia de autoria, citaes e palavras, sendo aplicados na elaborao de
mapas de estruturas de conhecimento e de redes de relacionamento entre
pesquisadores, instituies e pases (SANTOS; KOBASHI, 2005).
Esses indicadores contribuem para a compreenso da estrutura da
comunidade cientfica, do objetivo particular da pesquisa ou do seu impacto social,
poltico e econmico. Contudo, no representam uma verdade sobre o estado da
cincia e da tecnologia, mas so aproximaes da realidade ou uma expresso
incompleta dela (SANTOS, KOBASHI, 2005).
De fato, a crescente utilizao de indicadores bibliomtricos para avaliao de
produo cientfica sinaliza a necessidade de discusses que enfoquem no apenas
a metodologia envolvida, mas tambm os conceitos que os mesmos se propem a
mensurar. Esses indicadores, muitas vezes enfocados de forma isolada e
independente das especificidades de cada rea, resultam normalmente em rankings
cuja consistncia pode ser facilmente questionada. Assim, a concepo dos
indicadores de produo cientfica deve priorizar maiores volumes de informao,
correspondentes a perodos mais representativos (MUGNAINI; POBLACIN, 2007).
Quando utilizados de maneira adequada, os indicadores bibliomtricos so
muito importantes para anlise e estudo das atividades cientficas. Todavia, tais
46
como outras formas de avaliao da produo cientfica, possuem certas limitaes
que devem ser consideradas ao se fazer comparaes entre diferentes domnios do
saber. A validade desses indicadores depender do seu uso adequado e do
conhecimento de suas limitaes e das condies timas de aplicao. Eles podem
ser utilizados para se obter uma informao global da situao da pesquisa e
sempre de forma a complementar a avaliao por pares.
Na viso de Davyt e Velho (2000) o processo de construo de indicadores
cientficos um processo social assentado em premissas tericas vlidas somente
no seu contexto, pois qualquer exerccio de avaliao implica certos valores e a
base mnima a partir da qual se elaboram os indicadores composta por
julgamentos subjetivos. Estes, por sua vez, incorporam, desde o incio, uma srie de
elementos, premissas, condies e variveis de contexto.
Ainda que apresentem limitaes, entende-se que, se computados dentro do
rigor metodolgico devido, se interpretados a partir das especificidades e prticas de
produo bibliogrfica de cada rea de conhecimento e se entendidos dentro de
suas limitaes, os indicadores bibliomtricos so teis e importantes para se
entender o ciclo de gestao, reproduo e disseminao da cincia e o
aprimoramento da poltica cientfica e tecnolgica nacional (MUGNAINI; JANUZZI;
QUONIAM, 2004).
Carvalho e Manoel (2006) apontam que os desafios na construo de
indicadores residem na dificuldade de garantir que a simplificao no implique em
vises estreitas da produo. De fato, a produo intelectual diversa e construir
indicadores capazes de abarcar tal diversidade essencial. Para eles, os aspectos
conceituais e metodolgicos dos indicadores melhoram o nvel de agregao do
conhecimento, mas tambm podem ocultar diferenas importantes e misturar
produes diversas e incomparveis entre reas e subreas. Nesse sentido, a
transformao de dados secundrios, como o caso dos ndices bibliomtricos, em
instrumentos de avaliao da produo cientfica torna-se, no mnimo, complexa e
problemtica. Em funo disso, entendem que os indicadores bibliomtricos devem
ser tomados apenas como um indicador parcial e de primeira aproximao
atividade cientfica que se pretende avaliar.
Cabe, ento, destacar que, na realizao desta pesquisa, fao a opo pela
utilizao do repositrio de teses da CAPES, entendendo que ele apresenta
informaes importantes que podem contribuir para a leitura da atividade cientfica
47
na EF, revelando traos caractersticos do seu fazer cientfico, por meio da
identificao dos assuntos pesquisados e de como eles se distribuem dentro do
campo.
Dessa maneira, defendo que o levantamento das temticas estudadas pelos
doutores em EF como indicador da produo da rea permite apontar o quanto de
pesquisa se tem investido em cada um dos temas de interesse dos pesquisadores,
alm de proporcionar um dilogo com a poltica de ps-graduao. So analisados,
para isso, o ttulo, as palavras-chave e o resumo de cada uma das teses, pois esses
so os elementos que representam o contedo temtico de um texto, isto ,
descrevem o teor dos assuntos abordados pelos autores. Alm disso, a identificao
da terminologia utilizada nos trabalhos - nas palavras-chave - tambm possibilita o
exerccio de compreender o relacionamento entre as prticas cientficas, a
concorrncia entre os agentes do campo cientfico e a sua hierarquizao, tendo em
vista sua relao com os contedos especficos das idias cientficas representadas
pelos termos.
2.5 OS ESTUDOS SOBRE MAPEAMENTO TEMTICO NA CINCIA DA
INFORMAO
A anlise temtica tem sido uma modalidade de estudo com presena
significativa e reiterada na literatura voltada produo de conhecimento. O
interesse de diversos autores pelo tema refora o entendimento de que ele constitui
importante referencial sobre o que pesquisado em determinada rea de
conhecimento.
Baseadas nessa premissa, Witter e Pcora (1997) levantaram os temas
enfocados nas dissertaes/teses da Cincia da Informao, produzidas no Brasil,
no perodo 1970-1992, e concluram que as pesquisas realizadas abordavam
assuntos dispersos e que muitos temas da rea no eram enfocados, ainda que
existissem ncleos temticos.
Poblacin et al. (2002) realizaram mapeamento temtico da produo
cientfica brasileira dos docentes/doutores em Cincia da Informao (1990-1999)
agrupando a produo em oito categorias relacionadas s linhas de pesquisa dos
48
programas. Os autores concluram que quatro categorias temticas (Informao e
Sociedade, Tratamento da Informao, Comunicao Cientfica, Informao
Especializada) envolveram 81,8% dos docentes e responderam pela produo do
conhecimento em 77,3% linhas de pesquisa. Destacaram, ainda, que as demais
linhas deveriam reavaliar sua produo para facilitar o dilogo com os colegas dos
demais programas, tanto no pas como para ampliar a comunicao interdisciplinar
com os pares da comunidade internacional (POBLACIN et al., 2002).
O estudo de Queiroz e Noronha (2004) analisou as temticas das
dissertaes e teses defendidas no programa de ps-graduao em Cincias da
Comunicao rea de concentrao: Cincia da Informao e Documentao - da
USP. Dentre as 19 categorias temticas utilizadas baseadas na Lista de
Cabealho de Assuntos adotadas pelo Library and Information Science Abstracts
LISA a pesquisa demonstrou que a produo se concentrou nas cinco categorias
que identificam os eixos temticos do programa e que as temticas abordadas na
produo refletem as caractersticas da rea de concentrao e de suas linhas de
pesquisa.
A pesquisa realizada por Nozaki et al. (2007) realizou anlise da produo
cientfica da rea de Energia Nuclear por meio do estudo das teses e dissertaes
produzidas no Instituto de Pesquisas Energticas e Nucleares (IPEN), de 1976 a
2005, e dos projetos de mestrado e doutorado iniciados entre 2001 e 2006,
identificando os temas mais recorrentes e as tendncias de pesquisas. Os autores
apontam que, das 33 categorias de assuntos utilizadas, no conjunto de dissertaes
e teses h a predominncia de trs que correspondem a 38% do total. Alm disso,
afirmam que os resultados permitiram obter uma viso global temtica da produo
de dissertaes e teses do Instituto nos ltimos 30 anos, bem como das tendncias
da mesma para os prximos anos, com informaes teis tanto para a avaliao
desta produo, quanto para o planejamento e definio de polticas de pesquisa da
instituio.
Silveira (2007) analisou mapeamento temtico dos trabalhos apresentados
pelos pesquisadores do Grupo de Trabalho Gesto de Unidade de Informao (GT
4), do VI Encontro Nacional de Pesquisa em Cincia da Informao (ENANCIB),
destacando os temas predominantes, emergentes e de pouca incidncia. Dentre as
concluses, o autor destaca que a Gesto da Informao um dos temas da
atualidade que representa o novo olhar da rea; que a temtica Gesto do
49
Conhecimento est fortemente ligada Gesto da Informao, demonstrando que
ambas dialogam; que novas temticas esto sendo incorporadas e desenvolvidas
pela rea; que antigas temticas continuam sendo objeto do grupo, porm com
menos intensidade; que h muita disperso temtica, enfatizando o problema
terminolgico j conhecido pela rea.
Outros trabalhos (KOBASHI; SANTOS, 2006; VANZ et al., 2007; ELIEL, 2007;
MARICATO; RANGEL, 2008) que tambm empreenderam esforo na realizao de
mapeamento temtico podem ser identificados na literatura, visto que o tema tem
despertado grande interesse nos ltimos anos, levando Kobashi e Santos (2006) a
afirmarem que os mapas gerados a partir desses levantamentos so representaes
confiveis da produo cientfica da rea, pois so expressos por meio de conceitos
produzidos e utilizados pela prpria rea.
Baseada nas experincias construdas pelos autores citados, considero que,
ao compreender que a atividade cientfica definida por uma concorrncia constante
por autoridade e legitimidade dos cientistas diante de seus pares, o levantamento
temtico possibilita identificar quais so as prticas valorizadas no campo. Alm
disso, os estudos demonstraram que a identificao da temtica e das terminologias
na produo cientfica torna-se interessante, tambm, por permitir realizar uma
leitura sobre a estrutura interna dos programas, bem como sobre o significado das
linhas de pesquisa, tendo em vista que se espera que as teses apresentem uma
relao com a linha e a rea em que so desenvolvidas.
2.6 OS ESTUDOS SOBRE MAPEAMENTO TEMTICO NA EDUCAO FSICA
Assim como na Cincia da Informao, na EF, tambm tem havido o
interesse pela identificao das temticas da produo cientfica. Contudo, no
proponho, neste momento, um levantamento exaustivo dos trabalhos que se
interessam pelo tema, mas apenas o destaque para algumas pesquisas que podem
servir de parmetro para uma anlise comparativa com meu estudo.
As pesquisas realizadas por Faria Junior (1987), Gonalves e Vieira (1989),
Silva (1990; 1997), Sousa (1999), Kroeff (2000), Martins e Silva (s/d) podem, ento,
ser tomadas como exemplo desta produo.
50
Faria Jnior (1987), citado por Silva (1997) realizou estudo comparativo das
temticas/tendncias de pesquisa no Brasil, no Pas de Gales e na Inglaterra, no
perodo entre 1975 e 1984. O autor constatou que 36% da produo estava voltada
ao enfoque biolgico, com nfase na biometria; 27,8% ao enfoque tcnico, com
nfase no treinamento desportivo; 23,1% ao enfoque pedaggico, com nfase no
ensino; 5,3% voltada ao enfoque scioantropolgico e 1,6% ao enfoque filosfico.
O estudo de Gonalves e Vieira (1989) realizou uma caracterizao
quantitativa da produo cientfica da rea, subsidiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq), no trinio 1984-1986,
apresentando um modelo de classificao dividido em trs segmentos: biomdico,
humanstico e gmnico desportivo. Os resultados demonstraram uma predominncia
de temas do segmento biomdico (47,78%), com destaque para as subreas:
Medicina Desportiva e Cincia do Exerccio; Sade e Nutrio; e Biomecnica. No
segmento humanstico (42,22%) houve destaque para a subrea Pedagogia,
presente em doze dos quatorze projetos. J no segmento gmnico desportivo
(4,44%) destacou-se a subrea Dana e Ginstica presente em trs dos quatro
projetos.
Na dcada de 1990, o estudo de Silva (1990) teve como objetivo realizar uma
anlise das abordagens metodolgicas utilizadas nas dissertaes defendidas em
trs cursos de mestrado na rea, entre 1979 a 1987, e das temticas abordadas. A
autora apontou, a partir de sua matriz terica
16
, que a produo analisada utilizava
como a abordagem emprico-analtica, com predominncia dos princpios de
quantificao dos fenmenos, da anlise e descrio segundo padres estatsticos.
Dentro dessa perspectiva, as temticas predominantes nos trabalhos foram:
antropometria e aptido fsica; aprendizagem motora; ensino da educao fsica;
biomecnica e fisiologia do esforo; EF no 3 grau; lazer e recreao; caractersticas
dos professores de EF e tcnicos desportivos. A autora destacou que as temticas
16
A autora utiliza uma matriz baseada no materialismo dialtico e denominada Esquema
Paradigmtico expressa pelos seguintes nveis e pressupostos de anlise: nvel metodolgico
abordagem metodolgica predominante; nvel tcnico tipo de pesquisa realizada e tcnicas
utilizadas; nvel terico fenmenos educativos, esportivo ou sociais privilegiados, crticas
desenvolvidas e propostas apresentadas; nvel epistemolgico concepes de validao cientfica,
de causalidade e de Cincia referentes aos critrios de cientificidade implcita ou explicitamente
contido nas pesquisas; pressupostos lgico-gnosiolgicos referentes s maneiras de tratar o real no
processo de pesquisa; pressupostos ontolgicos relacionados s concepes de homem, histria,
realidade, educao, educao fsica, esporte e movimento, nas quais as pesquisas se fundamentam
(SILVA, 1990).
51
expressavam o interesse dos pesquisadores por questes voltadas para o desporto,
o aprimoramento de tcnicas desportivas, a melhoria da condio fsica, o controle
das medidas corporais, entendidas como restritas ao mbito da EF, sem articulaes
com discusses mais amplas que envolvam o contexto histrico-social. Assim,
defendeu a necessidade de ampliao do debate sobre o papel desempenhado pela
pesquisa produzida no interior desses cursos (SILVA, 1990).
Em estudo de doutoramento, a mesma autora buscou analisar, novamente, as
implicaes epistemolgicas das dissertaes defendidas nos mestrados da USP,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Unicamp e UFRGS, no perodo de 1988 a 1994, aplicando a mesma
matriz terica. Silva (1997) identificou que a abordagem emprco-analtica
continuava predominante nos trabalhos, mas observou que a abordagem
fenomenolgico-hermenutica comeava a aparecer nas pesquisas dos cursos
analisados e a abordagem crtico-dialtica foi utilizada por autores da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), UFRJ, Unicamp e UFRGS (SILVA, 1997).
Tambm baseada na matriz terica utilizada por Silva (1990, 1997), o estudo
de Sousa (1999) buscou analisar em que medida as pesquisas realizadas em dez
cursos de mestrado da rea se configuravam como novas produes cientficas.
Demonstrou que houve, na dcada de 1980, um predomnio de temticas voltadas
rea pedaggica
17
, seguida de reas relacionadas ao treinamento fisco/esportivo,
biolgica, histrico-filosfico e outras. Nesse perodo, o interesse dos pesquisadores
esteve voltado anlise dos efeitos dos diferentes mtodos e tcnicas nos
processos de ensino-aprendizagem de modalidades esportivas; comparao da
aprendizagem dos diversos esportes; avaliao do efeito do treinamento e
performance de esportistas, entre outros. O trabalho demonstra, ainda, que a
maioria dos estudos expressa o entendimento de pesquisa voltado para a
quantificao e mensurao dos dados.
Na dcada de 1990, de acordo com a autora, essas temticas continuaram
presentes e surgiram outras como: atividades fsicas e de lazer para idosos;
propostas metodolgicas de ensino de esportes para deficientes; EF, esporte e
alienao; elitizao da atividade fsica; corporeidade, expresso corporal, etc. Para
17
Interessante notar que, ainda que tenha utilizado a mesma matriz terica, o trabalho de Sousa
(1999) chega a concluses diferentes de Silva (1990), pois afirma que a temtica pedaggica
predominante na dcada de 1980, momento em que Silva (1990) destaca o predomnio de temticas
relacionadas ao contexto biolgico e de rendimento.
52
ela, essas alteraes foram resultado das mudanas ocorridas na EF a partir da
segunda metade da dcada de 1980, em que a rea passou a questionar suas
origens e prticas.
Kroeff (2000) analisou as caractersticas e tendncias da produo cientfica
dos doutores docentes de oito programas da rea e props uma identificao das
temticas da produo e das orientaes, utilizando um quadro referencial com 52
categorias temticas adaptadas a partir de outros estudos realizados na rea.
Apontou que os temas: anatomia, antropometria e medidas e avaliao; fisiologia; e
biomecnica, cinesiologia, cinemtica so os mais abordados na produo cientfica.
J nas orientaes realizadas pelos professores docentes que fizeram parte da
amostra, o desenvolvimento motor e a biomecnica, cinesiologia, cinemtica so
predominantes.
Martins e Silva (s/d) tambm buscaram identificar as temticas abordadas nas
dissertaes defendidas nos programas de mestrados da rea, no perodo de 1995
a 2003, a partir da matriz terica utilizada por Silva (1990). Os resultados
demonstram que, nos estudos de abordagem emprico-analtica, foram identificadas
temticas como: avaliao antropomtrica, influncia de treinamentos mentais no
desempenho de atletas, aquisio de habilidades motoras e atividade fsica
relacionada nutrio, sade, lazer e recreao, etc.
As dissertaes que adotaram a abordagem fenomenolgico-hermenutica
deram espao para os seguintes temas: corporeidade; contexto pedaggico da EF e
prticas corporais dos alunos; representaes sociais, culturais e pedaggicas de
professores e de alunos; imaginrio social; ldico e esporte; ludicidade e
corporeidade; concepes de corpo, de esporte e de lazer, etc (MARTINS; SILVA,
s/d)
Naquelas dissertaes cujas abordagens se aproximaram mais de uma
perspectiva crtico-dialtica os assuntos voltaram-se para a anlise das contradies
ou incoerncias entre o discurso e a prtica; relaes entre gnero e esporte; EF e
portadores de necessidades educacionais especiais; formao profissional e prtica
educativa no incio do sculo XX; avaliao de disciplinas desportivas dos cursos de
Graduao e modificaes curriculares e perspectiva crtica na pedagogia da EF
(MARTINS; SILVA, s/d).
A observao dos trabalhos permite afirmar que, de modo geral, os estudos
sobre o conhecimento cientfico tm avanado, pois possibilitam conhecer a
53
quantidade de dissertaes e teses produzidas nos programas; as universidades
nas quais esses trabalhos foram defendidos; as temticas privilegiadas; os tipos de
metodologias e tcnicas de pesquisas utilizadas; as concepes de cincia dos
autores. Dessa forma, compreendo que o resgate dos caminhos percorridos pela EF
pode prover elementos bsicos e especficos para novas pesquisas, evidenciar os
atores e suas contribuies, identificar as tendncias temticas e lanar novos
olhares anlise e mapeamento do conhecimento cientfico.
Isso permite afirmar, corroborando com Silveira (2008), que conhecer o grau
de desenvolvimento alcanado por uma disciplina cientfica constitui tarefa
importante no apenas para ela prpria, mas para todos os segmentos envolvidos,
pois reorganiza fragmentos percebidos e esquecidos no caminho percorrido e
fornece informaes para reflexes e possveis aes das diversas instncias
acadmicas e profissionais que se dedicam ao campo cientfico.
Dessa forma, os estudos de mapeamento e avaliao da produo cientfica
descrevem situaes, prticas e comportamentos da rea, assim como referendam
as atividades da comunidade cientfica e legitimam as atuaes e contribuies dos
atores envolvidos. Por isso, so considerados relevantes para dar crdito aos
pesquisadores, subsidiar a tomada de deciso para a aplicao de recursos em
novas pesquisas, destacar os trabalhos importantes para o crescimento consistente
da rea e registrar as operaes sociais e cognitivas desenvolvidas na disseminao
dos conhecimentos gerados pelo ato de pesquisar (SILVEIRA, 2008).
54
55
3. CONSTITUIO E LEGITIMIDADE DA EDUCAO FISICA NO BRASIL
Neste captulo apresento aspectos do processo de constituio da EF, no
Brasil, que contribuem para o entendimento de sua institucionalizao. Abordo o
debate em torno da sua identidade e legitimidade, alm de discutir a diversidade
epistemolgica dos programas de ps-graduao por entender que esses so
aspectos essenciais na determinao de caractersticas da produo cientfica da
rea. Contudo, destaco que no busco o aprofundamento de questes histricas,
mas apenas o resgate de momentos que podem ser visualizados como
conformadores do campo.
3.1 OS PRIMEIROS PASSOS DE UMA PRTICA CHAMADA EDUCAO FSICA
Compreender o processo de constituio da EF implica, necessariamente, a
retomada de movimentos de transformao no contexto social, poltico e econmico
que lhe deram origem. Contudo, cabe destacar que no se configura como objetivo
deste estudo construir uma exposio aprofundada da histria da rea, mas apenas
destacar aspectos que contribuem para a compreenso desse processo.
O enfrentamento dessa tarefa, ento, me aproxima de autores que, na EF,
tm se dedicado a pensar a sua histria, cada um a seu tempo e a partir de seus
referenciais (SOARES, 1994; CUNHA JUNIOR, 1998; 2008; FERREIRA NETO,
1999; GOIS JUNIOR, 2000; PAIVA, 2000; 2005; SCHNEIDER, 2000; 2002;
SCHNEIDER; FERREIRA NETO; SANTOS, 2005; SCHNEIDER; FERREIRA NETO,
2006 ).
Assim, considero que dois aspectos, presentes em parte dessa produo e
que se tornaram recorrentes na rea precisam ser, inicialmente, revisitados: o papel
dos higienistas na gnese da EF e a crena que os militares tiveram uma
participao indireta nesse processo (PAIVA, 2000; GOIS JNIOR, 2000). Fao
essa afirmao por reconhecer que esses dois grupos, mdicos e militares, tiveram
participao ativa na determinao de caractersticas para a rea hoje denominada
de EF.
56
Sobre o primeiro aspecto, preciso considerar, concordando com Paiva
(2000), que se tornou comum atrelar a gnese da EF ao momento de reordenao
social desencadeado pelo capitalismo, como exposto em Soares (1994),
entendendo-a como uma vtima de um projeto que defendia a sade pblica, a
educao e o ensino de novos hbitos.
18
Cunha Junior (2008, p. 61), ao comentar
este entendimento, destaca que
Desta forma, entendidos no mbito de um projeto mdico-higienista, os
exercicios gymnasticos foram considerados como um meio de controle
social, de formao moral e disciplinar, de regenerao/aperfeioamento
da raa, de construo/inculcao de um sentimento de identidade
nacional, de desenvolvimento e aprimoramento do fsico e da sade. A
explicao vlida, mas preciso repensar o modo pelo qual parte desses
trabalhos descreveu o papel exercido por mdicos e demais higienistas,
considerados por vezes viles da nossa histria. Se for certo que suas
aes no visavam alterar de maneira radical as condies de vida e de
trabalho da maioria da populao, e que estavam atrelados aos objetivos
capitalistas, tambm preciso notar o idealismo de alguns destes agentes
e sua contribuio para o desenvolvimento e consolidao da Educao
Fsica no meio escolar.
Gis Junior (2000, p. 6) ajuda a compreender as crticas direcionadas aos
higienistas ao afirmar que
[...] O argumento central dos crticos baseou-se em duas operaes:
mediante a primeira o movimento higienista foi homogeneizado,
considerado como um discurso e uma prtica de carter unitrio; pela
segunda, foi considerado como agindo em bloco a servio dos interesses
das classes dominantes.
E tambm o prprio autor que ir afirmar que o movimento higienista era
altamente heterogneo sob o ponto de vista terico (fundamentos biolgicos e
raciais), ideolgico (liberalismo e antiliberalismo) e filosfico (humanista e positivista)
(GOIS JUNIOR, 2000). De maneira geral, ele destaca que os crticos associam os
higienistas aos positivistas e, como tal, teriam usado os exerccios fsicos para o
alcance de seus interesses.
19
No entanto, Gis Junior (2005, p. 7) enftico ao
afirmar que
18
O discurso base do Movimento Higienista, do sculo XIX, que preconizava normas e hbitos
que colaborariam para o aprimoramento da sade coletiva, do povo, da raa. Sobre o assunto, ver:
Gis Junior (2000).
19
O autor reconhece que, em meados da segunda metade do sculo XIX e no incio do sculo XX, no
Brasil, os intelectuais brasileiros tinham uma grande influncia do positivismo e isso pareceu o
bastante para afirmar que o movimento higienista era positivista.
57
Devemos ter cautela nessas rotulaes, pelo simples motivo, de que no
Brasil, positivistas e higienistas, algumas vezes estiveram em campos
opostos. E, tambm, pela leitura do positivismo no Brasil, que era
extremamente difusa, sobretudo no incio do sculo XX, descaracterizando
a criao da categoria positivista, dada diversidade de opinies que
tinha a mesma. Somente havia uma unificao pelo esprito cientificista, de
crena nos valores da cincia, como os verdadeiros, e nicos na
capacidade de governar a humanidade, inclusive, contrapondo a cultura
catlica brasileira. Dessa forma, no encontramos indcios da influncia
metodolgica do positivismo no movimento higienista, mas somente no
aspecto moral de crena na cincia. Portanto o positivismo influencia, mas
no determina os passos dos higienistas, assim como, outras correntes
filosficas e polticas, como o liberalismo, integralismo, socialismo,
atestando a heterogeneidade dos movimentos sociais brasileiros, em uma
perspectiva de conciliao.
O autor complementa afirmando que a historiografia cometeu injustia com
esses profissionais do passado e acrescenta que, mais que influenciador, o
movimento higienista deve ser entendido como consolidador da rea (GOIS
JUNIOR, 2000).
Contudo, ainda que os higienistas tenham tido papel importante na indicao
da ginstica como mtodo a ser adotado nas escolas, possvel afirmar que os
militares desempenharam papel fundamental na concretizao dessa tarefa.
No contexto brasileiro, Ferreira Neto (1999) destaca que, no perodo
compreendido entre 1880 a 1950, havia grandes esforos para incorporar as
conquistas europias no campo da economia, da indstria, do saneamento bsico
da sade, a fim de permitir que o pas se inserisse no modelo industrial. Havia,
ento, o objetivo claro de modificar a realidade poltico-educacional do Brasil por
meio de sua modernizao, de forma que ele passasse a fazer parte do conjunto de
naes desenvolvidas. Nesse contexto, a educao foi entendida como o meio para
atingir esses objetivos, melhorando a vida social pelo acesso da populao cultura
escolarizada e a EF, dentro desse propsito, [...] foi coadjuvante, por meio dos
mdicos-higienistas e, de modo sistemtico, pelos militares (FERREIRA NETO,
1999, p. 7).
Como atividade presente nas instituies militares, a EF foi estendida ao meio
civil e, por conseguinte, s escolas, a partir de sua afirmao como parte
significativa dos novos cdigos de civilidade postos em circulao e de sua
importncia como componente educativo (CUNHA JNIOR, 2008). Nesse sentido,
Ferreira Neto (1999) d grande contribuio para o entendimento do papel dos
militares nesse processo ao afirmar que as razes europias da EF brasileira
58
representam a confirmao das influncias de propostas oriundas da caserna no
contexto europeu. O autor demonstra que os militares elaboraram uma teoria
pedaggica aplicada EF brasileira
20
, tendo como referencial o estatuto da
instituio militar. Em funo da necessidade de preparar fisicamente seus
membros, o Estado, por meio do exrcito, projeta-se pela e sobre a sociedade civil a
fim de manter a defesa da nao.
Para tanto, o Exrcito interveio na poltica, na economia, na administrao
do Estado e na educao. Em sua funo de educador do povo,
desenvolveu seu prprio sistema de ensino de base, inicialmente
intelectualesco, uma vez que tinha seu suporte geral na Filosofia Poltica
clssica e aporte de concepo e mtodo na escola tradicional.
Posteriormente, mantm a teoria poltica clssica, mas a fortalece
pedagogicamente com o pragmatismo e funcionalismo por via da Escola
Nova (FERREIRA NETO, 1999, p. 148).
O que o autor nos expe que o projeto pedaggico criado e implantado na
EF brasileira teve origem no exrcito e que, j na dcada de 1930, a nfase na
formao do professor era posta em seu carter pedaggico e o conhecimento
biolgico tinha menor peso
21
e acrescenta que
[...] os militares possuam a chancela do Estado, produziram um projeto de
modernizao interna com repercursso social, incluindo seus prprios
centros de instruo da tropa; por uma necessidade interna, inseriram a
instruo pr-militar nas escolas pblicas; posteriormente, criaram os cursos
de formao de professores e tornaram a instruo militar obrigatria
(Educao Fsica) no pas. Para tanto, amplos setores intelectuais e de
influncia do Estado foram chamados a contribuir. Nestes termos, a tarefa de
criar e implantar uma pedagogia na Educao Fsica brasileira, cuja
instituio militar tinha o crdito socal para realiz-la, estava posta
(FERREIRA NETO, 1999, p. 78).
As idias relacionadas insero da EF como prtica regular na escola
circulavam, sobretudo, em peridicos e buscavam discutir, alm da prtica
pedaggica do professor, o perfil do profissional, os saberes necessrios sua
atuao, alm de outros que pudessem fundamentar o professor na discusso de
20
Nesse aspecto, o entendimento se distancia daquele apontado por Paiva (2000) que ir considerar
os mdicos como os responsveis pela escolarizao da EF.
21
Essas informaes colocam em questo a idia, que tornou-se predominante na rea, de que foi a
partir da dcada de 1980 que passou a existir um esforo de produo no sentido de pensar o carter
pedaggico da EF, bem como com o fazer cincia na rea, temas que esto intrinsicamente
relacionados discusso de seu estatuto epistemolgico. As informaes apresentadas pelo autor
demonstram que tomar a dcada de 1980 como a de uma produo iluminada implica ignorar toda
uma produo j veiculada no incio do sculo XX.
59
outros domnios.
22
Participavam do debate sobre a EF diversos intelectuais que,
ainda que no tivessem formao na rea, contribuam para a construo de um
pensamento pedaggico para a rea, como Rui Barbosa, Manoel Bomfim, Fernando
de Azevedo, Loureno Filho, Azevedo do Amaral, Assis Chateaubriand, Barbosa
Lima Sobrinho, Inezil Penna Marinho, entre outros. Schneider (2000, p. 99) informa
que
Os discursos empregados para fundamentar a Educao Fsica eram
balizados, fincados no que havia de mais atual sobre o conhecimento do
corpo, alimentando-se de saberes provenientes de vrios campos de
conhecimento, como a Fisiologia, a Biologia e a Psicologia, nas quais no s
uma teoria para legitimar a Educao Fsica se alimentava, mas tambm a
Pedagogia para explicar o desenvolvimento humano da aprendizagem e do
conhecimento.
Inicialmente inserida na escola com a denominao gymnastica, a EF tinha
como objetivo regenerar a raa e formar hbitos saudveis na populao.
Curar os defeitos, as molstias e anormalidades passam a ser temas
objetivados como finalidades para a escola, cabendo Educao Fsica
o seu quinho no projeto de eliminao dos atavismos, sejam estes
conseqentes das taras dos ancestrais, sejam aquelas adquiridas pelo
meio (SCHNEIDER; FERREIRA NETO, 2006, p. 80).
[...] O corpo era o alvo a ser atingido pela Educao Fsica, a melhoria
das condies biotipolgicas pela adoo de regras de higiene, nas quais
estavam inclusos o amor pelo esporte, a exercitao diria, o aprendizado
na escola das regras de sade, o culto ao padro grego de esttica
corporal, o amor ptria e a moralizao dos hbitos que poderiam levar
degenerescncia (SCHNEIDER; FERREIRA NETO, 2006, p. 82).
Contudo, com a crescente idustrializao, vivida aps a Revoluo de 1930,
que determinou redefinio dos objetivos do campo educacional passando de uma
concepo ortopdica para uma concepo que se projeta em termos de eficincia -
houve a necessidade de pensar em novas propostas. Se antes a preocupao era
com a forma e a maneira de executar os movimentos importava, naquele momento,
resultados e, para isso, nada melhor que a objetividade dos esportes.
22
Dentre as revistas que circularam na poca, a Educao Physica (1932-1945) funcionava como um
verdadeiro repertrio de saberes, estratgias que buscavam aproximar a Educao Fsica de vrios
campos do conhecimento, como a Antropologia, a Sociologia, a Filosofia, a Fisiologia e a Psicologia
(SCHNEIDER, 2002). Para outros exemplos, ver: Maia; Ferreira Neto (2005); Neitzel; Ferreira Neto
(2005); Schneider; Ferreira Neto (2005); Schneider; Ferreira Neto (2006).
60
Fruto direto da modernidade, o fenmeno esportivo, pela sua peculiaridade
de atividade fsica, regrado por regulamentos, assume caractersticas que o
distingue das outras formas de exercitao corporal, como: especializao
dos papis, competio, cientifizao, rendimento, quantificao, recorde e
racionalizao do treinamento. So essas condies objetivas que podem
ser medidas, quantificadas e comparadas que [...] fazem com que o
esporte seja o melhor meio de preparar o novo homem. Nota-se que a
nova Educao Fsica toma como referncia o modelo da fbrica e o que
passa a importar so os resultados. [...] a nova Educao Fsica, entenda-
se esporte, deve contribuir para que os hbitos fsicos desenvolvidos
durante as aulas sejam mais eficientes/especializados, o que significa
maior rendimento, com o mnimo de tempo e de esforo (SCHENEIDER,
2004, p. 49)
Assim, em uma sociedade que se projetava para ser competitiva, o esporte
tambm passou a ser pensado como elemento constituidor do repertrio de saberes
a serem ensinados no ambiente escolar, tendo em vista que interessava a
preparao e o maior rendimento com o menor gasto de energia. Contudo, a sua
insero no foi hegemnica e desencadeou debate entre os intelectuais que
entendiam que ela deveria ser acompanhada da ginstica.
Contudo, somente a partir da Segunda Guerra Mundial ele foi inserido com
maior influncia nas lies de EF, por meio da expanso do Mtodo de Educao
Fsica Desportiva Generalizada que, de acordo com Barbosa e Ferreira Neto (2004),
caracteriza a prtica do esporte como o principal contedo para as lies de EF,
mantendo sua organizao voltada para uma melhor participao do indivduo no
esporte, preparando-o por meio de atividades complementares.
A participao direta dos militares na deciso dos rumos da EF pode ser
percebida at o processo de redemocratizao do Pas, momento em que o
Governo passa a focar o investimento na qualificao da mo de obra necessria
para o desenvolvimento cientfico e econmico do pas. Dentre as aes
empreendidas, esto o incremento da ps-graduao e o apoio formao de
professores em nvel stricto sensu a fim de atender aos objetivos de expanso do
sistema.
Nesse contexto, surgem os primeiros cursos de mestrado na rea e, por meio
do incremento da produo - tambm viabilizada pela insero de professores de EF
em cursos de mestrado e doutorado em outras reas h o interesse de trazer para
o debate aqueles que seriam os contedos e princpios norteadores
61
legtimos/reconhecidos da rea.
23
Os pesquisadores passam, ento, a focar a
identidade da rea, gerando a necessidade de melhor compreender os pressupostos
tericos com os quais se vinha atuando para ser possvel optar em segui-los,
modific-los, ou ainda buscar outros caminhos. Assim, ficou conhecido, na
historiografia da EF, que a dcada de 1980 corresponde ao perodo da crise de
identidade
24
e nesse contexto que a rea adentra a dcada de 1990, com intenso
debate sobre o conhecimento capaz de lhe conferir legitimidade.
3.2 O DEBATE SOBRE A CONSTITUIO DO CAMPO
O debate sobre o processo de constituio da EF, de sua autonomia e
legitimidade pode ser localizado em ampla produo durante as dcadas de 1980 e
1990.
25
A realizao de eventos cientficos
26
e a publicao de revistas cientficas
(Motus Corporis, Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Movimento) priorizando
discusses dessa natureza, nesse perodo, reforam a percepo de que a
discusso envolvia pesquisadores em torno da reflexo sobre o conhecimento
produzido na EF e dos prprios contornos da rea.
O que se nota que houve interesse por parte dos pesquisadores em realizar
trabalhos que buscavam levantar, caracterizar, descrever, compreender, analisar,
23
No desconsidero, ao fazer essa afirmao, o debate realizado pelos intelectuais do incio do
sculo XX que tambm buscavam realizar uma reflexo epistemolgica da EF, como apontado por
Ferreira Neto (2000).
24
Lima (1999; 2000) entende o movimento como resultado do aparecimento, no campo acadmico da
EF, de uma produo terica fundamentada no materialismo histrico dialtico que assumir
contornos expressos na busca de uma nova EF, ora denominada progressista, revolucionria ou
crtico-superadora. Para ele, esse novo referencial levou aos seguintes questionamentos: a EF uma
cincia? Qual o seu objeto? Qual o lugar da EF no espectro dos saberes? J para Della Fonte
(2001), durante os anos 80, tornou-se moda, no Brasil, fundamentar as pesquisas educacionais no
marxismo e a EF no fugiu tendncia. Essa observao, portanto, contribui para o entendimento da
crise que estaria sendo vivida pela rea na medida em que os intelectuais apoiados no marxismo
passaram a advogar um discurso crtico para a rea.
25
Entre os autores que se envolveram no debate esto: Betti, 1987; 1996; Bracht, 1992; 1995; 1997;
1999; Castellani Filho, 1983; 1993; Fenterseifer, 1999; Go Tani, 1996; 1998; Lima, 1997a; 1997b;
1997c; 1998; Lovisolo, 1996; 1998; Silva, 1997; 1998; Paiva, 1999.
26
Trs importantes eventos foram realizados na dcada de 1990 abordando a produo do
conhecimento cientfico na Educao Fsica como temtica: o VII Congresso Brasileiro de Cincias
do Esporte (CONBRACE), realizado em Uberlndia, que teve como temtica principal A produo e
veiculao do conhecimento na Educao Fsica, Esporte e Lazer no Brasil: anlise crtica e
perspectivas; a VIII edio do mesmo evento que abordou como tema Que cincia essa?
Memrias e tendncias; e a IX edio que teve como temtica principal: Cincias do esporte:
interveno econhecimento.
62
avaliar e organizar a produao cientfica. De maneira geral, possvel afirmar que
os estudos realizados nesse perodo buscaram compreender as transformaes que
estavam ocorrendo, os avanos e as lacunas. Em meio s mudanas e
questionamentos, pesquisadores passaram a participar do debate enfocando,
principalmente, a definio de um estatuto epistemolgico ou identidade da rea,
bem como o conhecimento produzido, com alternncia de posies que buscavam,
no interior da comunidade cientfica, tornarem-se hegemnicas.
Na viso de Silva (1997), a preocupao dos pesquisadores, na dcada de
1980, estava relacionada com o momento de mudanas pelo qual passava a
Educao. Para a autora, foi, nesse perodo, que os profissionais da rea passaram
a questionar prticas e procedimentos estabelecidos, assim como os pressupostos
tericos que sustentavam as concepes de EF at ento dominantes.
27
A autora
afirma, ainda, que, nesse momento de questionamento, as dissertaes e teses
defendidas pelos profissionais - algumas em outras reas do conhecimento - foram
essenciais para o melhor conhecimento da produo cientfica.
Ainda na opinio de Silva (1997), alm da necessidade de estabelecer uma
identidade para a EF, de explicitar qual o seu objeto de estudo, a discusso
abordava a necessidade de redefinio dos conceitos mais usuais, a mudana de
denominaes que identificassem com mais clareza novas abordagens e a criao
de uma nova cincia. Ela enfatiza que os estudos realizados nesse perodo apontam
o predomnio de uma produo marcada por temas voltados para aspectos mdico-
biolgicos da atividade fsica, para o esporte de alto rendimento e para a avaliao
da aptido fsica e que, na dcada de 1990, houve uma mudana no sentido da
adoo de novos referenciais, sobretudo, devido aproximao da EF com a
educao, histria, filosofia, sociologia, etc.
No entendimento de Bracht (1992) a importncia social e poltica do
fenmeno esporte que far parecer legtimo o investimento em cincia na EF e o
tratamento cientfico do tema passar, ento, a oferecer as melhores possibilidades
de acumulao do capital simblico. Para ele, essa importncia ir conferir
legitimidade ao campo acadmico da EF.
27
Della Fonte (2001) corrobora essas informaes ao afirmar que os movimentos vivenciados pela
EF nesse perodo no foram fortuitos, mas tiveram estreita relao com a situao educacional do
Brasil. Para exemplificar, cita a insero do marxismo nas reflexes pedaggicas e que criou eco na
produo da rea.
63
nesse contexto que se permite afirmar a EF nas universidades, que se
permite um discurso cientfico na rea, com reivindicao consequente de
cursos de ps-graduao, simpsios cientficos, entidades cientficas,
financiamento de pesquisas cientficas, estruturao de laboratrios de
pesquisa, etc., que forjado um novo agente social, o intelectual da EF, ou
seja, intelectual com formao original em EF e que agora almeja tambm a
prtica cientfica, isto , reivindica e se lana prtica de teorizar
(cientificamente) sobre...(BRACHT, 1992, p. 21).
O autor afirma, ainda, que o teorizar, nas dcadas de 1970 e 1980, se fez a
partir das cincias-me, como fisiologia, psicologia, sociologia etc., em funo da
presena desses profissionais na rea. Assim, o profissional da EF na busca do
reconhecimento no e para o campo, vincula-se a uma especialidade ou a uma
subdisciplina das Cincias do Esporte e torna-se um cientista no mbito da
fisiologia do exerccio, da biomecnica, da sociologia do esporte e no um cientista
da EF (BRACHT, 1992).
Contudo, necessrio alertar que, com esta afirmao, o autor refora a
posio anteriormente citada de no considerar a produo que j circulava na rea
desde as primeiras dcadas do sculo XX como investimento em cincia na EF.
Adiciona-se a isso o fato de poder ser encontrado na produo dos intelectuais do
incio do sculo XX, o teorizar a partir das disciplinas citadas por Bracht (1992).
Nesse sentido, importante destacar que o interesse pelo debate epistemolgico da
rea j envolvia uma intelectualidade distante, como afirma Ferreira Neto (2000, p.
151).
Se considerarmos que o discurso (terico) epistemolgico sobre a Educao
Fsica s possvel pela interpretao do j feito, parece-nos, razovel,
admitirmos que nossa tradio de reflexo sobre essa matria longa. Se
assim no for como explicar o esforo de teorizao (pensamento e ao)
de uma intelectualidade distante que bem pode ser representada por Rui
Barbosa, Fernando de Azevedo, Manuel Bomfim, Joo Ribeiro Pinheiro,
Inezil Penna Marinho, Alfredo Gomes Faria Jnior, Moema Toscano.
De acordo com o autor, esses intelectuais, assim como os que se envolveram
no debate a partir da dcada de 1980, o fizeram [...] cada um a seu tempo, com os
instrumentos cientficos disponveis, [e] corroboraram para a criao, implantao e
consolidao do campo da Educao Fsica, tendo como idia central o seu
processo de escolarizao (FERREIRA NETO, 2000, p. 152).
No entanto, de maneira geral, h, instalada no imaginrio da EF, uma idolatria
dcada de 1980, tida como momento ureo da rea em que pensadores buscaram
64
mudar o seu rumo, dar novos significados a partir, principalmente, da negao do
passado (DELLA FONTE, 2001). Como trabalhavam a partir de um referencial
marxista, tornou-se comum a crtica queles que buscaram articular um
conhecimento, no perodo anterior a essa dcada, e que no tinham o mesmo
referencial. Segundo expe Schneider (2000, p. 22), os autores das geraes
anteriores
[...] foram rotulados de reacionrios, intelectuais da direita e algumas outras
expresses pejorativas, apesar de, em outros aspectos, esses mesmos
intelectuais, no momento em que viveram, serem classificados de
progressistas em relao ao pensamento vigente em sua poca.
No entendimento de Della Fonte (2001, p. 171)
Os escritos desse momento [dcada de 1980] so tomados como no
passveis de questionamentos, discordncias, atualizaes. Ao fixar a
histria da Educao Fsica nesse ponto, tudo o mais torna-se secundrio,
como se a histria da Educao Fsica comeasse ali e o que lhe fosse
anterior devesse ser abandonado. O passado aparece como um pesadelo a
ser esquecido: a influncia das instituies militar, mdica e esportiva tida
como perversa.
Dito isso, possvel pensar que a implantao dos primeiros Programas de
Ps-Graduao na rea, no final da dcada de 1970, tenha sido fruto dessa nova
postura assumida pelos profissionais, alm de fazer parte de uma poltica cientfica
que estava sendo pensada para o pas. E, como tal, materializou o discurso do
perodo que, grosso modo, conforme afirma Ferreira Neto (2000, p. 153)
[...] construiu o conhecimento sobre o assunto por oposio: Cincias da
Natureza X Cincias Sociais, Positivismo X Marxismo, consenso X conflito,
reacionrio x revolucionrio, conservador X progressista, velho X novo, militar
X civil, biolgico X social, tcnico X pedaggico, aptido fsica X cultura
corporal.
Nesse contexto, os programas que foram sendo implantados apresentavam
diversidade de reas e linhas, o que determinou que a produo cientfica tambm
refletisse essa diversidade. Caracterstica essa que ainda pode ser visualizada pelo
fato de os PPGEF apresentarem diferentes entendimentos sobre a identidade da
rea, demonstrado, inclusive, pela diversidade de nomenclaturas/terminologias.
Considera-se, portanto, que esta diversidade reflete-se diretamente na disperso
temtica da produo, sistematizao e disseminao do conhecimento e aponta
65
indcios de que os programas no apresentam consenso sobre a delimitao do
campo, acarretando conseqncias quanto insero da rea nos sistemas de
poltica cientfica e captao de recursos. Ademais, um aspecto que repercute na
procura de validao de seus discursos e prticas.
Dessa maneira, pode-se perceber que, apesar de ter uma estrutura social
organizada em programas de ps-graduao, associaes e revistas cientficas a
rea carece de aprofundamento da reflexo sobre as caractersticas de seu discurso
cientfico. Por isso, o estudo sobre as pesquisas realizadas nos programas de ps-
graduao pode subsidiar as polticas acadmicas desses programas, j que
relaciona as temticas da produo com as linhas de pesquisa e reas de
concentrao dos programas estudados, auxiliando na definio de polticas
cientficas que contemplem as suas caractersticas.
Nesse sentido, a perspectiva por mim assumida a de construir um olhar ao
mesmo tempo prximo e crtico sobre o conhecimento produzido na rea. Logo,
proponho a reflexo sobre o campo a partir de uma produo de saber j estocada.
3.3 A DIVERSIDADE EPISTEMOLGICA DA EDUCAO FSICA: EM BUSCA DA
LEGITIMIDADE
possvel notar dois eixos na produo sobre a legitimidade da EF: a luta
por status acadmico e a crise de identidade, em que um se d motivado pelo
outro, fazendo com que a discusso encerre-se numa espcie de circularidade. Na
opinio de Betti (1996) essa discusso gerou duas grandes matrizes: uma que
entende a EF como rea de conhecimento cientfico; outra que a considera como
prtica pedaggica.
28
A matriz cientfica, segundo o autor, constitui-se a partir da influncia norte-
americana e europia e pressupe a existncia de um objeto de estudo para a rea
que caracterizada como interdisciplinar (BETTI, 1996). possvel afirmar que ela
surge quando alguns autores, por compreenderem que a EF estava passando por
28
Essa mesma lgica, para explicar o pensamento epistemolgico da EF brasileira, foi utilizada por
Lima (1999; 2000) entendendo a presena de duas grandes vertentes: cientfica e pedaggica.
66
uma crise de carter epistemolgico, passaram a propor sadas por meio da
sugesto da criao de uma nova cincia.
Nesse contexto, o uso de novos conceitos ou novos nomes que tentam
abarcar as atividades que fazem parte do universo de prticas corporais pode ser
notado no cenrio da EF. Como exemplo, posso citar: a Cincia da Motricidade
Humana, Cinesiologia, Cincia do Movimento Humano, Cincias do Esporte.
Esses nomes-conceitos tentaram estabelecer unidade no campo e ruptura em
relao tradio.
Tani (1996) justifica o aparecimento dessas novas terminologias, alegando
que o termo EF se tornou restritivo e pouco adequado para uma rea de
conhecimento que se prope a estudar o movimento humano de forma mais
abrangente, desde o nvel microscpio at o mais macroscpico. Para Lovisolo
(1996), o problema se refere dificuldade de estabelecer acordos sobre o objeto
terico e um consenso sobre as metodologias apropriadas para seu
desenvolvimento. Ao pensar a questo, Lima (1999) destaca que as proposies de
uma nova cincia convergem para um mesmo ponto: conferir cientificidade EF.
Contudo, para Betti (1996) a matriz pedaggica que aparece como uma das
principais respostas crise da dcada de 1980 e resulta da aplicao, na EF, de
teorias pedaggicas de base marxista. Para autores que defendem esse
entendimento, reconhecer a EF como prtica pedaggica fundamental para o
reconhecimento do tipo de saber necessrio para orient-la e do tipo de relao
possvel entre ela e o saber cientfico ou disciplinas cientficas.
Na opinio de Lovisolo (1996), que se mostra ctico em relao s
pretenses de cientificidade da EF ou tentativas de construo de uma cincia que
substitua a multidisciplinaridade de enfoques presentes na rea, as discusses
sobre o objeto da EF tm se destinado obteno de legitimidade acadmica e as
discusses sobre os valores e objetivos destinam-se obteno da legitimidade
social, da possibilidade de interveno e de suas modalidades. Ao privilegiar a
pesquisa cientfica em detrimento da formulao de programas de interveno, leva-
se ao questionamento sobre o objeto terico, sobre a unidade do campo.
67
Qual a cincia da qual somos seus praticantes, torna-se uma pergunta
carregada de efeitos pessoais e globais para o conjunto da rea profissional.
A questo da hegemonia est assim fortemente amarrada com a questo da
identidade. quase como se fosse afirmado: sem objeto ou cincia prpria
no existimos, no somos, no temos unidade e, sobretudo, no estaremos
num p de igualdade com as cincias existentes seremos, portanto,
menores ou inferiores, no alcanaremos nem a autonomia nem o
esclarecimento (LOVISOLO, 1996, p. 62).
Por isso, prope uma arte da mediao EF: mediao entre diferentes
demandas, entre objetivos e meios, entre intenes e efeitos, entre conhecimentos,
tcnicas e saberes intencionando a construo de programas de inerveno
(LOVISOLO, 1995).
Ainda que os questionamentos e tentativas de classificao/nomeao na EF
tenham se iniciado, como visto, a partir do final da dcada de 1970, com a criao
dos primeiros programas de mestrado na rea, o debate ainda no se encerrou e,
atualmente, ainda se percebe no campo as disputas pelo estabelecimento de
conceitos e aportes tericos-metodolgicos capazes de garantir uma identidade
EF.
Para Bracht (2003), o campo inicialmente denominado EF se diferenciou a
partir do surgimento de diferentes prticas sociais que, pela diversidade de sentidos
e significados, no conseguem mais ser reunidas numa mesma instituio, num
mesmo campo ou dentro de um mesmo conceito. Em funo disso, o autor alerta
que a discusso sobre a identidade da EF deve ser realizada a partir de um
processo de construo histrica, portanto, contingente e sujeito s lutas e
hegemonia. Uma das possibilidades para isso enfocar os conceitos que foram
construdos e que constituem a EF, pois segundo Berger e Luckmann, citados pelo
autor, no processo de institucionalizao, a legitimao obtida a partir da
construo de universos e subuniversos simblicos ou de significao.
As diferentes posies revelam um debate que deve ser entendido como
positivo e propiciador de crescimento para a rea. Contudo, fato que as
divergncias ideolgicas se colocaram, muitas vezes, acima da possibilidade de
dilogo e, o que era para ser um saudvel debate acadmico, na opinio de Lima
(1999), transformou-se em disputa por espao no terreno cientfico da EF, ao expor
que
68
O intenso debate que vem acompanhando as discusses concernentes
problemtica da identidade espistemolgica da Educao Fsica parece ser
revelador das relaes de poderes-saberes que vm forjando esse campo.
Nesse terreno, as discusses so marcadas por confronto, disputa,
concorrncia. Ou seja, temos a um verdadeiro combate pelas verdades,
em que cada posio procura legitimar-se em face das outras.
Nessa perspectiva, tomaramos o campo da Educao Fsica como aquele
que vem sendo forjado a partir das lutas, dos embates entre os saberes-
poderes que o atravessam e o constituem. Nessa luta, teramos que
investigar quais saberes so reconhecidos como legtimos e quais estariam
sendo desqualificados como no competentes ou insuficientemente
elaborados; saberes ingnuos e hierarquicamente inferiores que no
atingiram ou no atenderam aos requisitos da cientificidade(LIMA, 1999, p.
131).
Evidencia-se, ento, uma ambio de poder por meio da instalao de um
projeto de cientificidade no campo da EF e, diante de tal situao, Lima (2000)
questiona quais sero os saberes e prticas desqualificados ou no reconhecidos
quando se coloca a racionalidade cientfica para avaliar os saberes e recorre a
Foucault (1998, p. 172) que nos instiga a realizar os seguintes questionamentos
[...] que tipo de saber vocs querem desqualificar no momento em que
vocs dizem uma cincia? Que sujeito falante, que sujeito de
experincia ou de saber vocs querem menorizar quando dizem: Eu que
formulo este discurso, enuncio um discurso cientfico e sou um cientista?
Diante disso, preciso considerar que tentativas de classificar e sistematizar
levam a diferentes definies sobre o campo de conhecimento. Ou seja, dizem,
implicitamente, o que est dentro e o que est fora. Dessa forma, como destaca
Romancini (2006), o poder de classificar/nomear torna-se, tambm, um objeto de
disputa dentro de um campo, no qual os agentes procuram movimentar-se conforme
seu interesse. Isto , de acordo com um entendimento sobre a natureza do campo
que lhe possa ser mais favorvel.
Assim, ao considerar que no processo de contituio da EF foram
importados conceitos de outros campos e\ou instituies, conclui-se que a maneira
como ela entendida tanto pelos de dentro como pelos de fora foi intensamente
marcada por esses pressupostos, determinando, assim diferentes enquadramentos
institucionais, seja nas universidades, seja nos rgos de fomento.
69
[...] esses indicadores apontam para uma gama bastante ampla de reas de
enquadramento da Educao Fsica que vo desde as Cincias Biolgicas,
passando pela Sade, at a Educao e as Cincias Sociais Aplicadas.
Esses dados demonstram, pelo menos em princpio, diferentes delimitaes
cientficas em jogo, assim como diferentes objetos de atividade cientfica e
diversos objetivos de insero social, no s pelos profissionais e
comunidade cientfica do campo da Educao Fsica, como pela Sociedade
em geral (SILVA, 2002, p. 59).
Nesse contexto de discusso, pode-se pensar na Tabela de reas do
Conhecimento (TAC) do CNPq) que aloca a EF na Grande rea das Cincias da
Sade. Esta classificao, na opinio compartilhada por autores da rea (SILVA,
2005; BRACHT, 2006; FRUM PERMANTENTE DA PS GRADUAO EM
EDUCAO FSICA, 2006) de que a alocao proposta para a EF no tem
atendido s caractersticas e diversidade epistemolgica da produo cientfica,
afetando negativa e particularmente a produo orientada nas Cincias Sociais e
Humanas.
De fato, a anlise do processo de constituio da EF pode contribuir para o
entendimento dessa classificao. Contudo, afirma Bracht (2006), embora parea
pertinente essa classificao ao considerarmos a gnese da rea, o grande
crescimento dos aportes baseados nas referncias terico-metodolgicas das
Cincias Humanas no mbito das pesquisas realizadas na EF, particularmente nas
ltimas trs dcadas, indica que uma outra alocao, igualmente pertinente, seria a
da Grande rea das Cincias Humanas.
O autor expe, ainda, que hoje no h predomnio ou hegemonia quer dos
aportes tpicos/prprios das Cincias Naturais, quer dos aportes tpicos/prprios das
Cincias Sociais e Humanas e cita como exemplo os PPGEF que oferecem reas de
concentrao e linhas de pesquisas que se orientam a partir das duas tradies
terico-metodolgicas. Assim, destaca que
[...] a alocao da EF na grande rea das Cincias Mdicas e da Sade
no mais nem menos justificvel do que a sua alocao na grande rea
das Cincias Humanas (e vice-versa). Se ela permanecer em uma ou em
outra, o que necessrio em qualquer caso, que todos os envolvidos no
processo (particularmente aqueles que atuam na definio de polticas
pblicas para a rea de cincia e tecnologia) no percam de vista,
exatamente, que a alocao arbitrria simplesmente porque o sistema,
at o momento, no permite que uma rea pertena simultaneamente a
duas grandes reas. preciso que isso se reflita concretamente no
momento, por exemplo, de estabelecer critrios para a avaliao da
produo acadmica da rea. A EF no da rea da Sade, ela est na
rea da Sade (BRACHT, 2006, p. 4).
70
Na opinio de Silva (2002), o enquadramento da EF nas Cincias Humanas
ou nas Cincias Naturais no enfrenta apenas as dificuldades lgicas e
epistemolgicas, mas tambm as de ordem ideolgica, j que existem interesses
divergentes e uma posio hegemnica no seria desejvel, pois eliminaria o
movimento e o debate interno, o que acabaria por limitar tambm a produo a uma
especialidade, concepo terica ou cincia.
A partir da posio dos autores, possvel notar uma dimenso poltica da
discusso que faz parte, tanto da poltica externa do campo (relativa sua natureza
e diferenciao em relao a outros), quanto da poltica interna, j que necessrio
destacar que, a esse uso externo da classificao, corresponde tambm um uso
interno, no sentido da construo de uma nomenclatura vlida para uma rea que
se relaciona com certos objetos, problemas, etc (ROMANCINI, 2006).
Para Romancini (2006) os argumentos polticos e epistemolgicos tm um
peso importante na configurao de um campo cientfico, pois os agentes tendem a
definir suas concepes sobre a cincia e o conhecimento a partir de seus
interesses. Assim, possvel notar que na discusso, poltica e epistemolgica,
que se projeta a construo de consensos para a rea.
O autor enfatiza, ainda, que os aspectos terminolgico-instituicionais de um
campo cientfico tendem a refletirem-se num plano cognitivo mais amplo. Dessa
maneira, nota-se que, quando uma classificao elaborada para uma rea de
conhecimento, alguns marcos sobre a pesquisa considerada aceitvel dentro do
grupo so estabelecidos. determinado um patamar mnimo de insero e so
criadas fronteiras disciplinares. O campo passa a ter alguns parmetros que iro
refletir e influenciar sua estrutura (ROMANCINI, 2006).
Com efeito, a feitura de uma classificao nunca se d num plano de uma
completa racionalidade abstrata, mas sim a partir de uma perspectiva
histrica, que localiza a pesquisa realizada em determinado tempo e
espao. Diz respeito, pois, a uma trajetria do campo, quilo que foi, ao
longo do tempo, incorporado a uma tradio de estudo e tambm ao que
foi deixado de lado, visto como fora do conjunto de interesses dos
pesquisadores. Esse outro aspecto que distingue reas fortemente
paradigmticas daquelas que no o so. Do consenso sobre o paradigma
deriva, geralmente, maior nvel de acordo terminolgico e organizacional. A
representao sinttica de uma rea, garantida por uma classificao,
tende, portanto, a ser reconhecida de modo tcito, com baixo nvel de
dissenso pelo grupo (ROMANCINI, 2006, p. 189).
71
3.4 A DIVERSIDADE EPISTEMOLGICA DOS PROGRAMAS DE PS-
GRADUAO EM EDUAO FSICA
Nesse contexto de debate sobre a identidade e legitimidade da EF, foram
criados os programas de ps-graduao que tambm refletiram, no seu processo de
constituio/criao, as diferentes concepes sobre o campo. Em funo disso,
nota-se que, em 2010, a Ps-Graduao (PG) em EF, ao completar mais de trinta
anos, apresenta um quadro de diversidade de reas de concentrao e linhas de
pesquisa e, por conseguinte, de concepes de cincia e matrizes.
Apesar do crescimento do sistema, h ainda, muitos desafios a serem
enfrentados, como a reflexo sobre a base epistemolgica dos programas que, por
sua vez, encontra-se diretamente articulada com questes acerca da produo
intelectual da rea, com as relaes com a graduao e com a formao e atuao
de professores do ensino superior (NBREGA, 2005).
Na configurao dessa reflexo metaterica, a investigao epistemolgica
a respeito da produo de pesquisas sobre o conhecimento divulgado [...]
apresenta-se como uma possibilidade de interrogao dos discursos
produzidos concretamente no campo acadmico, seja no interior das
sociedades cientficas, grupos de pesquisa, peridicos ou na ps-
graduao (NBREGA, 2005, p. 117).
Diante do quadro de diversidade, enfrenta-se grande dificuldade para
identificar e compreender os programas, no somente em razo da diversidade de
entendimentos do que sejam uma rea de concentrao e uma linha de pesquisa,
mas tambm em funo da falta de lgica interna na construo das linhas em
alguns deles.
Esse fator, como apontado, resultado dos momentos histricos em que eles
foram sendo criados, assim como de diferentes entendimentos sobre a prpria rea
e de um movimento de busca da sua identidade. Sobre o assunto, Kokubun (2003)
destaca que as polarizaes entre as reas acadmica e profissional, entre as
cincias naturais e humanidades e entre sade e educao esto presentes na
discusso epistemolgica da rea e precisam ser conduzidas admitindo-se a
existncia dessa pluralidade. Para o autor, o fato de o corpo docente atuante na PG
72
em EF ser exgeno, sendo formado a partir de diferentes referncias cientficas,
contribuiu para a indefinio epistemolgica dos programas.
Tani (2000) aborda o assunto reconhecendo a heterogeneidade na base
epistemolgica dos programas e observando que alguns adotaram uma concepo
disciplinar de rea e outros mantiveram a denominao de EF, vinculando-se a
atuao profissional. Para Bracht (2006) necessrio que se respeite a diversidade
interna da rea, para que as especificidades no sejam aplainadas pelo carter
homogeneizador dado pela avaliao do sistema e o debate epistemolgico em
torno da identidade da EF possa continuar.
Como essa heterogeneidade reflete na pesquisa realizada, Cunha et al.
(2001), em trabalho que buscou analisar a produo cientfica dos grupos de
pesquisas existentes na rea, destacam um aumento significativo e diversificao
das referncias tericas adotadas.
O carter multiforme das linhas de pesquisa revela, por um lado, a
pluralidade de abordagens implementadas e, por outro lado, a existncia
de processos de fragmentao e especializao do conhecimento na rea
de Educao Fsica. A fragmentao observada com a diferenciao
cada vez maior das reas e subreas disciplinares que investigam, sobre
diferentes pontos de vista e interesses especficos, a complexidade do
movimento humano. Alm disso, a especializao do conhecimento no
ocorre somente nas linhas de pesquisa que procuram enfocar aspectos
cada vez mais especficos, mas tambm naquelas que acumulam dados
desconexos e discursos especulativos e redundantes, o que no todo vem
em detrimento do progresso da estrutura terica de suporte da rea
(CUNHA et al., 2001, p. 6).
Dessa forma, reafirmo meu entendimento, anteriormente defendido, de que a
anlise das teses defendidas nos PPGEF se apresenta como uma possibilidade de
interrogar no apenas a produo estudada, mas tambm os discursos produzidos
no campo acadmico e, assim, contribuir para entender as contradies internas da
rea, bem como a dinmica que permite a construo de (auto) representaes e
pressuposies sobre o conhecimento vlido. Nesse sentido, encontro respaldo em
Nbrega (2005, p. 116 ) ao afirmar que
73
Seguramente, as contradies podem alimentar o debate, ampliando as
nossas compreenses de cincia, no intuito de refletirmos sobre as
limitaes do modelo classificatrio dos campos de saberes e a crtica ao
que considerado cientfico ou no, a partir de uma demarcao disciplinar.
Nesse sentido, penso que precisamos considerar a relao histrica da
educao fsica nas cincias biomdicas ou cincias da sade, bem como
considerar a dinmica do desenvolvimento das cincias da vida nesse
conjunto, considerando-se o dilogo entre as cincias biolgicas e as
cincias humanas.
74
75
4. PERFIL INSTITUCIONAL DA EDUCAO FSICA NO BRASIL
Vistos os fatores histrico-sociais que regem as condies de produo da
EF, este captulo destina-se a apresentar o perfil institucional da rea -
especificamente de seu campo de pesquisa articulado ao ensino - em funo de se
considerar que os suportes dessas atividades fornecem elementos para a
compreenso das suas caractersticas, ou seja, so fatores de configurao do
campo. Para isso, parto de um contexto mais geral com uma anlise da implantao
do ensino superior e da ps-graduao no pas para, ento, abord-la na EF.
4.1 A IMPLANTAO DO ENSINO SUPERIOR E DA PS-GRADUAO NO
BRASIL
Oficialmente, a primeira universidade brasileira foi fundada em 1912, no
Paran
29
, ainda que o ensino superior tenha sido criado durante a permanncia da
famlia real portuguesa no Brasil. Alguns anos depois, durante a dcada de 1920, foi
criada a Universidade do Rio de Janeiro por meio da unio das antigas escolas de
Engenharia, Medicina e Direito. Contudo, como chama a ateno Schwartzman
(2001), nenhuma dessas universidades foi mais do que um simples aglomerado de
escolas profissionais reunidas sob um frgil reitorado.
Considera-se, portanto, que o processo de implantao de um sistema de
graduao, no Brasil, deu seus primeiros passos na dcada de 1930, com a
proposta do Estatuto das Universidades Brasileiras
30
, considerada por muitos um
marco da educao superior (SANTOS, 2003). No entanto, com o afastamento de
Francisco Campos do Ministrio da Educao, a proposta acabou por no se
29
Schwartzman (2001)
30
O Estatuto fazia parte de uma legislao federal que tinha como objetivo delinear as caractersticas
da universidade. A legislao ficou conhecida como Reforma Francisco Campos, em homenagem
ao autor dos textos legais, e era composta por 116 artigos que definiam: a responsabilidade dos
reitores; a organizao e funes dos conselhos universitrios; a organizao do ensino; os direitos,
deveres e regras para promoo de professores; os procedimentos de admisso; as normas
disciplinares e as atividades sociais previstas (SCHWARTZMAN, 2001).
76
concretizar. Tendo em vista esse fato, duas universidades foram criadas na dcada
de 1930, no pelo Governo Federal, mas pelos governos da cidade do Rio de
Janeiro Universidade do Distrito Federal (UDF) e do Estado de So Paulo
USP.
O perodo seguinte foi marcado pela criao de novas universidades. Na
dcada de 1950, foram firmados acordos entre os Estados Unidos e o Brasil,
principalmente intermediados pela Fundao Rockfeller e pela Fundao Ford, que
estabeleciam convnios entre escolas e universidades norte-americanas e
brasileiras para o intercmbio de estudantes, pesquisadores e professores.
O grande impulso para a implantao da ps-graduao no pas deu-se na
dcada de 1960, com a implantao de diversos cursos. Esse nvel de ensino
desenvolveu-se em meio ao processo de modernizao do Brasil, em um contexto
de integrao entre pases perifricos e pases centrais que implicava a expanso
de mercados consumidores nos pases da periferia e fomento dos centros
produtores de C&T nos pases centrais. De acordo com Santos (2003), o objetivo
das naes desenvolvidas era aumentar o mercado consumidor e desestimular a
concorrncia cientfica ou tecnolgica. Portanto, a ps-graduao brasileira surge
em um contexto de dependncia das naes centrais, com a importao de tericos
e teorias.
No final de 1965, o Governo Federal adotou uma legislao especfica para
esse nvel de ensino, com a Lei do Estatuto do Magistrio Superior (n. 4.881)
(SILVA, 1997).
31
Com o Parecer 977, do Conselho Federal de Educao (CFE),
nesse mesmo ano, d-se a implantao formal dos cursos de ps-graduao
brasileiros que, segundo orientao do relator, Newton Sucupira, deveria adotar o
modelo norte-americano como orientao, por ser considerado mais adequado
nova concepo de universidade que se desejava implantar.
Com a Reforma Universitria de 1968,
32
as universidades sofrem uma
reformulao, associando a pesquisa ao ensino e extenso. A Lei n. 5.540/68
institucionalizou os cursos de ps-graduao com o objetivo de formar professores
para o ensino superior; preparar pessoal de alta qualificao para empresas pblicas
31
Dados da CAPES demonstram que, em 1965, j existiam 96 cursos de ps-graduao (mestrado e
doutorado) e 286 cursos de aperfeioamento e especializao nas universidades brasileiras (SILVA,
1998).
32
Na reforma do ensino de 1968, muitos elementos extrados das universidades de pesquisa norte-
americanas, como o sistema de crditos, as instituies de pesquisas, os programas de ps-
graduao que conferem graus de mestrado e doutorado, foram estabelecidos.
77
e privadas e estimular estudos e pesquisas para o desenvolvimento do Pas
(SCHWARTZMAN, 2001). O que se nota, nesse processo, que a dependncia de
modelos estrangeiros foi uma constante, tendo em vista que as estruturas, os
programas e os sistemas de avaliao foram uma transplantao de sistemas
implantados nos EUA e na Europa.
A poltica de implantao do projeto de formao de recursos humanos de
alto nvel de qualificao visava a satisfazer alguns quesitos fundamentais de
atuao, como a necessidade futura de mo de obra especializada para preencher
novos empregos que seriam criados a partir do desenvolvimento econmico que era
previsto ocorrer; a necessidade de estimular a formao de cientistas,
pesquisadores e tcnicos que fossem aptos a gerar novos conhecimentos; alm da
preparao de docentes qualificados para todos os nveis de ensino.
Foram esses princpios, aliados a uma forte inspirao na teoria do capital
humano, que forneceram o embasamento terico para o desenvolvimento da poltica
de criao do sistema nacional de ps-graduao que passou a ser financeiramente
viabilizada pelo reforo direto de instituies governamentais, como: Coordenao
de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES), CNPq, Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), etc.
O nvel de qualidade do sistema implantado passou a ser regulado por meio
do CFE e pela CAPES, que era anterior reforma e se encarregava de conceder
bolsas de estudos para professores e alunos de PG, dentro e fora do Pas
(SCHWARTZMAN, 2001). Desse processo resultou a expanso de instituies de
ensino de ps-graduao e de pesquisas. O otimismo em relao ao papel positivo
da cincia e da tecnologia e a viso de que as universidades eram atores
fundamentais na conquista de transformaes scioeconmicas, aliados s
concepes do modelo linear, fez com que houvesse forte impulso para a
organizao do sistema de ps-graduao e o incio das atividades de pesquisa nas
universidades (MOREIRA; VELHO, 2008).
78
4.2 UMA POLTICA PARA A PS-GRADUAO
Com a proliferao dos cursos de ps-graduao, o Governo, por meio da
criao de um grupo de trabalho no MEC, elaborou a Poltica Nacional de Ps-
Graduao que, juntamente com a Lei n. 5.540/68 e os Pareceres n. 977/65 e n.
77/69, que determinaram a moldura legal dos sistemas, constituiu-se em elemento
essencial na construo e no desenvolvimento desse nvel de ensino no Pas
(CAPES, 2004a). Essa poltica foi colocada em prtica ao longo das ltimas
dcadas, por meio dos Planos Nacionais de Ps-Graduao (PNPG).
O primeiro foi lanado em 1974 e referiu-se ao perodo de 1975 a 1979 e
pretendia integrar-se, do ponto de vista estratgico e operacional, poltica
educacional e cientfica apresentada no II Plano Nacional de Desenvolvimento
(PND) e no II Plano Bsico de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (PBDCT).
Segundo o documento, as atividades de ps-graduao assumiriam
importncia estratgica na poltica implantada para o sistema universitrio. Baseado
em um diagnstico que apontava que o crescimento do setor havia ocorrido de
maneira pouco planejada, revelando extrema fragilidade institucional que
comprometia o desempenho dos cursos e das pesquisas em andamento, o
documento apresenta aqueles que seriam os pontos de estrangulamento do sistema
como: a instabilidade institucional, administrativa e financeira dos cursos; a
ineficincia dos cursos de mestrado e doutorado provocada, entre outros fatores,
pela baixa proporo de bolsas em regime integral e alta evaso; distores no
crescimento, tanto do nmero de vagas quanto de concentrao regional dos cursos
(CAPES, 1998a).
As principais conseqncias advindas desse plano foram: a implantao do
Plano Institucional de Capacitao Docente (1976) que, por meio da concesso de
bolsas de estudos, proporcionou aos docentes universitrios a possibilidade de
realizao de cursos de ps-graduao nos principais centros de excelncia
existentes no Pas e no exterior e a criao de um sistema de avaliao dos cursos
existentes.
Dando prosseguimento poltica implantada, no incio da dcada de 1980, o
Governo lanou o II PNPG (1982-1985) que continuou dando nfase formao de
recursos humanos qualificados para as atividades docentes, de pesquisa e tcnicas.
79
Contudo, o documento apresentou como objetivos bsicos a soluo dos problemas
considerados centrais.
O primeiro desses problemas referia-se questo da qualidade, tanto dos
profissionais formados como das pesquisas realizadas. Para o alcance da qualidade,
a proposta se apoiou na consolidao do projeto implantado por meio do reforo nos
mecanismos de acompanhamento e avaliao, com o objetivo de melhorar a
qualidade dos programas e a racionalizao dos investimentos no setor (CAPES,
1998b). Outro problema a receber especial ateno foi o da adequao do sistema
s necessidades reais do Pas, por meio da compatibilizao da ps-graduao com
as prioridades nacionais, considerando os interesses da comunidade acadmico-
cientfica e a multiplicidade de funes desse sistema de ensino.
Esses problemas podem ser mais bem compreendidos ao se considerar que
o processo de expanso da ps-graduao no ocorreu de forma homognea, nem
em termos de regies geogrficas, nem em relao s condies materiais das
instituies. O aumento do nmero de cursos gerou uma srie de problemas
incompatveis com o padro de qualidade estabelecido nos PNPG que, a rigor, s
comeam a ser solucionados com o estabelecimento do III PNPG (SILVA, 1998).
Esse terceiro plano (1986-1989) deixou claramente manifesta a importncia
de contemplar a relao entre universidade, ps-graduao e setor produtivo, tanto
no que se refere s fontes de recursos adicionais quanto aplicao das pesquisas
e mobilizao de estudos aplicados. A inteno expressa no documento a
conquista da autonomia nacional que requeria um aumento do quantitativo de
cientistas para que a plena capacitao cientfica e tecnolgica fosse atingida
(CAPES, 2004a).
Alm das diretrizes e recomendaes gerais para a ps-graduao, o plano
apresentou medidas especficas para a institucionalizao da pesquisa, como:
verbas especficas nos oramentos das universidades para a pesquisa;
reestruturao da carreira docente visando valorizao da produo cientfica
tanto para o ingresso como para as promoes; atualizao das bibliotecas e
laboratrios (CAPES, 2004a). Contudo, apesar de fazer um levantamento crtico
sobre os principais problemas enfrentados pelo sistema e reconhecer que as metas
iniciais da poltica de expanso quantitativa dos cursos geraram problemas e no
atingiram os objetivos de qualificao pretendidos, na prtica, cincia, tecnologia e
educao no receberam a ateno prevista pelo plano (SILVA, 1998).
80
Aps essa etapa, a seqncia de planos foi rompida criando-se um vcuo e
inmeras expectativas. Somente em 1996 a CAPES retomou as aes anteriores
dando incio aos procedimentos para elaborao do IV PNPG (1998-2002) que
apresentou como objetivo principal a expanso diferenciada do sistema de ps-
graduao, alicerada em critrios de qualidade acadmica e pautada pela
diminuio dos desequilbrios regionais. Como objetivos especficos destacam-se: o
aumento da eficincia da PG, estimulando a reduo no tempo de titulao; maior
articulao com o conjunto de atividades acadmicas; a reorganizao do
financiamento e o incremento da qualidade (CAPES, 2004a).
Contudo, devido a problemas oramentrios e a uma falta de articulao entre
as agncias de fomento, o documento no se concretizou como um plano. Sua
aplicao foi pouco discutida e significativo que boa parte dos participantes do
processo no tenha memria do IV PNPG e que a identificao de uma poltica
nacional, pautada no documento, no seja consenso na comunidade.
Em 2004, a CAPES publicou o V PNPG (2005-2010) que, de acordo com a
agncia
[...] incorpora o princpio de que o sistema educacional fator estratgico no
processo de desenvolvimento scio-econmico e cultural da sociedade
brasileira. Ele representa uma referncia institucional indispensvel
formao de recursos humanos altamente qualificados e ao fortalecimento
do potencial cientfico-tecnolgico nacional (CAPES, 2004a, p. 8).
O princpio norteador do documento a preservao e o aprimoramento das
conquistas realizadas pelo sistema nacional de PG. Entre os objetivos fundamentais,
encontra-se a expanso do sistema que leve a um expressivo aumento do nmero
de programas requeridos para a qualificao do sistema de ensino superior do Pas,
do sistema de C&T e do setor empresarial. Como metas, o plano destaca: o
fortalecimento das bases cientfica, tecnolgica e de inovao; a formao de
docentes para todos os nveis de ensino; a formao de quadros para mercados no
acadmicos e a busca do equilbrio no desenvolvimento acadmico em todas as
regies do Pas.
81
4.3 A IMPLANTAO DE CURSOS DE PS-GRADUAO STRICTO SENSU EM
EDUCAO FSICA NO BRASIL
At mais da metade da dcada de 1970, a EF no possua programas de ps-
graduao stricto sensu. Nesse perodo, os cursos de graduao expandiram-se e a
continuidade dos estudos era realizada em cursos de especializao e
aperfeioamento. Em funo disso, a qualificao dos profissionais, em nvel de
mestrado e doutorado, era realizada em outras reas do conhecimento ou no
exterior.
Nesse perodo, de acordo com Silva (2005), profissionais da rea ligados a
IES expressaram preocupao com o status cientfico da EF, fomentando o debate
que ocorreu na rea. Esse fato pode ser, num plano macro, explicado a partir do
contexto vivido na poca. No ps 1964, interessava ao Governo elevar o pas a
patamares de desenvolvimento superiores aos alcanados at aquele perodo e,
para isso, a cincia e a tecnologia passaram a ser vistas como instncias
estratgicas dentro das polticas governamentais. Para isso, era necessrio definir
espaos para a produo cientfica e a EF tambm buscou garantir seu lugar.
No entanto, desde o comeo da dcada, outros acontecimentos marcaram a
histria de implantao da ps-graduao na rea. No ano de 1970, o MEC,
juntamente com o Instituto de Pesquisa Econmica e Aplicada (IPEA), elaborou o
Diagnstico da Educao Fsica e Desportos com o intuito de detectar as carncias
da rea e definir novas metas para o setor. Entre os problemas encontrados, o
documento relata a falta de experincia devido inexistncia de cursos de mestrado
e doutorado que pudessem atender demanda de docentes para o magistrio
superior, alm de um nmero insuficiente de pessoas devidamente tituladas
(CARAM, 1983).
Com base nesse levantamento, a Secretaria de Educao Fsica e Desportos,
do MEC, passou a adotar aes visando ao desenvolvimento das reas mais
carentes e ao aprimoramento das reas mais desenvolvidas, estabelecendo
estratgias em curto, mdio e longo prazo (CARAM, 1983). Assim, em 1975, foi
criado o Grupo de Consultoria Externa (GCE), institudo pelo Departamento de
Educao Fsica e Desporto (DED/MEC) que teve como finalidade analisar a
situao da EF e propor medidas para a implantao da ps-graduao. Os
82
componentes dessa consultoria pleiteavam a criao do mestrado para a rea
alegando que a EF deveria acompanhar o desenvolvimento geral do pas.
Em meio a essas aes, foi criado, em 1977, o primeiro curso de mestrado
em EF da Amrica Latina, na USP, com uma nica rea de concentrao
denominada Educao Fsica. Em 1989, o curso passou a estruturar-se em duas
reas: Biodinmica do Movimento Humano e Pedagogia do Movimento Humano.
A composio do corpo docente desse mestrado expressava, nos primeiros
anos de seu funcionamento, as dificuldades da rea de se estabilizar no
sistema nacional de ps-graduao. Quase 50% dos professores que
compunham o corpo docente em 1982, quando o mestrado foi credenciado,
foram titulados em instituies norte-americanas (SILVA, 2005, p. 52).
Em abril de 1978, a realizao de um seminrio culminou com a sugesto de
normas para a implementao da Poltica Nacional de Educao Fsica e Desportos,
em integrao com o I PNPG. De acordo com o relato de Caram (1983), os
levantamentos das carncias do setor demonstraram que era necessrio incentivar,
em curto prazo, a ps-graduao lato sensu para atender aos docentes que
lecionavam nas instituies e que no dispunham de condies de afastamento por
longo perodo de tempo para obter o ttulo de mestrado. Naquela ocasio, os
professores que j tinham mestrado foram incentivados a cursar o doutorado no
exterior com o auxlio de bolsas de estudo dos rgos de fomento.
33
Nos dois anos que seguiram foram implantados os cursos de mestrado da
UFSM, em 1979, e da UFRJ
34
, em 1980. De acordo com Silva (1998), o corpo
docente dos trs mestrados apresentava caractersticas semelhantes quanto
qualificao em nvel de mestrado e doutorado, tendo a maior parte dos professores
sido titulada em instituies norte-americanas. A autora destaca que a implantao
do modelo americano de ps-graduao levou a um processo de dependncia de
pessoal e de instituies americanas para a formao dos profissionais em nvel
nacional. Contudo, alerta que no se tratou apenas de uma transferncia de um
modelo de estrutura organizacional, mas tambm de uma concepo de cincia,
33
A maioria dos docentes cursou doutorado na Alemanha e nos Estados Unidos. Ao retornar ao Pas,
os professores titulados nos Estados Unidos passaram a atuar nos cursos de mestrado da USP, da
UFSM e da UFRJ, fazendo com que o modelo norte-americano de ps-graduao se tornasse
predominante nas IES (KROEFF; NAHAS, 2003).
34
Por no apresentar, no binio 1996/1997 o relatrio de avaliao para CAPES e, em funo da
aposentadoria de vrios docentes, o mestrado da UFRJ encerrou o ingresso de novos alunos e,
posteriormente, suas atividades. Em 2007, a instituio passou a ofertar, novamente, o curso de
mestrado, como consta na lista de cursos recomendados da CAPES.
83
sustentada por uma viso de mundo e no caso especfico da rea, de uma
concepo de EF.
Pode ser dito, de forma resumida, que nesse perodo predomina uma viso
estritamente biolgica de Educao Fsica/Esportes, alicerada nos
princpios do controle dos parmetros fisiolgicos e biomecnicos. (...) Os
cursos de PG tornaram-se importante espao para expanso dessa
concepo, por meio das disciplinas ministradas, das bibliografias
indicadas e pelas pesquisas realizadas (SILVA, 1998, p. 57).
Na dcada de 1980, quatro novos cursos foram criados. O mestrado da UGF
inicia suas atividades em 1985 e na Unicamp, em 1988. No final da dcada, em
1989, surge o mestrado da UFRGS mesmo ano em que tm incio as atividades do
primeiro curso de doutorado em EF do pas, na USP.
Em meio a essas mudanas, a dcada de 1990 marcou a criao de cinco
novos cursos de mestrado e a implantao de trs doutorados. Em 1991, foi criado o
mestrado na UNESP e o curso de doutorado no programa da UFSM que passou a
ser denominado de Programa de Ps-Graduao em Cincia do Movimento
Humano.
A Universidade Castelo Branco (UCB/RJ) deu incio ao seu curso de
mestrado em Cincia da Motricidade Humana, em 1992. No entanto, o curso apenas
foi recomendado pela CAPES em 1999.
35
Em 1993 e 1994, foram implantados dois
cursos de doutorado, respectivamente, o da Unicamp, para todas as reas
existentes no mestrado; e o da UGF.
Nos anos de 1996 e 1997, foram criados, respectivamente, os mestrados da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC), em Cincia do Movimento Humano. J em 1999, foi criado
o doutorado da UFRGS. Nesse mesmo ano, a Universidade Catlica de Braslia
(UCB/DF) d incio s atividades do mestrado em Educao Fsica. No ano
seguinte, foi criado o mestrado na Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP).
Nos anos que se seguem, outros programas foram criados e alguns, j
existentes, implantaram seus cursos de doutorado, como o caso da UNESP que,
em 2001, d incio as atividades somente para a rea de concentrao Biodinmica
da Motricidade Humana. Em 2002, o curso de mestrado da Universidade Federal do
Paran (UFPR) foi reconhecido pela CAPES com nfase em Exerccio e Esporte.
35
Atualmente, o curso no consta na lista de recomendados e reconhecidos pela CAPES.
84
No ano de 2004, o curso de mestrado da Universidade So Judas Tadeu
(USJT) deu incio s suas atividades e, em 2006, cinco novos cursos foram
autorizados: Universidade Federal do Esprito Santo (UFES), Universo, Universidade
Estadual de Londrina (UEL/UEM), Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) e
Universidade de Braslia (UNB). Ainda em 2006, passaram a ser oferecidos os
cursos de doutorado da UCB/DF e UFSC, ambos para as mesmas reas do
mestrado.
Em 2007, foram criados o mestrado em EF da Universidade Federal de
Viosa (UFV) e o mestrado em EF da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).
Ainda neste ano, a UFRJ voltou a ofertar o mestrado para a rea Biodinmica do
Movimento Humano.
Em 2008, o curso de mestrado da Fundao Universidade de
Pernambuco/PE foi homologado, mas ainda no apresenta informaes sobre sua
estrutura. No mesmo ano, a UFPR deu incio as atividades do doutorado e, em
2009, teve incio a primeira turma do doutorado na UDESC.
Um dos aspectos da institucionalizao de uma cincia refere-se presena
de estruturas legitimadoras da comunidade da rea, como os cursos de graduao e
ps-graduao. Dessa maneira, pode-se notar que a institucionalizao da EF
ocorreu, sobretudo, a partir da dcada de 1970, com o surgimento dos cursos de
ps-graduao e o fomento pesquisa. Desde ento, a rea tem se expandido e
buscado discutir sobre sua identidade, bem como a legitimidade de sua prtica
cientfica e produo do conhecimento.
4.4 A AVALIAO DA PS-GRADUAO EM EDUCAO FSICA: PONTOS DE
DIVERGNCIA
A necessidade de avaliar a ps-graduao surgiu juntamente com a expanso
desse sistema no pas, sendo possvel identificar iniciativas por parte do Governo
em acompanhar a evoluo quantitativa e qualitativa dos cursos j a partir de
meados da dcada de 1970. Contudo, Kroeff (2000) relata que a primeira meno
clara avaliao apareceu no II PNPG que apresentava como objetivo a adequao
85
do sistema universitrio s necessidades do Pas, tanto em termos da produo
cientfica como do aumento da capacidade tecnolgica e produtiva.
O processo de avaliao dos cursos de ps-graduao, introduzido quase
simultaneamente implantao sistematizada dessa modalidade de ensino , sem
dvida, fator significativo da qualidade alcanada, mas desde que foi implantado, o
sistema passou a ser alvo de debates envolvendo os segmentos inseridos no
processo, sobretudo, a comunidade acadmica e o Governo.
De acordo com Spagnolo e Souza (2004) a avaliao caracteriza-se por ser,
essencialmente, acadmica e valorizar, sobretudo, a pesquisa e as publicaes
cientficas. Menor ateno dada, tradicionalmente, ao ensino, extenso,
cooperao com setores empresariais e governamentais e ao impacto que as
atividades desenvolvidas nos programas possam ter na sociedade em geral.
Diante de tal constatao, Moreira e Velho (2008) afirmam que esse modelo
de avaliao contrasta com as novas formas de produo do conhecimento, a
importncia do papel social que desempenha a cincia e a tecnologia, a relao
entre universidade governo e indstria e o entendimento de que outros atores, alm
dos cientistas, participam do processo de construo do conhecimento.
Complementam expondo que aliar formao de recursos humanos de forma
interdisciplinar ao papel social da cincia e avaliao, constitui para os cursos de
ps-graduao, em funo do exposto, enorme desafio.
Dentre os desafios a serem enfrentados [...] est o de criar estruturas
capazes de identificar a relevncia da pesquisa de modo inter e
multidisciplinar, expandir a anlise da relevncia da pesquisa para alm da
reviso feita pelos pares, realizar avaliao do conhecimento produzido no
contexto de aplicao do qual participam no-cientistas. Para isso, os
responsveis pela gesto da PG devem reconhecer as mudanas de
paradigmas da C&T, a importncia de papel social do conhecimento
cientfico e tecnolgico, os limites dos critrios de avaliao
tradicionalmente adotados pela comunidade cientfica (MOREIRA; VELHO,
2008, p. 641, 642).
A partir disso, fica evidenciada a necessidade de ajustes no sistema
implantado, ainda que, em 1998, a agncia tenha passado a adotar novo modelo em
funo de considerar que o anterior estava esgotado e no se adequava mais ao
estgio de desenvolvimento atingido pela ps-graduao. Dentre as modificaes
adotadas naquele momento, identifica-se: a adoo de critrios internacionais de
86
qualidade; a criao do Qualis
36
; a substituio dos cinco conceitos identificados por
letras por sete conceitos numricos (de 1 a 7 sendo o 6 e o 7 reservados para
doutorados de padro internacional), etc.
No entanto, esses ajustes no mudaram, efetivamente, a caracterstica
disciplinar do sistema e, por isso, muitas outras crticas ainda so feitas pela
comunidade cientfica. Entre os pontos que so alvo de questionamento, persiste a
adoo de um modelo nico de avaliao dos programas para as reas com
caractersticas diferentes, como expressa Lovisolo (2005, p. 75) ao afirmar que [...]
os programas so avaliados por objetivos uniformes em vez de promover a
diversificao das aes e uma avaliao do processo a partir de objetivos
especficos.
A observao do autor se d em funo de perceber que a sistemtica
adotada parte de princpios universais, no levando em considerao as
especificidades das reas. J no ano de 2000, o documento elaborado no Frum de
Pr-Reitores e Coordenadores de Pesquisa e Ensino de Ps-Graduao (FOPROP)
das IES particulares apontava que um dos efeitos desse processo a presso
homogeneizadora exercida sobre os programas para que se enquadrem no padro
estabelecido como referencial para aferio e atribuio das notas que so tomadas
como base de reconhecimento para fins da obteno de apoios ou de
reconhecimento para validade nacional dos diplomas.
Axt (2004) contribui para o debate na medida em que expe que essa
normalizao ocorre em um momento, no cenrio contemporneo da pesquisa, em
que se comea a concluir que no mais possvel trabalhar apenas nos limites da
disciplinaridade, que o conhecimento regido por princpios de complexidade no
contemplados pelas disciplinas isoladamente e complementa afirmando que
36
O Qualis o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para estratificao da qualidade da
produo intelectual dos programas de ps-graduao. Como resultado, disponibiliza uma lista com a
classificao dos veculos utilizados pelos programas de ps-graduao para a divulgao da sua
produo. A estratificao da qualidade dessa produo realizada de forma indireta. Dessa forma, o
Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produo, a partir da anlise da qualidade
dos veculos de divulgao, ou seja, peridicos cientficos. A classificao de peridicos realizada
pelas reas de avaliao e passa por processo anual de atualizao. Esses veculos so
enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C -
com peso zero.
87
Da forma como est, parece que uma poltica de homogeneizao vem se
instalando com relao s diferentes reas do conhecimento representadas
na CAPES, permanecendo, to somente, uma oposio mais geral entre
paradigmas de cincia (principalmente, mas no s, a oposio Cincias
naturais/humanas), em que um paradigma dominante em relao ao outro,
acaba por produzir uma cultura de desvalorizao referente ao paradigma
no dominante, pela definio de parmetros vetorializados e de
pontuaes diferenciadas, determinando o que o melhor para a Ps-
Graduao, o que o mais correto em Ps-Graduao! este estado de
coisas que contribui para levar, por suposto, a uma poltica de criao de
rankings que, atrelada poltica da distribuio de recursos (em especial
quotas de bolsas para os cursos e para os projetos de pesquisa), vai
levando a uma ameaadora pasteurizao da Ps-Graduao no pas,
alm de uma competio violenta pelos parcos recursos. Uma infeliz
conseqncia, no limite, poderia ser a convergncia massificadora da
formao do pesquisador, a falta de criatividade e de iniciativa quanto a
novas possibilidades...(AXT, 2004, p. 83,84).
Ainda que a agncia avaliadora reconhea, por meio dos documentos de
rea, o carter interdisciplinar da EF, o problema persistiu nas ltimas avaliaes. O
Documento de rea referente ao trinio 2000/2003 expe, de forma clara, o
incmodo ao reconhecer a repercusso negativa dos critrios estabelecidos,
baseados na Grande rea da Sade
37
, ressaltando que os programas da EF
conseguiram modificar o perfil de suas publicaes, mas reconhecendo a
necessidade de tambm abarcar a especificidade de uma rea que
eminentemente multidisciplinar, j que em seu bojo se articulam tanto Cincias
Biolgicas como Cincias Humanas e Sociais. Sobre o assunto, ressalta
[...] a problemtica da definio de identidade acadmica observada no
trinio anterior tem sido contornada com a opo dos programas em se
estruturarem de acordo com dois modelos principalmente. H programas
que optaram por um modelo disciplinar onde sub-reas constituem reas
de concentrao (por exemplo, Biodinmica do Movimento Humano,
Pedagogia do Movimento). Outros programas optaram por um modelo
temtico onde as reas de concentrao referem-se a temas que articulam
diferentes sub-disciplinas (por exemplo, Atividade Fsica e Sade, Atividade
Fsica e Desempenho, Corpo e Cultura). H excees em que o programa
combina as duas tendncias, nesse caso encontra-se reas de
concentrao de orientao disciplinar e reas de concentrao de
orientao temtica (CAPES, 2004b).
Mais recentemente, em 2006, o Frum Permanente de Ps-Graduao em
Educao Fsica, ao discutir a questo, props uma aproximao com outras reas
que enfrentam o mesmo problema, como Sade Coletiva e Enfermagem, para que
busquem sensibilizar os atores envolvidos no processo para a necessidade de, na
37
Esses critrios valorizam a publicao em peridicos, nacionais e internacionais, com medida de
impacto.
88
prtica, utilizar critrios e mecanismos de avaliao da produo diferenciados e
adequados a essas especificidades (FRUM PERMANENTE DE PS-
GRADUAO EM EDUCAO FSICA, 2006). A realizao do Frum foi registrada,
tambm, no documento referente ao programa da Unicamp, do mesmo ano
(CAPES, 2006a) que expe a discusso realizada ao informar que
Trata-se da incapacidade da alocao da EF na Grande rea das Cincias
da Sade de atender s caractersticas e diversidade epistemolgica da
produo cientfica dessa rea. Nesse sentido, afetada negativamente,
particularmente a produo da rea orientada nas cincias sociais e
humanas. A partir desse entendimento comum, o debate se centrou em duas
alternativas de superao/minimizao do problema:
1. A EF deveria permanecer na Grande rea das Cincias da Sade, mas
agir no sentido de sensibilizar os demais representantes e tambm os
coordenadores da Grande rea para a necessidade de, na prtica, utilizar
critrios e mecanismos de avaliao da produo diferenciados e adequados
a essas especificidades [...]. Outra atitude necessria seria buscar uma
aproximao com as outras reas da Grande rea que possuem problemas
semelhantes (como a Sade Coletiva e a Enfermagem) para juntos
pressionar a Grande rea na busca de uma soluo adequada. Em relao a
esta proposta ou alternativa foram mencionados as seguintes dificuldades
e/ou problemas: a) A Grande rea das Cincias da Sade busca
homogeneidade interna e est claramente orientada para a
internacionalizao da produo; b) a EF possui uma posio secundria na
Grande rea em termos de volume/tamanho de produo o que lhe confere,
em princpio, um menor peso poltico.
2. Uma segunda proposta seria a de realizar gestes junto a CAPES no
sentido de permitir e viabilizar a uma rea, no caso a EF, ter mais de uma
localizao, ou seja, pertencer simultaneamente a mais de uma Grande rea.
Programas de EF poderiam optar por serem avaliados em uma ou outra rea
em funo de suas especificidades. Em relao a esta proposta ou
alternativa foram mencionados as seguintes dificuldades e/ou problemas: a)
dificuldades de aceitao e operacionalizao por parte da CAPES; b)
poderia provocar uma fragmentao e conseqente fragilizao da rea com
perda de poder poltico; c) poderia gerar um sentimento de traio junto a
outras reas pertencentes Grande rea e que vem a EF como parceira na
resoluo desses problemas. Alm destas duas propostas, foi discutida uma
outra que complementaria a primeira. Trata-se da oportunidade de alterar o
nome da rea de EF para Cincias do Esporte ou ento, Cincias do
Movimento Humano, mantendo a vinculao com a Grande rea das
Cincias da Sade. O argumento para tal mudana relaciona-se com a
hiptese de que isso indicaria mais claramente a pluralidade e a abrangncia
da rea bem como, sensibilizaria a Grande rea para nossas
especificidades, deflagrando o debate sobre a necessidade de atender essas
especificidades no processo de avaliao. Importante frisar que no
chegamos a um consenso sobre qual das duas alternativas seria a melhor. O
que ficou mais uma vez claro, foi a urgncia de se obter uma soluo para as
dificuldades que a atual classificao traz para uma parte representativa da
comunidade cientfica da EF (CAPES, 2006a, p. 14).
Certamente, o registro evidencia os debates realizados internamente nos
programas sobre as dificuldades que vem sendo encontradas no enfrentamento da
sua organizao e revela o conflito vivido na busca de uma sada. Ao mesmo
89
tempo em que reconhecem a necessidade da definio de uma identidade para a
rea, afirmam que isso poderia acarretar sua fragmentao, e, consequentemente,
fragilizao e perda de poder poltico, visto que a proposta seria de que os
programas com caractersticas das Cincias Humanas fossem avaliados nessa
Grande rea e aqueles com caractersticas das Cincias da Sade na Grande rea
da Sade. Como alternativa, ainda, apontam a possibilidade de a rea assumir uma
nova denominao, Cincias do Esporte ou Cincias do Movimento Humano,
entendendo que isso faria a agncia reconhecer as suas especificidades, na medida
em que reconheceria sua pluralidade. Contudo, este parecer ser o atual problema da
rea que se denomina EF, portanto, o caminho visto como possibilidade de soluo,
recria um antigo problema.
O debate ocorre em torno da reivindicao, por parte dos programas, de
atribuio de peso produo que apresenta interface com as humanidades, ou
seja, aquela que , principalmente, publicada em livros, tendo em vista que parte do
corpo docente desses programas se dedica a produzir a partir dessas reas e acaba
por no contribuir para o conceito do programa, visto que os critrios de produo
intelectual priorizam aquela que publicada nas revistas cientficas indexadas.
De fato, a produo cientfica apresenta relao direta com a caracterstica
epistemolgica da rea e tem se apresentado como quesito determinante na
definio de qualidade dos cursos. Na avaliao da agncia, os artigos cientficos
so os que apresentam maior peso, contudo, para pesquisadores da rea, esse no
o tipo de produo predominante na EF (RESENDE; VOTRE, 2003; BETTI et al.,
2004; CARVALHO; MANOEL, 2006, 2007).
Esses autores defendem que a divulgao do conhecimento no tem como
nico foco os prprios pesquisadores, por isso se justifica que a produo seja
veiculada tambm por meio de livros e anais de congresso que se constituem em
veculos privilegiados em termos do poder de socializao do conhecimento
produzido para a comunidade em geral.
90
[...] H reas em que a relao entre artigo e produo intelectual estreita,
entretanto, h outras em que a produo diversa e se distancia do artigo e
essa diferena exige cada vez mais das comunidades cientficas empenho na
formulao de uma avaliao que contemple essa diversidade. Se, de um
lado, o QUALIS contribuiu para com o processo de avaliao, de outro, ele,
aos poucos e gradativamente, modela e impe, por meio de normas, uma
adequao a esse modelo e assim consegue inibir a disseminao da
capacidade inventiva e criativa daqueles pesquisadores que no cumprem
com as regras (CARVALHO; MANOEL, 2006, p. 203).
De fato, a discusso encontra respaldo em Velho (1997) ao defender a
existncia de particularidades da comunicao cientfica nas diferentes reas por
meio de estudo que verificou que alguns pesquisadores j levantaram evidncias
empricas com relao escolha dos canais de comunicao, forma da
publicao, ao idioma e localizao geogrfica das publicaes para veiculao
dos resultados de suas pesquisas. Entre essas, destacam: nas cincias puras, a
tendncia escolher canais internacionais de comunicao; nas cincias aplicadas,
canais regionais ou locais; nas cincias exatas e naturais, a tendncia que os
resultados sejam expostos na forma de artigos; nas cincias sociais e humanas, a
publicao aparece, em geral, na forma de livros.
38
O reconhecimento dessa caracterstica fica evidenciada pela anlise do
documento referente a avaliao continuada de 2005 que indica um aumento no
volume de artigos em peridicos indexados e tambm do nmero de livros e
captulos de livros que correspondem a um tero de toda a produo para a EF e
Fonoaudiologia (CAPES, 2005a). Desse quadro, enfatiza o documento, pode-se
depreender que a difuso da produo na rea 21 diversa, tanto no que se refere
a peridicos e livros, quanto no que se refere natureza dos veculos de difuso, j
que, em ambas, identifica-se que 36% das reas de concentrao so orientadas s
Cincias Sociais e Humanas e 64% se orientam para as Cincias
Biolgicas/Biomdicas.
Assim, um desafio para o aperfeioamento da avaliao na rea considerar
tal diversidade na definio dos critrios privilegiando a uniformidade na avaliao
da qualidade dos programas. [...] Urge, sobre todos os sentidos, a necessidade de
se discutir novos indicadores para avaliar de forma qualitativa o impacto dessa
38
Targino e Garcia (2000) tambm compartilham da posio apresentada por Velho. As autoras
afirmam que o fato de as pesquisas em Cincias Humanas e Sociais demandarem uma elaborao
interpretativa mais densa do que aquela que caracteriza a divulgao dos resultados de pesquisa nos
outros campos faz com que tenham no livro o veculo de comunicao formal mais utilizado que os
artigos.
91
produo nacional. Seu impacto necessita ser avaliado alm do que expresso pela
base de dados de indexao de peridicos (CAPES, 2005a, p. 7).
Essa discusso envolve, tambm, questionamento sobre a utilizao do
sistema Qualis que acabou por se transformar, concretamente, no instrumento de
avaliao da ps-graduao. Esse o ponto crtico tambm reconhecido por Tani
(2007) ao entender que suas implicaes afetam o nvel de procura pelos alunos, o
recebimento de recursos financeiros, o nmero de bolsas, a autonomia funcional,
enfim, aspectos relacionados com o futuro e a sobrevivncia dos programas. Mas o
autor assevera que o problema no est na classificao dos peridicos, mas sim na
sua vinculao a critrios que definem os conceitos dos programas. [...] Portanto,
apesar de intimamente associados, preciso separar o Qualis e a avaliao da ps-
graduao para que a crtica ao sistema seja construtiva e contribua para o seu
aperfeioamento (TANI, 2007, p. 12).
De fato, a comisso avaliadora da rea reconhece a carncia de peridicos
qualificados e de um melhor indexador para as revistas. Alm disso, destaca a
necessidade de discutir com toda a comunidade polticas e estratgias para
alavancar a classificao dos peridicos nacionais e a qualificao dos livros e
captulos de livro, tendo em vista que essa uma produo expressiva da rea, e
para alavancar a rea orientada s Cincias Sociais e Humanas, tambm
denominada de sciocultural.
A classificao dos livros ser realizada a partir da formulao do Qualis Livro
que far parte da avaliao trienal pelo fato de a agncia reconhecer, como afirmado
anteriormente, que, em vrias reas do conhecimento, os livros constituem a
principal modalidade de veiculao de produo artstica, tecnolgica e cientfica.
Dessa forma, a formulao do Qualis Livro consolida discusses ocorridas nas
reas, cujos esforos eram de estabelecer critrios e procedimentos comuns para a
qualificao dessa produo.
39
Outro critrio bastante discutido diz respeito ao excessivo valor dado s
publicaes internacionais, de forma que os nveis 6 e 7, do sistema de avaliao,
so definidos a partir de um nico parmetro a produo cientfica internacional
basicamente em peridicos estrangeiros. Assim, o quesito que realmente discrimina
39
Desse processo, a EF participou ativamente, pelo menos desde 2006, quando Carvalho e Manoel
(2006) apresentaram a primeira discusso sobre essa necessidade.
92
nesse atual processo de avaliao a produo bibliogrfica, e nesta, a qualidade
dos veculos de divulgao.
Na viso da agncia, a insero internacional dos programas e seu
conseqente reconhecimento esto diretamente relacionados com a capacidade dos
pesquisadores em publicar internacionalmente. Contudo, parte da comunidade
cientfica da rea argumenta que, em funo dessa necessidade para o
reconhecimento dos programas, muitos pesquisadores acabam por promover uma
adaptao de suas pesquisas a fim de emplacar uma publicao internacional, de
forma que Lovisolo (2003, p. 108) expe que [...] o modo de funcionamento do
sistema pode estar conduzindo ao abandono da originalidade em favor da
publicao em revistas internacionais, o que em definitivo, o que importa para o
sistema de avaliao.
No entanto, Tani (2007) contrape esse argumento afirmando que se trata de
um engano, pois essa preocupao parte da premissa de que todos os
pesquisadores tm competncia de ter todos os seus artigos publicados em
peridicos internacionais. Para ele, [...] altamente plausvel, numa comunidade de
pesquisadores, uma distribuio normal dos peridicos em que seus artigos so
publicados, desde os locais, de circulao restrita, a internacionais da mais alta
reputao (TANI, 2007, p. 14). Acrescenta que, ao mesmo tempo em que cresce a
competio para publicar nos peridicos internacionais, cresce o nmero de
pesquisadores qualificados que, em funo dessa alta competitividade, tambm
publicam em peridicos nacionais que passam a ter a possibilidade de indexao
internacional.
O interessante notar, a partir da discusso apresentada, que, ao longo do
perodo de implantao do sistema de avaliao da PG brasileira, escolhas e
orientaes foram feitas. No se pode perceber os resultados e as caractersticas de
hoje como mero processo natural ou automtico. Assim, entendo que, se existem
diferenas e possibilidades de comparaes, porque essas foram, tambm,
produzidas pela poltica implantada. Ao retomar a histria, percebe-se que a
formao de recursos humanos fora do pas para viabilizao de implantao do
sistema brasileiro foi uma escolha; a determinao de um modelo de
acompanhamento que pudesse atribuir conceitos aos programas tambm foi uma
escolha, assim como foram escolhas cada um dos critrios hoje utilizados na
avaliao e que vm sendo, de maneira recorrente, questionados pela comunidade.
93
Alm disso, h uma questo bvia, todas as escolhas determinam conseqncias. E
a conseqncia poltica para a ps-graduao brasileira tem sido a gerao de um
sistema desigual, desequilibrado, formado por um conjunto de programas com
caractersticas especficas que buscam se moldar ao modelo desejado.
Nesse sentido, a criao de um espao em que se possa discutir a p-
graduao na rea urgente, no sentido de buscar formas de resistncia e de
articulao para confrontar a supremacia das reas hegemnicas e dialogar sobre
as especificidades das reas. O que se tem visto, nas ltimas avaliaes, que o
que est em jogo no a avaliao propriamente dita, mas a disputa de espao na
rea de excelncia, onde se concentram financiamento e prestgio e se a EF deseja
tomar o seu lugar nesse espao, precisar se organizar desde agora.
Assim, compreendo que a gerao de informaes sobre a rea, como o
mapeamento aqui realizado, podem contribuir de maneira efetiva para a criao de
argumentos e formulao de propostas que tornem a avaliao mais adequada
rea, reconhecendo suas especificidades.
94
95
5. PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
O estudo caracteriza-se como descritivo do tipo exploratrio. Entende-se
como descritivo, pois busca conhecer uma situao determinada, suas atividades,
processos e indivduos e exploratrio uma vez que objetiva aumentar a familiaridade
do pesquisador com o problema, permitindo a formulao de novos estudos a partir
de seu resultado (DENCKER; VI, 2002). Seu objeto emprico constitui-se a partir
dos dados bibliogrficos das teses defendidas em seis PPGEF que constam em
base de dados mantida pela CAPES, o Banco de Teses.
Esse banco tem como objetivo facilitar o acesso a informaes sobre teses e
dissertaes defendidas junto a programas de ps-graduao do pas a partir de
1987. As informaes so fornecidas diretamente a Capes pelos programas, que se
responsabilizam pela veracidade dos dados.
Apoio-me na cientometria para a anlise proposta por consider-la como
mtodo quantitativo utilizado no estudo de atividades cientficas e/ou tcnicas, do
ponto de vista de sua produo ou comunicao (BUFREM; PRATES, 2005). Alm
disso, a cientometria [...] tenta medir os incrementos de produo e produtividade
de uma disciplina, de um grupo de pesquisadores de uma rea, a fim de delimitar o
crescimento de um determinado ramo do conhecimento (VANTI, 2002), atendendo,
portanto, aos objetivos de minha pesquisa. Assim, para o alcance dos objetivos
propostos, adotei os procedimentos que so descritos a seguir.
5.1 SELEO DOS PROGRAMAS DE PS-GRAUDAO EM EDUCAO FSICA
COM TESES DEFENDIDAS NO PERODO ESTUDADO
Tendo em vista que o estudo objetiva analisar as teses defendidas nos
PPGEF, entre 1994 e 2008, o primeiro passo foi a identificao daqueles que
possuem o curso de doutorado. Dessa forma, foi possvel constatar que, atualmente,
96
a rea Educao Fsica conta com 22 programas que oferecem 22 cursos de
mestrado
40
e onze de doutorado que podem ser visualizados da seguinte forma:
CONCEITO PROGRAMA IES UF
M D F
Cincias da Atividade Fsica UNIVERSO RJ 3 - -
Cincias da Motricidade UNESP/RC SP 5 5 -
Cincias do Esporte UFMG MG 4 4 -
Cincias do Movimento Humano UFRGS RS 5 5 -
Cincias do Movimento Humano UDESC SC 4 4 -
Cincias do Movimento Humano UNICSUL SP 3 - -
Educao Fsica UNB DF 3 - -
Educao Fsica UCB DF 4 4 -
Educao Fsica UFES ES 3 - -
Educao Fsica UFV MG 3 - -
Educao Fsica UFPR PR 4 4 -
Educao Fsica UFRJ RJ 3 - -
Educao Fsica UGF RJ 5 5 -
Educao Fsica UFPEL RS 3 - -
Educao Fsica UFSC SC 5 5 -
Educao Fsica USP SP 6 6 -
Educao Fsica UNICAMP SP 4 4 -
Educao Fsica UNIMEP SP 3 - -
Educao Fsica USJT SP 4 4 -
Educao Fsica - FESP/UPE - UFPB FESP/UPE PE 3 - -
Educao Fsica - UEL - UEM UEL PR 3 - -
Terapia Ocupacional UFSCAR SP 3 - -
Quadro 1 - Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica recomendados pela CAPES
Cursos: M - Mestrado Acadmico, D - Doutorado, F - Mestrado Profissional
Fonte: CAPES (2010)
Apesar de a rea contar, atualmente, com onze programas de doutorado,
apenas seis apresentam teses defendidas at o ano de 2008, em funo da data de
criao, passando, ento, a constituir o universo a ser pesquisado. So eles:
1- USP: as atividades do Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da USP
foram iniciadas em 1977, com a criao do primeiro curso de mestrado do pas e, a
partir de 1989, o programa passou a oferecer o primeiro curso de doutorado em EF
no Brasil.
2- Unicamp: o Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da Unicamp
iniciou as atividades do mestrado em 1988 e as do doutorado em 1993.
40
O programa de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de So Carlos aparece como
pertencente a rea de Educao Fsica por fazer parte, na Tabela de rea de Conhecimento da
CAPES, da Grande rea Cincias da Sade, rea de avaliao Educao Fsica, juntamente com os
cursos de Fisioterapia, e Fonoaudiologia (rea 21). Contudo, no pertence rea e no entrar no
cmputo geral da EF nas anlises realizadas
97
3- UGF: o Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da UGF criou o
mestrado em 1985 e o doutorado em 1994.
4- UFRGS: em 1989, o Programa de Ps-Graduao em Cincias do Movimento
Humano criou o mestrado em 1989 e, em 1999, o curso de doutorado.
5- UNESP: o curso de mestrado do Programa de Ps-Graduao em Cincias da
Motricidade foi criado em 1991 e, em 2001, foi criado o doutorado.
6- UCB: o mestrado do Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica foi
institudo em 1999 e o doutorado em 2006.
5.2 CONSTITUIO DO CORPUS DE PESQUISA
Para a identificao e levantamento das teses enviei, inicialmente, uma
comunicao - por e-mail - coordenao dos seis programas solicitando uma lista
oficial contendo o nome de todos os doutores titulados, bem como o ttulo e ano de
defesa das teses. Tendo em vista que apenas as secretarias dos programas da USP
e Unicamp responderam solicitao, passei a buscar as informaes no site da
CAPES, nos documentos depositados pelos programas que alimentam o banco de
dados para a realizao das avaliaes empreendidas pela agncia e que fazem
parte dos Cadernos de Indicadores.
41
Dessa maneira, foi possvel identificar todas as teses apresentadas nos
programas estudados desde o ano de 1998. Como apenas o doutorado da USP
possui tese defendida antes desta data e a instituio forneceu lista nominal dos
doutores, foi possvel fechar uma lista contendo todas as defesas realizadas, na
rea de EF, de 1994 a 2008. Alm disso, as informaes obtidas foram comparadas
com as que constam nos sites dos programas que mantm suas informaes
atualizadas e os dados referentes UGF foram conferidos pessoalmente, junto
secretaria do programa.
41
Os Cadernos de Indicadores constituem os relatrios, gerados pelos programas por meio do
Coleta de Dados, que visam a levantar informaes sobre os onze itens avaliados pela agncia:
produo tcnica, disciplinas, proposta do programa, docente produo, teses e dissertaes,
produo artstica, linhas de pesquisa, docente atuao, produo bibliogrfica, corpo docente,
vnculo formao e projetos de pesquisa.
98
A partir da formulao dessa lista, realizei o levantamento das teses no banco
de dados da CAPES, identificando um conjunto de 333 trabalhos que compem o
corpus de pesquisa. A distribuio das teses ao longo do perodo estudado pode ser
visualizada conforme demonstra a Tabela 1.
99
Tabela 1 - Nmero de teses defendidas nos Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica de 1994 a 2008.
ANO DE DEFESA DAS TESES
IES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
USP 01 02 03 - 03 04 01 06 03 04 02 05 13 07 05 59
Unicamp - 02 01 08 17 11 11 14 12 14 12 15 16 08 20 161
UGF - - - - 03 05 04 02 03 07 11 05 13 09 01 63
UFRGS - - - - - - - - - 06 03 - 01 05 08 23
UNESP - - - - - - - - - - 02 04 02 13 04 25
UCB - - - - - - - - - - - - - - 02 02
TOTAL 01 04 04 08 23 20 16 22 18 31 30 29 45 42 40 333
100
5.3 IDENTIFICAO DOS DADOS ANALISADOS
Aps a identificao e localizao das teses, passei criao de um
banco de dados no programa Microsoft Office Excel, com informaes
coletadas a partir dos registros confeccionados na base de dados referenciais
da CAPES, com as seguintes informaes:
1. Ttulo do trabalho;
2. Nome do autor;
3. Ano de defesa;
4. Programa em que foi defendido;
5. rea de Concentrao do programa em que foi defendido;
6. Linha de Pesquisa do programa em que foi defendido;
7. Nome do orientador;
8. Palavras-chave utilizadas
Alm desses, tambm criei, para cada programa, um arquivo com os
resumos das teses analisadas. Para garantir a gerao de resultados
consistentes, a coleta de dados foi feita de maneira rigorosa a fim de garantir a
fidedignidade dos resultados. Nesta etapa, foram identificados alguns erros
referentes ao registro das informaes, como, por exemplo, a no
padronizao dos nomes dos orientadores, das escolas e programas; a
ausncia de indicao da rea de concentrao, da linha em que foi
desenvolvida a pesquisa; etc. A partir desta constatao foi necessrio
reformatar os dados e padronizar os elementos bibliogrficos.
5.4 PROCEDIMENTOS DE ANLISE DOS DADOS
Aps a coleta dos dados, todas as anlises foram feitas utilizando o
software Excel, buscando identificar a temtica principal da tese analisada,
ainda que em alguns trabalhos seja possvel identificar temticas perifricas. A
fim de garantir a padronizao e o processo de categorizao na anlise dos
101
programas e teses optou-se por adotar os seguintes procedimentos no
momento de anlise:
- para anlise das terminologias empregadas na definio de palavras-
chave: eliminao dos registros que no permitem identificar as palavras-
chave;
- para anlise da relao entre temtica da tese e linha de pesquisa:
eliminao dos registros que no permitem identificar a linha de pesquisa em
que o trabalho foi desenvolvido;
- para anlise da relao entre a temtica da tese e a rea de
concentrao: eliminao dos registros que no permitem identificar a rea de
concentrao em que o trabalho foi desenvolvido.
Esses procedimentos foram adotados para garantir o rigor da anlise
realizada, tendo em vista o grande nmero de inconsistncias inicialmente
identificadas. Esse fato tambm foi identificado por Kobashi e Santos (2006) na
realizao de estudo que buscou utilizar bases de dados bibliogrficos levando
os autores a chamarem a ateno para a precariedade das informaes e
destacarem o alarmante grau de desorganizao, disperso e falta de
padronizao dos repositrios da produo cientfica nacional.
Para consecuo dos objetivos, elaborei um Quadro Temtico
Referencial a partir do que foi proposto por Kroeff (2000). A opo pelo trabalho
da autora se d pelo entendimento de que ele busca abarcar as tendncias e
perspectivas temticas das pesquisas desenvolvidas na rea e possibilitam a
construo de uma cartografia temtica referencial da EF, no Brasil.
Tomando, como base, a classificao proposta pela autora, elaborei um
quadro que aproveita algumas categorias, desdobra outras, exclui as
consideradas insuficientes ou inadequadas e acrescenta aquelas consideradas
necessrias. Essas alteraes constituem uma tentativa de contemplar temas
que poderiam ficar obscurecidos e procuram evitar a construo de um
esquema que refletisse apenas a produo cientfica do momento presente. Ao
contrrio, busquei construir uma estrutura que, de modo abrangente,
envolvesse todo o amplo universo temtico da EF.
Assim, considero que essas temticas podem ser entendidas como
instrumentos direcionadores das pesquisas desenvolvidas, permitindo construir
um mapeamento da EF brasileira. Alm disso, a utilizao do quadro
102
possibilitar a realizao de uma anlise comparativa dos resultados
encontrados nos dois trabalhos.
O quadro formulado por Kroeff (2000) apresenta nove reas temticas
dividas em 53 categorias. Contudo, para este trabalho prope-se a supresso
das reas temticas e uma reduo das categorias, criando uma lista com 29
categorias temticas que pode ser visualizada da seguinte forma:
103
SIGLA DA
CATEGORIA
TEMTICA
CATEGORIA TEMTICA
CT 1 Anatomia/Antropometria/Medidas e Avaliao
CT 2 Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural
CT 3 Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 4 Arquitetura/Instalaes esportivas
CT 5 Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 6 Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 8 Comunicao/Informao/Informtica
CT 9 Dana e Atividades Rtmicas
CT 10 Desenvolvimento Motor
CT 11 Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 12 Epistemologia/ Cincia
CT 13 Esportes Comunitrios
CT 14 Estudos Culturais
CT 15 Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 18 Fundamentos da Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/
Avaliao da Aprendizagem
CT 19 Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 20 Marketing
CT 21 Nutrio/Obesidade
CT 22 Organizao/Gesto
CT 23 Pesquisa/Ps-Graduao
CT 24 Poltica/Poltica Publica
CT 25 Prtica desportiva/Fundamentos desportivos
CT 26 Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 Treinamento fsico/esportivo
Quadro 2 Quadro Temtico Referencial da Educao Fsica
No contexto da pesquisa, ocorrncia considerada como a
manifestao nica de determinado fato e freqncia refere-se repetio de
uma determinada ocorrncia.
104
105
6. RESULTADOS E DISCUSSO
Este captulo se destina apresentao dos resultados do trabalho.
Parto da caracterizao dos PPGEF (terminologia, localizao geogrfica, data
de criao e natureza da instituio) por entender que essas informaes
permitem ampliar a leitura da rea e, em seguida, apresento a anlise das
terminologias utilizadas nas palavras-chave das teses que compem o corpus
da pesquisa. Finalizo apresentando a anlise temtica dos trabalhos, bem
como sua relao com a rea de concentrao e linha de pesquisa em que
foram desenvolvidos.
No processo de categorizao temtica, algumas dificuldades foram
encontradas pelo fato de nem sempre os ttulos permitirem a identificao do
assunto tratado no trabalho. Em funo disso, adotei, como procedimento, a
leitura do ttulo, do resumo e das palavras-chave.
Por esse motivo, cabe destacar que o ttulo de um trabalho consiste em
parte importante da produo cientfica, pois oferece pistas relevantes para o
consumidor de cincia na busca da informao. Desse modo, sua adequao
fundamental para garantir a recuperao de dados (CAMPOS; WITTER, 1999).
Existem estudos (MATOS, 1985; CAMPOS, WITTER, 1999;
GONALVES et al., 1999) que enfatizam a relevncia do ttulo no discurso
cientfico, visto que, alm de representar o trabalho uma das principais fontes
para indexao em bases de dados. Assim, considerando que esse discurso
exige preciso conceitual e terminolgica, coerncia, planejamento e
sistematizao da comunicao cientfica do pesquisador, correto afirmar que
a formulao do ttulo deve seguir os mesmos padres.
Na opinio de Gonalves et al. (1999) um bom ttulo deve ser uma
sntese do texto, um hiperresumo que reproduza semanticamente o que h de
mais importante no trabalho, sem recorrer a expresses fantasia. Contudo,
ainda que no seja objetivo deste trabalho realizar uma anlise desse
elemento, uma primeira aproximao evidenciou a presena de ttulos pouco
informativos e pouco representativos das temticas estudadas e isso pode, em
um contexto mais geral, levar o leitor a enganos e a ter dificuldade para
106
localizar uma informao desejada e, no mbito deste trabalho, dificultou a
identificao do tema tratado, exigindo leitura de outros elementos.
6.1 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DOS PROGRAMAS DE PS-
GRADUAO EM EDUCAO FSICA
Os programas que compem o cenrio da ps-graduao em EF no
apresentam uma homogeneidade no que se refere denominao, localizao
geogrfica e natureza institucional.
42
Dessa maneira, considero relevante uma
anlise inicial desses aspectos que podem ser assim visualizados:
IES PROGRAMA UF M D NATUREZA
INSTITUCIONAL
USP Educao Fsica SP 1977
1989
Pblica Estadual
UGF Educao Fsica RJ 1985 1994 Privada
Unicamp Educao Fsica SP 1988 1993 Pblica Estadual
UFRGS Cincias do Movimento Humano RS 1989
1999
Pblica Federal
UNESP/RC Cincias da Motricidade SP 1991
2001
Pblica Estadual
UFSC Educao Fsica SC 1996
2006
Pblica Federal
UFMG Cincias do Esporte MG 1995 2008 Pblica Federal
UDESC Cincias do Movimento Humano SC 1997 2009 Pblica Estadual
UCB/DF Educao Fsica DF 1999 2006 Privada
UNIMEP Educao Fsica SP 2000 - Privada
UFPR Educao Fsica PR 2002 2008 Pblica Federal
USJT Educao Fsica SP 2004 2009 Privada
UNIVERSO Cincias da Atividade Fsica RJ 2006 - Privada
UNICSUL Cincias do Movimento Humano SP 2006 - Privada
UNB Educao Fsica DF 2006 - Pblica Federal
UFES Educao Fsica ES 2006 - Pblica Federal
UEL Educao Fsica PR 2006 - Pblica Estadual
UFV Educao Fsica MG 2007 - Pblica Federal
UFRJ Educao Fsica RJ 2007 - Pblica Federal
UFPEL Educao Fsica RS 2007 - Pblica Federal
FESP/UPE Educao Fsica PE 2008 - Pblica Estadual
UFSCAR Terapia Ocupacional SP 2009 - Pblica Federal
Fonte: CAPES (2010)
Quadro 3 - Caracterizao dos Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
segundo denominao, localizao geogrfica, ano de criao dos cursos
e natureza institucional
42
Ainda que includo na lista da Educao Fsica, o programa da UFSCAR/SP pertence a
Terapia Ocupacional e, como informado, nas anlises aqui realizadas, no entrar no cmputo
total.
107
6.1.1 A diversidade terminolgica na denominao dos Programas de
Ps-Graduaao em Educao Fsica
A primeira caracterstica a ser observada refere-se terminologia
utilizada para a denominao dos programas, representada no grfico abaixo.
15
3
1 1 1
0
3
6
9
12
15
18
21
Educao
Fsica
Cincias do
Movimento
Humano
Cincias da
Motricidade
Cincias da
Atividade
Fsica
Cincias do
Esporte
Grfico 1 - Distribuio dos Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
quanto terminologia utilizada para sua denominao
Considero que a utilizao de diferentes terminologias para a
denominao dos programas revela, inicialmente, um entendimento de rea e
resulta da aproximao com algumas propostas que foram pensadas na EF,
sobretudo, a partir do final da dcada de 1980, e que buscavam a criao de
uma nova cincia que pudesse substituir a EF.
Dentre essas, podem ser identificadas a Cincia da Motricidade Humana
(SRGIO, 1989); a Cincia do Movimento Humano (CANFIELD, 1993); e a(s)
Cincia(s) do Esporte (GAYA, 1994).
43
A proposio de uma Cincia da Motricidade Humana (CMH) aparece na
rea representada pelo professor portugus Manuel Srgio (1989) para quem a
legitimao social da EF somente seria concretizada se ela buscasse
43
Para alm da apresentao das propostas, existem, na rea, autores que buscam discuti-las,
analisado sua necessidade, possibilidades e contribuies. Para isso, ver Cavalcanti (1996),
Cyrino; Nardo Junior (1997), Santos (1999), Bracht (1999), Rocha Junior (2005).
108
compreender-se como cincia independente e autnoma e com um objeto de
estudo que no oferecesse dvidas sobre os seus fundamentos lgicos e
epistemolgicos, a motricidade humana. Para ele [...] uma cincia s se
constitui como tal (como um corpo de conhecimento e de resultados) no
momento em que o sistema que a produz j construiu o seu prprio e
autnomo objeto terico (SERGIO, 1989, p. 34). Nesse sentido, o autor define
a Motricidade Humana como
[...] Cincia da compreenso e da explicao das condutas motoras,
visando o estudo e constantes tendncias da motricidade humana,
em ordem ao desenvolvimento global do indivduo e da sociedade e
tendo como fundamento simultneo o fsico, o biolgico e o
antropolgico (SRGIO, 1989, p.53).
Na viso de Sergio (1989), com o nome EF no possvel fazer uma
cincia independente, por isso, somente possvel entend-la como uma
vertente pedaggica da nova cincia. J a Motricidade Humana permite tratar o
movimento humano que emerge do treino, da dana, da ginstica, da
motricidade infantil, do esporte, do jogo, da reabilitao, etc. Nesse
entendimento, faz-se necessria a interao de diversas reas de
conhecimento com a CMH na explicao do movimento humano - das
condutas motoras do homem.
Esse entendimento parece, de fato, estar presente na proposta do
programa da UNESP que assume a denominao Cincia da Motricidade. De
acordo com informaes obtidas a partir do Caderno de Indicadores da
CAPES, [...] A motricidade humana, no mbito do programa entendida como
um fenmeno multidimensional que abrange aspectos filosficos, scio-
culturais, comportamentais e biolgicos (CAPES, 1998c, p. 3). Assim, os
cursos da UNESP focam a atuao acadmica em reas que tm a
motricidade humana como objeto de estudos ou instrumento de atuao
profissional, tais como a Educao Fsica, a Fisioterapia, a Terapia
Ocupacional, a Psicologia, a Fonoaudiologia e outras reas correlatas (CAPES,
1998c). Alm disso, informa que
109
A Cincia da Motricidade possui um corpo de conhecimento prprio
que envolve o estudo do movimento humano. Caracteriza-se
tambm, por possuir uma interdisciplinaridade com diversas reas,
envolvendo os conhecimentos das cincias biolgicas, das cincias
da sade, da filosofia, da antropologia, das cincias sociais, da
pedagogia e comportamentais. Assim, as pesquisas na rea de
motricidade abrangem tanto a rea bsica quanto a rea aplicada.
Para obter um elevado grau de produo acadmica e produzir
novos conhecimentos na rea das Cincias da Motricidade, o
programa tem como meta propiciar a participao e colaborao de
docentes especialistas, independente de sua rea de formao
(educador fsico, bilogos, mdicos, fisioterapeutas, filsofos), nos
projetos de pesquisa envolvendo estudos na rea da motricidade
humana, enriquecendo sobremaneira a pesquisa na rea e
promovendo uma diversidade de formao do corpo discente,
trabalhando com a pluralidade das questes do desenvolvimento do
ser humano em sua totalidade (CAPES, 2004b, p. 3).
Nota-se, ento, que, ainda que os documentos no faam meno direta
cincia proposta por Sergio (1989), os argumentos utilizados para justificar a
organizao do programa aproximam-se daqueles apresentados pelo autor.
Assim como a proposta de Sergio (1989), a Cincia do Movimento
Humano, que tem como representante o professor Jefferson T. Canfield, parte
de um reconhecimento de que o termo EF tornou-se restrito para
explicar/abranger a rea que trata do movimento humano e tem agregado,
alm dos professores de EF, profissionais da ergonomia, dana, artes, esporte,
reabilitao, medicina, engenharia, fisioterapia, enfermagem, educao
especial, etc. (CANFIELD, 1993). Para o autor, a proposta
[...] amplia a viso de inter-relacionamento das diversas reas
profissionais que tm no movimento humano parte ou a totalidade do
foco de estudo e, consequentemente, remete-nos busca deste
corpo de conhecimento comum, que pode ser designado Cincia do
Movimento Humano (CANFIELD, 1993, p. 146).
Assim, a Cincia do Movimento Humano passa a ser entendida como
um campo que prev a convergncia de vrias disciplinas cientficas, desde as
vinculadas s cincias biolgicas at as scio-culturais, reconhecendo a
necessidade de uma abordagem multidisciplinar para permitir o tratamento do
movimento humano. Para Canfield (1993), o termo movimento humano satisfaz
as condies para ser um campo de conhecimento, embora sua natureza no
seja homognea.
110
Uma Cincia do Movimento Humano que tem no movimento humano
seu foco de estudos , no nosso entender, menos atomizada que uma
Cincia da Educao Fsica [...] do Esporte. Esta tomada de posio
indica uma preferncia por uma abordagem holstica do homem em
movimento (CANFIELD, 1993, p. 146).
A anlise dos documentos da CAPES (2005b) referentes ao programa
da UFRGS justifica o entendimento apontando o seguinte
A partir da convico da possibilidade da constituio da cultura
corporal do movimento humano como rea de investigao da
cultura geral que definimos nosso objeto de estudo: as Cincias do
Movimento Humano. Um campo cientfico cujo objetivo o de obter
de modo sistemtico, uma compreenso completa, racional e
empiricamente fundamentada dos fenmenos da cultura corporal do
movimento humano. Um campo transdisciplinar onde possvel
compreender a corporeidade humana com todas as ferramentas
intelectuais e experimentais simultaneamente e, em seguida, com
base em seus resultados, elucidar seus mecanismos, suas emoes
e sua significao possibilitando, inclusive, um dilogo entre o
biolgico e o cultural, entre o corpo funcional e o corpo relacional
(CAPES, 2005b, p. 3).
Tambm nos documentos referentes ao programa da UDESC foi
possvel perceber a caracterizao de uma viso multidisciplinar do movimento
humano, como exposto abaixo:
[...] o estudo do movimento humano no necessita de outras
justificativas alm do seu significado em termos da evoluo da
espcie humana. Seja qual for a posio que se adote sobre a
organizao hierrquica destes fatores e suas inter-relaes que
determinam as caractersticas do movimento observado, eles
participam juntos no sistema interativo do homem e seu meio
ambiente. As dicotomias mente-corpo, arte-cincia, individual-social no
estudo do homem em movimento, embora tenham contribudo para a
construo do conhecimento tambm tm criado obstculos para seu
pleno entendimento. Sendo assim [...], amplia-se a viso de inter-
relacionamento das diversas reas profissionais que tm no
movimento humano parte ou a totalidade do foco de estudos e,
conseqentemente remete-nos a busca deste corpo de conhecimento
comum. Esta deciso de abrir s diferentes reas profissionais a
possibilidade de cursar o Programa de Ps-Graduao Stricto Sensu
tem a ver com uma perspectiva holstica do homem em movimento em
contraposio a uma viso mais reducionista, totalmente direcionada
para uma nica rea de preparao profissional (CAPES, 2001a, p.
15).
O programa da Unicsul, inicialmente denominado EF, fez solicitao, em
2008, para criao do doutorado e alterao da denominao para Programa
de Ps-Graduao em Cincias do Movimento Humano por entender que esta
111
reflete [...] a maturidade e melhor definio do foco de estudo dos docentes do
Programa, fato este desejvel e recomendvel nas diversas instncias de
formao e produo de conhecimento cientfico (CAPES, 2007a, p. 11).
Contudo, no h, nos documentos relacionados ao programa, referncia direta
Cincia do Movimento Humano ou justificativa pela opo.
De alguma maneira, o que est exposto, explcita ou implicitamente, nas
propostas de criao de uma nova cincia e nos documentos dos programas
o entendimento de que o termo EF sugere uma orientao voltada para escola,
conduzindo a uma interpretao restrita da rea. Em funo disso, os termos
movimento humano ou motricidade humana demarcariam um domnio mais
abrangente para um campo de estudo. Essa noo, ento, permitiria o
estabelecimento de um ncleo comum de conhecimento que pode ser
estudado independentemente da profisso, abrindo a possibilidade para uma
ampla variedade de reas. Atrelado a esse entendimento, noto a inteno de
dar um status acadmico rea.
J o termo Cincia da Atividade Fsica utilizado pelo programa da
faculdade Universo que expe, em documento de avaliao, que a construo
do marco terico que fundamenta o curso se orienta em dois eixos.
[...] num eixo ela assume uma perspectiva disciplinar ao adotar a
terminologia de Cincia da Atividade Fsica e falar em disciplinas e
sub-disciplinas. O outro eixo fica evidente a perspectiva temtica pela
nomenclatura adotada para denominar a rea de concentrao
(Atividade Fsica, Sade e Sociedade) e as linhas de pesquisa a ela
vinculada (CAPES, 2007b).
O que se verifica na constituio do programa a tentativa de organiz-
lo a partir do entendimento de que buscar em disciplinas-me (Biologia,
Fisiologia, etc.) o tratamento para questes relacionadas rea. possvel
localizar no documento que trata da proposta do programa, do ano de 2008,
discusso sobre a opo pela atividade fsica, destacando a dificuldade de
definir um conceito para o termo, tendo em vista que, de maneira geral, eles
tendem a enfocar apenas o aspecto biolgico
112
[...] de nossa parte, entendemos que esses conceitos so
reducionistas e a atividade fsica uma qualidade substancial do ser
humano que apresenta um teor que ultrapassa o que o biolgico e o
funcional comumente lhe conferem. A atividade fsica fonte de
conhecimento e comunicao, de sentimentos e emoes, de prazer
esttico, de promoo da sade e fator de desenvolvimento
filogentico e ontolgico.
Para ns, a atividade fsica ocorreria no campo individual/biolgico,
mas s se desenvolveria ligada esfera scio-cultural. Ela se
relacionaria com as diversidades culturais, com as concepes de
mundo, com as tradies pedaggicas e com os fatores ambientais.
A atividade fsica se relacionaria tambm com idade, etnia, raa,
religio, gnero, classe social e opo sexual. Assim concebida, ela
no se reduziria apenas solicitao do aparato steo-mio-articular
e do cardiovascular, mas se associaria s esferas: cognitiva, cultural,
tica, social e volitiva. Essa diversidade de enfoques, de objetivos,
formas e contedos prprios, voltados para o homem concreto,
includo em um contexto social concreto, sujeito aos conflitos de
classe permitiram construir um conceito mpar, com base em um
enfoque scio-poltico que assume a seguinte configurao: qualquer
movimento humano estruturado (organizado), no utilitrio (no
sentido laboral ou ocupacional do termo) ou teraputico, produzido
por msculos esquelticos, produzindo substancial aumento de
dispndio de energia, usualmente manifestado em jogos ativos,
desporto, ginstica, dana e formas de lazer ativo - cuidar do jardim,
rastelar, passear o cachorro, caminhar, correr, pedalar, nadar etc. A
partir desse conceito desenvolveu-se um modelo heurstico,
multidimensional, que incluiu oito domnios, quase independentes:
Experincia Social, Experincia Pedaggica, Experincia Esttica,
Experincia Psicolgica, Promoo da Sade, Cidadania,
Competio e Superao de Limites. (CAPES, 2008, p. 3).
O termo Cincias do Esporte, utilizado pelo programa da UFMG que
o nico com rea de concentrao voltada para o Treinamento Desportivo -,
tambm se revela como mais uma tentativa de pensar um novo nome para a
rea. Para Bracht (1999) quando a EF deixa de se apresentar como ginstica
e consolida o esporte como seu contedo maior que as chamadas Cincias do
Esporte instalam-se no campo. Para ele o esporte que far parecer legtimo o
investimento em cincia na rea, possibilitando o aparecimento do discurso
cientfico. O objeto construdo enfocando o fenmeno esportivo e a
problemtica central a melhoria da performance esportiva e da sade da
populao.
Contudo, Rocha Junior (2005) aponta que nessa proposta no existe
uma cincia, mas sim estudos sobre esporte a partir de disciplinas-me,
fazendo com que exista uma diversidade de interpretaes sobre o mesmo
tema e no uma interdisciplinaridade. Para ele, as resolues dos problemas
113
so isoladas e assim o termo torna-se mais um nome que auxilia a nublar e
obscurecer o entendimento da EF.
O autor complementa enfatizando que no se cria um campo cientfico
por decreto ou por imposio de um determinado grupo. No caso das Cincias
do Esporte, os que advogam essa denominao confundem o campo cientfico
com o fenmeno ou com a temtica, desconsiderando que um campo de
investigao cientfico se forma a partir de problemas comuns (ROCHA
JUNIOR, 2005).
Ocorre, portanto, que as propostas elaboradas no conseguem definir
um objeto de estudo especfico, uma teoria, como a princpio era interesse. O
que acabam fazendo criar mltiplos olhares e perspectivas sobre um mesmo
fenmeno, buscando propor uma nova organizao institucional para aquilo
que j acontece, isto , a produo de pesquisas a partir de diferentes
disciplinas cientficas. Mais uma vez se percebe que a tentativa de unidade no
tem sucesso, pois, ao contrrio, estimula-se a multiplicidade de abordagens e
compreenses, o que acaba contrapondo-se ao interesse maior de agrupar
tudo que se d na rea sob uma nica roupagem.
Assim, possvel afirmar que, de maneira geral, a anlise das diferentes
terminologias utilizadas pelos programas reflete o movimento vivido pela rea a
partir da dcada de 1980. O que propem tais tendncias o investimento na
constituio de um campo cientfico autnomo de uma cincia, no singular
que substitua as abordagens multidisciplinares presentes no campo. Essas
proposies influenciaram a definio de uma identidade para os programas
que foram sendo implantados, mas Bracht (1999, p. 71 e 72) destaca que
No me parece ter sido construda na rea uma problemtica terica
que possa agrupar/reunir os esforos das disciplinas que se ocupam
cientificamente do esporte ou do movimento humano. Elas continuam
operando, cada uma, com seu referencial terico-metodolgico, com
problematizaes prprias/especficas, que so [...] as das disciplinas-
me.
Sobre o assunto, Rocha Junior (2005, p. 70) afirma que
114
[...] observa-se que as vertentes se caracterizam pela proposio de
uma nova terminologia ou nome que demarque uma identidade
positiva e traduza novos valores polticos, cientficos e/ou
pedaggicos para o campo. A lgica parece funcionar da seguinte
maneira: a introduo de um novo nome ou marca deve indicar uma
suposta diferena em relao tradio do campo. Cada texto-
proposta de educao fsica parece apresentar essa caracterstica.
O autor contribui, ainda, ao perceber que as terminologias propostas
sofrem processos de ressignificao no interior do campo, pois ao se
apropriarem do novo nome, leitores e professores, acabam por torn-lo um
smbolo que j no carece de entendimentos e descries daquilo que o termo
deve indicar. Dessa maneira, os nomes tornam-se palavras de fora no interior
das prprias obras que pretendem romper em relao tradicional EF,
travando uma luta terminolgica no interior do campo (ROCHA JUNIOR, 2005).
Assim, essas novas propostas de nomes em substituio ao termo EF
no adquirem o prestgio pretendido e ainda aumentam os mal-entendidos.
Portanto, a tentativa de dar um novo nome para uma nova rea tem servido
para aumentar a confuso e as lutas internas, num confronto entre grupos que
pretendem assumir para si o poder de, com uma nova denominao,
reorganizar a rea. Reis (2002) complementa percebendo que
Na falta de uma estrutura adequada, tm sido propostos vrios
modelos, assim como diferentes denominaes para essa disciplina,
rea de estudo, campo acadmico profissional ou profisso
predominantemente chamada Educao Fsica. Embora
aparentemente simples, a mudana de nome uma questo crtica
uma vez que a denominao dada requer coerncia com os
fundamentos da rea de estudo, disciplina acadmica, campo
acadmico profissional, comunicando clara e racionalmente o que se
estuda e/ou professa. Aparentemente, o que vem ocorrendo no tem
levado em considerao essas orientaes.
Nesse sentido, retomando o que foi exposto por Romancini (2006), a
adoo de diferentes terminologias deve ser compreendida como uma
estratgia de diferenciao no campo e, portanto, como uma tentativa de dizer
o que est dentro e o que est fora, revelando a luta pelo capital construdo
e pela inteno de construir um campo de conhecimento especfico e unitrio.
Nesse sentido, Tani (1998) afirma que as ambigidades terminolgicas
observadas so evidncias concretas da falta de consenso sobre a identidade
acadmico-cientfica da rea, levando ao enfrentamento de dois problemas: a
115
fragmentao do conhecimento e o abandono de questes profissionalizantes.
Assim, assiste-se, ainda, a uma disputa entre os que defendem a EF como
rea acadmica (cientfica) e os que a entendem como rea profissional (de
interveno).
6.1.2 Distribuio regional dos Programas de Ps-Graduao em
Educao Fsica
Outro fator que merece anlise a profunda desigualdade na
distribuio regional da ps-graduao, evidenciando a assimetria do sistema
implantado que, na EF, revela-se da seguinte forma:
2
1
12
6
0
3
6
9
12
15
18
21
Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul
Grfico 2 - Distribuio regional dos Programas de Ps-Graduao em Educao
Fsica
Os dados evidenciam que a ps-graduao da rea est concentrada
nas regies sudeste (57%) e sul (28%) do pas. Apenas o estado de So Paulo
abriga seis programas, nmero igual ao de toda regio sul e superior ao das
regies nordeste e centro-oeste. Todos os estados da regio sudeste possuem
centros de ps-graduao e, dos doze programas, seis possuem mestrado e
doutorado. Na anlise dos cursos por regio, tem-se a seguinte distribuio:
116
0
3
6
9
12
15
18
21
Mestrado 2 1 12 6
Doutorado 1 0 6 4
Centro-oeste Nordeste Sudeste Sul
Grfico 3 Distribuio regional dos cursos de mestrado e doutorado em Educao
Fsica
Como demonstram os dados do Grfico 3, a regio sudeste concentra
59% dos cursos de mestrados e 54% dos cursos de doutorado. A regio sul
responsvel pela oferta de 27% dos mestrados e 36% dos doutorados da rea
e a regio centro-oeste por 9% de cada um desses cursos. A regio nordeste
conta apenas com 4% dos mestrados, no abrigando curso de doutorado em
suas instituies. A regio norte ainda no apresenta cursos de ps-graduao
em EF.
Para Barreto (2004), o sistema nacional de ps-graduao apresenta
enormes assimetrias em seu funcionamento, tanto do ponto de vista regional e
intrarregional, como tambm na evoluo de reas disciplinares tradicionais e
de novas reas na fronteira do conhecimento. Observa-se que, apesar das
recomendaes dos sucessivos PNPG para o investimento na expanso
simtrica do sistema, ainda persiste uma concentrao na regio sudeste, fato
que aponta para a necessidade de formulao de estratgias especficas
visando ao equilbrio do sistema. Caso contrrio, nos prximos anos, se
observar a continuidade do crescimento da ps-graduao com a
permanncia das assimetrias regionais, de tal forma que Barreto (2004, p.12)
expe que
117
Se por um lado no se pode pensar em reduzir os investimentos nos
grupos mais qualificados, por outro lado, torna-se necessrio criar
condies adequadas para o desenvolvimento dos grupos j
estabelecidos em regies com menor densidade de grupos de
pesquisa ou em reas do conhecimento estratgicas para o
desenvolvimento harmnico da cincia e tecnologia nacional. Isso
implica no estabelecimento de propostas indutoras que contemplem
recursos novos e/ou remanejamento de oramentos. As iniciativas
para correo da tendncia deveriam comear pelo reconhecimento,
por parte dos governos estaduais, da importncia da qualificao de
recursos humanos locais para propiciar o desenvolvimento do estado
e da regio. O ponto de partida seria a absoro de doutores em
reas especficas de modo a formar massa crtica capaz de propor
programas de ps-graduao e qualidade.
Tomando como referncia para a anlise a poltica de ps-graduao,
possvel pensar que a concentrao dos programas nas regies sul e sudeste
reflete a relao entre a preocupao em gerar conhecimento para o
desenvolvimento e as reas mais desenvolvidas do Pas. Por esse prisma,
possvel inferir que essas polticas, embora tenham servido nas ltimas
dcadas para incrementar o ensino e a pesquisa, no conseguiu corrigir as
distores dos investimentos pelas regies e tende a se reproduzir nos
prximos anos, se mantidas as mesmas regras. Assim, penso que a suposta
adequao entre ensino, pesquisa e necessidades de desenvolvimento no se
aplica a algumas regies, corroborando, dessa maneira, com a afirmao de
Bortolozzi e Gremski (2004, p. 36) de que
Como h uma relao direta entre o aporte de recursos por uma IES
e sua consolidao na pesquisa e na ps-graduao, a tendncia,
persistindo os atuais critrios, no apenas manter os desequilbrios
entre os Estados brasileiros, mas aprofund-los e pereniz-los.
necessrio salientar que o aporte de recursos no pode e nem deve
ter, como nico objetivo, apenas desenvolver uma determinada
instituio, mas, pelo seu crescimento em qualidade na pesquisa e
na formao de recursos humanos, torn-la um instrumento para o
desenvolvimento sustentado do Estado, da regio e do Pas.
O resultado , ento, a ocorrncia de universidades incapazes de
participar do processo de desenvolvimento regional e, sem a adoo de
polticas dirigidas para a correo das assimetrias e recursos proporcionais que
as viabilizem, o fosso acadmico entre as regies tender a se aprofundar.
118
6.1.3 Data de criao dos cursos de mestrado e doutorado
A apresentao cronolgica de criao dos cursos, mostrada no Quadro
3, aponta o programa da USP como o mais antigo da rea (1977), bem como a
concentrao da criao de cursos a partir do ano 2000, num total de doze
mestrados e sete doutorados.
Desde a criao do programa da USP, outros vinte foram institudos,
passando a compor o cenrio da ps-graduao na rea com 21 mestrados e
onze doutorados.
0
3
6
9
12
15
18
21
Mestrado 1 3 5 12
Doutorado 0 1 3 7
1970 1980 1990 2000
Grfico 4 Nmero de cursos de mestrado e doutorado em Educao Fsica por
dcada
A observao das datas de criao dos programas da rea possibilita o
acompanhamento de como tem sido realizado o investimento na expanso
desse setor na EF. Dessa forma, possvel perceber, inicialmente, que foi a
dcada de 2000 que imprimiu um crescimento mais vigoroso ps-graduao
da rea, tendo em vista que os dados demonstram que o nmero de
programas criados neste perodo superior ao total de programas existentes
at o final da dcada de 1990.
O Documento de rea (CAPES, 2009a) indica que a rea 21, da qual
faz parte a EF, est em plena expanso e que h grande demanda por mestres
119
e doutores, sobretudo, em funo do nmero de cursos de graduao
existentes no pas (aproximadamente 800 cursos de EF). Destaca, ainda, que a
maioria dos programas foi implantada nos ltimos trinios e isso evidencia a
juventude da rea, que expressa forte expectativa de crescimento quantitativo
e qualitativo (CAPES, 2009a).
[...] em sntese, a rea 21, que apresenta forte potencial de
crescimento, necessita de intenso e constante trabalho de estruturao
para bem atender a sua forte demanda e colaborao ao
desenvolvimento cientfico sustentado do pas. Da mesma forma, os
desafios atuais compreendem o incremento das atividades
investigativas (adoo de poltica intersetoriais de apoio financeiro ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa em temas estratgicos), bem
como a necessidade de minimizar as distores regionais na oferta de
PPG (adoo da poltica de induo da oferta de PPG nas regies
Norte, Centro-Oeste e Nordeste) e de qualificao de peridicos
nacionais especficos das reas que compem a rea 21 (CAPES,
2009a, p. 1).
A partir das informaes, evidencia-se o fato de que a dinmica de
crescimento da ps-graduao tem atuado no incremento do sistema na rea,
na medida em que forma docentes que esto se inserindo em novos
programas e que, em funo da atual distribuio regional, ainda apresenta
possibilidade de expanso.
Atrela-se a isso o fato de que a institucionalizao de uma rea do
conhecimento ocorre, tambm, por meio da criao de estruturas formais que
do visibilidade e estabelecem as bases sociais para os membros da
comunidade cientfica, ou seja, est relacionada com a criao e formalizao
de cursos e universidades, com o desenvolvimento de sociedades de classe,
com a publicao de peridicos, com a realizao de eventos, etc.
De fato, a institucionalizao de uma rea depende da criao de
estruturas acadmicas de ensino e pesquisa evidenciando, claramente, a
necessidade da consolidao do sistema de ps-graduao. Assim, possvel
pensar que a expanso do sistema de ps-graduao da EF poder contribuir
para solidificao da institucionalizao da rea, agregando maturidade ao seu
sistema conceitual.
120
6.1.4 A natureza institucional dos Programas de Ps-Graduao em
Educao Fsica
Ao analisar a natureza das instituies que oferecem cursos de ps-
graduao no pas, Barreto (2004) informa que o setor pblico responsvel
por 82% da oferta de mestrado e por 90% da oferta de doutorado. Situao
semelhante vive a EF em que aproximadamente 72% dos cursos de mestrados
e de doutorados so oferecidos pelas instituies pblicas, como mostra o
grfico abaixo:
0
3
6
9
12
15
18
21
Mestrado 15 6
Doutorado 8 3
Pblico Privado
Grfico 5 - Distribuio dos mestrados e doutorados em Educao Fsica pela
natureza institucional
Quando se analisa a distribuio dos programas por dependncia
administrativa constata-se uma participao maior do setor pblico para os dois
cursos. Atribuo essa diferena, inicialmente, ao fato de a ps-graduao exigir
uma relao aluno/professor bem menor, com custos adicionais referentes a
salrios, custeio e infra-estrutura para pesquisa, subsidiados apenas
parcialmente pelas mensalidades. Em funo disso, a margem de lucro cai e a
competitividade na mensalidade daquelas que no tm a finalidade lucrativa se
reduz em relao s instituies que no tm ps-graduao.
121
De acordo com Lovisolo (2001), a distribuio dos programas remete a
uma dualizao das finalidades entre as IES pblicas e privadas: s
universidades pblicas compete a formao do quadro de pesquisadores; s
instituies privadas compete a expanso do ensino de graduao.
Com base na anlise das matrculas nos cursos de graduao e ps-
graduao nas IES brasileiras, o autor ressalta que, durante a dcada de 1990,
houve um crescimento de ambos os campos. Contudo, a expanso da oferta
do ensino de graduao nas instituies privadas garantiu o [...] domnio [do
ensino superior] privado, concentrando 65% [no ano de 1999] do total de
matrculas, quando em 1994 detinha 58%, enquanto coube esfera pblica a
responsabilidade de expanso da PG (LOVISOLO, 2001, p. 57).
O autor concorda que o alto custo da ps-graduao o principal
indicador responsvel pelo retrado investimento em programas nesse nvel de
ensino em IES privadas. Em vista disso, cada vez mais, essas instituies
devero concentrar seus recursos no ensino de graduao, embora a no
existncia de programas de titulao ps-graduada torne muito difcil a
aquisio do ttulo de universidade, que, por imposio legal, exige esse
sistema.
Corroboram essas informaes os dados do censo da educao
superior 2003 (INEP, 2004) que tambm apontam o predomnio de
instituies privadas no ensino de graduao e das instituies pblicas no
ensino de ps-graduao. Segundo o levantamento, do conjunto de 1.859
instituies de educao superior, 1.652 (88,9%) so privadas e 207 so
pblicas (11,1%). Entre os anos de 2002 e 2003, houve um acrscimo de 222
novas instituies, sendo 210 do setor privado e apenas 12 do setor pblico.
No que se refere ps-graduao, os dados indicam que 86% dos programas
esto em instituies pblicas e 14% em privadas.
122
6.2 CARACTERIZAO DOS PROGRAMAS ESTUDADOS: REAS DE
CONCENTRAO, LINHA DE PESQUISA E NUMERO DE TESES
DEFENDIDAS
De acordo com Pinheiro (2007), um campo do conhecimento, at chegar
sua formulao conceitual, desenvolvimento de princpios e construtos,
elaborao de teorias, metodologias e formulao de leis, anunciado,
gradativamente, por diferentes eventos cientficos. Seu aparecimento
demarcado por novos cursos, pesquisas, sociedades que congregam
pesquisadores e especialistas e peridicos cientficos. Por este motivo, os
aspectos relativos a temas, disciplinas ou subreas, dos cursos e programas
(reas de concentrao e linhas de pesquisa) so a base para anlise das
tendncias e prioridades acadmicas nacionais.
Partindo desse entendimento, proponho, neste momento, a
caracterizao dos seis programas que possuem teses defendidas na EF no
que se refere sua organizao em reas de concentrao e linhas de
pesquisa. Alm disso, proponho o acompanhamento das informaes
disponveis nas homepages dos programas e um dilogo com os documentos
de avaliao disponveis na CAPES, referentes ao perodo entre 1998 e 2008,
que fazem parte do Caderno de Indicadores. Utilizo, como referncia, o
documento Proposta do Programa que busca justificar a insero do programa
na rea de avaliao, bem como demonstrar a coerncia entre as reas de
concentrao, linhas e projetos de pesquisa.
A opo permite acompanhar as alteraes realizadas nos programas
nos ltimos anos e relacion-las aos documentos da agncia avaliadora,
compreendendo como as regras e critrios da CAPES moldam suas
caractersticas e, consequentemente, da rea.
123
6.2.1 O Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da USP
A partir dos documentos consultados, possvel afirmar que, desde que
foi criado, em 1977, o programa da USP tem sofrido constantes adequaes.
Em 1989, foram criadas as reas de concentrao Biodinmica do movimento
humano e Pedagogia do movimento humano buscando garantir maior
coerncia entre a rea bsica do curso, as linhas de pesquisa, os projetos de
pesquisa e as demais atividades. Nesse mesmo ano foi criado o doutorado,
apenas para a primeira rea de concentrao citada e, somente em 2006,
houve a expanso da rea Pedagogia do Movimento Humano tambm para o
doutorado, alm da criao de mais uma rea de concentrao no curso de
mestrado, Estudos do Esporte.
O documento referente proposta do programa informa que ele [...]
orientado ao estudo do movimento humano de forma ampla e ao
desenvolvimento de planos e programas de Educao Fsica e Esporte na
perspectiva da Educao, Cultura, Lazer, Sade e Desempenho (CAPES,
2008b, p. 2). As informaes indicam, ainda, que a rea de concentrao
Biodinmica do Movimento Humano envolve
[...] investigaes e disciplinas orientadas ao estudo do movimento
humano num nvel de anlise biolgico e biocomportamental, como
Bioqumica do Exerccio, Fisiologia do Exerccio, Biomecnica,
Controle Motor, Aprendizagem e Desenvolvimento Motor, Psicologia
do Exerccio e do Esporte, e interveno que suportada de forma
predominante por esses conhecimentos como Nutrio Aplicada ao
Desempenho Fsico e Treinamento Fsico e Esportivo (CAPES, 2008b,
p. 3).
J a rea Pedagogia do Movimento Humano abriga
[...] investigaes e disciplinas orientadas ao estudo do movimento
humano num nvel de anlise psicolgico e scio-cultural, como
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor, Psicologia do Esporte e do
Exerccio, Filosofia do Movimento Humano, Histria do Movimento
Humano, Antropologia do Movimento Humano, Sociologia do
Movimento Humano, e interveno que suportada de forma
predominante por esses conhecimentos como Metodologia do Ensino
da Educao Fsica, Desenvolvimento Curricular e Formao de
Professores de Educao Fsica Escolar, Desenvolvimento de
Polticas, Planos e Programas de Educao Fsica na perspectiva da
Cultura, do Lazer e da Sade (CAPES, 2008b, p. 3).
124
De acordo com as informaes levantadas, essas diferentes reas de
concentrao apresentam vocao diferenciada.
[...] A Biodinmica do Movimento Humano uma rea cujo
reconhecimento e a produo veiculada primordialmente em
peridicos cientficos. Pela natureza do conhecimento tratado, a
consolidao desta rea almeja no s a veiculao da informao
em nvel nacional como tambm internacional. J a Pedagogia do
Movimento Humano apresenta um perfil diferente ao abordar
problemas e questes relevantes para uma discusso na esfera
nacional. Com essa caracterstica, a produo encontra-se
distribuda no s em peridicos cientficos, mas tambm em livros e
captulos de livro, principalmente de circulao nacional. A rea de
Estudos de Esporte concentra produo nas diferentes sub-reas
(sic) do conhecimento que tenham relao direta com o fenmeno
esporte (CAPESb, 2008b, p. 2 e 3).
Assim, evidencia-se que, diante da problemtica da definio da
identidade acadmica, o programa faz uma opo por um modelo disciplinar
em que subreas constituem reas de concentrao, conforme apontado no
Documento de rea (CAPES, 2005a).
O quadro docente est formado por 40 professores que se distribuem
nas trs reas de concentrao. Desse total, trs atuam nas trs reas, vinte
orientam em duas e seis orientam nas duas reas do doutorado.
A rea Biodinmica do Movimento Humano conta com 34 professores,
sendo quinze credenciados apenas para o mestrado e dois apenas para o
doutorado. Os demais orientam nos dois cursos. Na rea Pedagogia do
Movimento Humano, esto credenciados dezesseis orientadores, sendo oito
apenas para o mestrado, um apenas para o doutorado e os demais para os
dois nveis. J a rea Estudos do Esporte conta com um total de dezessete
docentes que atuam, tambm, em outra rea do programa.
Ao realizar a comparao entre o nmero de docentes credenciados
para cada uma das reas, percebe-se que a primeira conta com o dobro de
docentes das demais, apresentando, assim, indcios sobre o perfil do programa
e de sua produo.
A leitura dos documentos referentes s avaliaes permite, ainda, notar
que, ao longo desse perodo, alm da criao de nova rea de concentrao,
foram realizadas reformulaes e ajustes das linhas de pesquisa que, em 1998,
somavam trinta, para as duas reas existentes e, atualmente, totalizam doze
125
para as trs reas oferecidas, sendo nove apenas para o doutorado. Nota-se,
que, sobretudo a partir de 2001, aes foram tomadas no sentido de melhorar
a adequao e abrangncia das linhas de pesquisa tendo por referncia a
natureza das reas de concentrao. Essas aes tiveram como objetivo a
possibilidade de uma consolidao mais efetiva das linhas de pesquisa, posto
que as mesmas passaram a ser desenvolvidas com a atuao de vrios
docentes, fato que no ocorria anteriormente (CAPES, 2001b).
De fato, a leitura dos documentos evidencia que a coerncia entre reas
de concentrao, linhas e projetos de pesquisa tem se efetivado como uma
meta constante para o programa, podendo ser localizada em diferentes
momentos.
No que diz respeito s atividades de pesquisa temos que melhorar a
relao entre reas de concentrao, linhas de pesquisa e projetos.
Com o ingresso de um grande contingente de docentes no corpo de
orientadores, h alguma dificuldade para acomodar todos os projetos
nas linhas e reas de concentrao existentes. Isso poder ser
solucionado com um dimensionamento das atuais linhas de pesquisa
e a eventual criao de mais uma rea de concentrao (CAPES,
2003a, p. 8).
A Ps-Graduao um sistema dinmico que necessita de
constantes aperfeioamentos e adequaes de suas estruturas
fsica, administrativa e acadmica. Em 2005, atendendo s
sugestes da avaliao continuada, o nmero de linhas de pesquisa
foi reduzido (de 19 para 12), tornando o programa mais consistente,
e o nmero de projetos de pesquisa foi tambm adequado (de 301
para 254) de forma a evitar a pulverizao temtica. [...] Alteraes
substanciais foram feitas nos critrios de credenciamento e
recredenciamento dos orientadores, tornando-os mais rigorosos,
mas respeitando as especificidades das reas de concentrao.
Essas mudanas provavelmente contribuiro para incrementar a
produo docente e discente num futuro prximo (CAPES, 2005a, p.
3).
Assim, a atual configurao do programa resultado dos constantes
ajustes realizados no sentido de buscar manter a coerncia de sua proposta e
tambm sua avaliao como programa de excelncia.
6.2.2 O Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da Unicamp
Desde a criao dos cursos de mestrado, em 1988, e doutorado, em
1993, o programa da Unicamp formou, at o ano de 2009, 450 mestres e 174
126
doutores. Atualmente, organiza-se em trs reas de concentrao: Atividade
Fsica Adaptada, Biodinmica do Movimento e Esporte, e Educao Fsica e
Sociedade que contam com 30 professores, dez em cada rea. Alguns
docentes atuam em mais de uma linha de pesquisa dentro de uma mesma rea
de concentrao.
44
De acordo com informaes presentes no site do programa, a rea de
concentrao Atividade Fsica Adaptada investiga [...] aspectos vinculados
atividade fsica, esporte, imagem corporal e qualidade de vida dos grupos com
necessidades especiais (pessoas com deficincia, idosos, hipertensos, entre
outros) ou expostos a possveis situaes de dano ao bem estar (UNICAMP,
2010).
A rea Biodinmica do Movimento e Esporte compreende o [...] estudo
da biodinmica do movimento humano e do esporte, seus fenmenos,
processos e metodologias de investigao, sob uma perspectiva terica e
experimental (2010). A rea Educao Fsica e Sociedade
[...] investiga a produo do conhecimento no campo da Educao
Fsica, do Esporte e do Lazer em mltiplas temticas, orientadas
pelas propostas terico-metodolgicas oriundas do campo das
humanidades, da educao e da arte em suas diferentes abordagens.
Nesta rea procura-se tomar como referncia uma compreenso
abrangente de educao que compreende em seu interior prticas
corporais configuradas na histria pelas distintas culturas e
sociedades, particularmente pela sociedade ocidental, como
constitutivas de processos educativos, tais como a ginstica, a dana,
o esporte, o jogo, a luta, as relaes entre o corpo e a natureza em
diferentes momentos histricos, entre outras, bem como o universo da
cultura material e suas transformaes histricas que implicam,
diretamente nas transformaes de tcnicas corporais e de materiais
destinados s prticas corporais e suas implicaes nas
transformaes da prpria sensibilidade (UNICAMP, 2010, s/p).
Vrias modificaes foram realizadas pelo programa entre 1998 a 2008,
e os ajustes referem-se, principalmente, ao nmero de reas de concentrao,
linhas de pesquisa e de docentes credenciados. As reas variaram entre quatro
44
O documento Proposta do Programa, referente ao ano de 2008 (CAPES, 2008c), informa
que o programa estava organizado em quatro reas de concentrao e onze linhas de
pesquisa. No entanto, o mesmo documento j indicava a realizao de uma avaliao interna
que culminou na elaborao de uma proposta de reduo no nmero de rea para trs e sete
linhas de pesquisa que aguardava processo de implantao.
127
- entre 1998 a 2000 e entre 2006 a 2008 - e cinco, entre 2001 a 2005. Em
2009, o programa passou a se organizar nas trs reas citadas.
Alm disso, a quantidade de linhas de pesquisa tambm oscilou durante
esse perodo. Em 1998, eram doze, em 2001 eram 20 e, em 2003, chegou a
21. Desse ano em diante, a partir das reformulaes implantadas, o nmero foi
sendo reduzido a cada ano e, atualmente, o programa possui sete linhas.
Os documentos de avaliao do programa permitem acompanhar as
alteraes na sua configurao ao longo dos anos. Em 1998, estava
organizado em quatro reas de concentrao: Atividade Fsica e Adaptao;
Cincias do Esporte; Educao Motora e Estudos do Lazer. Esta organizao
perdurou at 2001 quando o programa criou uma nova rea de concentrao -
Pedagogia do Movimento -, com realocao da linha Pedagogia do esporte
para esta rea; extinguiu a rea Cincias do Esporte e criou a rea Cincias do
Desporto. De acordo com o documento do programa
[...] O conceito norteador da reformulao foi de conjugar os
interesses em acompanhar tendncias nacionais e internacionais na
pesquisa em EF, respeitando as especificidades e vocaes
consolidadas dos grupos de pesquisa no programa e dar maior
coerncia interna s reas de concentrao. Para se manter esta
coerncia interna nas reas de concentrao, considerando as
diferentes matrizes epistemolgicas das pesquisas em EF, optamos
por um nmero maior de reas, passando de quatro a cinco
(CAPES, 2001c, p. 3).
O documento informa, ainda, que as alteraes foram realizadas a partir
dos questionamentos feitos pelo comit avaliador da CAPES sobre a coerncia
e estruturao das reas de concentrao e linhas de pesquisa do programa e
enfatiza que
Procuramos atender ao foco central dos questionamentos feitos pelo
comit de avaliao, a inconsistncia interna s reas de
concentrao. Procuramos, assim, compatibilizar as vocaes e a
produo acumulada dos grupos existentes, com a necessidade de
consistncia epistemolgica necessria a uma rea de concentrao
(CAPES, 2001c, p. 26).
Ainda que as modificaes tenham sido realizadas na busca de melhorar
a coerncia entre produo e organizao do programa, em 2006, novos
ajustes precisaram ser realizados. Nesse ano, o documento do programa
128
informa que algumas linhas ainda precisavam ser revistas, j que devem ser
organizadas a partir de um conjunto de projetos que tenham certas
aproximaes, o que indica que devem ser formadas por projetos propostos
por um nmero de docentes e no apenas por um nico pesquisador, como
apresentava o programa naquele momento (CAPES, 2006a).
Em funo disso, possvel identificar nova alterao nas reas de
concentrao a partir da extino das reas Estudos do Lazer e Pedagogia do
Movimento e criao da rea Educao Fsica e Sociedade que passou a
abrigar essas discusses. Na verdade, a alterao vinha sendo discutida desde
2004, em funo de a avaliao da agncia apontar a baixa produtividade e
falta de adequao das linhas com as reas, de maneira que o documento
informa que
Durante o ano de 2004 ocorreu a discusso a respeito da extino
de duas reas de concentrao e a criao de uma nova rea, com
linhas que daro maior coerncia aos objetos de estudo que tem
como sustentao a rea de humanidades. Essa alterao foi
aprovada em 2005 e implementada em 2006. As reas de Estudos
do Lazer e Pedagogia do Movimento, aps estudos e discusses
pelo grupo de docentes das mesmas, foram extintas e a rea
Educao Fsica e Sociedade foi aprovada. A proposta decorre, em
parte, de algumas observaes feitas em avaliaes anteriores da
Capes, e certamente dar maior consistncia e sustentao ao
Programa e ao grupo de docentes que tem como referncia para
suas investigaes as Cincias Sociais, a Educao e as Artes
(CAPES, 2006a, p.3).
Os documentos revelam os obstculos enfrentados pelo programa para
o estabelecimento da coerncia entre a sua proposta e suas reas e linhas,
insistentemente indicados pela CAPES. Em funo disso, uma avaliao
interna iniciada em 2007 culminou com a sugesto de outras adequaes, que
foram implantadas a partir de 2009, com a alterao do nmero de reas de
quatro para trs, por meio do ajuste na rea Atividade Fsica, Adaptao e
Sade que passou a ser denominada Atividade Fsica Adaptada e pela juno
das reas Cincias do Desporto e Biodinmica do Movimento em uma nova
denominada Biodinmica do Movimento e Esporte.
Assim, entendo que o que os documentos da memria da avaliao da
CAPES permitem ler que os ajustes efetuados pelo programa foram sempre
buscados como uma maneira de garantir a sua sobrevivncia. Dessa forma, a
atual configurao se apresenta como a possvel diante dos critrios
129
estabelecidos, sobretudo, se for considerada a diversidade do corpo docente
que, ao mesmo tempo que estimula a possibilidade do pensamento crtico,
tambm torna complexa a organizao do programa.
6.2.3 O Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica da UGF
O curso de mestrado da UGF foi implantado em 1985 e o curso de
doutorado iniciou suas atividades de formao em 1994. Os documentos de
avaliao permitem identificar que o projeto temtico original do PPGEF
pautou-se em duas reas de concentrao de estudos: Pedagogia do
Movimento Humano - uma rea de vocao seguramente constituda - e
Planejamento e Administrao em EF - rea potencial e pouco explorada
academicamente na realidade brasileira.
Contudo, as primeiras avaliaes realizadas pela CAPES apontaram
para a necessidade de adequar as reas de concentrao e respectivas linhas
de pesquisa, resultando em alteraes que se consolidaram na formulao
atual do programa, que se encontra organizado em duas reas de
concentrao: Educao Fsica e Cultura e Atividades Fsica e Desempenho
Humano.
De acordo com os documentos analisados, a produo acadmica do
programa concebe e analisa a educao fsica, o esporte e as atividades fsico-
esportivas de lazer nas perspectivas da formao/preservao/transformao
cultural e dos parmetros de desempenho humano na perspectiva da qualidade
de vida. Assim, a qualidade de vida, como aspecto geral, e a sade, como
aspecto especfico, bem como as prticas de atividades fsico-esportivas nas
perspectivas sciocultural e da interveno pedaggica, tornaram-se eixos das
diferentes matrizes disciplinares e das linhas de pesquisa que caracterizam o
programa. O produto foi uma integrao em termos de dilogo multidisciplinar,
sem, no entanto, desvincular-se das preocupaes acadmicas
caracterizadoras da rea de conhecimento, como demonstra o relato abaixo.
130
Apesar do convvio com o histrico embate que temos travado entre o
biolgico e o scio-pedaggico, entre o quantitativo e o qualitativo,
temos nos colocado na perspectiva de superao dessas dicotomias.
Reconhecemos que as atividades da cultura do movimento humano
constituem-se num campo de fenmenos empricos, socialmente
significativos, que permitem as mais diversas perguntas e respostas,
quer do ponto de vista disciplinar, quer do ponto de vista metodolgico.
Assim, vislumbramos uma atividade acadmica de caracterstica
interdisciplinar, onde o mtodo se subordine natureza e s
caractersticas do objeto e objetivo da investigao.
Assim, justifica-se a existncia de uma rea de concentrao que
privilegia o olhar acadmico para a tradio da educao fsica, dos
esportes e dessas atividades na perspectiva do lazer sob a tica
sociocultural e pedaggica, e uma outra, mais especfica e delimitada
pela sua prpria natureza histrica, que privilegia a anlise acerca do
fenmeno do desempenho fsico-esportivo de esportistas, de
praticantes comuns, de grupos especiais e de no-praticantes. No
entanto, como j ressaltamos, essas reas de concentrao de estudo
tm como marco integrador a cultura e a qualidade de vida (CAPES,
1998d, p. 3).
Nesse sentido, o programa vem aprimorando e consolidando uma opo
pela formao acadmica e profissional de recursos humanos tendo como
referencial os postulados tericos da cultura, da educao e da promoo da
sade, sendo esta concebida como um valor multifatorial. Assim, o trinmio
cultura, educao e sade se constitui no marco terico aglutinador da
proposta e da estrutura do programa (CAPES, 2008d)
Atualmente, o corpo docente formado por onze professores
permanentes que atuam em diferentes linhas da mesma rea e dois atuam em
linhas das duas reas de concentrao. O quadro de professores vem
passando por redues desde 1998, quando era formado por quatorze
docentes. Esse ajuste vem sendo realizado em funo da necessidade de
adequao da relao entre docentes e linhas, mas, sobretudo, pela produo.
Uma caracterstica observada o fato de os docentes atuarem em mais de
uma linha, inclusive em reas de concentrao diferentes, fazendo com que
esse fato seja objeto de considerao pela agncia avaliadora e de justificativa
pelo programa.
131
Quanto participao de docentes em vrias linhas de pesquisa.
Primeiro devemos ter em mente que o conceito de linha de pesquisa
est carregado de polissemia na comunidade cientfica e no temos
nenhuma construo normativa definindo claramente abrangncia e
limites de uma linha de pesquisa. [...] Assim, devemos explicitar que
podemos entender as linhas de pesquisa como eixos temticos,
tericos e metodolgicos que estruturam tanto o acmulo de
conhecimentos, quanto as questes e problemas que a dinmica da
produo cientfica gera. Todavia, as fronteiras entre as linhas de
pesquisa no so necessariamente demarcadas ou fechadas, por essa
razo comum que um docente aparea em mais de uma linha de
investigao. A falta de consistncia no pode ser medida pela
presena de um docente em vrias linhas de pesquisa, a consistncia
deve ser vista a partir da adequao e qualidade dos produtos em
relao s respectivas linhas de pesquisa (CAPES, 2005c, p. 5).
possvel, a partir da leitura dos documentos de avaliao, afirmar que
as bases do programa foram mantidas, com permanncia das duas reas de
concentrao, mas foram efetuados ajustes, como a desativao e criao de
linhas de pesquisa a fim de adequ-las ao nmero de docentes. Assim, entre
2002 e 2005 pode-se notar uma reduo de 50% no nmero de linhas que
passaram de dezesseis para oito.
6.2.4 O Programa de Ps-Graduao em Cincias do Movimento Humano
da UFRGS
O programa foi criado em 1989 com a oferta do mestrado e, a partir de
1999, houve a criao do doutorado. Inicialmente organizado em uma nica
rea de concentrao, a partir da criao do doutorado houve a estruturao
de duas reas que ainda hoje compem o programa e buscam abarcar
pesquisas apoiadas nas Cincias Humanas e Cincias da Sade.
A rea Movimento Humano, Cultura e Educao [...] comporta projetos
relacionados com aspectos de representao social, portanto mais ligados s
Cincias Humanas, e a Movimento Humano, Sade e Performance [...]
absorve projetos relacionados s prticas corporais e seus efeitos preventivos,
teraputicos, de reabilitao e prticas esportivas relacionadas ao desempenho
motor. So projetos relacionados s Cincias Biolgicas (CAPES, 2003b,
p.35)
132
A opo por essa organizao se faz pelo fato de ela atender ao amplo
espectro disciplinar que constitui as cincias do movimento humano, alm de
oferecer possibilidades de formao aos diferentes profissionais que estudam,
trabalham e pesquisam na rea de conhecimento educao fsica (CAPES,
2001c).
Atualmente, o corpo docente formado por 21 professores. Desses,
sete atuam na primeira rea e trs deles atuam nas duas linhas desta rea. Os
outros professores atuam na outra rea.
Durante o perodo analisado, foi possvel perceber que, alm da criao
de uma rea de concentrao, houve a reformulao nas linhas que foram
reduziradas de sete para seis, buscando uma maior especificidade, atendendo
solicitaes da agncia avaliadora.
Atravs de uma clara definio epistemolgica do significado das
Cincias do Movimento Humano, estabelecida atravs de
investigaes sobre a produo cientfica do programa, da formao
de seus docentes, das linhas e projetos de pesquisa, procedeu-se a
uma profunda alterao na grade curricular. Este procedimento deu
consistncia e coerncia ao programa. Pode-se afirmar que
atualmente nossos estudantes recebem uma formao consistente
no mbito da rea de concentrao a qual esto vinculados. H
informao efetiva dos orientadores na definio curricular de seus
estudantes (CAPES, 2003b, p. 35).
A preocupao com a adequao aos critrios estabelecidos pela
CAPES uma constante em todo o perodo analisado, de maneira que, no ano
de 2001, dois aspectos da ficha Programa, do Caderno de Indicadores,
chamam a ateno. O primeiro diz respeito necessidade de aumentar a
produo e o segundo a coerncia entre a produo e as reas e linhas.
133
A fim de ampliar quantitativamente e qualitativamente a produo
bibliogrfica do Programa a Comisso de Ps-Graduao fez dois
movimentos: a) passou a exigir dos estudantes formandos que no
ato de entrega de sua dissertao seja entregue um documento que
comprove a submisso de artigo revista de categoria "A" ou "B",
segundo QUALIS em vigor contendo o material emprico da
dissertao ou tese; b) A Comisso Coordenadora cobrou
formalmente dos professores pela sua baixa produo (CAPES,
2001d, p.13).
O programa atualmente discute nas suas sesses de avaliao
interna a vinculao das dissertaes ou teses concludas com as
reas de concentrao e linhas de pesquisa. Preocupa a Comisso
de Ps-Graduao o aluguel do Programa para projetos de
pesquisa provenientes de outras reas do conhecimento, perdendo
dessa forma o vnculo com rea de conhecimento educao fsica
(CAPES, 2001d, p. 29).
Esses aspectos evidenciam as estratgias que so utilizadas pelos
programas a fim de responder s recomendaes expressas pela avaliao
trienal da CAPES, sobretudo, no que tange a questes relacionadas grade
curricular, as linhas de pesquisas e critrios de credenciamentos para
orientadores nos cursos de mestrado e doutorado.
6.2.5 O Programa de Ps-Graduao em Cincia da Motricidade da UNESP
O programa da UNESP tem como objetivos a produo de
conhecimentos e a formao de recursos humanos qualificados, principalmente
para a atuao acadmica em reas que tm a motricidade humana como
objeto de estudos ou instrumento de atuao profissional, tais como a
Educao Fsica, a Fisioterapia, a Terapia Ocupacional, a Psicologia a
Fonoaudiologia e outras reas correlatas. A motricidade humana, no mbito do
programa, entendida como um fenmeno multidimensional, que abrange
aspectos filosficos, scio-culturais, comportamentais e biolgicos. Em funo
desse entendimento, encontra-se organizado em duas reas de concentrao.
A rea de concentrao Biodinmica da Motricidade Humana
134
[...] trata da relao entre variveis internas (estruturais e funcionais) e
externas (do ambiente e da tarefa) na execuo de aes motoras.
Trata, mais detalhadamente, das adaptaes morfo-funcionais,
biomecnicas, comportamentais e de controle neuro-motor, em
resposta s diferentes condies fisiolgicas, patolgicas,
farmacolgicas, ambientais e de contexto da prtica da atividade
fsica (CAPES, 2008e, p.3).
J a rea Pedagogia da Motricidade Humana
[...] trata dos aspectos educacionais, psico-sociais e culturais da
atividade motora formal e no formal. Em especfico, focaliza
programas e intervenes no contexto escolar, esportivo e outros
contextos scio-culturais; retrata e analisa dentro de uma abordagem
pedaggica a expresso corporal e o comportamento do praticante
(atleta ou no) nas suas vrias formas de manifestaes
socioculturais e profissionais; analisa a organizao do esporte e seu
papel na sociedade e, finalmente, aborda e discute currculos e
programas de formao de profissionais na rea (CAPES, 2008e, p.
3).
O programa conta com 21 docentes permanentes (84%) e quatro
colaboradores (16%), que possuem formao em trs reas predominantes
(Educao Fsica, Fisiologia e Educao). Dos 25 docentes, esto
credenciados para orientao no doutorado nove professores, na rea
Biodinmica da Motricidade Humana, e dois na rea Pedagogia da Motricidade
Humana, que passou a receber alunos em 2006. Assim como o programa da
USP, o maior nmero de docentes atua na primeira rea citada, indicando,
tambm, um possvel perfil da produo.
Ao longo do perodo analisado, foi possvel identificar que alteraes
foram realizadas, como reduo do nmero de reas de concentrao, de
quatro para duas, e aumento do nmero de linhas de quatro para nove, a fim
de garantir maior coerncia entre elas.
6.2.6 O Programa de Ps-Graduao em Atividade Fsica da UCB/DF
O programa da UCB/DF foi criado em 1999, com o curso de mestrado
para uma rea de concentrao, com objetivo de desenvolver pesquisas
centradas na rea de atividade fsica e sade. Em 2006, houve a implantao
135
do doutorado para a mesma rea de concentrao Atividade fsica e sade que
se tornou a principal fonte de gerao de linhas de pesquisa responsveis pelo
direcionamento de estudos e investigaes cientficas.
Os estudos tm uma diversificao intra e interdisciplinar e, assim, a
fonte e o produto so plurais, mas o foco irradiador que os orienta
detm sua fundamentao no eixo epistemolgico que prioriza
estudos sobre os "Aspectos biolgicos relacionados a atividade fsica
e sade", sobre os "Aspectos Scio-Culturais da atividade fsica
relacionadas a sade" e, sobre o "Exerccio fsico, reabilitao e
doenas crnico degenerativas". Essa estruturao permite ao
Programa a incorporao sinttica e coerente de pesquisas e
reflexes que redimensionem a prxis profissional e acadmica,
configurando e ampliando os campos de atuao, com articulao
das vrias reas que aparecem de forma delimitada e segmentada
no seio da Atividade Fsica e sade (CAPES, 2002a, p. 3).
O delineamento do programa feito a partir de uma rea de
concentrao a partir da qual so possveis as especificaes, uma vez que o
norteador das pesquisas a indagao sobre os fenmenos que envolvem a
complexidade da EF e sua relao com a sade. Alm disso, a proposta busca
atender, no entendimento do programa, necessidades historicamente gestadas
na formao profissional e acadmica do profissional da rea e de reas afins,
assim como, de outro lado, atender grande demanda de mestrandos que se
encontra reprimida nas regies centro-oeste, norte e nordeste (CAPES, 2002a).
Ao contrrio dos outros programas, que buscam se organizar em torno
de duas reas de concentrao de maneira a abrigar pesquisas que utilizam os
referencias das Cincias Humanas e Sociais e das Cincias da Sade, o
programa da UCB/DF define sua rea voltada, especificamente, para a relao
entre atividade fsica e sade, mas sem deixar de incluir o entendimento de que
o tratamento dessa relao exige diferentes olhares.
136
A discusso sobre a sade se encontra atualmente num ponto de
ruptura com entendimentos tradicionais e, assim, procura-se
incorporar um significado mais abrangente que permita exprimir de
forma mais objetiva a multiplicidade de aspectos que a envolve. A
sade deve ser compreendida no somente como ausncia de
enfermidades, mas, sobretudo, como um estado de completo bem-
estar fsico, social e psicolgico. As diversas concepes de sade
apresentam vrias limitaes, o que as torna potencialmente
ideolgicas e eficientes no ocultamento das contradies sociais. Por
sua vez, a tentativa de considerar a dimenso social quase sempre
ingnua, pois acaba reduzida a indicadores estatsticos abstratos
No entanto, a atividade fsica e sade no se restringem dimenso
biolgica. Devem ser entendidas na perspectiva mental e social,
incorporando questes referentes estrutura social, identidade,
diferentes papis sociais, relaes de poder, globalizao,
integrao social (CAPES, 2002a, p. 4).
Assim, ainda que esteja organizado em uma rea de concentrao, h
uma linha que busca incorporar a multiplicidade de aspectos scioculturais e
pedaggicos que envolvem a sade, em consonncia com o contexto
econmico e social no qual surgem e se desenvolvem. O corpo docente do
programa formado por dez professores permanentes e sete colaboradores
que se distribuem nas trs linhas.
6.2.7 Anlise da configurao dos programas estudados
A partir desse levantamento inicial, observa-se que os seis programas
analisados encontram-se divididos em doze reas de concentrao e 42 linhas
de pesquisa, visualizadas no quadro abaixo.
137
PPGEF REAS DE
CONCENTRAO
LINHAS DE PESQUISA
1. Anlise e diagnstico do desenvolvimento motor
2. Biomecnica da locomoo
3. Biomecnica do esporte
4. Efeitos agudo e crnico do exerccio no sistema
cardiovascular
5. Organizao da resposta motora e aquisio de
habilidades motoras
Biodinmica do
Movimento
Humano
6. Suplementao nutricional e alteraes metablicas da
atividade fsica
7. Desenvolvimento de programas de educao fsica:
aspectos curriculares e metodolgicos
8. Educao fsica e sade
USP
Pedagogia do Movimento
Humano
9. Estudos socioculturais do movimento humano
1. Atividade fsica para pessoas com deficincia
Atividade Fsica Adaptada 2. Atividade fsica para pessoas com necessidades especiais
3. Dinmica do treino desportivo da iniciao aos processos
de treinamento
4. Biomecnica
Biodinmica do
Movimento e Esporte
5. Bioqumica e fisiologia do exerccio
6. Corpo, educao e escola
Unicamp
Educao Fsica e
Sociedade 7. Esporte, lazer e sociedade
1. Gesto do conhecimento e anlise institucional em
educao fsica, esporte e lazer
2. Formao profissional em educao fsica, esporte e lazer
3. Pensamento pedaggico e interveno profissional em
educao fsica, esporte e lazer
4. Produo histrica na educao fsica, esporte e lazer
5. Representaes sociais da educao fsica, esporte e lazer
Educao Fsica &
Cultura
6. Identidades culturais na educao fsica, no esporte, no
lazer e no olimpismo
7. Variveis intervenientes e efeitos do exerccio fsico para a
promoo da sade
UGF
Atividades Fsicas &
Desempenho Humano
8. Variveis intervenientes e efeitos do treinamento contra-
resistncia
1. Representaes sociais do movimento humano Movimento Humano,
Cultura e Educao 2. Formao de professores e prtica pedaggica
3. Atividade fsica e sade
4. Atividade fsica e performance
5. Neuromecnica do movimento humano
UFRGS
Movimento Humano,
Sade e Performance
6. Desenvolvimento da coordenao e do controle motor
1. Aspectos biodinmicos do rendimento e treinamento
esportivo
2. Atividade fsica e sade
3. Coordenao e controle de habilidades motoras
4. Fisiologia endcrino-metablica e exerccio
Biodinmica da
Motricidade Humana
5. Mtodos de anlise biomecnica
6. A natureza social do corpo
7. Educao Fsica escolar
8. Estados emocionais e movimento
UNESP
Pedagogia da Motricidade
Humana
9. Formao profissional e campo de trabalho
1. Aspectos biolgicos relacionados atividade fsica e sade
2. Aspectos scio-culturais e pedaggicos relacionados
atividade fsica e sade
UCB
Atividade Fsica e Sade
3. Exerccio Fsico, reabilitao, doenas crnico no
transmissveis e envelhecimento
Quadro 4 reas de Concentrao e Linhas de Pesquisa dos Programas de Ps-
Graduao em Educao Fsica estudados
138
Ao longo do perodo observado, a configurao dos programas passou
por sucessivas alteraes, com supresses, aglutinaes e criaes de novas
reas e linhas. As mudanas foram mais acentuadas nos programas mais
antigos, principalmente, USP e Unicamp, que passaram por modificaes
expressivas. Na USP, as alteraes estiveram mais relacionadas diminuio
do nmero de linhas e, na Unicamp, houve alteraes tanto no nmero de
linhas como de reas.
Esse processo, certamente, consiste em rduo exerccio de superar a
fragmentao do conhecimento oriunda da organizao inicial da ps-
graduao na rea. De fato, no entendimento de Gamboa (2007), a adoo do
modelo de rea de concentrao na ps-graduao brasileira levou ao trato do
conhecimento de forma fragmentada, tendo em vista que as reas exigem
delimitao dos campos do conhecimento, supondo um olhar recortado dos
problemas e uma viso segmentada e mecnica do mundo.
Ele informa, ainda, que, com o questionamento do modelo por parte dos
pesquisadores, a soluo proposta foi a adoo das linhas de pesquisa.
Contudo, para Gamboa (2007), esse modelo aprofundou ainda mais a diviso
do saber e alguns programas optaram por retornar ao modelo de reas de
concentrao que passaram a ser denominadas de reas temticas que
foram, ento, subdivididas em linhas de pesquisa. Segue afirmando que
[...] a discusso e definio das linhas de pesquisa dos programas
de ps-graduao adquirem particular significado na conjuntura atual
de desenvolvimento da pesquisa, vez que exigem a crtica a uma
antiga forma e a busca de alternativas novas na organizao das
condies da produo e do trato do conhecimento. [...] As linhas de
pesquisa, que caracterizam a nova proposta de articulao dos
programas de ps-graduao, referem-se, fundamentalmente, a
campos problematizadores que exigem estudos aprofundados em
torno dos quais se agrupam interesse de investigadores de diversos
campos do conhecimento. [...] Entretanto, as linhas de pesquisa,
embora claramente definidas e suficientemente justificadas, no so
a condio principal necessria para a gerao de novos
conhecimentos. O desenvolvimento de linhas de pesquisa exige,
essencialmente, a formao de grupos de pesquisa. No passvel
de ser pensada a existncia concreta de uma linha de pesquisa sem
um grupo de pesquisadores articulados, motivados e atuantes, que
abordem sistematicamente a problemtica dessa linha (GAMBOA,
2007, p. 109).
Talvez tenha sido essa a dificuldade encontrada pelos programas
analisados, encontrar a justa medida entre suas reas e linhas, sobretudo, a
139
partir de pesquisa j consolidada. Nesse sentido, Lopes (2005) contribui ao
afirmar que a ordenao de linhas de pesquisa assentadas em sistemas
centralizadores ou eixos que ofeream base nos quais se ordenam os projetos
e que representem um fortalecimento real do programa, esbarra em
condicionantes tericos e institucionais. Os tericos so aqueles relacionados
concepo de rea a partir de determinado paradigma cientfico, que est na
base de toda investigao, e os institucionais dizem respeito obteno de
recursos e financiamentos. Para ela, essas questes esto relacionadas s
possibilidades de existncia do pluralismo terico e da prioridade de critrios de
mrito e excelncia. A autora afirma, ainda, que
[...] o que se tem na maioria das vezes o poder e a conduo de
linhas de pesquisa concentradas em pessoas que funcionam como
difusores das orientaes dominantes, e isso se reproduz em projetos
de pesquisa sobre os mais variados temas [...]. Por mais diversificados
que sejam os objetos e por mais variados que sejam os cursos de PG
[...], sua unificao nas orientaes predominantes no escapa a uma
anlise mais atenta (LOPES, 2005, p. 77)
O que a autora expe ajuda a pensar sobre a EF na medida em que os
programas enfrentam dificuldades para o estabelecimento de seus eixos
articuladores justamente pela dificuldade de definir a prpria rea. Atrelada a
isso, est posta a dependncia dos programas de recursos financeiros,
fazendo com que os professores mais produtivos sejam, muitas vezes, os
definidores do perfil do programa.
Romancini (2006) acrescenta outro elemento discusso ao enfatizar
que as constantes modificaes na organizao dos programas de ps-
graduao podem, tambm, evidenciar uma busca de identidade, pois essa
resulta em maior diferenciao no campo por meio da delimitao e
especificidade. Entende-se, pois, que o autor entende as reas de
concentrao como espaos nos quais se definem a especialidade de cada
curso e as possveis fronteiras entre eles.
Nesse caso, chama a ateno o fato de os programas da EF estarem
estruturados de maneira a apresentar uma combinao de orientaes
cientficas voltadas para as Cincias Naturais e para Cincias Humanas, que
reproduzem a classificao recorrente na rea, sobretudo, a partir da dcada
de 1980, entre conhecimento mdico/biolgico e conhecimento
140
pedaggico/social. Alm disso, possvel notar que, com exceo do programa
da UCB/DF, todos os demais se estruturam, basicamente, nas mesmas reas,
sendo possvel dizer que essas tenderam a se adensar em torno de duas
grandes temticas: a discusso dos aspectos biolgicos, fisiolgicos do
exerccio e do esporte; e a discusso em torno dos aspectos sociais, culturais e
pedaggicos da EF.
Isso pode ser interpretado como um consenso no sentido de reconhecer
as caractersticas da rea ou, simplesmente, resultado da presso
homogeneizadora da avaliao da CAPES. No que diz respeito s linhas,
pode-se notar que h um predomnio daquelas que buscam discutir questes
relacionadas sade e que, com pequenas excees, apresentam-se amplas,
algumas com aspecto guarda-chuva.
.Assim, entendo que a maneira como os programas vm sendo
organizados/estruturados, portanto, reflete a fragmentao do conhecimento
presente na rea que, assim como outras, ainda se encontra em uma fase de
definio epistemolgica e que tem se caracterizado pelo colonialismo
epistemolgico das cincias me.
45
Para Lima (1999), a postulada unidade
do conhecimento para a EF um projeto irrealizvel, j que o [...]
conhecimento disciplinar no pode ser extinto por atos de vontade e por
decretos epistemolgicos que alterem maneiras de pensar que esto
profundamente enraizadas em ns (VEIGA-NETO apud LIMA, 1999, p. 125).
Corroboram esse argumento vrios autores da EF (LOVISOLO, 1998;
BRACHT, 1999; LIMA, 1999; BETTI, 2003; GAMBOA, 2007) que afirmam que
essa unidade impossvel em funo da caracterstica multidisciplinar da rea
e seu carter de interveno, fazendo com os pesquisadores busquem em
diferentes tradies disciplinares base para o tratamento de seus objetos.
Baseada nisso, percebo que a configurao dos programas evidencia a
constatao e o reconhecimento das dificuldades de construo de uma
cincia, no singular, que substitua as abordagens multidisciplinares presentes
no campo da EF.
45
A expresso utilizada na rea para se referir busca, nas subreas das Cincias Naturais
(Fisiologia, Antropometria, Medicina Esportiva) e nas subreas das Cincias Humanas e
Sociais ( Pedagogia, Sociologia, Antropologia, Filosofia), de mtodos e trias para o tratamento
das questes da rea, fazendo com que surjam subreas denominadas, por exemplo, de
Fisiologia do esforo, Medicina do esporte, Sociologia do esporte, etc. (GAMBOA, 2007).
141
Na viso de Betti et al. (2004, p. 189)
O problema no estaria na suposta heterogeneidade da base
epistemolgica dos programas, mas na sua frouxido; as instituies
adotaram diferentes denominaes para seus programas sem
suficientes fundamentos epistemolgicos para diferenciarem-se entre
si. Ento, a suposta diversidade epistemolgica apenas diversidade
terminolgica, pois, no fundo, todos os programas se parecem.
Assim, Bracht (2003) reconhece que, no plano da organizao
acadmica, existem poucas possibilidades de manuteno de uma unidade na
busca pela construo de um objeto que rena todas as diferentes reas que
se relacionaram fortemente com a EF.
6.3 NMERO DE TESES DEFENDIDAS NOS PROGRAMAS ESTUDADOS
Ao considerar o nmero de teses defendidas nos seis programas que
fazem parte do contexto de avaliao do trabalho, evidencia-se a seguinte
distribuio temporal:
1
4 4
8
23
20
16
22
18
31
30
29
45
42
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grfico 6 - Nmero de teses defendidas por ano nos Programas de Ps-Graduao
em Educao Fsica
142
O Grfico 6 apresenta a evoluo das defesas nos programas
analisados, no perodo de 1994 a 2008, revelando, de maneira geral, um
crescimento do nmero de trabalhos como resultado do crescimento no
nmero de programas.
At o ano de 1997, o numero de defesas cresceu, com participao de
apenas dois programas (USP e UNICAMP), mas em 1998 que a produo
revela primeiro grande crescimento, chegando a quase o triplo de trabalhos do
ano anterior. Contudo, ainda que as primeiras defesas da UGF (3) tenham sido
realizadas neste ano, o programa da Unicamp que determina o crescimento
em funo de ter registrado, dezessete defesas.
Esse fato, segundo informaes obtidas nos documentos de avaliao,
resultado de um acompanhamento pedaggico, realizado pelo programa, dos
alunos que poderiam exceder o tempo de integralizao ao final de 1998, o que
resultou em aumento de 87% das defesas (CAPES, 1998e). A partir desse ano,
ento, so observadas pequenas oscilaes at o ano de 2002, em que
apenas trs programas apresentavam teses concludas (USP, Unicamp e
UGF).
Em 2003, houve um aumento de trabalhos em funo das defesas do
programa da UFRGS, implantado em 1999. Contudo, em 2004, houve reduo
do nmero de teses em todos os programas, quando comparado ao ano
anterior, mesmo contabilizando as teses da UNESP, que teve o doutorado
criado em 2001.
O ano de 2005 registra uma queda no nmero de trabalhos que pode ter
se dado em funo de no haver registro de teses defendidas na UFRGS. Em
2006, a rea registra o maior nmero de teses, com maior participao dos
programas da USP, UNICAMP e UGF (13, 16 e 13 defesas, respectivamente) e
pequena contribuio da UFRGS e UNESP (1 e 2 defesas, respectivamente).
Ainda que o nmero de teses em 2007 seja menor que do ano anterior,
vale destacar o aumento de defesas na UNESP (13), superando todos os
outros programas, no mesmo perodo, e maior que todo o trinio anterior do
prprio programa. Mesmo que o programa da UCB j tenha teses defendidas
em 2008, a produo revelou um decrscimo, sobretudo, pela reduo das
defesas na USP e UGF.
143
Para alm de questes pessoais que possam estar relacionadas aos
doutorandos, possvel relacionar o nmero de defesas s constantes
cobranas da agncia avaliadora sobre o tempo de titulao que constitui
critrio da avaliao. Assim, entendo que as oscilaes apresentadas no
perodo observado seja resultado de maior/menor presso da agncia para
cumprimento dos prazos. Na anlise por instituio, tem-se a seguinte
distribuio:
0
50
100
150
200
Nmero de teses 161 63 59 25 23 2
Unicamp UGF USP UNESP UFRGS UCB
Grfico 7 - Nmero de teses defendidas por Instituio de Ensino Superior
O Grfico 7 apresenta a distribuio do nmero de teses produzidas em
cada um dos programas e demonstra que o doutorado da UNICAMP, criado em
1991, apresenta uma produo que quase se equivale a soma dos outros cinco
programas. Desde que registrou a primeira defesa, em 1995, o programa
sempre apresentou o maior nmero de teses na rea por ano, com exceo
dos anos de 1996 e 2007. Ressalto, ainda, que, no ano de 1997, foi o nico
programa a registrar defesa de tese.
possvel afirmar que o desempenho do programa seja resultado dos
critrios internos de avaliao docente que promovem credenciamento e
descredenciamento, como pode ser observado por meio dos documentos de
avaliao. Embora o nmero de docentes tenha sido reduzido, passando de
41, em 1998, para 34, em 2008, o programa manteve a mdia de defesas,
144
possivelmente, por meio da adequao da dimenso do corpo docente ao
nmero de ingressos.
Os dados demonstram, ainda, que a produo da UCB apresenta um
nmero consideravelmente menor ao dos demais programas, em funo de ter
sido criado mais recentemente, em 2006.
6.4 DISTRIBUIO DAS TESES POR REA DE CONCENTRAO DOS
PROGRAMAS ESTUDADOS
Busco, neste momento, apresentar a anlise da distribuio das teses
pela rea de concentrao em que foram desenvolvidas. Para isso, eliminei,
em cada programa, aquelas que no apresentem esse registro. O objetivo
perceber quais so as reas que se tornaram mais produtivas nos programas,
ao longo do perodo estudado, estabelecendo um dilogo com os fatos que
interferiram nessa produo. Assim, parto da anlise por programa para, ao
final, fazer uma avaliao da distribuio no conjunto da rea.
6.4 1. Distribuio das teses por rea de concentrao dos programas
No PPGEF da USP, das 59 teses, uma no registra informao sobre a
rea em que foi realizada e 53 foram defendidas na rea Biodinmica do
Movimento Humano que se apresenta como a mais consolidada. Destaca-se o
fato de as outras cinco teses informarem que foram defendidas na rea
Estudos do Esporte que, como consta nos documentos de avaliao do
programa e no site da universidade, no ofertada para o doutorado, apenas
para o mestrado.
46
Dessa maneira, a distribuio pode ser assim percebida:
46
Em funo de no existir nos documentos consultados registro que justifique a indicao da
rea Estudos do Esporte, no foi possvel saber os motivos. As informaes sobre as teses
podem ser obtidas no documento Teses, do Caderno de Indicadores da CAPES (CAPES,
2008e), disponvel em:
145
53
5
1
Biodinmica do
Movimento Humano
Estudos do Esporte
Sem indicao
Grfico 8 - Distribuio das teses da USP por rea de Concentrao do programa
As informaes apresentadas demonstram que, ainda que o programa
tenha buscado, nos ltimos anos, investir na consolidao da rea que se
prope a tratar de temticas que envolvam os aspectos scioculturais da EF, a
produo se caracteriza, at o ano estudado, por buscar em reas das
Cincias da Sade o referencial para suas anlises, evidenciando o seu perfil.
O documento do programa, referente ao ano de 2004, j trazia essa
preocupao ao informar que
A rea de Pedagogia do Movimento Humano merece maior ateno
de nossa parte. Desde sua criao, a rea carece de ampliar suas
atividades de formao para o nvel de Doutorado. [...] Com a
consolidao da rea de Pedagogia do Movimento Humano ser
possvel incrementar as atividades de pesquisa focalizando
problemas locais. A demora para a sua implantao deu-se em
razo da atitude responsvel e conseqente do programa no sentido
de esperar para compor um corpo docente produtivo, perfeitamente
identificado com a especificidade da rea temtica (CAPES, 2004c,
p.7).
No entanto, torna-se necessrio considerar que o programa da USP o
mais antigo da EF, com 33 anos de existncia. Em funo disso, o fato de a
rea Pedagogia do Movimento Humano ainda no se apresentar consolidada
pode indicar o entendimento claro da vocao do programa e a opo por
insero na rea, mas, tambm, pode indicar a estratgia utilizada diante das
avaliaes realizadas pela CAPES no sentido de manter o conceito, tendo em
vista que os critrios so os da Grande rea da Sade e o ele o nico com
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=2008/33002010/02
1/2008_021_33002010084P9_Teses.pdf&aplicacao=cadernoavaliacao>.
146
nota 6 na rea. No se pode desconsiderar, ainda, que o reconhecimento da
qualidade do programa por parte da agncia avaliadora resulta no apenas em
recursos financeiros, mas, em legitimidade no campo.
O projeto de consolidao da rea Pedagogia do Movimento parece
encontrar dificuldades para se concretizar, tambm, se for avaliado a partir da
composio do quadro docente do programa, como exposto no documento da
CAPES. Mesmo com os esforos realizados para insero de professores que
atuam na interface com as Cincias Humanas e Sociais, a rea possui,
atualmente, a metade dos docentes daquela mais consolidada e isso,
certamente, contribui para a formao de um crculo vicioso difcil de romper, j
que o menor nmero de professores indica menor possibilidade de ingresso de
alunos e, consequentemente, menor possibilidade de consolidao da
produo e, tambm, menor possibilidade de formao de futuros professores
para o programa e para a rea.
Contribui para isso, ainda, o fato de, no entendimento do programa, essa
rea dedicar-se ao tratamento de [...] problemas e questes relevantes para
uma discusso na esfera nacional. Com essa caracterstica, a produo
encontra-se distribuda no s em peridicos cientficos, mas tambm em livros
e captulos de livro, principalmente de circulao nacional (CAPES, 2008f, p. 2
e 3), ao passo que a rea Biodinmica do Movimento entendida como aquela
cujo produo veiculada, primordialmente, em peridicos cientficos,
almejando a divulgao em nvel nacional como tambm internacional. Assim,
possvel prever qual /ser a rea de investimento do programa no sentido
de buscar alcanar a meta de internacionalizao desejada para aqueles que
almejam o nvel de excelncia.
Diante disso, compreendo que a distribuio das teses nas reas de
concentrao do programa diz sobre a maneira como aqueles que dele fazem
parte e definem suas configuraes percebem o campo e, sobretudo, suas
possibilidades de nele intervir.
Na Unicamp, a anlise da distribuio das teses por rea de
concentrao revela que, das 161 que foram defendidas, 33 no apresentam
essa informao e, nas demais, identifiquei nove diferentes reas,
demonstradas no grfico abaixo.
147
33
28
13
6
15
2
24
3
27
10
Sem indicao
Pedagogia do Movimento
Estudos do Lazer
Educao Motora
Educao Fsica e Sociedade
Cincias do Esporte
Cincias do Desporto
Biodinmica do Movimento Humano
Atividade Fsica, Adaptao e Sade
Atividade Fsica e Adaptao
Grfico 9 - Distribuio das teses da Unicamp por rea de Concentrao do programa
Tomando como referncia os ajustes realizados pelo programa, ao longo
do perodo estudado, entendo que as teses podem ser distribudas a partir das
trs reas que hoje compem sua configurao, j que elas devem ser vistas
como representativas do entendimento de rea presente no programa.
Assim, a Atividade Fsica Adaptada rene uma produo de 37 teses; a
rea Biodinmica do Movimento e Esporte abarca uma produo de 35 teses; e
a Educao Fsica e Sociedade se responsabiliza pela produo de 56 teses.
A partir disso, possvel pensar que as pesquisas que buscam nas
humanidades o referencial para o tratamento de seus objetos correspondem a
43,7% da produo do programa. J aquelas que buscam nas Cincias da
Sade o aporte terico-metodolgico, correspondem a 56,2% do total
analisado.
Contudo, ressalto que o grande nmero de teses sem a identificao da
rea em que foram desenvolvidas compromete a afirmao de um perfil do
programa a partir dessa anlise, visto que poderia modificar o resultado
apresentado, determinar a predominncia de uma rea ou equilibrar a
produo. Esse resultado, no entanto, pode ser indicativo de que o corpo
docente demonstra boa capacidade de produo nas duas perspectivas e que,
ao longo dos anos, foram realizados ajustes na configurao do programa no
sentido de garantir espao para esses grupos.
148
Contudo, a presena de um corpo docente diverso tem representado,
para alguns programas da rea, avano e limitao. Avano na medida em que
possibilita a contribuio a partir de diferentes referenciais permitindo
ampliao do tratamento dos objetos, e limitao, pois torna mais complexa a
tarefa de estabelecer uma organizao coerente, correndo o risco de, na
tentativa de abrigar a todos, estabelecer distores que prejudicam a
sustentao do prprio programa e interferindo em sua avaliao De fato,
equacionar a relao entre as reas (e internamente) no uma tarefa simples,
visto que os modos de produo so distintos, cabendo, portanto, ao programa
a tarefa de buscar a sua melhor distribuio.
Ainda que os dados no permitam afirmar um perfil para o programa, a
anlise da sua atual configurao demonstra que, das trs reas, duas buscam
abordar aspectos da relao da atividade fsica e sade e do treinamento
esportivo, a partir de cinco linhas, e uma busca discutir a relao entre EF e
sociedade, a partir de duas linhas. Essa organizao, aliada ao nmero de
docentes para cada uma das reas, demonstra que, nos prximos anos,
possvel que ocorra a consolidao da produo que hoje j se apresenta,
quantitativamente, superior. Esse fato pode ser resultado direto dos critrios de
avaliao, revelando uma tendncia de os programas irem se adequando a fim
de garantir sua sobrevivncia.
Do conjunto de teses defendidas no programa da UGF,
aproximadamente 78%, foi desenvolvida na rea Educao Fsica e Cultura e
os outros 22% na rea Educao Fsica e Desempenho Humano, como
demonstrado abaixo.
149
49
14
Educao Fsica e Cultura
Educao Fsica e
Desempenho Humano
Grfico 10 - Distribuio das teses da UGF por rea de Concentrao do programa
Assim como o programa da USP, o da UGF tambm apresenta grande
diferena na produo das suas reas de concentrao, ainda que elas j
estivessem organizadas a partir de 1998, evidenciando que aquela que se
apresentou, no incio, como vocao natural, em funo do perfil do corpo
docente, se consolidou como vocao do programa.
Dessa maneira, mesmo registrando aumento da produo na rea de
desempenho humano nos ltimos anos, fica demonstrada, pelos dados, a
opo de atuao na rea. Isso pode ser percebido, ainda, por meio da anlise
da distribuio das linhas que so seis para a rea Educao Fsica e Cultura e
duas para a Educao Fsica e Desempenho Humano, e do nmero de
docentes, sete e quatro, respectivamente.
A distribuio indica, ainda, que a rea com maior produo a que
apresenta interface com as humanidades, evidenciando o perfil do programa e
fazendo com que sua comunidade participe do debate estabelecido sobre a
necessidade de adequao dos critrios de avaliao de maneira a permitir
melhor reconhecimento da produo, como registrado no documento do
programa, do ano de 2008.
150
[...] entendemos que a forma homogeneizada pela qual os critrios
de avaliao da produo intelectual esto definidos e estruturados
na rea da Sade, no contempla a especificidade da trajetria
acadmica da rea da Educao Fsica, que de natureza
multidisciplinar e de interveno. [...] Ponderamos, entretanto, que a
adoo do critrio universal no leva em considerao a
especificidade do campo e as caractersticas das sub-reas (sic) da
Educao Fsica. [...] entendemos que, se os critrios de avaliao
da produo intelectual, definidos e estruturados na rea da Sade,
continuarem a ser aplicados de forma homogeneizada, podero
gerar efeitos perversos, de fragmentao e ruptura na rea (CAPES,
UGF, 2008d, p. 3).
Desse modo, se no houver alterao nos critrios da avaliao,
provvel que o programa seja vtima dos efeitos mencionados, visto que sua
formao e produo esto voltadas para a rea menos valorizada pela
agncia. Compartilham dessa opinio, Betti et al. (2004, p. 188) ao afirmarem
que
Muitos docentes-pesquisadores da subrea pedaggica/sociocultural
concordam que a manuteno dos critrios atuais de valorao das
publicaes poder extinguir essa subrea em curto prazo. Essa
afirmao decorre do fato de que j se observa docentes-
pesquisadores dessa subrea da Educao Fsica migrando para a
rea da Educao que, aparentemente, adota critrios mais
compatveis com o perfil da produo desses docentes. Do nosso
ponto de vista, essa aparente soluo poder ser tremendamente
danosa, em longo prazo, para a ps-graduao em Educao Fsica,
uma vez que essa a subrea pedaggica/sociocultural que se
constitui na interface de interao entre Educao Fsica e Educao
e entre Educao Fsica e Cincias Humanas e Sociais.
No programa da UFRGS, 78% das teses foram defendidas na rea
Movimento Humano, Sade e Performance e 22% na rea Movimento
Humano, Cultura e Educao, como demonstrado no Grfico 11.
151
18
5 Movimento Humano, Sade e
Performance
Movimento Humano, Cultura
e Educao
Grfico 11 - Distribuio das teses da UFRGS por rea de Concentrao do
programa
Assim como em outros programas estudados, h uma organizao que
busca abarcar as duas grandes reas que tm, tradicionalmente, estabelecido
interfaces com a EF. Contudo, em funo do nmero de linhas de pesquisa e
de docentes credenciados para a rea de maior produo possvel afirmar
que a vocao est nela assentada. Como resultado dessa organizao, os
dados demonstram que a rea que discute temticas relacionadas sade
registrou uma produo de teses quase quatro vezes maior que a rea que
discute os aspectos scioculturais da EF.
A avaliao da UNESP indica que todas as 25 teses foram defendidas
na rea Biodinmica da Motricidade Humana e, mesmo que o programa,
atualmente, esteja organizado em duas reas de concentrao, no h registro
de defesa na rea Pedagogia da Motricidade Humana. Isso se deve ao fato de
o doutorado ter sido implantado, inicialmente, apenas para a primeira rea
citada e, somente em 2006, ter sido ampliado para a segunda rea.
Dessa forma, assim como o programa da USP, na UNESP, a produo
se caracteriza por se aproximar das Cincias da Sade, evidenciando o
enfoque dado ao tratamento das temticas.
As duas teses da UCB foram defendidas na nica rea do programa,
Atividade Fsica e Sade. Em funo disso e do perfil de formao do corpo
docente (Psicologia, Fisiologia, Medicina, Biologia, Fisioterapia), a produo
parece apresentar tendncia de se aproximar das Cincias da Sade.
152
Dessa maneira, o que se pode notar, a partir da anlise realizada que,
mesmo apresentando uma organizao que busque enfocar as duas reas que
apresentam interfaces com a EF, h evidente superioridade, de uma ou de
outra, em cada um dos programas. Contribui diretamente para isso o perfil do
corpo docente, tendo em vista que, muitas vezes as propostas foram pensadas
a partir da vontade acadmica de um determinado grupo e no de um efetivo
projeto estruturado e articulado, como apontado pelo documento da UGF ao
informar que
[...] nem sempre o projeto acadmico precedeu e orientou as
atividades de criao dos programas em geral. Cabe admitir que,
inicialmente, os programas de ps-graduao stricto sensu em EF
foram implantados pelo agrupamento de um nmero julgado
satisfatrio de doutores nas unidades institucionais em que esses
programas foram criados. No havia, portanto, uma mentalidade ou um
projeto acadmico constitudo. No havia um grupo de especialistas
tematicamente integrados em torno de objetivos especficos definidos
e de reas de concentrao de estudo e pesquisa. Havia apenas uma
vontade de realizao e uma longa necessidade de aprendizagem pela
frente. Podemos afirmar que este cenrio, muito mais de entusiasmo
inadivel do que de vocao constituda, manteve-se dominante at o
incio dos anos noventa, momento em que a CAPES promoveu
positivas mudanas no sistema de avaliao da ps-graduao e de
autorizao para o funcionamento de novos programas (CAPES, UGF,
2002b, p.3).
As mudanas, ento, passaram a exigir, para alm de uma vontade, a
comprovao de uma produo j constituda que pudesse sugerir sobre a
exequibilidade e segurana dos projetos. Contudo, entendo que o perfil do
corpo docente continuou sendo essencial para os projetos pensados e, ao
observar a atual configurao do programas, possvel pensar que a
determinao do perfil de uma nova gerao esteja sendo desenhado pelos
atuais critrios, determinando que aqueles que se aproximam da discusso
sociocultural da EF tenham, cada vez mais, menos espao na rea.
A partir da apresentao dos dados referentes aos programas, proponho
a anlise da distribuio do conjunto de teses segundo a rea de concentrao
em que foram desenvolvidas, com o intuito de perceber quais so aquelas que,
ao longo do perodo estudado, apresentam maior produo, o que pode ajudar
a fundamentar a reflexo anteriormente apresentada.
153
Das 333 teses que compem o corpus da pesquisa, 34 no apresentam
indicao da rea de concentrao em que foram desenvolvidas. Dessa
maneira, as 299 teses se distribuem conforme grfico apresentado abaixo.
28
18
5
13
4
6
15
14
49
2
24
57
25
37
2
Pedagogia do Movimento
Movimento Humano, Sade e Performance
Movimento Humano, Cultura e Educao
Estudos do Lazer
Estudos do Esporte
Educao Motora
Educao Fsica e Sociedade
Educao Fsica e Desempenho Humano
Educao Fsica e Cultura
Cincias do Esporte
Cincias do Desporto
Biodinmica do Movimento Humano
Biodinmica da Motricidade Humana
Atividade Fsica, Adaptao e Sade
Atividade Fsica e Saude
Grfico 12 Distribuio das teses defendidas nos Programas de Ps-Graduao em
Educao Fsica por rea de Concentrao
Durante o perodo acompanhado (1998 a 2008) houve o registro, por
meio das teses, de quinze diferentes reas de concentrao e dessas, nove
compem a atual configurao dos seis programas estudados. Considerando
que algumas reas, ainda que recebam denominaes diferentes, buscam
enfocar as mesmas possibilidades de pesquisa, possvel afirmar, com base
nos dados apresentados e na configurao dos programas, que a rea aqui
chamada de Biodinmica do Movimento Humano - que se interessa por
pesquisas que estudam o movimento humano num nvel de anlise biolgico e
biocomportamental, enfocando, tambm, os exerccios fsicos e o treinamento
fsico e desportivo - registra o maior nmero de trabalhos, com 189 defesas. J
a rea Educao Fsica e Cultura - que engloba temticas relacionadas aos
aspectos educacionais, culturais e sociais da EF, esporte e lazer - registra um
total de 110 teses.
154
Compreendendo que os programas, como demonstrado, tm buscado
se organizar em torno dessas duas reas que abarcam pesquisas com
interfaces com outras reas, e propondo esse exerccio de aproximao para o
conjunto de teses analisadas, possvel destacar que h um maior nmero de
teses que se apiam em referencias da rea da sade.
No se trata, pois, de proposta de classificao dos programas e, por
conseguinte, de sua produo, nas Grandes reas, num ato de reafirmao de
um dualismo que durante tanto tempo persistiu na rea. Trata-se de um
reconhecimento de que a aproximao da EF das diferentes reas e
referenciais tm permitido a realizao de pesquisas diferenciadas e
evidenciado tendncias dos programas, dos eventos, dos pesquisadores.
Portanto, o exerccio proposto, para a anlise das teses e suas relaes com
reas e linhas, feito no sentido de evidenciar as aproximaes que esto
postas a partir da prpria configurao dos programas, influenciadas, por sua
vez, pela avaliao da CAPES.
De fato, as produes revelam que a EF vive de uma relao de
emprstimo de referenciais terico-metodolgicos das diferentes reas do
saber, tendo em vista que o esporte, a ginstica, a dana, a luta, o jogo e o
corpo podem ser estudados a partir dos mais diversos enfoques, abordagens
ou matrizes disciplinares. Contudo, me parece existir uma tendncia de
organizao que privilegia as reas que enfocam discusses relacionadas
sade, pois essas tm oferecido, na tradio de avaliao da CAPES da EF,
maiores possibilidades de sobrevivncia. De fato, se indicadores como
internacionalizao dos programas e da produo e o Qualis forem tomados
como referncia para a organizao, no h dvidas sobre qual caminho os
programas iro seguir.
Para aqueles que buscam manter as discusses relacionadas s
humanidades como rea forte do programa, o caminho parece ser, ainda,
sinuoso, tendo em vista que h o enfrentamento contnuo entre as
caractersticas peculiares da produo e aquelas que so valorizadas pelos
critrios. Da forma como se encontram organizados os programas analisados,
a tarefa se impe, principalmente, para o programa da UGF, por ser o nico
que assenta a maior parte de sua produo na tradio das Cincias Humanas
e Sociais.
155
Contudo, isso no diminui a necessidade do reconhecimento da
caracterstica multidisciplinar da EF e a necessidade de pensar parmetros e
critrios que atendam a essa peculiaridade. De fato, alguns passos j parecem
ter sido dados no sentido desse reconhecimento por parte da agncia, quando
da implantao do Qualis Livro, num ntido sinal de reconhecimento (e de
atendimento presso das reas) dos problemas colocados para a EF. Alis, o
envolvimento direto de professores inseridos nas reas que se aproximam das
discusses relacionadas s Cincias Humanas e Sociais na organizao do
Qualis Livro um sinal evidente da situao por eles vividas dentro dos seus
programas e na relao com a avaliao da CAPES.
Nesse sentido, os dados apresentados ajudam a compreender que h a
necessidade de aperfeioamento dos mecanismos de avaliao, com a
incorporao de critrios que contribuam, efetivamente, para o alcance dos
ndices de qualidade. O que se tem visto, em relao aos programas que
transcendem as fronteiras das disciplinas, o encaixe em uma das reas
tradicionais, assumindo-se os riscos de uma localizao inadequada no
sistema de avaliao.
certo, portanto, que o debate que tensiona a rea, encontra, ainda, a
partir de anlises que buscam levantar indicadores de sua produo,
combustvel para sua permanncia, tendo em vista que esses possibilitam o
desenho de um perfil da EF, a partir de sua configurao institucional e de seu
prprio fazer. Dito isso, encontro em Nbrega (2005, p. 116) uma possibilidade
para a reflexo.
Seguramente, as contradies podem alimentar o debate, ampliando
as nossas compreenses de cincia, no intuito de refletirmos sobre as
limitaes do modelo classificatrio dos campos de saberes e a crtica
ao que considerado cientfico ou no, a partir de uma demarcao
disciplinar. Nesse sentido, penso que precisamos considerar a relao
histrica da educao fsica nas cincias biomdicas ou cincias da
sade; bem como considerar a dinmica do desenvolvimento das
cincias da vida nesse conjunto, considerando-se o dilogo entre as
cincias biolgicas e as cincias humanas.
156
6.5 DISTRIBUIO DAS TESES POR LINHA DE PESQUISA
Mesmo considerando que, atualmente, os programas analisados
organizam-se em 42 linhas de pesquisa, considero, para a anlise, todas
aquelas que foram registradas ao longo do perodo estudado, mesmo as j
desativadas. Assim, apresento, a seguir, a distribuio das teses por linha de
pesquisa em cada programa.
Das 59 teses defendidas no programa da USP, duas no apresentam a
informao sobre a linha e uma apresenta a informao com abreviaes que
no permitem identific-la. Assim, o universo analisado passa a ser composto
por 56 teses que registraram dezesseis diferentes linhas ao longo do perodo
estudado.
Desse universo, sete aparecem em apenas uma tese cada (Efeito do
treinamento fsico; Processamento da informao visomotora; Asma e atividade
fsica; Anlise cinemtica descritiva do movimento humano; Foras internas e
modelagem biomecnica; Avaliao da resistncia/endurance; e Composio
corporal de esportistas). As demais so apresentadas abaixo.
2
3
9
6
16
2
6
2
3
Suplementao nutricional e atividade
metablica da atividade fsica
Processo adaptativo em aprendizagem
motora
Organizao da resposta motora e aquisio
de habilidades motoras
Efeitos agudo e crnico do exerccio no
sitema cardiovascular
Desempenho desportivo
Biomecnica do Esporte
Biomecnica da locomoo
Aspectos psicosociais do Esporte
Anlise e diagnstico do desenvolvimento
motor
Grfico 13 Distribuio das teses da USP por Linha de Pesquisa do programa
157
Com exceo da linha Anlise e Diagnstico do Desenvolvimento Motor,
criada em 2002, todas as demais apresentadas, no Grfico 13, existem desde
a dcada de 1990. Contudo, possvel identificar, por meio do
acompanhamento dos documentos de avaliao do programa que duas foram
realocadas para outra rea de concentrao no perodo estudado.
A linha com maior nmero de teses (Desempenho Desportivo) foi
implantada em 1990, para a rea Biodinmica do Movimento Humano e, em
2007, passou a compor a rea Estudos do Esporte, voltada apenas para o
mestrado, demonstrando que, em dezessete anos, produziu dezesseis teses.
Tambm passou por essas modificaes a linha Aspectos Psicossociais do
Esporte que foi criada em 1990, para a rea Pedagogia do Movimento Humano
(mestrado), e passou a compor a rea Estudos do Esporte, em 2007, somente
para o mestrado. Assim, considerando que a rea Pedagogia do Movimento
Humano somente passou a ofertar o doutorado a partir de 2006 e as teses
foram defendidas em 2008, provvel que a linha de entrada dos alunos tenha
sido mantida para o registro e, ainda, que eles tenham concludo o curso em
dois anos.
Considerando o tempo de existncia das linhas no programa, nenhuma
alcana a mdia de produo de uma tese por ano, evidenciando a baixa
produo. Ao partir do entendimento de que as linhas devem demonstrar a
capacidade de realizao de pesquisas em torno de uma temtica especfica e
que no deve ser pensada a partir de um nico projeto de pesquisa, os dados
demonstram a necessidade da sua avaliao, para alm de sua coerncia com
a proposta do programa, tendo em vista que se torna questionvel a existncia
de linhas coerentes com o marco epistemolgico, mas com pequena produo.
Esse procedimento pode evitar que algumas linhas sejam criadas para atender
a demanda de um nico docente e que, ao longo ao tempo, tornem-se
improdutivas.
Na anlise da Unicamp, dentre as 161 teses defendidas, 47 no
apresentam registro da linha em que foram desenvolvidas, fazendo com que o
universo analisado seja composto por 114 teses registradas em 29 diferentes
linhas. Certamente, esse nmero resultado das vrias alteraes que foram
realizadas, com ajustes de algumas linhas, supresso e criao de outras,
alm de realocao dessas nas reas de concentrao.
158
Das 29 linhas registradas, cinco aparecem em apenas uma tese cada
(Sade coletiva, Epidemiologia e Atividade Fsica; Atividade Fsica e
Performance Humana; Contedos Culturais do Lazer; Atividade Fsica para
Grupos com Necessidades Especiais; e Atividade Fsica e os Ajustes e
Adaptaes Cardiorrespiratrias) e outras cinco aparecem em duas
(Desenvolvimento e Adaptao Motora; Estudo da Postura Humana;
Adaptaes Cardiorrespiratrias e Metablicas ao Exerccio Fsico; Pedagogia
do Esporte; Imagem Corporal e Movimento). As demais esto representadas
abaixo.
14
8
6
6
3
3
4
4
5
3
8
11
5
4
3
3
9
Teoria do treinamento desportivo
Qualidade de vida, sade coletiva e
atividade fsica
Pessoas com necessidades especiais:
aspectos da atividade fsica e da imagem
Pedagogia do movimento
Lazer e Sociedade
Inteligncia corporal cinestsica
Instrumentao e Metodologia em
Biomecnica
Formao profissional e mercado de trabalho
Estudos neurolgicos e psicolgicos na
educao motora e no esporte
Esporte e Sociedade
Educao Fsica para pessoas portadoras de
deficincia
Educao Fsica escolar
Desporto, sade e educao
Desenvolvimento corporal no contexto da
sociedade e cultura
Corporeidade
Corpo e Educao Fsica
As inter-relaes do lazer na sociedade
Grfico 14 - Distribuio das teses da Unicamp por Linha de Pesquisa do programa
Tambm para a anlise aqui proposta, considero o tempo de existncia
das linhas para discutir a distribuio das teses. Nesse sentido, destacam-se:
159
Teoria do treinamento desportivo, Educao Fsica escolar, Educao Fsica
para pessoas portadoras de deficincia e Formao profissional e mercado
de trabalho que registram a defesa de mais de uma tese por ano de
funcionamento.
Em seguida, aparecem as linhas que registraram a produo de uma
tese por ano: Estudos neurolgicos e psicolgicos na educao motora e no
esporte; Lazer e Sociedade; Esporte e Sociedade; Inteligncia corporal
cinestsica; e Corpo e Educao Fsica. As demais linhas no apresentam
essa relao, indicando baixa produo.
No geral, a maior parte das linhas apresenta baixa produo e esse
pode ter sido o fator desencadeador das constantes reformulaes do
programa que, no ano de 1998 abrigava doze linhas, em 2003 chegou a
contar com 21 e, desde ento, vem reduzindo esse nmero chegando a sete,
em 2010. Certamente, essa reduo conseqncia direta da avaliao da
CAPES e do entendimento da coordenao do programa da necessidade de
ter linhas produtivas e que apresentem coerncia com as pesquisas
desenvolvidas.
A anlise geral demonstra, ainda, predominncia das linhas que se
aproximam das Cincias Humanas (62 teses), diferentemente do que foi
registrado na distribuio por rea. Contudo, enfatizo que o grande nmero
de teses que no apresenta a informao sobre a linha pode modificar o perfil
ora apresentado ou consolid-lo. Essa inverso nos dados permite concluir
que, considerando a distribuio por rea de concentrao e a que foi aqui
apresentada, dentre as teses que no apresentaram registro de linha, h um
maior nmero das que apresentam interface com as Cincias da Sade.
Das 63 teses defendidas no programa da UGF, uma no apresenta
informao sobre a linha de pesquisa em que foi desenvolvida e as demais
registram treze diferentes linhas. Nesse universo, trs produziram apenas uma
tese cada, no perodo estudado (Anlise institucional em Educao Fsica,
Esporte e Lazer; Aspectos simblicos dos jogos e danas populares; Efeitos da
atividade fsica sobre variveis morfofuncionais do ser humano). As demais so
apresentadas no grfico a seguir.
160
7
17
3
3
5
2
12
2
3
5
Variveis intervenientes e efeitos do
treinamento contra-resistncia
Representaes sociais da Educao Fsica,
Esporte e Lazer
Representaes de gnero na Educao
Fsica, Esporte e Lazer
Produo histrica na Educao Fsica,
Esporte e Lazer
Pensamento pedaggico da Educao Fsica
brasileira
Interveno profissional em educao fsica,
esporte e lazer
Identidades culturais da Educao Fsica,
Esporte e Lazer e Olimpismo
Gesto e anlise institucional em educao
fsica, esporte e lazer
Formao profissional em Educao Fsica,
Esporte e Lazer
Efeitos da atividade fsica sobre a sade na
perspectiva na qualidade de vida
Grfico 15 - Distribuio das teses da UGF por Linha de Pesquisa do programa
Na anlise proposta, verifica-se que, das dez linhas apresentadas no
Grfico 15, somente as trs com maior nmero de defesas apresentam uma
mdia de, pelo menos, uma tese por ano. No conjunto, os dados revelam
evidente superioridade daquelas relacionadas rea Educao Fsica e
Cultura, sendo compatveis com os que foram demonstrados na distribuio
por rea e corroborando com os marcos epistemolgicos do programa.
Das dez linhas apresentadas, oito fazem parte da atual configurao do
programa e passaram, ao longo do perodo estudado, por ajustes com
pequenas alteraes na nomenclatura. Apenas duas linhas Representaes de
gnero na Educao Fsica, Esporte e Lazer; e Interveno profissional em
Educao Fsica, Esporte e Lazer j foram desativadas, pois suas discusses
foram abarcadas por outras linhas.
H evidente superioridade de produo na linha Representaes sociais
da Educao Fsica, Esporte e Lazer e isso pode estar associado formao
161
do corpo docente que conta com a participao de especialistas de outras
reas, mas, tambm, atuao e consolidao do Laboratrio do Imaginrio e
das Representaes Sociais em Educao Fsica, Esporte e Lazer (LIRES) que
rene tpicos associados ao esporte, na interface com a cultura e com a
sade, com nfase no esporte educacional e risco/aventura e com ateno
particular para a interveno pedaggica.
As linhas com perfil relacionado sade apresentam uma produo que
se aproxima da maioria das linhas da rea de humanidades, ainda que tenham
sido criadas depois. O que demonstra, na observao do tempo de existncia
das linhas, que algumas apresentam baixa produo.
Considerando o quadro docente do programa, formado por onze
professores e comparando ao nmero de linhas, verifica-se a necessidade de
atuao em mais de uma linha, inclusive com registro de atuao em reas
diferentes, o que pode justificar a baixa produo. Assim, evidencia-se que
ainda h a necessidade de o programa da UGF melhorar a relao entre
docentes e nmero de linhas, mesmo com as alteraes realizadas nos ltimos
trinios.
Os dados sobre as 23 teses defendidas no programa da UFRGS indicam
o registro de sete linhas e esto apresentados no grfico que segue.
2
3
1
2
2
11
2
Representaes sociais do movimento
humano
Neuromecnica do movimento humano
Movimento humano e portadores de
necessidades especiais
Formao profissional e prtica pedaggica
Desenvolvimento da coordenao e controle
motor
Atividade fsica e sade
Atividade fsica e performance
Grfico 16 Distribuio das teses da UFRGS por Linha de Pesquisa do programa
162
Das sete linhas apresentadas no Grfico 16, apenas Desenvolvimento
da coordenao e controle motor foi criada em 2002, as demais fazem parte da
organizao do programa desde sua implantao. Com a exceo da linha
Movimento humano e portadores de necessidades especiais, desativada em
2003, as demais compem a atual configurao do programa, com pequenos
ajustes.
Considerando que a anlise levantou as teses defendidas at o ano de
2008, pode-se afirmar que a maior parte das linhas tem registrado baixa
produo, com exceo da Atividade fsica e sade que se destaca em funo
da grande diferena, evidenciando a rea de investimento do programa e a
distribuio dos docentes. Esse problema foi registrado na ficha de avaliao
do programa, de 2007, conforme segue abaixo.
Apesar da (sic) maioria das Linhas de Pesquisa resultar da tradio
das atividades de investigao desenvolvidas na instituio,
constata-se que a Linha de Pesquisa Desenvolvimento da
Coordenao e Controle Motor necessita ser reformulada, no sentido
de assegurar a sua existncia na estrutura atual. O baixo nmero de
projetos e os problemas detectados quanto ao nvel de sua
especificidade e relao com as demais Linhas de Pesquisa desta
rea justificam a reformulao solicitada. Na rea de concentrao
Movimento Humano, Cultura e Educao, o nmero de docentes
permanentes envolvidos muito pequeno para garantir o pleno
desenvolvimento da Linha Formao de Professores e Prtica
Pedaggica (CAPES, 2007c, p. 1).
Atrela-se a isso, o fato de a agncia tambm ter destacado que o
programa estava [...] no limite superior da capacidade de orientao, com 5,7
orientandos por docente permanente (CAPES, 2007c, p. 2). Na verdade, essa
sobrecarga pode ter se dado na tentativa de melhorar a produo das linhas.
Contudo, como visto, pode, tambm, gerar o efeito inverso.
Assim como no programa da UGF, possvel identificar na UFRGS
professores que atuam em mais de uma linha, o que pode contribuir para o
entendimento da baixa produo. Dessa maneira, em funo do tamanho do
corpo docente, necessrio que o programa reveja a distribuio e a coerncia
das linhas a fim de evitar a sobrecarga de alguns e a baixa produo na
maioria de suas linhas.
A distribuio apresentada, ento, demonstra que o perfil da produo
do programa da UFRGS se aproxima dos referenciais advindos das Cincias
163
da Sade, sobretudo, se for considerado o nmero de linhas que tratam essas
temticas.
No programa da UNESP, todas as 25 teses registram a linha em que
foram desenvolvidas e so apresentadas no grfico abaixo.
2
6
5
4
8
Mtodos de anlise biomecnica
Fisiologia endcrino-metablica e
exerccio
Coordenao e controle de habilidades
motoras
Atividade fsica e sade
Aspectos biodinmicos do rendimento e
treinamento esportivo
Grfico 17 Distribuio das teses da UNESP por Linha de Pesquisa do programa
Apesar de o programa se organizar em duas reas de concentrao,
no h registro de teses na rea Pedagogia da Motricidade Humana, tendo em
vista que ela passou a ser ofertada para o doutorado em 2006. Em funo
disso, toda a produo concentra-se na rea que se apia nas Cincias da
Sade para realizar suas anlises.
Todas as linhas apresentadas no Grfico 17 fazem parte da atual
configurao do programa e, considerando que a primeira tese foi defendida
em 2004, verifica-se que linha Aspectos biodinmicos do rendimento e do
treinamento esportivo alcana uma mdia de uma tese por ano e as outras
esto em torno de uma tese a cada dois anos, com exceo da linha Mtodos
de anlise biomecnica que, em sete anos, registrou duas teses.
Esses dados, portanto, demonstram que a maioria das linhas apresenta
uma baixa produo, sobretudo, se for considerado que a rea Biodinmica da
Motricidade Humana conta com treze dos dezoito docentes credenciados para
o doutorado.
164
Na UCB, desde a implantao do doutorado em Atividade Fsica, em
2006, duas teses foram defendidas, em 2008, uma na linha Exerccio Fsico,
Reabilitao, Doenas Crnico no Transmissveis e Envelhecimento; e outra
na linha Aspectos Scio-Culturais e Pedaggicos Relacionados a Atividade
Fsica e Sade.
Ainda que, em termos numricos, a produo apresente-se equilibrada,
ao verificar o nmero de docentes credenciados para cada uma das linhas e o
perfil da formao desses professores, como indicado em anlise anterior,
possvel notar uma tendncia de que as pesquisas que buscam investigar as
mudanas fisiolgicas e as adaptaes em diferentes tipos de exerccio se
tornem mais numerosas, evidenciando um perfil para o programa.
A partir dos dados apresentados, a anlise da distribuio das teses por
linha revela uma baixa produo nos programas e a predominncia, na
configurao atual, das linhas que apresentam interface com as Cincias da
Sade (166 teses das 282 analisadas), evidenciando o perfil que vem sendo
construdo na rea. Assim, as linhas tm se mostrado como espaos pouco
produtivos, quando pensadas a partir do critrio do tempo de existncia.
Esse fato poderia ser mais bem explicado a partir do levantamento do
nmero de docentes em cada uma das linhas, pois isso permitira analisar se
elas foram criadas para atender a um projeto isolado ou se congregavam um
grupo de professores em torno da temtica. Assim, sugiro que essa relao
possa ser investigada a fim de responder questo.
6.6 PALAVRAS-CHAVE DAS TESES ANALISADAS
Proponho, como objetivo especfico do trabalho, o levantamento e a
identificao das palavras-chaves utilizadas nas teses partindo do pressuposto
de que elas contribuem para a leitura do campo na medida em que so
representativas do conhecimento produzido pelos autores. No se trata,
contudo, de realizar uma anlise terminolgica da rea, pela conscincia de
165
que tal tarefa demanda a realizao de rduo trabalho.
47
Proponho, apenas, a
identificao dos termos utilizados pelos autores a fim de possibilitar, em
estudos futuros, a realizao dessa anlise, pois reconheo que esse caminho
possibilita o aprofundamento de uma reflexo epistemolgica, na medida em
que busca identificar conceitos fundamentais e detectar os momentos nos
quais uma seleo foi operada. Busco, tambm, relacionar os termos utilizados
na identificao dos trabalhos com as reas de concentrao, linhas de
pesquisa dos programas.
Parto do entendimento que, no processo de seleo das palavras-chave
dos trabalhos, os autores da EF recorrem linguagem natural e no a um
vocabulrio controlado. Assim, considero necessrio destacar que h, como
apontado na literatura, diferena entre palavras-chave e descritores e, de
acordo com Brandau, Monteiro e Braile (2005, p. VIII )
a primeira no obedece a nenhuma estrutura, aleatria e retirada de
textos de linguagem livre. Para uma palavra-chave tornar-se um
descritor ela tem que passar por um rgido controle de sinnimos,
significado e importncia na rvore de um determinado assunto. J os
descritores so organizados em estruturas hierrquicas, facilitando a
pesquisa e a posterior recuperao do artigo.
Contribuiu para o interesse pelo levantamento e para a hiptese de que
os autores no recorrem a um vocabulrio controlado para selecionar as
palavras, estudo realizado no mestrado em que identifiquei, em 74 teses
defendidas por doutores em EF, um total de 220 palavras-chave
(NASCIMENTO, 2005). Como apontado naquele momento, esse nmero pode
indicar falta de padronizao dos termos da rea ou uma tendncia para
especificar o diferencial. De fato, a falta de padronizao dos termos utilizados
na organizao das informaes produzidas na rea pode ser representativa
da falta de consenso sobre esses termos.
47
A Terminologia se apresenta como elemento importante, em particular na Comunicao
Cientifica, como uma forma de representao e, como tal, vista por diversas teorias sob
diversas funes, sendo a mais preconizada a de organizao da informao e do
conhecimento. Nessa funo, a Terminologia atua na busca e recuperao da informao e
passa a ter o nome de Linguagem Documentria, apresentando-se de maneiras diferentes,
com caractersticas distintas, organizada pelo conceito e/ou aspecto semntico a ela
relacionado. Assim, a terminologia est no cerne da organizao do conhecimento e sua
atuao potencializa o papel da cincia como seu locus privilegiado, ressaltando a distncia
entre o discurso da cincia e o discurso do senso comum, ou seja, entre a linguagem cientfica
e a da vida cotidiana. A Linguagem Documentria pretende, assim, ser intermediria entre
essas linguagens (MORAES, 2007).
166
Contudo, Moraes (2007) acrescenta que isso pode ocorrer, pois na
maioria das vezes, os pesquisadores recorrem a uma linguagem natural
48
para
registrar suas experincias. A autora afirma, ainda, que nas atividades de
pesquisa, so comuns os momentos de ineditismo e/ou inovao que trazem
com eles uma nova terminologia, considerada, por esse motivo, uma linguagem
natural. Entretanto, por se utilizar de um vocabulrio expressivo e flexvel -
porm ambguo a linguagem natural ocasiona menor preciso na
representao e na recuperao de contedos. Ela usada, com sucesso,
para representar tpicos especficos dos ttulos de documentos (produo
cientfica) e temas novos e atuais. Contudo, deve ser evitada em descritores.
Diante do objetivo proposto, realizei o levantamento que demonstrou
que, das 333 teses que compem o corpus da pesquisa, nove no apresentam
palavras-chave, determinando que o universo analisado seja formado por 324
teses. Assim, proponho uma anlise das palavras-chave por programas, a fim
de buscar relacion-las com suas reas de concentrao e linhas de pesquisa
e, em seguida, a anlise de todo o universo pesquisado.
Nas 59 teses defendidas no programa da USP identifiquei 126 palavras-
chave citadas 173 vezes. Do total, 103 apresentam uma ocorrncia e 23
apresentam mais de uma, podendo ser observadas no grfico abaixo.
48
A linguagem natural (LN) pode ser definida como a linguagem do discurso tcnico-cientfico,
e, no contexto da recuperao da informao, Lancaster citado por Lopes (2002, p. 42) afirma
que a expresso normalmente se refere s palavras que ocorrem em textos impressos,
considerando-se como seu sinnimo a expresso texto livre. Nas bases de dados, os campos
de ttulo e resumo registram os termos da LN, enquanto os campos de descritores, termos de
indexao ou identificadores registram os termos da linguagem controlada (LC). Esta,
denominada tambm vocabulrio controlado, pode ser definida como um conjunto limitado de
termos autorizados para uso na indexao e busca de documentos.
167
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
6
10
Aptido fsica
Consumo de oxignio
Controle motor
Controle postural
Desempenho
Exerccio Fsico
Futsal
Idosos
Jud
Limiar anaerbio
Reabilitao
Talento esportivo
Treinamento esportivo
Voleibol
Lactato
Marcha
Presso arterial
Desenvolvimento motor
Processo Adaptativo
Treinamento Fsico
Eletromiografia
Aprendizagem motora
Biomecnica
Grfico 18 Palavras-chave das teses da USP
O primeiro aspecto a ser observado que o conjunto dos termos citados
mais de uma vez apresenta evidente relao com a rea de concentrao mais
consolidada do programa, Biodinmica do Movimento Humano que se
interessa pelo estudo do movimento humano a partir de reas como a
Fisiologia do Exerccio, Biomecnica, Aprendizagem e Desenvolvimento Motor,
Psicologia do Esporte, Nutrio Aplicada ao Desempenho Fsico e Treinamento
Fsico e Esportivo.
Alm disso, tambm apresentam relao com as linhas do programa que
enfocam o treinamento desportivo, os efeitos do exerccio fsico no sistema
cardiovascular, a aquisio das habilidades motoras, a relao entre nutrio e
atividade fsica e a relao entre educao fsica e sade e os estudos
socioculturais do movimento humano.
preciso destacar ainda que, das trs palavras com maior frequncia,
duas se referem a subreas de estudos que guardam ntima relao com a
educao fsica biomecnica e aprendizagem motora e o terceiro termo
168
eletromiografia - corresponde a um procedimento utilizado nas pesquisas que
buscam estudar o movimento humano.
De maneira geral, possvel afirmar que os termos mais representativos
das teses referem-se a conceitos, procedimentos diretamente relacionados
com a rea, mas que, no conjunto, se destaca a grande disperso com
indicao de palavras que indicam conceitos, procedimentos, materiais de
outras reas, como: adolescentes; adolescentes cegos; auto-conceito; bebs;
cardiologia; comportamento; crianas; idosos; restries; etc. Isso pode
dificultar a identificao da temtica dos trabalhos e prejudicar o seu processo
de indexao.
Nas 161 teses defendidas na Unicamp identifiquei 335 palavras-chave
citadas 529 vezes. Do total, 274 apresentam uma ocorrncia e o restante (61)
mais de uma. Desse universo, 27 aparecem duas vezes, dezesseis aparecem
trs vezes e as demais podem ser visualizadas no grfico abaixo.
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
12
13
15
44
Corporeidade
Ensino mdio
Futebol
Ginstica
Movimento
Voleibol
Treinamento
Basquetebol
Sade
Aptido fsica
Corpo
Exerccios fsicos
Qualidade de vida
Estudo e ensino
Formao profissional
Lazer
Esporte
Educao Fsica
Grfico 19 Palavras-chave das teses da Unicamp
Os dados demonstram que, tambm nas teses da Unicamp, h uma
grande disperso das palavras-chave. O termo com maior freqncia
educao fsica e seu aparecimento pode revelar uma tendncia de os autores
169
buscarem identificar a rea em que o estudo foi desenvolvido. Os demais
apresentados no Grfico 19 guardam relao com as reas de concentrao
do programa que enfocam aspectos vinculados atividade fsica, esporte e
qualidade de vida dos grupos com necessidades especiais; biodinmica do
movimento humano e do esporte; e produo do conhecimento no campo da
EF, do esporte e do lazer, orientadas pelas propostas terico-metodolgicas
oriundas do campo das humanidades, da educao e da arte em suas
diferentes abordagens.
O conjunto dos termos mais representativos evidencia a maneira como o
programa est organizado, com a opo de manter reas de concentrao que
abarquem pesquisas relacionadas s Cincias da Sade e aqueles que
buscam o referencial terico-metodolgico nas Cincias Humanas. Assim, h
evidente relao entre as linhas mais produtivas e as palavras mais citadas.
Cabe destacar que, ainda que alguns desses termos no se refiram a
conceitos especficos da EF (formao profissional, estudo e ensino, ensino
mdio), aparecem como bastante representativos da produo, evidenciando o
interesse por temticas relacionadas rea educacional.
Na anlise do conjunto de palavras-chave citadas, observa-se a
disperso com presena de termos que no apresentam relao com a rea,
como: lcool; Amazonas; amizade; ansiedade; artes cnicas; beco; cadeira de
rodas; cegos; civilizao; comunidades amaznicas; constituio;
desconstruo; desenhar; discurso, ensaios e conferncias; ecologia;
emancipao humana; festas religiosas; Gois; novos olhares; Paran; regio
norte; Rio de Janeiro; So Joo Del Rei; teatro; universidades e faculdades,
etc.
Verifica-se, portanto, que muitas palavras utilizadas referem-se a nomes,
reas, conceitos, procedimentos que no contribuem para a especificao de
temticas relacionadas EF, evidenciando uma falta de padronizao e a
utilizao da linguagem natural.
Nas 65 teses defendidas na UGF foram identificadas 145 palavras-
chave, citadas 225 vezes. Do total, 115 foram citadas uma vez, dezessete
foram citadas duas vezes e demais foram citadas mais de duas e so
apresentadas abaixo.
170
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
9
12
16
Atividade Fsica
Educao Fsica Escolar
Histria
Atletas
Aventura
Lazer
Representao
Representao social
Futebol
Sade
Imaginrio social
Esporte
Educao Fsica
Grfico 20 Palavras-chave das teses da UGF
Assim como na Unicamp, os dois termos com o maior nmero de
indicaes so educao fsica e esporte que podem evidenciar tendncia de
identificao da rea, sobretudo, se considerarmos que as linhas dos
programas trazem em sua denominao a expresso EF, esporte e lazer.
Considerando que o programa apresenta como eixos a qualidade de
vida, a sade e as prticas de atividades fsico-esportivas nas perspectivas
sciocultural e da interveno pedaggica, possvel afirmar que os termos
revelam a relao com as reas de concentrao. Contudo, preciso
considerar uma predominncia de termos que guardam relao com a rea
Educao Fsica e Cultura que se apresenta como a mais consolidada do
programa, com maior produo.
possvel identificar, tambm, relao entre as palavras mais citadas e
as linhas mais produtivas e, assim como na Unicamp, a presena de termos
que no se referem a conceitos especficos da EF, mas que tm sido utilizados
para representar a produo e referem-se, sobretudo, linha mais produtiva do
programa.
A anlise do conjunto de palavras citadas revela a presena de termos
no especficos da EF e que, como afirmado anteriormente, no contribuem
para a identificao de temas da rea, como: altitude; anos 1980; bingo;
caboclo; cidadania; colgio do caraa; ecoturismo; escola catlica;
171
espiritualidade; tica romntica; famlia; favela; imprensa; meio ambiente;
personalidade; prazer; ribeirinho, tradio salesiana, etc.
No programa da UFRGS foram identificadas 53 palavras-chave citadas
56 vezes, revelando disperso dos termos. Um conjunto de 51 palavras
apresenta apenas uma ocorrncia e os termos educao fsica e tritlon foram
citadas trs e duas vezes, respectivamente.
Essa disperso pode ser resultado da tentativa dos autores em
especificar a temtica do trabalho ou evidenciar a falta de orientao para a
seleo das palavras. Dessa maneira, assim como os outros programas, a
anlise das palavras citadas nas teses revela a presena de termos no
especficos da rea como: corretos; HIV; msica; vitaminas antioxidantes;
trabalho coletivo; meninas, etc.
No conjunto das teses da UNESP, foram identificadas 69 palavras-
chave, citadas 85 vezes. Do total, 56 apresentam uma ocorrncia, as demais
esto expostas no grfico abaixo.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
Diabetes Mellitus
Eletromiografia
Fisiologia
Fora
Informao visual
Metabolismo Glicdico
Msculo esqueltico
Propriocepo
Ratos
Treinamento
Controle postural
Lactato
Metabolismo
Grfico 21 Palavras-chave das teses da UNESP
Na anlise do conjunto de palavras citadas nas teses da UNESP chama
ateno a grande disperso, tendo em vista que foram consideradas mais
representativas aquelas citadas duas ou trs vezes.
Em funo de todas as teses terem sido defendidas na rea Biodinmica
da Motricidade Humana verifica-se que as palavras-chave que formam o
172
conjunto apresentado acima se relacionam com a rea da sade. Apresentam,
tambm, relao com as linhas de pesquisa do programa que buscam enfocar
aspectos do rendimento e do treinamento esportivo; a fisiologia; a relao entre
atividade fsica e sade.
O conjunto de termos mais representativos das teses evidencia relao
com a rea, mas, alm de conceitos, aparecem termos referentes a
procedimento e material utilizado nas pesquisas. Identifica-se, tambm, o termo
Diabetes Mellitus que, mesmo no sendo especfico da rea, foi utilizado, em
funo de algumas pesquisas buscarem estudar o efeito da atividade fsica em
grupos com necessidades especiais.
Assim como nos demais programas, o conjunto de palavras-chave
evidencia a disperso e utilizao de termos no especficos da rea: como
clula de carga; componente lento; esteira rolante; imobilizao; percepo-
ao; voluntrios saudveis.
Nas duas teses defendidas na UCB/DF foram identificadas cinco
palavras-chave citadas uma vez cada: Diabetes Mellitus tipo 2; exerccio;
calicrena plasmtica; grupos tipolgicos; Idiocentrismo-alocentrismo.
Em funo de o curso se organizar em torno de uma nica rea de
concentrao que busca abarcar pesquisas que enfoquem a relao entre
atividade fsica e sade os termos revelam a relao com a rea e tambm
com as linhas.
6.6.1 Palavras-chave mais citadas nas teses defendidas nos programas
estudados
Nesse conjunto, identifiquei 733 termos, citados 1073 vezes. Do total,
604 palavras apresentam uma ocorrncia e outras 129 apresentam mais de
uma, indicando grande disperso no universo pesquisado. Observei, ainda, que
o nmero de palavras-chave indicadas nas teses varia entre duas e cinco,
evidenciando, tambm, uma falta de padronizao das orientaes aos autores
nos diferentes programas. Considerando o universo de palavras-chave
173
identificadas na tese, a freqncia de citao pode ser visualizada na tabela
abaixo.
Tabela 2 - Freqncia acumulada das palavras-chave das teses defendidas nos
Programas de Ps-Graduao em Educao Fsica
FREQUNCIA DE
PALAVRAS-CHAVE
NMERO DE
PALAVRAS-CHAVE
1 ocorrncia 604
2 ocorrncias 69
3 ocorrncias 26
4 ocorrncias 15
5 ocorrncias 5
6 ocorrncias 5
7 ocorrncias 1
9 ocorrncias 1
10 ocorrncias 1
12 ocorrncias 2
13 ocorrncias 1
15 ocorrncias 1
16 ocorrncias 1
44 ocorrncias 1
Considerando que a palavra-chave deve ser representativa do contedo
do documento e escolhida, preferencialmente, em vocabulrio controlado, o
levantamento realizado aponta que os autores no tm conseguido atender a
essas necessidades.
A disperso apresentada pode ser atribuda a fatores como: variedade
de linhas de pesquisas desenvolvidas nos programas, amplitude de cada
trabalho e tambm pelo fato de o nmero de palavras-chave utilizadas nos
trabalhos variarem de trs a seis. Outro aspecto importante a ser destacado a
diversidade de assuntos por meio das palavras-chave, demonstrando a
presena de temticas relacionadas s Cincias da Sade e Cincias
Humanas. O conjunto de termos mais representativos pode ser visualizado no
grfico a seguir.
174
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
12
14
17
27
63
Atletas
Aventura
Controle postural
Historia
Treinamento fsico
Atividade fsica
Basquetebol
Lactato
Natao
Voleibol
Desenvolvimento motor
Treinamento
Estudo e ensino
Aprendizagem motora
Corpo
Educao fsica escolar
Qualidade de Vida
Aptido fsica
Eletromiografia
Futebol
Imaginrio social
Exerccio fsico
Sade
Formao profissional
Biomecnica
Lazer
Esporte
Educao Fsica
Grfico 22 Palavras-chave mais citadas nas teses analisadas
Os trs termos mais representativos no conjunto das teses podem ser
entendidos, para alm de termos identificadores da rea, como as reas de
maior interesse e sobre as quais tm se debruado as pesquisas. O conjunto
revela, tambm, a presena de subreas que tm sido tomadas como
referencial nos estudos da EF, como Aprendizagem Motora, Biomecnica,
Desenvolvimento Motor e Histria, alm de termos que denominam as
modalidades esportivas.
Ao tomar como referncia a afirmao de que as denominaes servem
para a determinao do vocabulrio de uma especialidade, isto , do conjunto
de termos que respondem pelos conceitos particulares a partir dos quais se
constituem as reas do conhecimento, parece ficar clara a dificuldade
encontrada pela rea para estabelecer seu sistema conceitual (KOBASHI;
SMIT; TLAMO, 2001). Partindo desse entendimento, possvel perceber que
a rea carece de uma linguagem de especialidade, pois muitos termos
175
utilizados no refletem conceitos, mas remetem a procedimentos, instrumentos
que regulamentam as aplicaes prticas ou a outras reas do conhecimento.
A definio de uma linguagem de especialidade, afastando-a da
linguagem natural, conforme Eliel (2007) constitui um pressuposto para a
constituio de qualquer campo cientfico e, portanto, igualmente, para a
constituio da EF. Dito de outra maneira, nenhum campo cientfico se impe
no ambiente da pesquisa acadmica se no dispuser de uma linguagem
prpria, ou seja, de uma linguagem especializada. E, para cumprir a funo de
uma linguagem especializada, esta pressupe que os termos remetam a
conceitos especficos, distintivos.
Na ausncia das linguagens de especialidade, "sabemos o mundo"
segundo o que nos dita a linguagem natural, inserindo-nos no senso
comum. No entanto, no apenas com o recurso linguagem natural
que se introduz a indeterminao conceitual. Saber o mundo atravs
de um conjunto de termos sem consistncia conceitual, provenientes,
por exemplo, de diferentes reas, na ausncia de normalizao,
equivale a ter em mos vrios fragmentos que, se juntados, no fazem
sentido ou o fazem custa de muito esforo. Em larga medida,
portanto, o conhecimento e a compreenso de uma rea de
conhecimento vincula-se ao domnio da linguagem desta mesma rea.
O ncleo especfico de uma linguagem de especialidade seu
vocabulrio, que normalizado e organizado semntica e logicamente
constitui a terminologia da rea (KOBASHI; SMIT; TLAMO, 2001,
s/p).
Dessa forma, a partir do levantamento realizado, pode-se afirmar que a
EF apresenta uma linguagem ainda muito prxima do senso comum e,
portanto, pouco, ou insuficientemente, especializada. Em funo disso, a busca
pela informao cientfica disponvel na literatura pode se tornar improdutiva ou
confusa sem uma compreenso bsica de como o conhecimento organizado
ou indexado (BRANDAU, MONTEIRO, BRAILE, 2005).
Em si mesmas, as denominaes podem ser fruto da germinao de
idias, do desenvolvimento efetivo do conhecimento da rea ou de
mera confuso, seja por ausncia de rigor, seja por modismo. Por
essa razo, o uso da palavra "em estado natural" sempre um risco.
O sistema que lhe confere sentido deve ser identificado e quando
necessrio resgatado. A ativao da memria [...], atravs de
metodologias adequadas, condio para sua institucionalizao
disciplinar, sem a qual corre-se o risco de enfrentar a
interdisciplinaridade seja de modo monolgico seja de modo ecltico
(KOBASHI; SMIT; TLAMO, 2001, s/p).
176
Por isso, em muitas reas, recomenda-se a consulta aos vocabulrios
estruturados que contribuem para o processo de descrio, organizao e
acesso informao, reafirmando sua importncia.
Dessa forma, o exerccio a ser enfrentado pela EF buscar organizar
esse vocabulrio de forma a oferecer produo maiores possibilidades de ser
localizada e identificada. Alm disso, pensar na construo de uma lista de
descritores para a rea pode, na viso de Kobashi e Santos (2006), aumentar a
possibilidade de realizao do mapeamento de sua produo.
Parte-se, nesse caso, do princpio de que a indexao realizada com
base em tesauros fornece informaes temticas mais padronizadas do que as
ocorrncias estatsticas de palavras retiradas da linguagem natural. Deve-se,
portanto, lembrar que a organizao da informao por meio de tesauros,
taxonomias e ontologias vem sendo reconhecida como imprescindvel para
tratar grandes massas de informaes.
No entendimento dos autores, os mapas gerados a partir desses dados
e mtodos so representaes da produo cientfica da rea expressa por
meio de conceitos produzidos e utilizados pela prpria rea. Tem-se, portanto,
neste caso, a garantia das terminologias das reas para a gerao das
representaes cartogrficas da institucionalizao de um dado campo do
conhecimento (KOBASHI; SANTOS, 2006).
Contudo, destacam os autores, necessrio dedicar especial ateno
padronizao dos descritores para evitar disperses que possam comprometer
a anlise e a validade dos resultados. Isso justifica, portanto, a opo de, nesse
estudo, propor a anlise temtica a partir da leitura dos trs elementos
identificadores do trabalho (ttulo, resumo e palavras-chave).
Nesse sentido, o levantamento apresentado pretende contribuir para
que, no futuro, possa se pensar na elaborao de um vocabulrio para a rea,
na medida em que se interessa em identificar as palavras-chave utilizadas pela
comunidade cientfica e que podem servir de referncia inicial para o trabalho.
Assim, partindo do pressuposto de que o vocabulrio de uma
especialidade constitudo pelos termos que representam seus conceitos
relativos aos objetos, processos e mtodos que permitem o desenvolvimento
da investigao e a produo do conhecimento, pensar uma grande
177
diversidade terminolgica e a ausncia desse vocabulrio, certamente, indica
uma fragilidade conceitual, portanto, epistemolgica e acadmica da rea.
fato reconhecido que as denominaes servem de referncia para a
determinao do vocabulrio de uma especialidade. Integram
semelhante vocabulrio os termos relativos aos objetos, processos e
mtodos da rea. Como os conceitos atribudos aos termos no
resultam de convenes arbitrrias ou de preferncias individuais,
mas de relaes entre suas caractersticas constitutivas, passveis de
serem objetivadas e confirmadas, o reconhecimento de uma
denominao e de seu conceito tarefa que exige anlise da
pertinncia dessas caractersticas ou traos em relao ao domnio
considerado (KOBASHI; SMIT; TLAMO, 2001, s/p).
Alm disso, Eliel (2007a) e Kobashi, Smit e Tlamo (2001), apontam que
a existncia de um vocabulrio de especialidade ou uma terminologia prpria
contribuem para a consolidao de uma rea como cincia. Assim, possvel
pensar que especificar as bases tericas e conceituais da EF e delimitar seu
campo so as condies que se colocam, atualmente, para sua afirmao,
tendo em vista que essas tarefas contribuem para o desenvolvimento de uma
terminologia prpria. Contudo, para que ocorra o desenvolvimento de uma
linguagem de especialidade, so necessrios, conforme apontam Santos;
Kobashi (2007) estudos sobre linhas temticas e tendncias de pesquisas na
rea.
6.7 MAPEAMENTO TEMTICO DAS TESES ANALISADAS
Responder sobre o qu se pesquisa na EF exigiu, em primeiro lugar,
estabelecer um conjunto de temas capazes de agrupar os diferentes assuntos.
Para isso, optei pela utilizao do Quadro Temtico Referencial, apresentado
no captulo IV, que engloba 29 Categorias Temticas (CT). Assim, cada tese foi
classificada, para a determinao da especificidade do assunto, em uma das
CT. Ainda que muitos trabalhos apresentem mais de um assunto, optei por
fazer o registro daquele que considero o principal.
Para definio do assunto, adotei como procedimento a leitura do ttulo
do trabalho. Contudo, como informei anteriormente, muitos ttulos no
178
permitem a identificao da temtica tratada, exigindo a leitura de outros
elementos. Em funo disso, recorri, tambm, leitura do resumo e das
palavras-chave dos trabalhos.
Apresento, ainda, uma anlise da relao entre a temtica abordada nos
trabalhos e a rea de concentrao e linhas de pesquisa em que foram
desenvolvidas, buscando contribuir para a reflexo sobre a coerncia entre a
temtica dos estudos e a organizao dos diferentes programas. A fim de
alcanar esse objetivo, adotei como procedimento a leitura das ementas das
reas e linhas de pesquisa para apreender seus objetivos e as possibilidades
de pesquisas a serem desenvolvidos.
O corpus formado por 333 teses que correspondem a todos os
trabalhos produzidos nos cursos de doutorado de PPGEF brasileiros, entre
1998 e 2008. Para a anlise dos dados proponho a apresentao do
mapeamento temtico por programa e, posteriormente, da rea.
6.7.1 Mapeamento temtico das teses da USP
O mapeamento temtico das 59 teses defendidas na USP permite
identificar dez temticas diferentes, apresentadas no grfico abaixo.
179
11
2
2
11
8
10
5
6
4
CT 29
CT 26
CT 21
CT 16
CT 10
CT 7
CT 6
CT 3
CT 1
Grfico 23 Mapeamento temtico das teses da USP
Os resultados do mapeamento demonstram que quatro assuntos se
destacam na produo da USP: CT 16 (Fisiologia); CT 29 (Treinamento
fsico/esportivo); CT 7 (Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica); e CT 10
(Desenvolvimento Motor). Considero que a presena dessas temticas refora
o entendimento de que a produo relacionada rea Biodinmica do
Movimento Humano a mais consolidada, tendo em vista que todos os
assuntos tratados aparecem contemplados na ementa da rea, conforme
apresentado na caracterizao do programa, e pelo fato de a outra rea ainda
no ter registrado produo. Tambm se evidencia uma relao entre os temas
mais abordados e as linhas mais produtivas.
As pesquisas que tratam dos dois assuntos mais abordados (CT 16 e CT
29) buscam, de maneira geral, investigar os efeitos do exerccio fsico no
sistema cardiovascular e dos demais componentes que podem interferir nesse
processo; identificar as adaptaes aos diferentes tipos de treinamento; realizar
a avaliao do condicionamento fsico-esportivo; investigar o processo de
Legenda
CT 1- Anatomia/Antropometria/Medidas e Avaliao
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 6 - Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 16 Fisiologia
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
180
formao e o desenvolvimento do talento esportivo; analisar as caractersticas
dos praticantes de atividades fsicas e esportivas.
As teses que enfocam a CT 7 propem a anlise do movimento humano,
relacionado s atividades fsicas ou tarefas cotidianas, buscando observar as
conseqncias para o aparelho locomotor, tanto em relao ao rendimento
quanto a otimizao tcnica. J aqueles que discutem a CT 10, de maneira
geral, estudam a aquisio de habilidades motoras e de padres fundamentais
de movimentos, bem como os fatores que influenciam esse processo, em
crianas normais e portadores de deficincia.
Aparecem, ainda, teses que abordam a relao entre nutrio e
atividade fsica (CT 21), sobretudo, voltada para o uso de suplementos, e
outras que buscam realizar medidas antropomtricas de diferentes grupos.
A partir do mapeamento nota-se que as pesquisas buscam enfocar
diferentes objetos tratados a partir do referencial advindo das diversas reas
das Cincias da Sade, o que pode ser entendido como resultado da
configurao do programa, revelando que a produo apresenta coerncia com
sua rea e com os marcos tericos e epistemolgicos.
Dessa maneira, a anlise da relao entre as temticas abordadas nas
teses e a rea de concentrao expe que a produo da USP revela
coerncia, j que, dos 59 trabalhos, 55 foram desenvolvidos na rea
Biodinmica do Movimento Humano e enfocam categorias temticas a ela
relacionadas (CT 1(Anatomia/Antropometria/Medidas e Avaliao) ; CT 3
(Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento); CT 6 (Atividade fsica/
Desporto para grupos especiais); CT 7; CT 10; CT 16; CT 21
(Nutrio/Obesidade); CT 26; e CT 29). Todas, portanto, contempladas pela
ementa da rea, como afirmado anteriormente. As outras quatro teses
registram como rea Estudos do Esporte e abordam os seguintes assuntos: CT
16 (2); CT 26 (1) e CT 6 (1), tambm apresentam coerncia com a rea citada.
Para a anlise da relao das temticas com as linhas, optei pela
eliminao de trs registros, visto que duas teses no inseriram a linha e outra
utilizou abreviaes que impossibilitaram a identificao da informao. Assim,
o corpus passa a ser constitudo por 56 teses.
181
3
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
4
1
1
4
3
2
1
5
1
1
2
1
3
7
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Suplementao nutricional e alterao metablica da
atividade fsica
Processo adaptativo em aprendizagem motora
Processamento da informao visomotora
Organizao hierrquica de um programa de ao na
aquisio de habilidades motoras
Foras internas e modelagem biomecnica
Efeitos agudo e crnico do exerccio no sistema cardiovascular
Efeito do treinamento fsico
Desempenho esportivo
Composio corporal de esportistas
Biomecnica do esporte
Biomecnica da locomoo
Avaliao de resistncia/endurance
Aspectos psicossociais do esporte
Asma e atividade fsica
Anlise e diagnstico do desenvolvimento motor
Anlise cinemtica descritiva do movimento humano
CT 1 CT 3 CT 6 CT 7 CT 10 CT 16 CT 21 CT 26 CT 29
Grfico 24 - Relao entre temtica das teses da USP e Linhas de Pesquisa do programa
182
A leitura da descrio das linhas no documento que trata do assunto e
faz parte do Caderno de Indicadores, da CAPES, contribui para a realizao da
anlise proposta. Em funo do grande nmero de linhas, fao a opo de
apresentar a anlise daquelas que registraram mais de uma tese.
Dessa maneira, as teses defendidas na linha Anlise e diagnstico do
desenvolvimento motor enfocam como assunto a CT 10, apresentando, ento,
temtica compatvel com a linha que busca investigar a aquisio de padres
fundamentais de movimento e suas combinaes em crianas normais e
deficientes, e os fatores ambientais e da tarefa que afetam esse processo.
Alm disso, prope o desenvolvimento de instrumentos para o diagnstico do
desenvolvimento de indivduos e grupos.
As teses da linha Aspectos psicossociais do esporte abordam como
temtica principal a CT 6 e CT 26 (Psicologia/Psicologia do Esporte).
Considerando que a linha tem como objetivo o estudo da personalidade, dos
estados emocionais e como estes fatores afetam ou so afetados pela
atividade esportiva, considero que a primeira tese no apresenta
compatibilidade com a proposta.
Na linha Biomecnica da locomoo, quatro teses abordaram como
assunto principal a CT 7 uma abordou a CT 6 e outra a CT 16. Ao constatar
que essa linha enfoca a anlise de funes e determinantes da locomoo
humana, a partir da biomecnica interna e externa, entendo que somente as
quatro primeiras teses citadas guardam relao com a proposta.
J na linha Biomecnica do Esporte, que trata da interpretao do
movimento esportivo, do diagnstico tcnico do rendimento e demais funes
determinantes da eficincia de movimento, as duas teses, da CT 7, abordam
assunto que apresenta relao com a linha.
Legenda
CT 1- Anatomia/Antropometria/Medidas e Avaliao
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 6 - Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 16 Fisiologia
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
183
A linha Desempenho esportivo registra dezesseis teses que abordaram
quatro assuntos como temtica principal: CT 1; CT 6; CT 16 e CT 29. Todas
apresentam relao com a linha que estuda os fatores que influenciam o
rendimento esportivo e seus inter-relacionamentos na aquisio, manuteno e
perda da forma esportiva.
Tambm na linha Efeitos agudo e crnico do exerccio no sistema
cardiovascular, as seis teses (CT 6; CT 16 e CT 29) so coerentes com a
proposta da linha que tem por objetivo estudar os efeitos agudo e crnico do
exerccio no comportamento que controla a freqncia cardaca, a presso
arterial e o fluxo regional no rato e no homem saudvel, hipertenso e com
insuficincia cardaca.
Das nove teses da linha Organizao hierrquica de um programa de
ao na aquisio de habilidades motoras, classificadas como CT 3; CT 7 e CT
10, todas revelam coerncia com a proposta que estuda a aquisio de
habilidades motoras ao longo do ciclo de vida, os fatores que influenciam tal
processo e os mecanismos e processos subjacentes preparao e execuo
de respostas motoras.
Na linha Suplementao nutricional e alteraes metablicas da
atividade fsica, as duas teses enfocam a CT 21 e esto contempladas pela
proposta que busca verificar as alteraes metablicas em decorrncia da
atividade fsica, quando da suplementao alimentar, bem como quando da
associao da atividade motora com estados patolgicos.
Desse modo, considero, a partir das informaes apresentadas, que a
maior parte da produo da USP apresenta coerncia entre a temtica
abordada na tese, a rea de concentrao e a linha em que foi desenvolvida.
Apenas uma linha apresentou uma disperso dos assuntos com a identificao
de quatro diferentes CT, podendo ser indicativo de que as propostas das linhas
esto bem definidas e que os trabalhos desenvolvidos conseguem atender a
seus objetivos.
184
6.7.2 Mapeamento temtico da teses da Unicamp
As teses defendidas na Unicamp foram classificadas em 24 das 29
categorias do Quadro Referencial, demonstrando variedade dos assuntos
cobertos em funo do grande nmero de trabalhos (161).
A CT 3 foi identificada como assunto principal em apenas um trabalho e
algumas foram identificadas em apenas duas teses, como CT 1; CT 2
(Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural); CT 8
(Comunicao/Informao/Informtica); CT 9 (Dana e Atividades Rtmicas);
CT 12 (Epistemologia/ Cincia); CT 14 (Estudos Culturais); CT 21; CT 22
(Organizao/Gesto). As demais so apresentadas no grfico a seguir.
185
15
5
13
3
6
3
4
4
24
3
8
16
3
8
16
13
CT 29
CT 28
CT 27
CT 26
CT 25
CT 24
CT 19
CT18
CT 17
CT 16
CT 15
CT 11
CT 10
CT 7
CT 6
CT 5
Grfico 25 Mapeamento temtico das teses da Unicamp
O mapeamento apresentado no Grfico 25 permite observar dois
grandes grupos de CT. O primeiro, formado por assuntos que aparecem em
mais de treze teses cada e o segundo, formado por assuntos tratados em
menos de oito teses.
No grupo dos assuntos mais abordados, destaca-se a categoria que
trata de discusses que envolvem a CT 17 (Formao e atuao do professor/
Educao fsica e currculo), presentes em 23 teses, correspondendo a 14% da
produo. Essas pesquisas buscam discutir a formao dos professores de EF,
a prtica pedaggica e o currculo das universidades.
Legenda:
CT 5 - Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 6- Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 - Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 15 - Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 18 - Fundamentos da Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/ Avaliao da
Aprendizagem
CT 19 - Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 24 - Poltica/Poltica Publica
CT 25 - Prtica desportiva/Fundamentos desportivos
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 - Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 - Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
186
A CT 11 (Educao fsica escolar/ /Esporte escolar) est presente em
9% das teses e compreende aquelas que discutem experincias na escola,
contedos abordados nas aulas, o esporte como contedo da educao fsica
escolar e sua organizao no espao da escola. De maneira geral, estudam as
aes de ensino e aprendizagem da EF na educao bsica e os aspectos
relativos formao de professores.
A presena dessas duas temticas em 24,8% das teses demonstra que
h um grupo de pesquisadores que busca se envolver com as discusses
referentes formao e interveno e se consolida na rea como referncia.
As temticas relacionadas a CT 6 tambm foram abordadas em 9% dos
trabalhos e buscam discutir a relao entre atividade fsica ou atividade
esportiva e os diferentes grupos especiais, idosos, hipertensos, deficientes,
portadores de doenas no transmissveis. J a CT 29, inclui as teses que
tratam da avaliao do condicionamento fsico-esportivo, da anlise das
caractersticas dos praticantes de atividades fsicas e esportivas e dos fatores
que intervm no estado de treinamento fsico.
O segundo grupo de temticas (presentes em menos de oito teses cada)
apresenta maior freqncia de assuntos relacionados s Cincias Humanas e
Sociais, visto que registra a presena de categorias que se relacionam a
Filosofia, Sociologia, Comunicao, Educao, Histria, demonstrando que as
pesquisas da EF buscam em outras reas o referencial terico-metodolgico.
Ainda nesse grupo possvel localizar temticas tambm relacionadas
s Cincias da Sade como aquelas relacionadas Biomecnica e
Fisiologia. Esto presentes nesse grupo, tambm, as teses que buscam discutir
fundamentos e prticas desportivas.
A distribuio da freqncia das CT nas teses da Unicamp ajuda a
compreender e repensar o perfil da produo e, consequentemente, a sua
aproximao de uma Grande rea. Inicialmente, a distribuio das teses por
rea de concentrao revelou que o programa havia demonstrado uma
predominncia das reas que aproximam das Cincias da Sade. Contudo,
naquela anlise foram eliminadas 33 teses, por no apresentarem a informao
necessria para inseri-las no conjunto. J na anlise das teses por linhas de
pesquisa, o levantamento indicava uma predominncia daquelas relacionadas
187
s Cincias Humanas, pelo fato de 47 trabalhos no registrarem a informao
sobre a linha.
No levantamento das temticas, ao propor a mesma aproximao das
anlises anteriores, verifica-se que h um equilbrio entre as duas reas, tendo
em vista que aquelas que discutem temticas que se aproximam das Cincias
Humanas e Sociais somam 83 teses e aquelas que enfocam assuntos na
interface com a sade somam 78. Dessa forma, o mapeamento temtico
demonstrou que a Unicamp reflete as caractersticas iniciais de distribuio
verificadas para a rea que sugerem um equilbrio entre a utilizao dos
referenciais de outras reas. Na verdade, em funo de responder por 48% das
teses analisadas, era esperado que as caractersticas do programa
influenciassem tendncia da rea.
Verifica-se, portanto, a partir desse levantamento que, mesmo com as
alteraes empreendidas pelo programa, a rea que busca enfocar o estudo
dos aspectos socioculturais e pedaggicos da EF, esporte e lazer, demonstra
boa produo. Cabe saber se, nos prximos anos, o programa manter essa
caracterstica, visto que optou pela diminuio de reas e linhas que
apresentam interface com as humanidades e abriu maior espao para aquelas
que se relacionam com a sade, fazendo com que a entrada de novos alunos
seja menor para a primeira rea.
Para anlise da relao entre a temtica das teses e rea de
concentrao eliminei 33 teses do conjunto da Unicamp, em funo de essas
no apresentarem informao sobre a rea de concentrao em que foram
defendidas. As demais (128) esto relacionadas na tabela abaixo.
188
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
8
3
1
1
3
1
2
1
1
1
1
9
1
3
1 1
4
1
1
1
1
1
8
1
3
5
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
3
4
1
4
3
1
10
1
2
0 5 10 15 20 25 30
Pedagogia do Movimento
Estudos do Lazer
Educao Motora
Educao Fsica e Sociedade
Cincias do Esporte
Cincias do Desporto
Biodinmica do Movimento Humano
Atividade Fsica, Adaptao e Sade
Atividade Fsica e Adaptao
CT 1 CT 2 CT 3 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT 11 CT 14 CT 15 CT 16 CT 17
CT 18 CT 19 CT 21 CT 22 CT 24 CT 25 CT 26 CT 27 CT 28 CT 29
Grfico 26- Relao entre as temticas das teses da Unicamp e reas de Concentrao do programa
189
No conjunto analisado, apenas sete teses no demonstram coerncia
com a proposta da rea de concentrao registrada.
A rea Atividade Fsica e Adaptao busca enfocar as adaptaes
cardiorrespiratrias e metablicas ao exerccio; a organizao da educao e
esporte para pessoas portadoras de deficincia e estudos sobre a postura
humana. Dessa forma, destaco que uma das teses no apresenta relao com
a proposta, visto que discute o processo de espetacularizao do voleibol. A
tese que foi classificada como da CT 8 apresenta coerncia, pois trata da
elaborao de um modelo de incluso digital que discute a relao entre
atividade fsica e sade.
Na rea Atividade Fsica, Adaptao e Sade que enfoca o estudo dos
processos adaptativos e de promoo e proteo da sade relacionados com a
prtica da atividade fsica em suas diversas representaes sociais, dezenove
teses no apresentam coerncia com as temticas abarcadas pela rea.
Na rea Biodinmica do Movimento, as trs teses apresentam relao
com a rea que enfoca estudos relacionados bioqumica do exerccio, aos
mtodos e tcnicas biomecnicos e ao estudo da atividade fsica e dos ajustes
e adaptaes cardiorrespiratrias.
Legenda:
CT 1 Anatomia/Antropometria/Medidas e Avaliao
CT 2 Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 5 - Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 6- Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 - Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 8 - Comunicao/Informao/Informtica
CT 9- Dana e Atividades Rtmicas
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 12 - Epistemologia/ Cincia
CT 14 Estudos Culturais
CT 15 - Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 18 - Fundamentos da Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/ Avaliao da
Aprendizagem
CT 19 - Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 22 - Organizao/Gesto
CT 23 - Pesquisa/Ps-Graduao
CT 24 - Poltica/Poltica Publica
CT 25 - Prtica desportiva/Fundamentos desportivos
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 - Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 - Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
190
Das teses que foram desenvolvidas na rea Cincias do Desporto que
pensa a relao entre desporto, sade e educao e tambm o estudo do
treinamento desportivo, quatro no apresentam relao com essa proposta. J
na Cincias do Esporte, as duas teses demonstram relao com a rea que
priorizou estudos sobre atividade fsica e/ou performance humana e a
pedagogia do esporte.
Na rea Educao Fsica e Sociedade uma tese trata das mudanas nas
variveis de aptido fsica numa equipe de futebol e, por isso, no apresenta
relao com a proposta que busca concentrar temticas ligadas EF escolar,
corpo e EF, esporte, lazer e sociedade. Tambm na Pedagogia do Movimento
possvel localizar uma tese que no apresenta relao com a rea, pois
prope um programa de atividades fsicas para idosos.
Das teses defendidas na rea Educao Motora - que enfatiza
pesquisas relacionadas ao desenvolvimento e adaptao motora,
biomecnica e a pedagogia do movimento - apenas uma aborda temtica que
no est diretamente relacionada com a proposta. Diferente situao
verificada na rea Estudos do Lazer que objetiva estudar as relaes entre o
lazer e diferentes contextos da sociedade, alm de enfocar as polticas e
diretrizes de ao no campo do lazer, em que todas as teses apresentam
coerncia com a proposta.
Dentre as temticas enfocadas pela rea Pedagogia do Movimento
inserem-se o estudo da corporeidade, a educao fsica escolar, os estudos
neurolgicos e psicolgicos na educao motora e no esporte, alm da
pedagogia do esporte. Nesse sentido, todas as teses esto em acordo com a
proposta.
Os dados aqui apresentados corroboram os documentos de avaliao
da CAPES que, ao longo dos anos, apontou a necessidade de ajustes nas
reas de concentrao do programa, tendo em vista que, das nove reas
avaliadas, seis apresentaram produo no compatvel com a proposta.
A fim de permitir melhor visualizao, os dados da relao entre
temtica das teses e linha sero apresentados em dois grficos que esto
apresentados a seguir.
191
1
1
1
1 5
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
2 1 2
1
1
1
2
2 2
1
1
1
1
1
0 3 6 9 12 15
Estudo da postura humana
Esporte e sociedade
Educao Fsica para pessoas portadoras de deficincia
Educao fsica escolar
Desporto, sade e educao
Desenvolvimento e adaptao motora
Desenvolvimento corporal no contexto da sociedade e cultura
Corporeidade
Corpo e educao fsica
Contextos culturais do lazer
Atividade fsica para grupos com necessidades especiais
Atividade fsica e performance humana
Atividade fsica e os ajustes e adaptaes cardiorrespiratrias
As inter-relaes do lazer
Adaptaes cardiorrespiratrias e metablicas ao exerccio fsico
CT 1 CT 2 CT 3 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT 11 CT 12 CT 14 CT 15
CT 16 CT 17 CT 18 CT 19 CT 21 CT 22 CT 24 CT 25 CT 26 CT 27 CT 28 CT 29
Grfico 27 - Relao entre as temticas das teses da Unicamp e Linhas de Pesquisa do programa (1)
192
1
2
5
1
1
3
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1
1
1 2
1 1
1
3
6
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Teoria do treinamento
Sade coletiva, epidemiologia e atividade fsica
Qualidade de vida, sade coletiva e atividade fsica
Pessoas com necessidades especiais: aspectos da atividade fsica e
da imagem corporal
Pedagogia do movimento
Pedagogia do esporte
Lazer e sociedade
Inteligncia corporal cinestsica
Instrumentao e metodologia biomecnica
Imagem corporal e movimento
Formao de professores e mercado de trabalho
Estudos neurolgicos e psicolgicos na educao motora e no
esporte
CT 1 CT 2 CT 3 CT 5 CT 6 CT 7 CT 8 CT 9 CT 10 CT 11 CT 12 CT 14 CT 15
CT 16 CT 17 CT 18 CT 19 CT 21 CT 22 CT 24 CT 25 CT 26 CT 27 CT 28 CT 29
Grfico 28 - Relao entre as temticas das teses da Unicamp e Linhas de Pesquisa do programa (2)
193
Inicialmente, lembro que, em funo de 47 teses no informarem a linha
em que foram desenvolvidas, o universo aqui comporto por 114 trabalhos.
Em funo do grande nmero de linhas, fao a opo de comentar somente
aquelas que registram mais de uma tese.
A linha Adaptaes cardiorrespiratrias e metablicas ao exerccio fsico
prope o estudo das respostas das variveis cardiorrespiratrias ao exerccio
fsico, bem como os efeitos do treinamento fsico em estgios fisiolgicos
distintos. Em funo disso, as teses desenvolvidas apresentam compatibilidade
com a proposta.
Na linha As inter-relaes do lazer, apesar da disperso, todas as teses
so coerentes com a proposta que trata do estudo do lazer abrangendo o
descanso, o divertimento e o desenvolvimento humano, considerando as
diferenas de faixa etria, gnero ou grupos sociais e suas relaes com outras
dimenses da atividade humana, tais como trabalho, educao e ecologia.
Envolve, tambm, o estudo dos contedos culturais do lazer. Nota-se que a
ampla possibilidade de pesquisas faz com que haja grande disperso das
temticas desenvolvidas.
Legenda
CT 1 Anatomia/Antropometria/Medidas e Avaliao
CT 2 Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 5 - Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 6- Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 - Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 8 - Comunicao/Informao/Informtica
CT 9- Dana e Atividades Rtmicas
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 12 - Epistemologia/ Cincia
CT 14 Estudos Culturais
CT 15 - Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 18 - Fundamentos da Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/ Avaliao da
Aprendizagem
CT 19 - Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 22 - Organizao/Gesto
CT 23 - Pesquisa/Ps-Graduao
CT 24 - Poltica/Poltica Publica
CT 25 - Prtica desportiva/Fundamentos desportivos
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 - Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 - Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
194
Na linha Corpo e Educao Fsica que enfoca o corpo como objeto
histrico e de visibilidade entre a natureza e a cultura e a produo das prticas
corporais, uma tese no apresenta relao, pois trata, como assunto principal,
a CT 29.
Das duas teses desenvolvidas na linha Corporeidade, uma que trata da
CT 15 (Filosofia/Corporeidade) como assunto principal apresenta relao com
a linha que relaciona o discurso dinmico do corpo e de suas expresses nas
dimenses motora, simblica, esttica e existencial. A outra, por enfocar a CT
26 , no apresenta coerncia com a proposta.
Na linha Desenvolvimento Corporal no Contexto da Sociedade e Cultura
so identificados quatro temticas. Considerando que a linha estuda a
atividade fsica numa dimenso histrica e antropolgica enfocando as
representaes sociais, o lazer, de diferentes grupos tnicos e idades, apenas
a tese que traz como assunto principal a CT 6 no atende aos objetivos da
linha.
A linha Desenvolvimento e Adaptao Motora prope estudos com
enfoque neurocomportamental, com observao de diferentes mecanismos que
envolvem o desenvolvimento motor durante seu ciclo de vida. Dessa maneira,
apresenta relao com apenas uma tese produzida.
As teses da linha Desporto, sade e educao enfatizam quatros
diferentes temticas. Dentre essas, aquelas que se relacionam CT 17 no
apresentam relao com a proposta que trata do estudo dos fatores que
influenciam as modificaes e alteraes orgnicas no desporto, alm de se
interessar pelo desporto como fenmeno social e pelos fatores referentes a
sade que influenciam diretamente no desporto. As demais apresentam
coerncia.
Na linha Educao Fsica escolar que estuda os fundamentos e
implicaes da EF no mbito escolar, todas as teses apresentam relao com
a linha por enfocarem as temticas: CT 11, CT 17, CT 18 (Fundamentos da
Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/ Avaliao da Aprendizagem) e CT
27 (Recreao/Lazer/Jogo).
J na linha Educao Fsica para pessoas portadoras de deficincia das
oito teses, seis que abordam a CT 6 e uma que aborda a CT 18 apresentam
relao com a proposta da linha que de estudar o conjunto de prticas de
195
interveno e de investigao que, no mbito da motricidade, sero utilizadas
em populaes portadoras de deficincias, com objetivos teraputico,
pedaggico, recreativo, de manuteno ou de competio. As teses que
abordam as CT 5 (Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo) e
CT 7 no so compatveis com a proposta.
Na linha Esporte e sociedade que analisa o esporte e suas relaes na
sociedade e realiza estudos pedaggicos do esporte e suas aplicaes nos
vrios ambientes todas as teses abordam assuntos contemplados por esta
proposta.
A linha Estudo da postura humana enfoca os processos adaptativos da
postura corporal humana levando em considerao o meio que o circunda,
apresentando, portanto, relao com apenas um estudo realizado.
J a linha Estudos Neurolgicos e Psicolgicos na Educao Motora e
no Esporte enfoca os fenmenos neurolgicos e psicolgicos relacionados com
os processos pedaggicos na educao motora e no esporte e no evidencia
relao com as teses desenvolvidas que abordam como temtica principal a
CT 5, CT 11 e CT 17.
Na linha Formao Profissional e Mercado de Trabalho o objetivo
estudar a formao dos profissionais de EF em relao ao mercado de trabalho
existente, com o estabelecimento dos perfis necessrios sociedade e o
planejamento de currculos e programas disciplinares. Portanto, as quatro teses
enfocam temtica contemplada pela proposta, demonstrando-se coerentes.
As teses da linha Imagem corporal e movimento que trata das
investigaes relacionadas imagem corporal, numa perspectiva
multidimensional, no apresentam relao com a proposta.
A linha Instrumentao e metodologia biomecnica congrega projetos de
pesquisa em mtodos e instrumentao, medio e processamento de dados,
modelagem por computador, ensino de biomecnica, apresentando uma
produo coerente com sua proposta.
Na linha Lazer e Sociedade, as trs teses abordam a CT 27 como
assunto principal, evidenciando a relao com a linha que enfoca o lazer
abordando os diferentes aspectos ligados a grupos sociais, gnero e suas
relaes com outras esferas da vida humana e do meio ambiente, alm de se
interessar pelo estudo das polticas de lazer para os setores pblico e privado.
196
Na linha Pedagogia do Esporte que pesquisa estratgias de ensino e
aprendizagem para a prtica de esportes e habilidades motoras vinculadas s
diferentes etapas do crescimento e desenvolvimento do indivduo e desenvolve
programas para o ensino formal ou no formal, apenas uma tese apresenta
relao, por abordar a CT 25 (Prtica desportiva/Fundamentos desportivos).
Aquela que foi classificada na CT 26 no apresenta relao, pois discute
aspectos relacionados ao esporte de rendimento.
Tambm na linha Pedagogia do Movimento possvel verificar a
disperso dos temas, na medida em que nas seis teses foram identificados seis
assuntos diferentes. A proposta enfoca a questo pedaggica da educao
motora envolvendo a formao do conhecimento, os processos de educao, a
aprendizagem e o ensino, atravs da descrio, anlise, reflexo e
conhecimento da motricidade em situaes especficas da EF e, em funo
disso, apenas duas teses apresentam como assunto principal temtica
relacionada com a linha (CT 3 e CT 17).
Na linha Pessoas com necessidades especiais: aspectos da atividade
fsica e da imagem corporal foram identificados trs assuntos nas seis teses.
Apenas as teses da CT 6 enfocam como temtica principal assuntos
relacionados com a linha que investiga interveno e de investigao, no
mbito da atividade fsica e da imagem corporal, que possam aplicadas em
grupos com necessidade especiais.
Das oito teses da linha Qualidade de Vida, Sade Coletiva e Atividade
Fsica que enfoca a atividade fsica e sua influncia sobre os processos
adaptativos e da promoo e proteo especfica da sade, considerando os
estados subjetivos de sade, apenas seis teses - cinco da CT 5 e uma da CT
29 - demonstram coerncia entre o assunto principal e a proposta. As demais,
no abordam, como assunto principal, assuntos relacionados linha.
Das quatorze teses defendidas na linha Teoria do Treinamento
Desportivo que estuda as diferentes respostas dos sistemas orgnicos como
fator de melhoria do rendimento desportivo e as avaliaes motoras aplicadas
ao treinamento desportivo, trs teses no apresentam relao com a linha em
funo de suas temticas abordarem a CT 5 e CT 17 . As demais enfocam
como assunto principal as CT 16, CT 21, CT 25 e CT 29, demonstrando
coerncia.
197
Nessas 21 linhas, quatorze registram teses que no abordam temticas
compatveis com sua proposta. Mais uma vez, os dados ajudam a
compreender as constantes alteraes e ajustes promovidos pelo programa ao
longo do perodo estudado. Contudo, quantitativamente, h um maior nmero
de teses que apresentam coerncia com a proposta das linhas em que foram
desenvolvidas.
Pude observar, ainda, que em algumas linhas h grande disperso de
temas, evidenciando que elas apresentam um aspecto guarda-chuva que, no
meu entendimento, contrrio s orientaes para a organizao das mesmas
que devem apresentar especificidades a fim de diferenciar de outras. Assim,
identifico na Unicamp linhas pouco ajustadas que revelam as dificuldades
encontradas em determinar um eixo articulador para as discusses.
6.7.3 Mapeamento temtico das teses UGF
As 63 teses da UGF demonstram variedade dos assuntos tratados por
meio da identificao de quinze diferentes CT, como exposto no grfico a
seguir.
198
3
17
6
1
1
1
1
9
1
1
7
1
2
2
4
1
4
1
CT 29
CT 28
CT 27
CT 26
CT 23
CT 22
CT 21
CT 19
CT 18
CT 17
CT 16
CT 15
CT 14
CT 13
CT 11
CT 9
CT 5
CT 2
Grfico 29 Mapeamento temtico das teses da UGF
Os dados informam que, das quatro temticas mais abordadas, trs (CT
28 (Sociologia/Sociologia do Esporte), CT 19 (Histria/Historia da Educao
Fsica/Histria da Educao) e CT 27) corroboram o perfil do programa e
indicam que as pesquisas tm buscado em reas das humanidades o aporte
para o tratamento de seus objetos. Essas pesquisas, no geral, enfocam o
imaginrio e as representaes sociais, reunindo tpicos associados ao
esporte, na interface com a cultura, alm da interveno educativa no campo
Legenda:
CT 2 Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural
CT 5 - Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 9- Dana e Atividades Rtmicas
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 13 - Esportes Comunitrios
CT 14 Estudos Culturais
CT 15 - Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 18 - Fundamentos da Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/ Avaliao da
Aprendizagem
CT 19 - Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 22 - Organizao/Gesto
CT 23 - Pesquisa/Ps-Graduao
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 - Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 - Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
199
do lazer, da educao fsica e do esporte. Identificam-se, tambm, estudos em
olimpismo, focalizando realizaes brasileiras nesta rea.
J as temticas CT 16 e CT 5 englobam pesquisas que buscam, no
quadro da sade/qualidade de vida, elaborar propostas e sugestes para a
melhoria da qualidade de vida e sade dos praticantes de esportes;
estabelecer os fatores relacionados ao treinamento contra resistncia e de que
maneira interferem nos ganhos de fora e de resistncia muscular de jovens,
adultos e idosos, de ambos os sexos.
Mesmo que o programa tenha apresentado a abordagem de dezoito CT
diferentes, nove delas aparecem em apenas uma tese, indicando que h um
grupo de assuntos que vem sendo mais enfocados pelo programa. A presena
dessas nove CT pode estar relacionada realizao de projetos especficos, j
que no podem ser entendidos como foco das pesquisas realizadas.
A partir dos dados, constato que o programa apresenta-se consolidado
em termos de definio de seu eixo conceitual articulador, evidenciado aqui
pela sua produo, tendo em vista que possvel constatar que essa trata das
prticas de atividades fsico-esportivas nas perspectivas sociocultural e da
interveno pedaggica e da qualidade de vida, como aspecto geral.
A anlise da relao entre rea de concentrao e temas abordados nos
trabalhos permitem afirmar a coerncia demonstrada por meio da tabela
abaixo.
200
1
3
11 4 2 2 1
7
11 9
1
11
1
6 17
3
0 10 20 30 40 50 60
Educao Fsica e
Desempenho
Educao Fsica e
Cultura
CT 2 CT 5 CT 9 CT 11 CT 13 CT 14 CT 15 CT 16 CT 17 CT 18
CT 19 CT 21 CT 22 CT 23 CT 26 CT 27 CT 28 CT 29
Grfico 30 - Relao entre temtica das teses da UGF e reas de Concentrao do
programa
Os dados demonstram que apenas uma tese da UGF no apresenta
coerncia entre a temtica abordada e a rea de concentrao, tendo em vista
o trabalho enfocou, como assunto principal, o envelhecimento e foi
desenvolvido na rea Educao Fsica e Cultura. Os demais trabalhos
apresentam coerncia entre temtica abordada e rea. Na anlise das linhas
de pesquisa, eliminei um registro em funo de no haver indicao da linha.
As demais esto distribudas conforme demonstrado abaixo.
Legenda:
CT 2 Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural
CT 5 - Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 9- Dana e Atividades Rtmicas
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 13 - Esportes Comunitrios
CT 14 Estudos Culturais
CT 15 - Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 18 - Fundamentos da Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/ Avaliao da
Aprendizagem
CT 19 - Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 22 - Organizao/Gesto
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 - Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 - Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
201
1
1
1
2
1 1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1 1 1 1
1
2
1
1
7
1
1
6
1
1
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Variveis intervenientes e efeitos do treinamento contra-
resistncia
Representaes sociais da Educao Fsica, Esporte e
Lazer
Representaes de gnero na Educao Fsica, Esporte e
Lazer
Produo histrica na Educao Fsica, Esporte e Lazer
Pensamento pedaggico da Educao Fsica brasileira
Interveno profissional em educao fsica, esporte e
lazer
Identidades culturais da Educao Fsica, Esporte e
Lazer e Olimpismo
Gesto e anlise institucional em educao fsica,
esporte e lazer
Formao profissional em Educao Fsica, Esporte e
Lazer
Efeitos da atividade fsica sobre variveis
morfofuncionais do ser humano
Efeitos da atividade fsica sobre a sade na perspectiva
da qualidade de vida
Aspectos simblicos dos jogos e danas populares
Anlise institucional em educao fsica, esporte e lazer
CT 2 CT 5 CT 9 CT 11 CT 13 CT 14 CT 15 CT 16 CT 17 CT 19 CT 21
CT 22 CT 23 CT 26 CT 27 CT 28 CT 29
Grfico 31 Relao entre temticas das teses da UGF e Linhas de Pesquisa do programa
202
Na anlise da relao entre a linha de pesquisa e as temticas enfocarei
aquelas que registram mais de uma tese. Assim, na linha Efeitos da atividade
fsica sobre a sade na perspectiva da qualidade de vida as teses apresentam
coerncia com a proposta apresentada que busca analisar os efeitos positivos
e negativos da prtica sistemtica ou no de atividades fsicas sobre os
indicadores de sade, na perspectiva da qualidade de vida
A linha Formao profissional em Educao Fsica, Esporte e Lazer
registrou trs teses que tambm revelam acordo com a proposta da linha que
busca caracterizar, analisar e/ou elaborar proposies de ordem conceitual,
curricular e metodolgica do processo de formao de licenciados e bacharis
em educao fsica.
As teses da linha Gesto e anlise institucional que busca caracteriza e
analisar polticas, programas e estruturas organizacionais e gerenciais de
instituies produtoras de conhecimentos e de prticas da educao fsica,
apresentam temticas coerentes com a proposta.
J a linha Identidades culturais da Educao Fsica, Esporte e Lazer e
Olimpismo, com maior nmero de trabalhos, tambm revela coerncia entre as
teses e sua proposta que aborda a anlise das identidades como construes
histricas, tendo como foco as prticas de atividades fsico-esportivas na
educao fsica, no esporte, no lazer e no olimpismo.
Das duas teses da linha Interveno profissional em educao fsica,
esporte e lazer, apenas uma apresenta coerncia com a proposta que tem
como objetivo analisar a forma e os elementos didtico-pedaggicos
Legenda:
CT 2 Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural
CT 5 - Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 9- Dana e Atividades Rtmicas
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 13 - Esportes Comunitrios
CT 14 Estudos Culturais
CT 15 - Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 19 - Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 22 - Organizao/Gesto
CT 23 - Pesquisa/Ps-Graduao
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 - Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 - Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
203
caracterizadores da interveno dos profissionais atuantes no ensino da
educao fsica, esporte e atividades fsico-esportivas na perspectiva do lazer.
Tambm h coerncia entre as teses desenvolvidas na linha
Pensamento pedaggico da Educao Fsica brasileira com a proposta que
busca analisar os conceitos e os elementos didtico-pedaggicos
caracterizadores da interveno de profissionais atuantes no ensino da EF e
das atividades fsico-esportivas, nas perspectivas da promoo da sade, do
alto rendimento e do lazer.
As teses da linha Produo histrica na Educao Fsica, Esporte e
Lazer revelam boa relao com a proposta que visa a resgatar e analisar a
memria documental e oral relacionada educao fsica, ao esporte e s
atividades de lazer, a partir do acervo disponvel, bem como da sua
reconstituio em funo da memria viva dos atores sociais.
A linha Representaes de gnero na Educao Fsica, Esporte e Lazer
busca analisar, sob a perspectiva de gnero, os discursos e as prticas de
atividades corporais, a partir da posio da mulher brasileira nessa realidade,
com vistas a subsidiar a interveno do profissional ed. fsica, esporte e lazer.
Portanto, as trs teses evidenciam a relao, pois tratam, a partir de diferentes
referenciais, a participao das mulheres em atividades corporais.
Das dezessete teses defendidas na linha Representaes sociais da
Educao Fsica, Esporte e Lazer, duas no apresentam coerncia com a
proposta que visa a interpretar as concepes e significados revelados por
sujeitos vinculados idealizao, ao ensino e/ou prtica de atividades fsico-
esportivas, a partir dos referenciais da sociolingstica, da sociologia, da
antropologia social e do imaginrio social, pois tiveram seus assuntos
classificados como CT 5 e CT 26.
A linha Variveis intervenientes e efeitos do treinamento contra-
resistncia busca analisar os efeitos do treinamento contra-resistncia e os
parmetros relacionados sade de diferentes grupos sociais e, em funo
disso apresenta relao com as teses que abordam a CT 16 e no apresenta
com a tese que aborda a CT 21 como assunto principal.
Nas nove linhas analisadas, trs apresentam teses que no enfocam,
com assunto principal, temticas contempladas por suas propostas. Assim,
percebo que a produo do programa revela coerncia com as linhas
204
demonstrando que os ajustes realizados ao longo do tempo conseguiram
atingir seus objetivos. Contudo, duas linhas apresentam grande disperso de
temticas indicando que possuem um aspecto guarda-chuva, abrigando
diferentes possibilidades de pesquisa.
6.7.4 Mapeamento temtico das teses da UFRGS
Nas 23 teses da UFRGS as foram identificadas onze diferentes
categoria temticas apresentadas abaixo.
2
2
2
1
1
1
1
1
7
4
1
CT 29
CT 21
CT 17
CT 16
CT 14
CT 12
CT 11
CT 10
CT 7
CT 6
CT 3
Grfico 32 Mapeamento temtico das teses da UFRGS
A anlise dos dados demonstra que as temticas mais abordadas se
aproximam de referenciais das Cincias da Sade (CT 6 e CT 7), estando
Legenda
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 6- Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 - Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 12 - Epistemologia/ Cincia
CT 14 - Estudos Culturais
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
205
presentes em onze teses e confirmando o perfil da produo evidenciado pela
distribuio nas reas e linhas. De fato, a classificao temtica dos trabalhos
repete a distribuio das teses por rea em que dezoito trabalhos estavam
relacionados s reas da sade e apenas cinco s humanidades.
Um conjunto de seis CT aparece em uma nica tese cada e outros trs
so abordados em dois trabalhos. Essa distribuio pode, ento, estar
relacionada quantidade de linha ou revelar disperso de assuntos.
Dessa maneira, a anlise da relao entre reas de concentrao e
temticas abordadas demonstra a seguinte situao:
1 3
1
7 1 1
1 1
1
2
2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Movimento Humano,
Sade e
Performance
Movimento Humano,
Cultura e Educao
CT 3 CT 6 CT 7 CT 10 CT 11 CT 12 CT 14 CT 16 CT 17 CT 21
Grfico 33 - Relao entre temticas das teses da UFRGS e reas de Concentrao
do programa
As teses da rea Movimento Humano, Cultura e Educao demonstram
coerncia entre os assuntos abordados e a proposta que busca priorizar as
representaes sociais do movimento humano e a formao de professores e
Legenda:
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 6 - Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 - Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 12 - Epistemologia/ Cincia
CT 14 Estudos Culturais
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 21- Nutrio/Obesidade
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
206
prtica pedaggica, com exceo daquela que apresentou como assunto
principal a CT 6.
Visto que a rea Movimento Humano, Sade e Performance tem como
objetivo desenvolver estudos sobre as relaes entre atividade fsica e sade,
atividade fsica e performance, alm de se interessar pela anlise biomecnica
do movimento e do desenvolvimento motor, os dados confirmam que as
pesquisas realizadas atendem a esses objetivos. Apenas uma pesquisa no
apresenta relao, j que se interessa pelos paradigmas do conhecimento
cientfico relacionados EF escolar.
A anlise da relao com as linhas apresentada abaixo.
1
1
1
2
2
5
1
1
1 1
1
2
2
1
1
0 2 4 6 8 10 12
Representaes sociais do movimento
humano
Neuromecnica do movimento humano
Movimento humano e portadores de
necessidades especiais
Formao de professores e prtica
pedaggica
Desenvolvimento da coordenao e do
controle motor
Atividade fsica e sade
Atividade fsica e performance
CT 3 CT 6 CT 7 CT 10 CT 11 CT 12 CT 14 CT 16 CT 17 CT 21 CT 29
Grfico 34 - Relao entre temticas das teses da UFRGS e Linhas de Pesquisa do
programa
Legenda:
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 6 - Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 - Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 12 - Epistemologia/ Cincia
CT 14 Estudos Culturais
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 21- Nutrio/Obesidade
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
207
O grfico demonstra que na linha Atividade fsica e performance as
teses so contempladas pela proposta que busca absorver projetos de
pesquisa de natureza biolgica, bem como no desenvolvimento, aprendizagem,
treinamento e performance motora de homens e mulheres de diferentes nveis
de habilidade e procedncia sociocultural.
As teses da linha Atividade fsica e sade, com exceo da que aborda a
CT 11 como assunto principal, apresentam relao com o objetivo proposto
que de desenvolver pesquisas de natureza biolgica com desdobramentos
nas relaes entre o movimento humano e seus efeitos preventivos
teraputicos e de reabilitao de patologias cardiovasculares, endcrinas,
respiratrias e imunolgicas.
Na linha Desenvolvimento da coordenao e do controle motor que
estuda os processos de aquisio e manuteno das habilidades motoras e os
processos coordenativos e de controle do movimento em pessoas tpicas e
portadoras de necessidades educativas especiais, as duas teses revelam
coerncia com a proposta. Da mesma forma, as duas teses da Formao de
professores e prtica pedaggica que compreende os estudos sobre a prtica
pedaggica escolar e no escolar apresentam coerncia entre o assunto
principal tratado e a proposta da linha.
A linha Neuromecnica do movimento humano destina-se a investigao
dos princpios e/ou mecanismos responsveis pela estruturao do movimento
em seus aspectos biomecnicos, apresentando, portanto, coerncia com
apenas uma das teses. A outra apresentou como assunto principal a CT 29,
no estando contemplado nessa proposta.
Das duas teses da linha Representaes sociais do movimento humano
que trata das relaes do movimento humano e as representaes sociais que
os sujeitos e grupos sociais constroem ao se movimentar, apenas uma
evidencia relao com a linha. A que trata da CT 12 no enfoca temtica
prevista na proposta.
Nas seis linhas avaliadas, trs registram trabalhos que no enfocam
como temtica principal de suas anlises, assuntos contemplados pela
proposta da linha. Contudo, trata-se de trs teses em um universo de 23, o que
demonstra que h boa coerncia da produo com as linhas. Apenas na linha
208
Atividade Fsica e Sade possvel perceber a disperso de assuntos,
evidenciando seu carter guarda-chuva.
6.7.5 Mapeamento temtico das teses da UNESP
O mapeamento temtico das teses da UNESP revelou a presena de
seis CT, nas 25 teses analisadas, como exposto abaixo
12
1
3
3
4
2
CT 29
CT 21
CT 16
CT 10
CT 7
CT 6
Grfico 35 Relao entre temticas das teses da UNESP e Linhas de Pesquisa do
programa
H evidente superioridade da CT 29 que aparece em 48% da produo
demonstrando que os trabalhos buscam enfocar diferentes aspectos do
treinamento fsico e do treinamento esportivo que so abordados em diferentes
linhas do programa.
Considerando que todas as teses foram defendidas na rea Biodinmica
da Motricidade Humana, nota-se que todos os assuntos so contemplados em
sua proposta que trata visa estudar a relao entre variveis internas e
Legenda
CT 6 Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 Desenvolvimento Motor
CT 16 Fisiologia
CT 21 Nutrio/Obesidade
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
209
externas na execuo de aes motoras, alm de enfocar as adaptaes
biolgicas morfofuncionais, biomecnicas, comportamentais e de controle
neuromotor, em resposta s diferentes condies fisiolgicas, patolgicas,
farmacolgicas e ambientais no contexto da prtica da atividade fsica aguda
e/ou crnica.
A anlise da relao entre os assuntos enfocados e as linhas
apresentada abaixo.
1
1
2
2 3
2
1
1 2
2
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mtodos de Anlise Biomecnica
Fisiologia Endcrino-Metablica do Exerccio
Coordenao e Controle de Habilidades
Motoras
Atividade Fsica e Sade
Aspectos Biodinmicos do Rendimento e
Treinamento Esportivo
CT 6 CT 7 CT 10 CT 16 CT 21 CT 29
Grfico 36 - Relao entre temticas das teses da UNESP e Linhas de Pesquisa do
programa
Todas as oito teses defendidas na linha Aspectos Biodinmicos Do
Rendimento e Treinamento Esportivo apresentam relao com a proposta que
procura estabelecer modelos fisiolgicos e metablicos do desempenho
esportivo e suas implicaes para o treinamento fsico.
As teses da linha Atividade Fsica e Sade que pesquisa os efeitos
agudos e crnicos da atividade fsica nos componentes isolados ou
multifatoriais determinantes da sade e focaliza a relao entre exerccio fsico
Legenda
CT 6 Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 10 Desenvolvimento Motor
CT 16 Fisiologia
CT 21 Nutrio/Obesidade
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
210
e hipertenso, nutrio, doenas coronarianas, etc., tambm enfocaram
temticas que so abarcadas pela proposta apresentada.
Na linha Coordenao e Controle de habilidades motoras as cinco teses
so coerentes com a proposta que examina os mecanismos e processos
subjacentes aquisio, realizao e refinamento das aes motoras ao longo
do ciclo vital, sob condies normais e atpicas.
Tambm as teses da linha Fisiologia Endcrino-Metablica e Exerccio
so coerentes com o objetivo que est voltado para o estudo das respostas
endcrino-metablicas do organismo frente s situaes de exerccio agudo ou
crnico, gravidez, estresse, obesidade, desnutrio, diabetes, hipertenso e
reparo tecidual.
Na linha Mtodos de Anlise Biomecnica as duas teses esto em
acordo com os objetivos que se referem ao estudo do movimento humano a
partir de conceitos biomecnicos, desenvolvimento e aplicando mtodos e
tcnicas de registro e anlise para situaes de treinamento e reabilitao.
Dessa maneira, todas as teses demonstram coerncias com as ementas
das linhas em que foram desenvolvidas. Assim como em outros programas,
possvel verificar disperso de assuntos em uma das linhas, indicando que ela
possui carter muito amplo.
6.7.6 Mapeamento temtico das teses da UCB
No programa da UCB foram identificados dois assuntos distintos, CT 6,
no trabalho que busca enfocar a prtica de exerccio fsico em grupos
especiais, e CT 26 na tese que tratou do perfil psicolgico de atletas brasileiros.
Portanto, consta-se que h relao entre os assuntos e a rea de
concentrao Atividade fsica e sade. A linha Aspectos Biolgicos
Relacionados a Atividade Fsica e Sade procura investigar as mudanas
fisiolgicas fundamentais e as adaptaes agudas e crnicas que ocorrem no
corpo humano em diferentes tipos de exerccio evidenciando a relao com
tese nela desenvolvida.
211
J a linha Aspectos Scio-Culturais e Pedaggicos Relacionados a
Atividade Fsica e Sade que procura equacionar questes relacionadas a
atividade fsica e sade no intuito de incorporar um significado mais abrangente
que permita exprimir de forma mais objetiva a multiplicidade de aspectos scio-
culturais e pedaggicas no apresenta coerncia com o assunto abordado na
tese.
A anlise dos resultados sobre a compatibilidade da produo dos seis
programas coma as linhas de pesquisa possibilita uma viso mais ampla do
conhecimento produzido e revela que h boa coerncia entre os assuntos
abordados nos trabalhos e as linhas em que foram desenvolvidos.
Contudo, somente no programa da UNESP no foram identificadas
teses que no enfocam temticas contempladas nas linhas. Isso demonstra
que a rea ainda caminha no sentido de buscar melhor ajustes das propostas
entendendo que as linhas devem surgir da experincia de um grupo de
pesquisa e se constituir em uma grande questo de pesquisa, buscando evitar
que elas tornam-se temas pontuais e sem densidade por terem sido criadas
com o objetivo acomodar perfis diferenciados de doutores, com interesses de
pesquisas diferentes.
De modo geral, as temticas abordadas nas linhas de pesquisa esto
condizentes aos objetivos das mesmas. No entanto, constatou-se que, em
alguns casos, existem subcategorias que fogem do foco da linha, o que
provavelmente est relacionado a fatores que influenciam a escolha pessoal do
tema e, mais especificamente, s caractersticas acadmicas e de pesquisa de
determinados orientadores que fazem parte de cada linha. Seria, portanto,
interessante uma anlise do perfil dos docentes e de sua produo cientfica
em confronto com os temas das dissertaes/ teses que orientam como
subsdio para a avaliao das linhas de pesquisa desenvolvidas nos programas
de ps-graduao em EF.
Assim, evidencia-se a necessidade de encontrar o equilbrio entre as
propostas que podem ser entendidas como articuladoras e aquelas que
acabam por incorporar um aspecto guarda-chuva, em funo da amplitude de
sua proposta. E esta parece ser a grande dificuldade para os programas da
rea que pode ser resultado das tentativas de evitar que as reas fossem
formadas por um grande nmero de linhas - algumas muito especficas porque
212
pensadas a partir de um projeto de um nico professor e no de um grupo j
consolidado e da deciso de reunir as temticas que se aproximavam. Assim,
sados de uma posio caracterizada por um grande nmero de linhas muito
especficas, os programas passaram para uma posio caracterizada por um
pequeno nmero de linhas, mas muito amplas.
6.7.7 Mapeamento temtico das teses da Educao Fsica
A anlise das temticas abordadas nas teses defendidas nos seis
programas estudados possibilita conhecer sobre quais assuntos se pesquisa
na EF, demonstrando as reas que tm recebido maiores investimentos dos
pesquisadores, nos ltimos anos, e tambm aquelas que se apresentam pouco
exploradas. Assim, segue, abaixo, a apresentao das temticas.
213
43
22
19
7
6
3
1
3
8
13
5
27
25
9
5
2
3
21
15
3
2
29
28
17
8
3
6
CT 29
CT 28
CT 27
CT 26
CT 25
CT 24
CT 23
CT 22
CT 21
CT 19
CT 18
CT 17
CT 16
CT 15
CT 14
CT 13
CT 12
CT 11
CT 10
CT 9
CT 8
CT 7
CT 6
CT 5
CT 3
CT 2
CT 1
Grfico 37 Mapeamento temtico das teses defendidas nos programas estudados
Destaco, inicialmente, que apenas dois assuntos no foram abordados
pelo conjunto de 333 teses analisadas, a CT 4 (Arquitetura/Instalaes
Legenda
CT 1 Anatomia/Antropometria/Medidas e Avaliao
CT 2 Antropologia/Antropologia Social/Antropologia Cultural
CT 3 - Aprendizagem motora/Pedagogia do movimento
CT 5 - Atividade fsica e sade/Qualidade de vida/Sedentarismo
CT 6- Atividade fsica/ Desporto para grupos especiais
CT 7 - Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica
CT 8 - Comunicao/Informao/Informtica
CT 9- Dana e Atividades Rtmicas
CT 10 - Desenvolvimento Motor
CT 11 - Educao fsica escolar/ /Esporte escolar
CT 12 - Epistemologia/ Cincia
CT 13 Esportes Comunitrios
CT 14 Estudos Culturais
CT 15 - Filosofia/Corporeidade
CT 16 Fisiologia
CT 17 - Formao e atuao do professor/ Educao fsica e currculo
CT 18 - Fundamentos da Educao/ Teorias de ensino aprendizagem/ Avaliao
da Aprendizagem
CT 19 - Histria/Historia da Educao Fsica/Histria da Educao
CT 21 - Nutrio/Obesidade
CT 22 - Organizao/Gesto
CT 23 - Pesquisa/Ps-Graduao
CT 24 - Poltica/Poltica Publica
CT 25 - Prtica desportiva/Fundamentos desportivos
CT 26 - Psicologia/Psicologia do Esporte
CT 27 - Recreao/Lazer/Jogo
CT 28 - Sociologia/Sociologia do Esporte
CT 29 - Treinamento fsico/esportivo
214
esportivas) e CT 20 (Marketing) evidenciando que no houve interesse pelas
temticas.
Em funo do nmero de CT identificadas, proponho pensar em dois
grupos a partir dos dados apresentados no Grfico 37. Um primeiro, que
engloba as temticas com maior destaque, presentes entre 13 e 43 teses, e um
segundo grupo que aparece em trs ou menos teses. A proposta se faz pelo
fato de compreender que a anlise desses dois grupos permite a identificao
dos temas que receberam maior investimento na rea e aqueles que
receberam menor ateno.
Assim, no primeiro grupo, identifico a presena de onze temticas que
podem ser entendidas como as de maior interesse na rea. Destaca-se, nesse
grupo, a CT 29 que foi abordada por 12,9% das teses. Ajuda a justificar a sua
posio, o fato de a temtica perpassar os objetivos das reas e linhas de
todos os programas estudados, tendo se destacado nos programas da USP e
UNESP como a mais abordada. Somente no programa da UCB essa discusso
no foi identificada. Alm disso, a priorizao dessa temtica pode sugerir
maior articulao entre os conhecimentos produzidos na universidade e a
comunidade, alm da insero do profissional de EF em outros espaos, visto
que o interesse est voltado para conhecer, sobretudo, mtodos e resultados
do treinamento fsico e do treinamento desportivo.
Em seguida aparece a CT 7, abordada em 8,7% das teses, revelando a
interface da EF com subreas das Cincias da Sade. Ela aparece, tambm,
como segundo assunto mais abordado nos programas da USP e UNESP e
como o de maior freqncia na UFRGS. Somente os programas da UGF e da
UCB no registraram tese sobre o assunto. De fato, o interesse por discusses
que envolvam a Biomecnica pode ser notado a partir da organizao de
linhas, nos diferentes programas, que buscam enfocar a anlise do movimento
humano em suas estruturas bsicas relacionadas s atividades fsico-
esportivas e/ou atividades cotidianas.
A CT 6 est presente em 8,4% das teses cada, no sendo encontrada
apenas no programa da UGF e ganhando destaque no programa da UFRGS
com a segunda maior freqncia. A identificao dessa temtica evidencia que
as atividades para grupos especiais ganharam a ateno dos pesquisadores
215
que pode, tambm, ser notado pela presena de reas e linhas que trazem
essa preocupao.
A CT 17, temtica associada interface com as humanidades com maior
frequncia, apareceu como assunto principal em 8,1% das teses. Devo
ressaltar que contribuiu para isso o fato de ela aparecer como assunto de maior
freqncia na Unicamp, com o registro de 24 trabalhos. Nos programas da
USP, UNESP e UCB ela no constituiu tema de interesse das pesquisas. Sua
presena indica o desenvolvimento de estudos que se interessam pelo
processo de formao do professor de EF, visto que enfatiza discusses que
abordam a interveno e o currculo. Trata-se, sobretudo, de refletir sobre os
conhecimentos que tm servido de parmetro para a formao do profissional
da rea. Acredito, portanto, que o aparecimento dessa temtica est
relacionado ao debate sobre a legitimidade da EF como componente curricular
e sobre a formao profissional.
A CT 16 aparece em 7,5% das teses confirmando o interesse da rea
pelo dilogo com outras subreas que, nesse caso, resulta em pesquisas que
tratam da Fisiologia do exerccio, Fisiologia do esforo, etc. Aparece com maior
freqncia no programa da USP, no sendo identificada no programa da UCB.
Essa temtica sugere o interesse, sobretudo, pelos efeitos do exerccio fsico
no sistema cardiovascular, evidenciando as caractersticas de aplicao do
conhecimento produzido que pode servir de subsdio para o trabalho do
profissional de EF.
A CT 28, presente em 6,6% dos trabalhos, foi identificada em apenas
dois programas, Unicamp e UGF, que responsvel por dezessete, das 24
teses. Sua insero entre as CT com maior freqncia confirma que as
pesquisas da rea tambm tm buscado nas humanidades um referencial para
pensar seus objetos. Como informado anteriormente, possvel que essas
pesquisas sejam resultado da presena de profissionais com formao em
outras reas e com atuao nos programas da EF, como no caso da UGF.
O stimo tema mais tratado a CT11, presente em 6,3% das teses,
sendo destaque no programa da Unicamp, que registra dezesseis teses e no
aparecendo na USP, na UNESP e na UCB. Revela que os pesquisadores tm
se interessado por estudos que enfocam a EF como componente curricular e
216
pelas discusses a ela relacionadas, como contedos tratados, metodologias
utilizadas e sua legitimidade, etc.
Logo aps aparece o interesse pela CT 27 que revela a presena de
pesquisas que debatem a recreao e o jogo, alm de aspectos relacionados
ao lazer em 5,7% das teses. Em seguida, a CT 5 registrada em 5,1% e
reforando o interesse pela atividade fsica e sua relao com a sade e
indicando que os estudos tm buscado enfocar a possibilidade de, por meio da
realizao de atividades orientadas, melhorar a qualidade de vida dos
praticantes.
As duas categorias que seguem, CT 10, em 4,5% das teses, e a CT 19,
em 3,9%, ratificam a presena de subreas nas pesquisas da EF. De maneira,
geral entendo que o interesse pelo desenvolvimento motor aparece na medida
em que se reconhece a importncia desse processo ao longo da vida,
interferindo na capacidade motora do indivduo. Essas pesquisas, ainda, tm
servido de subsdio para o trabalho do professor de EF no ambiente escolar,
pelo fato de investigarem a aquisio das habilidades motora e dos padres de
movimentos, oferecendo elementos para a organizao do trabalho realizado.
J a CT 19 indica que existe o interesse pela abordagem histrica da rea.
Fazem parte do segundo grupo oito temticas que foram abordadas em
trs ou menos teses. Considerando que o universo tratado de 333 trabalhos,
ressalto que o percentual deve ser tomado como indcio de que esses so
temas de pouco interesse na rea. Chama a ateno, por exemplo, que apenas
uma pesquisa abordou assunto sobre pesquisa/ps-graduao e apenas duas
enfocaram a epistemologia/cincia. Assim, mesmo diante das dificuldades na
definio de sua identidade, h pouco investimento na realizao de estudos
que buscam enfocar o conhecimento produzido na rea, bem como sua
identidade e legitimidade, o que contribui para que o problema perdure.
A dana, os esportes comunitrios, a organizao e gesto, a
antropologia e as polticas pblicas tambm se apresentaram como temas
pouco explorados. Noto, portanto, que todo o universo formado por temticas
que se aproximam do dilogo com subreas das humanidades, indicando que
a falta de pesquisas sobre esses assuntos pode ser reflexo das constantes
modificaes realizadas nos programas que determinaram uma configurao
217
mais aproximada das Cincias da Sade, oferecendo, portanto, menor espao
para as pesquisas que enfocam os aspectos socioculturais da EF.
Contudo, seria necessrio a realizao de pesquisa que investigasse a
relao entre temticas ao longo dos anos, a fim de afirmar que essas
temticas desapareceram em funo das modificaes nos programas, ou se
nunca constituram interesse dos pesquisadores.
A distribuio dos assuntos por programa pode ser assim visualizada:
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
C
T
2
9
C
T
2
8
C
T
2
7
C
T
2
6
C
T
2
5
C
T
2
4
C
T
2
3
C
T
2
2
C
T
2
1
C
T
1
9
C
T
1
8
C
T
1
7
C
T
1
6
C
T
1
5
C
T
1
4
C
T
1
3
C
T
1
2
C
T
1
1
C
T
1
0
C
T
9
C
T
8
C
T
7
C
T
6
C
T
5
C
T
3
C
T
2
C
T
1
USP Unicamp UGF UFRGS UNESP UCB
Grfico 38 Temticas das teses analisadas por programa
Assim, a partir dos dados apresentados, possvel afirmar que h uma
predominncia de temticas relacionas s Cincias da Sade (187), refletindo,
portanto, as caractersticas das reas de concentrao e linhas de pesquisa
dos programas estudados. Alm disso, possvel afirmar o carter
multidisciplinar da rea, tendo em vista que h uma tendncia na realizao de
estudos interfaciados com outras reas do conhecimento.
Observo, portanto, a proximidade com objetos de conhecimento de
reas como fisiologia, psicologia, nutrio, sociologia, histria e educao que
resultam em desdobramentos como fisiologia do esporte, psicologia do esporte,
nutrio aplicada ao esporte, pedagogia do esporte, pedagogia do movimento,
sociologia do esporte, histria da educao fsica, etc. Isso se torna esperado
na medida em que a EF exibe uma diversidade de enfoques e perspectivas
218
tericas, com divises internas e olhares diferenciados por meio de diferentes
paradigmas.
A identificao de grande diversidade de temas no indica,
necessariamente, disperso, principalmente, se for considerado o nmero de
teses avaliadas, mas pode ser lida como interesse por diferentes aspectos e
abordagens possveis no universo da rea.
Na comparao com outras pesquisas realizadas na rea informo que os
resultados aqui encontrados se aproximam daqueles encontrados por Faria
Jnior, citado por Silva (1990), que verificou a predominncia das pesquisas
com enfoque biolgico e daquelas que ele denominou de enfoque tcnico
(63,8%), com nfase na biometria e no treinamento desportivo. Tambm
encontro pontos de aproximao com o estudo de Silva (1990) que identificou
que as temticas predominantes nas dissertaes por ela analisadas foram a
antropometria e aptido fsica; aprendizagem motora; ensino da educao
fsica; biomecnica e fisiologia do esforo; EF no 3 grau; lazer e recreao;
caractersticas dos professores de EF e tcnicos desportivos.
A pesquisa realizada por Kroeff (2000) apontou que os temas anatomia,
antropometria e medidas e avaliao; fisiologia; e biomecnica, cinesiologia,
cinemtica foram os mais abordados na produo cientfica por ela analisada.
Dessa maneira, destaco que a fisiologia e a biomecnica se repetem como
assuntos de destaque na rea, no estudo por mim realizado.
Essas comparaes permitem concluir que, de maneira geral, no houve
mudana no perfil das pesquisas realizadas na rea, mesmo com o registro do
interesse por temticas que discutem as caractersticas socioculturais da EF.
Em funo do que foi apresentado avalio que o Quadro Temtico
Referencial utilizado para a classificao proposta atendeu aos objetivos desta
pesquisa e percebo que as dificuldades enfrentadas na classificao dos
trabalhos se deram em funo das caractersticas peculiares da produo
analisada. Contudo, em funo de no existir um instrumento que seja
considerado completo para a avaliao realizada, sugiro que outros trabalhos
sejam realizados buscando propor ou validar instrumentos que sirvam de
parmetro para os estudos de anlise temtica da produo cientfica em EF.
219
CONSIDERAES FINAIS
De maneira geral, os dados analisados apontam que h uma
concentrao geogrfica na distribuio da ps-graduao na EF, com
predomnio de programas nas regies sul e sudeste do pas, havendo
necessidade de programas estrurantes para as demais regies. Alm disso,
aproximadamente 72% desses oferecidos so por instituies pblicas.
possvel afirmar, ainda, que h espao para a expanso da PG na rea, em
funo de nem todos os programas apresentarem cursos de doutorado.
No perodo estudado (1994-2008), foram produzidas, nos seis
programas analisados (USP, Unicamp, UGF, UFRGS, UNESP e UCB), 331
teses, com predomnio da Unicamp que registrou 161 defesas. No que
concerne sua organizao, os programas apresentam-se divididos em doze
reas de concentrao e 42 linhas de pesquisa. Essa fragmentao de linhas
pode ser indcio da dificuldade no estabelecimento da delimitao do campo,
evidenciando, tambm, sua caracterstica multidisciplinar.
O estudo sobre as temticas das teses determinou, tambm, o olhar
para a configurao dos programas de ps-graduao da rea, tendo em vista
que o objetivo foi buscar o dilogo com o contexto que constri o interesse
pelas temticas abordadas pelos pesquisadores. Em funo disso, entendo
que reas de concentrao e linhas de pesquisa precisam estar articuladas no
apenas com o marco epistemolgico dos programas, mas tambm com seus
projetos e pesquisas. Estando assim organizadas, podem ser tomadas como
norteadores e indicadores das prioridades e tendncias de cada programa e
podem, no conjunto, representar o mapa do conhecimento de uma rea.
Embora no tenha realizado um acompanhamento aprofundado das
mudanas realizadas nas reas e linhas que permitisse conhecer as mincias
das transformaes no decorrer do tempo, percebo que o quadro atual
evidencia a multiplicidade de abordagens e tendncias presentes no campo da
EF, pois ainda que os programas tenham apresentado uma tendncia de
organizao em torno de duas reas (cultura e biodinmica), o fazem a partir
de diferentes perspectivas, reveladas pelas linhas. pois, nesse contexto
220
epistemolgico, que deve-se refletir sobre o estgio atual da rea, seus
reflexos e horizontes.
Nesse sentido, o atual desenho dos programas da rea revela que a
definio de identidade acadmica ainda se impe como uma tarefa
desafiadora, sobretudo, pelo fato da possibilidade de enfoque de objetos cuja
compreenso no vem de uma disciplina, mas de vrias. Assim, penso que a
natureza epistemolgica da rea tambm serve para explicar a diversidade dos
programas que revelam sua caracterstica multidisciplinar, o seu carter de
campo fronteirio de conhecimentos e prticas.
A distribuio das teses nas reas de concentrao dos programas
revelou que o perfil da produo apresenta caractersticas que a aproximam
dos referenciais das Cincias da Sade, visto que 63,2% das produes
analisadas neste item pertencem a esse universo. Tambm na distribuio por
linha de pesquisa verifica-se o predomnio desses referenciais em 58,8% do
total analisado.
No levantamento das palavras-chave das teses identifiquei 733
diferentes termos, citados 1073 vezes. Um conjunto de 604 palavras foram
citadas apenas uma vez e outras 129 apresentaram freqncia maior que um.
Entre as mais citadas esto, Educao Fsica, esporte, lazer, Biomecnica,
formao profissional, sade, exerccio fsico.
Esse levantamento revelou a utilizao de uma linguagem prxima ao
senso comum e a utilizao de termos no especficos da rea. Isso evidencia
a carncia de uma linguagem de especialidade e pode, tambm, evidenciar
uma fragilidade conceitual. Considerando, portanto, que uma linguagem de
especialidade constitui um pressuposto para a constituio de qualquer campo
cientfico, se impe para a EF, a tarefa de pensar na estruturao de uma
linguagem que remeta a conceitos especficos, teorias, modelos e mtodos,
efetivamente, distintivos.
O mapeamento temtico demonstrou que os assuntos mais enfocados
foram: Treinamento fsico/desportivo (12,9%);
Biomecnica/Cinesiologia/Cinemtica (8,7%); Atividade fsica/desporto para
grupos especiais (8,4%); Formao e atuao do professor/Educao Fsica e
currculo (8.1%); Fisiologia (7,5%), Sociologia (6,6%); Educao Fsica
escolar/desporto escolar (6,3%); Recreao/Jogo/Lazer (5,7%); Atividade
221
fsica/Qualidade de vida/Sedentarismo (5,1); Desenvolvimento Motor (4,5%) e
Histria/Historia da Educao Fsica (3,9%). As temticas menos enfocadas
foram Pesquisa/Ps-Graduao (0,3%); Comunicao (0,6%) e Esportes
Comunitrios (0,6%).
Os dados demonstram que h um predomnio das temticas que
apresentam interface com a sade e, se comparados aos resultados de outras
pesquisas realizadas na rea, permitem afirmar que no houve uma
modificao no perfil epistemolgico da produo. O mapeamento demonstrou,
ainda, que as pesquisas buscam em outras reas do conhecimento os
referenciais para o tratamento dos seus objetos, confirmando que a EF
apresenta-se como rea epistemologicamente colonizada, visto que foram
identificadas pesquisas com temticas relacionadas Fisiologia, Biomecnica,
Aprendizagem Motora, Desenvolvimento Motor, Sociologia, Histria, Psicologia,
Educao, etc.
No processo de identificao das temticas, enfrentei dificuldades para a
determinao do assunto estudado. Destaco, portanto, que me parece haver
uma falta de critrios na elaborao dos ttulos, resumos e palavras-chave e
isso dificultou a anlise de algumas teses, despertando dvida sobre a temtica
abordada. Ressalto, ainda, que em muitos trabalhos identifiquei mais de um
assunto abordado. Contudo, fiz a opo por aquele que considerei o principal.
Em funo disso, uma possvel anlise de associao entre os assuntos no
pode ser realizada, de maneira que sugiro para estudos futuros essa
possibilidade, por considerar que ela permite melhor compreender as relaes
entre as temticas especficas da rea e o dilogo com outras reas do
conhecimento.
A avaliao permitiu perceber, ainda, que h boa coerncia entre as
temticas abordadas, as reas de concentrao e linhas de pesquisa em que
as teses foram desenvolvidas. Contudo, com exceo do programa da UNESP,
todos os demais apresentaram teses com temticas no contempladas pelas
propostas das linhas. Alm disso, em funo da excessiva abrangncia de
algumas linhas, h disperso das temticas abordadas nas linhas com registro
de vrios assuntos diferentes. Esse um problema encontrado em maior ou
menor grau em todos os programas.
222
Observei, ainda, que h baixa produo na maior parte das linhas e que
muitas no registram uma defesa por ano. Esse fato coloca para os programas
a necessidade de avaliar a criao de linhas para o atendimento das
perspectivas de um nico docente, j que elas precisam ser criadas em torno
de uma rea que rena o interesse de um grupo de pesquisadores,
demonstrando evidentes possibilidades de consolidao de uma produo.
De maneira geral, caracteriza os programas estudados, a excessiva
abrangncia das reas de concentrao em relao rea bsica e de
algumas linhas de pesquisa em relao s reas de concentrao, oferecendo
dificuldades para uma avaliao e para a produo. Enquanto as reas de
concentrao precisam ser relativamente estveis, as linhas de pesquisa
devem ter um ciclo definido de surgimento, consolidao e finalizao, ciclo
que ao ser fechado d abertura para a criao de novas linhas. No entanto, a
falta de diferenciao entre linhas de pesquisa e rea de concentrao faz com
que as linhas de pesquisa permaneam por muito tempo, prevalecendo uma
baixa produo.
Considero, ento, que os dados mostram indicadores importantes para
compreendermos o desenvolvimento cientfico da rea, temticas recorrentes e
cenrios de conhecimento nas subreas e nas grandes reas. Pode-se
observar aproximaes com as Cincias da Sade, bem como considerar a
dinmica do dilogo com as Cincias Humanas, impondo, portanto, a
necessidade de ampliar as compreenses de cincia, refletindo sobre as
limitaes do modelo classificatrio dos campos de saberes e de uma
demarcao disciplinar.
Dessa maneira, dos dados apresentados no estudo, diferentes aspectos
podem ser explorados, tendo em vista o desenvolvimento da atividade de
pesquisa em EF. As anlises apresentadas sobre a produo do conhecimento
na rea so denunciadoras do seu estgio de desenvolvimento cientfico,
sendo possvel identificar limitaes da rea.
Ainda que, ao identificar estudos que tiveram como foco a produo do
conhecimento na EF brasileira, Bracht (1993) tenha criticado os trabalhos
realizados na dcada de 1980 afirmando que eles apenas apresentavam uma
descrio e/ou identificao das subreas onde mais se concentrava a
pesquisa, a literatura da rea da Cincia da Informao tem demonstrado como
223
essas pesquisas se tornam cada vez mais importantes para o entendimento do
processo de constituio e institucionalizao de um campo.
Dessa forma, o estudo buscou mapear as temticas abordadas nas
pesquisas realizadas na EF no apenas com o objetivo de lotear o campo em
subreas, mas sim, com o intuito de dar a conhecer seu estgio de
desenvolvimento e reas que ainda necessitam ser estimuladas. Nesse
sentido, compreende-se que no reconhecer a importncia desses estudos
para o crescimento da rea demonstra, de imediato, dificuldade para
compreender que esses indicadores vm ganhando importncia crescente
como instrumentos para a anlise da atividade cientfica e suas relaes com o
desenvolvimento econmico e social e que sua construo tem sido
incentivada pelos rgos de fomento pesquisa como meio para se obter uma
viso acurada da produo de cincia, de modo a subsidiar a poltica cientfica
e avaliar seus resultados. Nesse sentido, possvel afirmar que
somente com dados objetivados podem ser justificadas e sustentadas
as decises sobre as polticas de pesquisa. Sua ausncia, no raro,
resulta em decises frgeis porque baseadas apenas em impresses
ou em cristalizao de posies que no encontram eco na dinmica
da criao cientfica. Tais decises acabam por engessar um campo
cientfico em lugar de promover seu desenvolvimento e consolidao
(KOBASHI; SANTOS, 2008, P. 113).
Assim, ao realizar o questionamento sobre os desafios que se colocam
para a rea no momento, penso, inicialmente, que h a necessidade de
aperfeioamento dos indicadores, sobretudo, daqueles que possam dar conta
de diferenciar os programas, respeitando suas caractersticas. Os dados aqui
levantados revelam uma rea que enfrenta srias dificuldades para sua
organizao e encontrar o caminho que acolha todas as perspectivas de
pesquisa, sem prejuzos para quaisquer uma, tem sido tarefa rdua para os
programas.
Nesse sentido, concordo com Mendes (2009, p. 7) ao afirmar que [...]
um dos desafios para a rea organizar o conhecimento com base numa
racionalidade ampliada que favorea o dilogo com diferentes lgicas de
compreenso, sem favorecer a hierarquizao de qualquer tipo de
conhecimento.
224
Assim, penso que se torna importante ponderar sobre o efeito
normatizador da avaliao em funo do risco de homogeneizao dos
programas. Corre-se o risco, ento, de distorcer e desvirtuar a prpria natureza
da ps- graduao e de pouco contribuir para o crescimento da rea. Essa, por
certo, apresenta-se como uma questo de difcil trato. Assim, penso que a
avaliao deve ser conduzida de forma a dar chance para que os programas
evoluam dentro de suas vocaes, respeitando suas caractersticas.
Entendo, portanto, que para a EF, a tentativa de ordenar e classificar
seu prprio universo temtico representa uma oportunidade para promover
uma reflexo mais aprofundada sobre seu arcabouo terico e as implicaes
deste sobre a atividade de pesquisa e de produo de novos conhecimentos.
Contudo, chama a ateno o fato de as categorias que tratam do
interesse pelas temticas pesquisa, ps-graduao, cincia, espistemologia e
que poderiam oferecer subsdios para enfrentar essas dificuldades,
aparecerem em apenas trs, das 333 teses defendidas ao longo dos quatorze
anos acompanhados. Esse contradio evidencia que a rea ainda carece de
pesquisas que possam pensar sobre suas questes toricas e conceituais.
Dessa maneira, ao adotar um ponto de vista metarreflexivo, esta pesquisa
buscou contribuir para esse exerccio, necessrio para a rea.
Por fim, gostaria de destacar que a construo de indicadores a partir
das bases de dados, necessita de padronizao desses, de modo a permitir
que os resultados sejam representativos da realidade. Assim, registro a grande
dificuldade encontrada para o tratamento dos dados aqui analisados. Nesse
sentido, recomendo que os programas de ps-graduao da rea passem a
exigir rigor na padronizao dos dados bibliogrficos das dissertaes e teses,
de forma a permitir que essa produo sirva de material para outras anlises
que busquem perceber suas caractersticas, mas, tambm, de maneira a
permitir que essa produo ganhe maior possibilidade de ser encontrada.
225
REFERNCIAS
ALBRECHT, R.F; OHIRA, M. de L. B. Bases de Dados: metodologia para
seleo e coleta de documentos. Revista ACD: Biblioteconomia em Santa
Catarina, v. 5, n. 5, 2000.
ARAJO, C. A. A. Classificao temtica para o mapeamento de campos
cientficos: estudo de caso na rea de comunicao social. In: VII Encontro
Nacional de Pesquisa em Cincia da Informao, 2006, Marlia. Anais
eletrnicos... Marlia, 2006. Disponvel em:
<http://www.portalppgci.marilia.unesp.br/enancib/program.php>. Acesso em: 20
dez. 2007.
ARAUJO, E. A. de; TENORIO, J. K. G.; FARIAS, S. N. de. A Pesquisa
Cientfica na Cincia da Informao: Anlise das dissertaes aprovadas no
curso de mestrado em Cincia da Informao - CMCI/UFPB no perodo de
1990/2001; Relatrio final: Joo Pessoa, 2003. Relatrio apresentado ao
CNPq.
AXT, M. O pesquisador frente avaliao na Ps-Graduao: em pauta novos
modos de subjetivao. Psicologia & Sociedade, v. 16, n. 1, p. 69-85, Nmero
Especial, 2004.
BARBOSA, I. C.; FERREIRA NETO, A. A insero do esporte na educao
fsica escolar (1932 - 1960). In: II Congresso de Educao Fsica e Cincias do
Esporte do Esprito Santo, 2004, Vitria. Anais... Vitria: Secretaria Estadual
do Colgio Brasileiro de Cincia do Esporte, 2004.
BARRETO, F. C. de S. Ps-Graduao Brasileira. Instituto de Estudos
Avanados da Universidade de So Paulo. 2004. Disponvel em:
<www.iea.usp.br/observatorios/educacao>. Acesso em: 20 dez. 2007.
BAZI, R. E. R.; SILVEIRA, M. A. A. Constituio e institucionalizao da
cincia: apontamentos para uma discusso. Transinformao, Campinas, v.
19, n. 2, 2007.
BETTI, M. Como impedir o desenvolvimento da educao fsica enquanto
cincia ou ciencideologia da educao fsica. Revista Brasileira de Cincias
do Esporte, So Paulo, v. 8, n. 2 e 3, jan./maio 1987.
226
BETTI, M. Por uma teoria da prtica. Motus corporis, Rio de Janeiro, v. 3, n.2,
1996.
______. Educao fsica escolar: do idealismo pesquisa-ao. 2002. 336 f.
Tese (Livre-Docncia em Mtodos e Tcnicas de Pesquisa em Educao
Fsica e Motricidade Humana), Faculdade de Cincias, Universidade Estadual
Paulista, Bauru, 2003.
BETTI, M.; et al. A avaliao da educao fsica em debate: implicaes para a
subrea pedaggica e sociocultural. Revista Brasileira de Ps-Graduao, n.
1, p. 183-194, 2004.
BORTOLOZZI, F.; GREMSKI, W. Pesquisa e ps-graduao brasileira:
assimetrias. Revista Brasileira de Ps-Graduao, v. 1, n. 2, p. 35-52, nov.
2004.
BOURDIEU, P. O campo cientfico. In: Sociologia. So Paulo: tica, 1983, p.
122-155. (Coleo Grandes Cientistas Sociais, 39).
______. A economia das trocas simblicas. So Paulo: Perspectiva, 3 ed.
1992.
______. Os usos sociais da cincia. Por uma sociologia clnica do campo
cientfico. So Paulo: Editora UNESP, 2004.
BRACHT, V. Educao fsica e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister,
1992.
______. As cincias do esporte no Brasil: uma avaliao crtica. In: FERREIRA
NETO, A.; GOELNNER, S.; BRACHT, V. (Orgs.). As Cincias do Esporte no
Brasil. Campinas: Autores Associados, 1995.
______. Epistemologia da educao fsica: um dilogo com Mauro Betti. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE CINCIAS DO ESPORTE, 10., 1997, Goinia.
Anais... Goinia. Colgio Brasileiro de Cincias do Esporte, 1997, v. 2, p.
1514-1520.
______. Educao Fsica & Cincia: cenas de um casamento (in) feliz. Iju:
Uniju, 1999.
227
BRACHT, V. Identidade e crise da Educao Fsica: um enfoque
epistemolgico. In: BRACHT, V.; CRISORIO, R. (Orgs.) A Educao Fsica no
Brasil e na Argentina. Identidade Desafios e Perspectivas. Campinas, SP:
Autores Associados, 2003.
______.Por uma poltica cientfica para a Educao Fsica com nfase na
ps-graduao. Texto apresentado como contribuio aos debates do Frum
Permanente de Ps-Graduao em Educao Fsica, Unicamp, 2006.
Disponibilizado em: < http://www.cbce.org.br/upload/cbce2.doc>. Acesso em:
18 set. 2006.
_______. O CBCE e a Ps-Graduao Stricto sensu da Educao Fsica
brasileira. In: CARVALHO, Y.M; LINHALES, M.A. (Orgs.) Poltica cientfica e
produo do conhecimento em Educao Fsica. Goinia: Colgio Brasileiro
de Cincias do Esporte. 2007.
BRANDAU, R.; MONTEIRO, R.; BRAILE, D. M. Importncia do uso correto dos
descritores nos artigos cientficos. Revista Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular, n. 20, v. 1, 2005.
BRISOLLA, S. N. Indicadores para apoio tomada de deciso. Cincia da
Informao, Braslia, v. 27, n. 2, p. 221-225, maio/ago. 1998.
BUFREM, L; PRATES, Y. O saber e as prticas de mensurao da informao.
Cincia da Informao, Braslia, v. 34, n. 2, p. 9-25, 2005.
CAMPOS, K. C. de L; WITTER, G. P. Anlise de ttulos do peridico
paradigma. In: WITTER, G. P. Produo cientfica em psicologia e
educao (Org.). So Paulo: Editora Alnea, 1999.
CANFIELD, J. T. A cincia do movimento humano como rea de concentrao
de um programa de ps-graduao. Revista Brasileira de Cincias do
Esporte, v.14, n.3, p.146-8, 1993.
CARAM, E. de M. Consideraes sobre o desenvolvimento da educao fsica
no ensino superior. Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Campinas, v.
4, n. 2, 1983
CARVALHO, Y. M.; MANOEL, E. Para alm dos indicadores de avaliao da
produo intelectual na grande rea da sade. Movimento, Porto Alegre, v.12,
n. 3, p. 193-225, set./dez. 2006.
228
CARVALHO, Y. M.; MANOEL, E. O livro como indicador da produo
intelectual na Grande rea da Sade. Revista Brasileira de Cincias do
Esporte, Campinas, v. 29, n. 1, p. 61-73, set. 2007.
CASTELLANI FILHO, L. A. (Des) caracterizao profissional-filosfica da
educao fsica. Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Campinas, v. 4,
n.3, p. 95-101, maio 1983.
______.A Educao Fsica/Cincias do Esporte no Brasil hoje: pelos meandros
da educao fsica. Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Maring, v.
14, n. 3, p. 126-129, maio 1993.
CAVALCANTI, K. B. Para unificao em Cincia da Motricidade Humana.
Revista Brasileira de Cincias do Esporte, v. 17, n. 2, jan. 1996.
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. I Plano Nacional de Ps-Graduao. Documentos. InfoCAPES,
Braslia, v. 6, n. 1, jan./mar. 1998a.
______. II Plano Nacional de Ps-Graduao. Documentos. InfoCAPES,
Braslia, v. 6, n. 2, abr./jun. 1998b.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. CINCIAS DA MOTRICIDADE / UNESP/RC, 1998c.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=199
8/33004137/021/1998_021_33004137062P0_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA UGF. 1998d. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=199
8/31006019/021/1998_021_31006019004P5_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNICAMP, 1998e. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=199
9/33003017/021/1999_021_33003017046P6_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
229
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Frum de pr-reitores e coordenadores de pesquisa e ensino de
ps-graduao das IES particulares. A ps-graduao stricto sensu nas IES
particulares. Estudos e dados. InfoCAPES, Braslia, v. 8, n. 3, jul./set. 2000.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. CINCIAS DO MOVIMENTO HUMANO / UDESC,
2001a. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
1/41002016/021/2001_021_41002016004P8_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / USP 2001b. Disponvel
em:<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=
2001/33002010/021/2001_021_33002010084P9_Programa.pdf&aplicacao=cad
ernoavaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNICAMP, 2001c. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
2/33003017/021/2002_021_33003017046P6_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. CINCIAS DO MOVIMENTO HUMANO / UFRGS
(NRD6) 2001d. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
1/42001013/021/2001_021_42001013051P2_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. CINCIA DA MOTRICIDADE HUMANA / UCB/RJ
(NRD6) 2002a. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
2/31026010/021/2002_021_31026010002P0_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA/UGF. 2002b. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
2/31006019/021/2002_021_31006019004P5_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
230
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / USP. 2003a. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
3/33002010/021/2003_021_33002010084P9_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de Avaliao.
Sntese e Indicadores. CINCIAS DO MOVIMENTO HUMANO / UFRGS
(NRD6) 2003b. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
3/42001013/021/2003_021_42001013051P2_Programa.pdf&aplicacao=cadern
oavaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Plano nacional de ps-graduao (Consideraes Preliminares para
o V PNPG). Braslia: CAPES, 2004a. Disponvel em:
<http://www.capes.gov.br/PNPG/pnpg.htm>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Documento de rea. Educao Fsica. 2001/2003. 2004b. Disponvel
em:
<http://www.CAPES.gov.br/Documentos/Avaliacao2004/Avtrienal2004_Finalpor
Area.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. CINCIAS DA MOTRICIDADE / UNESP/RC,
2004b. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
4/33004137/021/2004_021_33004137062P0_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA/USP, 2004c. Disponvel
em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
4/33002010/021/2004_021_33002010084P9_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Relatrio Anual: Avaliao Continuada 2005 - Ano Base 2004. rea
de Avaliao: EDUCAO FSICA. 2005a. Disponvel em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/DocArea04_06_E
ducacaoFisica.pdf>. Acesso em 10 jan. 2010.
231
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. CINCIAS DO MOVIMENTO HUMANO /
UFRGS, 2005b. Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
5/42001013/021/2005_021_42001013051P2_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / USP. 2005c.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
5/33002010/021/2005_021_33002010084P9_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA. UGF, 2005d.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
5/31006019/021/2005_021_31006019004P5_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNICAMP 2006a.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
6/33003017/021/2006_021_33003017046P6_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNICAMP 2006b.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
6/33003017/021/2006_021_33003017046P6_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNICSUL, 2007a.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
7/33078017/021/2007_021_33078017006P9_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
232
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNIVERSO 2007b.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
7/31025013/021/2007_021_31025013002P0_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em: 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UFRGS 2007c.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
7/42001013/021/2007_021_42001013051P2_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNIVERSO. 2008a.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
8/31025013/021/2008_021_31025013002P0_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliao>. Acesso em 10 jan. 2010
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / USP 2008b.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
8/33002010/021/2008_021_33002010084P9_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNICAMP 2008c.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
8/33003017/021/2008_021_33003017046P6_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010
______. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA. UGF, 2008d.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
8/31006019/021/2008_021_31006019004P5_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
233
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Proposta do programa. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / UNESP/RC 2008e.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/VisualizadorServlet?nome=200
8/33004137/021/2008_021_33004137062P0_Proposta.pdf&aplicacao=caderno
avaliacao>. Acesso em 10 jan. 2010.
COORDENAO DE APERFEIOAMENTO DE PESSOAL DE NVEL
SUPERIOR. Teses e Dissertaes. Memria da Ps-Graduao. Sistema de
Avaliao. Sntese e Indicadores. EDUCAO FSICA / USP 2008f.
Disponvel
______. Diretoria de Avaliao. Documento de rea. 2009a. Disponvel em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/EDU_FIS15out20
09.pdf>. Acesso em 10 jan. 2010
______. Relao de cursos recomendados e reconhecidos. 2010.
Disponvel em:
<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursos>.
Acesso em: 10 jan. 2010.
CUNHA JUNIOR, C. F. F. da. A produo terica brasileira sobre educao
physica/gymnastica publicada no sculo XIX: autores, mercado e questes de
gnero. In: FERREIRA NETO, A. (Org.). Pesquisa Histrica na Educao
Fsica V. 3. Aracruz: FACHA, 1998, p.19-47.
______. O processo de escolarizao da Educao Fsica no Brasil: reflexes
a partir do imperial Collegio de Pedro Segundo. Revista HISTEDBR ON-LINE,
Campinas, n.30, p.59-83, jun. 2008.
CUNHA, F. et al. Produo do conhecimento em educao fsica no Brasil: o
caso dos grupos de pesquisa no perodo de 1987 a 2000. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE CINCIAS DO ESPORTE, 12. 2001. Caxambu, Anais...
Caxambu.
CYRINO, E. S.; NARDO JUNIOR, N. Educao Fsica ou Cinesiologia ou
Cineantropologia ou Cincia da Motricidade Humana? Revista Brasileira de
Cincias do Esporte, v. 18, n. 3, maio. 1997.
DALIO, J. Educao Fsica Brasileira: autores e atores da dcada de 80.
Revista Brasileira de Cincias do Esporte, n.18, n.3, 1997.
234
DAVYT, A. & VELHO, L. (2000), A avaliao da cincia e a reviso por pares:
passado e presente. Como ser o futuro? Histria, Cincias, Sade
Manguinhos, v. 7, n. 1, 2000. p. 93-116.
DELLA FONTE, S. S. O passado em agonia: da criao de reducionismos ou
sobre como matar a historicidade. In: CAPARROZ, F. E. (Org.). Educao
fsica escolar: poltica, investigao e interveno. Vitria: PROTEORIA, 2001.
DENCKER, A. de F. M; VI, S. C. Pesquisa emprica em Cincias Humanas.
2 ed. So Paulo: Futura, 2002.
DOMINGOS, N. A. M. Perspectivas da produo cientfica da ps-graduao
em psicologia da PUC-Campinas. In: WITTER, G. P. Produo cientfica em
psicologia e educao. Campinas, SP: Editora Alnea, 1999. p. 79-102.
ELIEL, O. Cartografia temtica de artigos de peridicos nacionais da
Cincia da Informao (Perodo de 1986 a 2005): contribuies ao campo
terico da rea. 2007. (Dissertao) Mestrado em Cincia da Informao
Centro de Cincias Sociais Aplicadas, Pontifcia Universidade Catlica de
Campinas, Campinas, 2007a.
ELIEL, R. A. Institucionalizao da Cincia da Informao no Brasil: estudo
da convergncia entre a produo cientfica e os marcos regulatrios da rea.
(Dissertao) Mestrado em Cincia da Informao Centro de Cincias
Sociais Aplicadas, Pontifcia Universidade Catlica de Campinas, Campinas,
2007b.
ELIEL, O.; SANTOS, R.N.M.; ELIEL, R.A. Cartografia temtica por meio de
tcnicas bibliomtricas: contribuies s prticas de representao e de
recuperao da informao nas bibliotecas universitrias. In: XIV SEMINRIO
INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITRIAS, 2006, Salvador.
Anais eletrnicos...Salvador: UFBA, 2006.
FUNDAO DE AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SO PAULO.
Indicadores de Cincia, Tecnologia e Inovao em So Paulo. Anlise da
produo cientfica a partir de indicadores bibliomtricos. 2004. Disponvel em:
< http://www.fapesp.br/indicadores2004/volume1/cap05_vol1.pdf>. Acesso em
10 jan. 2010.
235
FARIA JUNIOR, A. G. Pesquisa em Educao Fsica: Enfoques e Paradigmas.
In: FARIA JUNIOR, A. G., FARINATTI, P. T. (org.). Pesquisa e produo do
conhecimento em Educao Fsica - SBDEF - Sociedade Brasileira para o
Desenvolvimento da Educao Fsica. Rio de Janeiro: Ao Livro Tcnico, 1992.
150 p., p. 13-33.
FENTERSEIFER, P. E. Conhecimento, epistemologia e interveno. In:
GOELLNER, S. V. (org.). Educao fsica/Cincias do Esporte: interveno e
conhecimento. Florianpolis: CBCE, 1999.
______. A Educao Fsica na crise da modernidade. Iju: Ed. Uniju, 2001.
FERREIRA NETO, A. A pedagogia no exrcito e na escola: a educao
fsica brasileira. Aracruz: FACHA, 1999.
______. Bibliografia sobre teoria da Educao Fsica em peridicos brasileiros
(1979-1999). In: FERREIRA NETO, A. (Org.) Pesquisa histrica na
Educao Fsica, vol. 5, Aracruz, ES: FACHA, 2000.
FERREIRA NETO, A. Leituras dos 20 e 25anos do CBCE: poltica,
comunicao e (in) definio do campo cientfico. In: FERREIRA NETO, A.
(Org.). Leituras da natureza cientfica do Colgio Brasileiro de Cincias do
Esporte. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.
FORUM PERMANENTE DA PS-GRADUAO EM EDUCAO FSICA.
Documento Final, So Paulo, 2006. Disponibilizado em:
<http://www.cbce.org.br/br/acontece/materia>. Acesso em: 18 set. 2006.
FOUCAULT, M. Microfsica do poder. Rios de Janeiro: Graal, 13 Ed., 1998.
FUNARO, V. M. B. de O.; NORONHA, D. P. Literatura Cinzenta: canais de
distribuio e incidncia nas bases de dados. In: POBLCION, S. A. A.;
WITTER, G. P.; SILVA, J. F. M. da (Org.) Comunicao e produo
cientfica: contexto, indicadores, avaliao. So Paulo: Angellara, 2006.
FUGINO, A. Avaliao dos impactos da produo cientfica na produo
tecnolgica. In: POBLCION, S. A. A.; WITTER, G. P.; SILVA, J. F. M. da
(Org.) Comunicao e produo cientfica: contexto, indicadores, avaliao.
So Paulo: Angellara, 2006.
236
GAMBOA, S. S. Epistemologia da Educao Fsica: as inter-relaes
necessrias. Macei: EDUVAL, 2007
GAYA, A. C. A. Mas afinal, o que educao fsica? Movimento, v.l, n.l, p.1-6,
1994.
GOIS JUNIOR, E. Os Higienistas e a Educao Fsica: a histria dos seus
ideais. 2000. (Dissertao) Mestrado em Educao Fsica, Programa de Ps-
Graduao em Educao Fsica, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro,
2000.
______. Movimento Higienista e Positivismo: os limites de suas relaes na
questo da Educao Fsica. (1900-1930). . In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE CINCIAS DO ESPORTE, 1, 2005, Porto Alegre. Anais... [CD-ROM]. Porto
Alegre: Colgio Brasileiro de Cincias do Esporte, 2005.
GOMES, M. Y. F. S de F. Tendncias atuais da produo cientfica em
Biblioteconomia e Cincia da Informao no Brasil. DataGramaZero - Revista
de Cincia da Informao, v.7, n.3, jun. 2006.
GOMES, S. L. R.; MENDONA; M. A. R.; SOUZA; C. M de. Literatura cinzenta.
In: CAMPELLO; B. S.; CENDN; B. V.; KREMER, J. M. (Orgs.) Fontes de
informao para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2000.
GONALVES, A.; VIEIRA, P. C. T. Uma caracterizao da produo cientfica
da rea da educao fsica e esportes no Brasil: avaliao trienal de seu
comportamento no mbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientfico e Tecnolgico. Revista Brasileira de Cincias do Esporte,
Campinas, v. 10, n. 2, 1989.
GONALVES, C. C. L. C. et al.; Ttulos dos trabalhos do II Seminrio sobre
currculo da PUC-Campinas. In: WITTER, G. P. Produo cientfica em
psicologia e educao. Campinas, SP: Editora Alnea, 1999.
GUIMARES, J. A. A pesquisa mdica e biomdica no Brasil. Comparaes
com o desempenho cientfico brasileiro e mundial. Cincia & Sade Coletiva,
v. 9, n. 2, 2004.
237
INTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANSIO
TEIXEIRA. Censo da Educao Superior 2003. Resumo Tcnico.
Disponvel
em:<http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/[CES_2003ResumoTecnico
_Original.pdf]>. Acesso em: 20 out. 2007.
KOBASHI, N. Y. Estudos de institucionalizao social e cognitiva da pesquisa
cientfica no Brasil: reflexes sobre um programa de pesquisa. In: LARA, M. L.
G; FUJINO, A.; NORONHA, D. P. (Orgs). Informao e Contemporaneidade:
perspectivas. Recife: NCTAR, 2007.
KOBASHI, N.Y; SANTOS, R. N. M dos. Aspectos metodolgicos da produo
de indicadores em Cincia e Tecnologia. In: VI CINFORM. Encontro Nacional
de Ensino e Pesquisa da Informao, 2005, Salvador. Anais eletrnicos...
Salvador: UFBA, 2005. Disponvel
em:<http://www.cinform.ufba.br/vi_anais/docs/RaimundoNonatoSantos.pdf>.
Acesso em 01 set. 2009.
KOBASHI, N.Y; SANTOS, R. N. M dos. Institucionalizao da pesquisa
cientfica no Brasil: cartografia temtica e de redes sociais por meio de tcnicas
bibliomtricas. Transinformao, Campinas, v. 18, n. 1, p. 27-36, 2006a.
______. Arqueologia do trabalho imaterial: uma aplicao bibliomtrica
anlise de dissertaes e teses. In: VII ENANCIB ENCONTRO NACIONAL
DE PESQUISA CINCIA DA INFORMAO, 2006b, Marlia. Anais... Marlia:
UNESP, 2006b. (1cd).
KOBASHI, N.Y; SANTOS, R. N. M dos Arqueologia do trabalho imaterial: uma
aplicao bibliomtrica anlise de dissertaes e teses. Encontros Bibli,
Florianpolis, n. esp., 2008.
KOBASHI, N. Y; SMIT, J. W; TLAMO, M. F. G. M. A funo da terminologia na
construo do objeto da Cincia da Informao. DataGramaZero Revista de
Cincia da Informao, v.5 n.1 fev. 2001. Disponvel em:
<http://dgz.org.br/fev04/Art_03.htm#nota01>. Acesso em 10 maio. 2009.
KOBASHI, N. Y.; SANTOS, R. N. M. e CARVALHO, J. O. F. Cartografia de
Dissertaes e Teses: Uma Aplicao rea de Cincia da Informao. XIV
SNBU Seminrio Nacional de Bibliotecas Universitrias, 2006, Salvador.
Anais... UFBA - Universidade Federal da Bahia e UNEB Universidade
Estadual da Bahia, 2006. Disponvel em: <http://www.snbu2006.ufba.br>
Acesso em 10 jan. 2010.
238
KOKUBUN, E. Ps-Graduao em Educao Fsica no Brasil: indicadores
objetivos dos desafios e das perspectivas. Revista Brasileira de Cincias do
Esporte, v. 24, n. 2, p. 9-26, 2003.
KROEFF, M. S. Ps-Graduao em Educao Fsica no Brasil: estudo das
caractersticas e tendncias da produo cientfica dos professores doutores.
2000. (Tese) Doutorado em Cincia da Informao - Escola de Comunicaes
e Artes, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2000.
KROEFF, M. S.; NAHAS, M. V. Aes governamentais e formao de
pesquisadores em Educao Fsica no Brasil, Revista Brasileira de Cincia
do Esporte, Campinas, v. 24, n. 2, 2003.
LIMA, H. L. A O adeus educao fsica progressista. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE CINCIAS DO ESPORTE, 10, 1997, Goinia. Anais...
Goinia: Colgio Brasileiro de Cincias do Espore, 1997a. v. 1, p. 89-93.
______. O campo acadmico da educao fsica face ao esgotamento das
pedagogias radicais. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CINCIAS DO
ESPORTE, 10., 1997, Goinia. Anais... Goinia: Colgio Brasileiro de Cincias
do Espore, 1997b. v. 2, p. 1611-1615.
______. Tendncias epistemolgicas em torno do movimento humano e suas
implicaes para o campo acadmico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
CINCIAS DO ESPORTE, 10, 1997, Goinia. Anais... Goinia: Colgio
Brasileiro de Cincias do Espore, 1997c. v. 2, p. 1526-1535.
______. Pensamento epistemolgico da Educao Fsica brasileira: das
controvrsias acerca do estatuto cientfico. Revista Brasileira de Cincias do
Esporte, Florianpolis, v. 20, n. 1, set. 1998.
LIMA, H. L. A. de Pensamento Epistemolgico da Educao Fsica Brasileira:
uma anlise crtica. In: FERREIRA NETO, A (Org.). Pesquisa Histrica na
Educao Fsica, v. 4. Aracruz, ES: FACHA, 1999.
______. Pensamento epistemolgico da Educao Fsica brasileira: das
controvrsias acerca do estatuto cientfico. Revista Brasileira de Cincias do
Esporte, v. 21, n. 2/3, 2000.
239
LOPES, I. L. Uso das linguagens controlada e natural em bases de dados:
reviso da literatura. Cincia da Informao, Braslia, v. 31, n. 1, p. 41-52,
jan./abr. 2002.
LOPES, M. I. V. de. Pesquisa em Comunicao. 8 ed. So Paulo: Edies
Loyola, 2005.
LOVISOLO, H. R. Educao Fsica: arte da mediao. Rio de Janeiro: Sprint.
1995.
______. Hegemonia e Legitimidade nas Cincias do Esporte. Motus Corporis,
Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, 1996.
______. Ps-Graduaes e educao fsica: paradoxos, tenses e dilogos.
Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Florianpolis, v. 20, n. 1, 1998.
______. A crescente dualidade no ensino superior. Revista Cincia Hoje, n.
173, p. 56-60, jul. 2001.
______. A poltica de pesquisa e a mediocridade possvel. Revista Brasileira
de Cincias do Esporte, v. 24, n. 2, p. 97-114, 2003.
______. Sobre a ps-graduao em educao fsica. In: FERREIRA NETO, A.
et al.. (Org.). Leituras de natureza cientfica do Colgio Brasileiro de
Cincias do Esporte. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 71-88.
MACIAS CHAPULA, C. A. O papel da informetria e da cienciometria e sua
perspectiva nacional e internacional. Cincia da Informao, Braslia, v. 27, n.
2, p. 134-140, maio/ago. 1998.
MAIA, E. M.; FERREIRA NETO, A. A pedagogia na educao fsica: indcios de
uma teoria da ao. In: II Seminrio do CEMEF-UFMG, 2005, Anais... Belo
Horizonte. Educao Fsica, Esporte, Lazer e Cultura Urbana: uma abordagem
histrica. Belo Horizonte: CEMEF-PROTEORIA, 2005. 1 CD-ROM
MALOZZE, G. L. M. Produo cientfica: peridicos. In: WITTER, G. P.
Produo cientfica em psicologia e educao. Campinas, SP: Editora
Alnea, 1999. p. 103-122.
240
MARCASSA, L. A Educao Fsica face ao projeto de modernizao do Brasil
(1900-1930): as histrias que se contam. Pensar a Prtica, v. 3, jun./Jul. 2000.
MARICATO, J. M.; RANGEL, E. C. Mapeamento da rea de plasma no Brasil e
de sua produo cientfica a partir dos grupos de pesquisa cadastrados no
CNPq. Revista Brasileira de Aplicaes de Vcuo, v. 27, n. 2, 69-77, 2008.
MARTINS, N. R.; SILVA, R. V. DE S. E. Pesquisas brasileiras em Educao
Fsica e Esportes: tendncias das teses e dissertaes. s/d. Disponvel em:
<http://www.nuteses.ufu.br/trabalho_2.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2010
MATTOS, F. G. O ttulo de um trabalho cientfico: claro, conciso, concreto e
criativo. Cincia e Cultura, 40(8), 1985.
MENDES, M. I. B. de S. A Produo do conhecimento na Educao Fsica
brasileira e a Revista Brasileira de Cincias do Esporte. Holos, Ano 25, v. 1,
2009.
MINISTRIO DA CINCIA E TECNOLOGIA. Indicadores de cincia e
tecnologia. Disponvel em:
<http://www.mct.gov.br/estat/ascavpp/portugues/menu1page_historico.htm>.
Acesso em: 20 de dez. 2004.
MOLINA NETO, V.; MLLER, M. A.; AMARAL, L. O programa de Ps-
graduao em Cincias do Movimento Humano da ESEF/UFRGS: A viso dos
estudantes sobre seu processo de formao. Revista Brasileira de Cincias
do Esporte, Campinas, v. 24, n. 2, p. 75-96, 2003.
MORAES, A. F. de. Terminologia como indicador qualitativo.
TransInformao, Campinas, 19(1): 31-38, jan./abr., 2007.
MOREIRA, M. L.; VELHO, L. Ps-Graduao no Brasil: da concepo ofertista
linear para novos modos de produo do conhecimento: implicaes para
avaliao. Avaliao, Campinas; Sorocaba, SP, v. 13, n. 3, p. 625-645, nov.
2008.
MOURA, E. Avaliao de produo cientfica (1991-1995). In: WITTER, G. P.
(org.) Produo cientfica. Campinas: tomo, 1997.
241
MOYA, J. G. de D.; HERNNDEZ, M. A. M. Indicadores bibliometricos:
caractersticas y limitaciones en el anlisis de la actividad cientifica. Anales
Espaoles de Pediatria, v. 47, n. 3, p. 235-244, 1997.
MUGNAINI, R. Caminhos para adequao da avaliao da produo
cientfica brasileira: impacto nacional versus internacional. So Paulo, 2006.
253 p. Tese (Doutorado em Cincia da Informao) - Escola de Comunicaes
e Artes. Universidade de So Paulo.
MUGNAINI, R; POBLACIN, D. A. A. Impacto de documentos citados em
Revistas cientficas brasileiras de diferentes reas. In: VIII ENANCIB
Encontro Nacional de Pesquisa em Cincia da Informao, 2007, Salvador.
Anais... Salvador, 2007.
MUGNAINI, R.; JANNUZZI, P.; QUONIAM, L. Indicadores bibliomtricos da
produo cientfica brasileira: uma anlise a partir da base pascal. Cincia da
Informao, v. 33, n. 2, p. 123-131, maio/ago. 2004.
NASCIMENTO, A. C. S. A produo cientfica dos doutores em educao
fsica no Brasil (1990-2000), 2005. (Dissertao) Mestrado em Educao
Fsica, Programa de Ps-Graduao em Educao Fsica, Universidade Gama
Filho, Rio de Janeiro, 2005.
NEITZEL, F. M.; FERREIRA NETO, A. As atividades fsicas na escola: a
biologia, a homogeneidade de grupos e as prticas de ginstica para a infncia.
In: II Seminrio do CEMEF-UFMG, 2005, Anais... Belo Horizonte. Educao
Fsica, Esporte, Lazer e Cultura Urbana: uma abordagem histrica. Belo
Horizonte: CEMEF-PROTEORIA, 2005. 1 CD-ROM
NBREGA, T. P da et al.. Educao Fsica e espistemologia: a produo do
conhecimento nos Congressos Brasileiros de Cincias de Esporte, Revista
Brasileira de Cincias do Esporte, Campinas, v. 24, n. 2, p. 75-96, 2003.
NBREGA, T. P da. Desafios da cincia, reflexo epistemolgica e implicaes
para a Educao Fsica e Cincias do Esporte. In: FERREIRA NETO, A. (Org.).
Leituras da natureza cientfica do Colgio Brasileiro de Cincias do
Esporte. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.
NORONHA, D. P; KIYOTANI, N. M.; JUANES, I. A. S. Produo cientfica de
docentes da rea de comunicao, Informao & Sociedade, v. 13, n. 1,
2003.
242
NOZAKI, P.; et al. Mapeamento da produo cientfica do instituto de
Pesquisas energticas e nucleares de So Paulo. In: VII CINFORM. Encontro
Nacional de Ensino e Pesquisa da Informao, 2007, Salvador. Anais...
Salvador, 2007. Disponvel em:
<http://www.cinform.ufba.br/7cinform/soac/papers/b1fd4b0541963bd46da07202
f894.pdf>. Acesso em 01 de set. 2009.
OLIVEIRA, A. C de; DRES, J. G.; DOMENE, S. M. A.; Bibliometria na
avaliao da produo cientfica da rea de nutrio registrada no Cibran:
perodo de 1984-1989. Cincia da Informao, v. 21, n. 3, p. 239-242,
set./dez. 1992.
OLIVEIRA, M. H. M. A. Avaliao da produo cientfica. In: WITTER, G. P.
Produo cientfica em psicologia e educao. Campinas, SP: Editora
Alnea, 1999. p. 9-22.
OLIVEIRA, M. J. de. Institucionalizao da pesquisa cientfica: estudo do
repertrio metodolgico das dissertaes defendidas em dois cursos de ps-
graduao em Cincia da Informao no Brasil. (Dissertao) Mestrado em
Cincia da Informao Centro de Cincias Sociais Aplicadas, Pontifcia
Universidade Catlica de Campinas, Campinas, 2008.
PAIVA, F. S. L. de. Histria e historiografia em educao fsica: conhecendo e
intervindo na rea. Revista Brasileira de Cincias do Esporte, Florianpolis,
v. 21, n. 1, p. 1347-1353, set. 1999.
______. Para falar em campo: notas sobre cincia, educao e corporeidades.
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTRIA DA EDUCAO, 1, 2000, Rio
de Janeiro. Anais... [CD-ROM]. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de
Historia da Educao, 2000.
PAIVA, F. S. L. de. Constituio do campo da Educao Fsica no Brasil:
ponderaes acerca de sua especificidade e autonomia. In: In: BRACHT, V.;
CRISORIO, R. A Educao Fsica no Brasil e na Argentina. Identidade
Desafios e Perspectivas. Campinas, SP: Autores Associados, 2003.
______. Sobre o pensamento mdico-higienista oitocentista, a escolarizao e
o engendramento do campo da Educao Fsica no Brasil. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE CINCIAS DO ESPORTE, 1, 2005, Porto Alegre. Anais...
[CD-ROM]. Porto Alegre: Colgio Brasileiro de Cincias do Esporte, 2005.
243
PINHEIRO, L. V. R. Cenrio da Ps-Graduao em Cincia da Informao no
Brasil, influncias e tendncias. VIII ENANCIB Encontro Nacional de
Pesquisa em Cincia da Informao, 2007, Salvador. Anais... Salvador, 2007.
POBLACIN, D. A. et al. Mapeamento da temtica da produo cientfica
brasileira dos docentes/doutores de Cincia da Informao: 1990-1999
Relatrio parcial. So Paulo: NPC/CBD/ECA/USP, fev.2002
QUEIROZ, F. M.; NORONHA, D. P. Temtica das dissertaes e teses em
cincia da informao no Programa de Ps-Graduao em Cincias da
Comunicao da USP. Cincia da Informao, Braslia, v. 33, n. 2, p. 132-
142, maio/ago. 2004
RAMOS, M. Y. Evoluo e novas perspectivas para a construo e produo
de indicadores de cincia, tecnologia e inovao. Encontros Bibli. Revista
Eletrnica de Biblioteconomia e Cincia da Informao, Florianpolis, n. esp.,
1 sem. 2008
RESENDE, H. G.; VOTRE, S. J. O programa de ps-graduao stricto sensu
em educao fsica da Universidade Gama Filho: caractersticas, realizaes e
desafios. Revista Brasileira de Cincias do Esporte, v. 24, n. 2, p. 49-73,
2003.
ROCHA JUNIOR, C. P. da. A organizao do campo da Educao Fsica:
consideraes sobre o debate. Arquivos em Movimento, Rio de Janeiro, v.1,
n.2, p. 69-78, julho/dezembro, 2005.
ROMANCINI, R. O campo cientfico da comunicao no Brasil:
institucionalizao e capital cientfico. 2006. (Tese) Doutorado em Cincias da
Comunicao Programa de Ps-Graduao em Cincias da Comunicao,
Universidade de So Paulo, So Paulo, 2006.
SANTOS, K. C. dos. A tese da Cincia da Motricidade Humana, de Manuel
Sergio. In: BRACHT, V. Educao Fsica & Cincia: cenas de um casamento
(in) feliz. Iju: Uniju, 1999.
SANTOS, C. dos. Tradies e contradies da Ps-Graduao no Brasil.
Educao e Sociedade, Campinas, v. 24, n.83, 2003.
244
SANTOS, R.N.M. dos; KOBASHI, N.Y. Aspectos metodolgicos da produo
de indicadores em cincia e tecnologia. In CINFORM - Encontro Nacional de
Cincia da Informao, 2005, Salvador. Anais... Salvador, 2005. Disponvel
em: <http://www.cinform.ufba.br/vi_anais/docs/RaimundoNonatoSantos.pdf>.
Acesso em
SANTOS, R. N. M. dos; KOBASHI, N. Y. Anlise de dissertaes e teses de
Cincia da Informao: estudo de institucionalizao de um campo cientfico.
VIII ENANCIB ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CINCIA DA
INFORMAO, 2007, Salvador. Anais... Salvador, 2007.
SCHELP, D. Os melhores brasileiros. Veja, So Paulo, v. 30, n. 44, 2004.
SCHNEIDER, O. Intelectuais, pedagogia e educao fsica no Brasil:
contribuio de Rui Barbosa, Manoel Bomfim e Fernando de Azevedo. 2000.
112 f. Monografia (Licenciatura plena em Educao Fsica) Centro de
Educao Fsica da Universidade Federal do Esprito Santo, Vitria, 2000.
SCHNEIDER, O. A revista Educao Physica (1932-1945): circulao de
saberes pedaggicos e a formao do professor de Educao Fsica. In: I
CONGRESSO DE EDUCAO FSICA E CINCIAS DO ESPORTE DO
ESPRITO SANTO, 2002, Santa Teresa. Anais... Santa Teresa: ESESFA,
2002.
SCHNEIDER, O.; FERRERA NETO, A. Intelectuais, Educao e Educao
Fsica: um olhar historiogrfico sobre sade e escolarizao no Brasil. Revista
Brasileira de Cincias do Esporte. Campinas - SP, v. 27, n. 3, p. 73 - 92,
2006.
SCHNEIDER, O.; FERREIRA NETO, A.; SANTOS, Wagner dos. Autores,
atores e editores: os peridicos como dispositivos de conformao do campo
cientfico/pedaggico da educao fsica. In: XIV Congresso Brasileiro de
Cincia do Esporte e I Congresso Internacional de Cincias do Esporte, 2005,
Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: Colgio Brasileiro de Cincias do Esporte,
2005. v. 1.
SCHWARTZMAN, S. Um espao para a cincia. A formao da
comunidade cientfica no Brasil. Braslia, Ministrio da Cincia e Tecnologia,
2001.
SERGIO, M. Educao Fsica ou Cincia da Motricidade Humana?
Campinas: Papirus, 1989.
245
SILVA, R. V. de S. e. Mestrados em Educao Fsica no Brasil: pesquisando
suas pesquisas. (Dissertao) Mestrado em Educao Fsica Programa de
Ps-Graduao em Educao Fsica, Universidade Federal de Santa Maria,
Santa Maria, 1990.
______. Pesquisa em Educao Fsica: determinaes histricas e
implicaes epistemolgicas. (Tese) Doutorado em Educao Programa de
Ps-Graduao em Educao, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 1997.
______. As cincias do esporte no Brasil nos ltimos vinte anos: contribuio
da ps-graduao estrito senso. Revista Brasileira de Cincias do Esporte,
Florianpolis, nmero especial, 1998.
______. O CBCE e a produo do conhecimento em Educao Fsica em
perspectiva. In: FERREIRA NETO, A. (Org.). Leituras da natureza cientfica
do Colgio Brasileiro de Cincias do Esporte. Campinas, SP: Autores
Associados, 2005.
SILVA, A. M. Corpo e epistemologia: algumas questes em torno da dualidade
entre o biolgico e o cultural. Texto da conferncia proferida no I COLQUIO
BRASILEIRO SOBRE EPISTEMOLOGIA E EDUCAO FSICA. Natal,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2002.
SILVA, J. A. da; BIANCHI, M. de L. P. Cientometria: a mtrica da cincia.
Paidia (Ribeiro Preto), v. 11, n. 21, p. 5-10, 2001.
SILVA, E. L.; MENEZES, E. M.; PINHEIRO, L. V. Avaliao da produtividade
cientfica dos pesquisadores nas reas de cincias humanas e sociais
aplicadas. Informao & Sociedade, v. 13, n. 2, jul./dez. 2003.
SILVEIRA, M. A. A. da. Gesto da Informao e do Conhecimento: anlise
temtica dos trabalhos do VI ENANCIB. I n f. I n f., Londrina, v. 1 2, n. 2, 2007.
______Redes de textos cientficos: um estudo sob a tica da
institucionalizao da Cincia da Informao no Brasil. (Dissertao) Mestrado
em Cincia da Informao Centro de Cincias Sociais Aplicadas, Pontifcia
Universidade Catlica de Campinas, Campinas, 2008.
246
SILVEIRA, M. A. A. da.; BAZI, R. E. R. Redes de textos cientficos: um estudo
sob a tica da institucionalizao da Cincia da Informao no Brasil. IX
ENANCIB. ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CINCIA DA
INFORMAO, 2008, So Paulo. Anais... So Paulo: USP, 2008.
SMIT, J. W; TLAMO, M. F. G. M; KOBASHI, N. Y. A determinao do campo
cientfico da Cincia da Informao: uma abordagem terminolgica.
DataGramaZero, Revista de Cincia da Informao, v.5 n.1 fev. 2004.
Disponvel em: <http://dgz.org.br/fev04/Art_03.htm#nota01>. Acesso em 10
maio. 2009.
SOARES, C. L. Educao Fsica: Razes Europias e Brasil. Campinas S/P:
Autores Associados, 1994.
SOUSA, E. R. O que h de novo nas pesquisas. 1999. (Dissertao)
Mestrado em Educao, Programa de Ps-Graduao em Educao,
Universidade Federal de Uberlndia, Uberlndia, 1999.
SPAGNOLO, F.; SOUZA, V. C.; O que mudar na avaliao da CAPES?
Revista Brasileira de Ps-Graduao, v. 1, n. 2, p. 8-34, nov. 2004.
SPINAK, E. Indicadores cienciomtricos. Cincia da Informao, Braslia, v.
27, n. 2, p. 141-148, maio/ago. 1998.
STUMPF, I. R. C. Reflexes sobre as Revistas Brasileiras. In texto, v. 1, n. 3,
2000.
STUMPF, I. R. C. et al. Uso dos termos cienciometria e cientometria pela
comunidade cientfica brasileira. In POBLACION, D. A; WITTER, G. P.; SILVA,
J. F. M da. Comunicao e produo cientfica: contexto, indicadores,
avaliao. So Paulo: Angellara, 2006.
TANI, G. Cinesiologia, educao fsica e esporte: ordem emanante do caos na
estrutura acadmica. Motus Corporis, Rio de Janeiro, v. 3, n.2. 1996.
______. 20 anos de cincia do esporte: um transatlntico sem rumo? Revista
Brasileira de Cincias do Esporte, Florianpolis, [numero especial], p. 19-31,
set. 1998.
______. Os desafios da ps-graduao em educao fsica. Revista Brasileira
de Cincias do Esporte, Campinas, v. 22, n. 1. 2000.
247
TANI, G. Educao Fsica: por uma poltica de publicao visando qualidade
dos peridicos. Revista Brasileira de Cincias do Esporte, v. 29, n. 1, p. 9-
22, set. 2007.
TARGINO, M. das G.; GARCIA, J. C. R. Cincia brasileira na base de dados do
Institute for Scientific Information (ISI). Cincia da Informao, Braslia, v. 29,
n. 1, jan./abr. 2000.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Faculdade de Educao Fsica.
Ps-Graduao. Disponvel em: < http://www.fef.unicamp.br/pos-graduacao/>.
Acesso em 10 jan. 2010.
VANTI, N. A. P. Da bibliometria webometria: uma explorao conceitual dos
mecanismos utilizados para medir o registro da informao e a difuso do
conhecimento. Cincia da Informao, Braslia, v. 31, n. 2, p. 152-162,
maio/ago. 2002.
VANZ, S.; et al. Mapeamento das teses e dissertaes em comunicao no
Brasil (19922002): tendncias temticas. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n.
33, 2007.
VELHO, L. Notas sobre a Ps-Graduao em cincias sociais e
humanidades: por que e em elas diferem das cincias naturais.
UNESCO/Brasil. Maio. 1997. Disponvel em:
<http://rima.pucsp.br/documentos/textos06.htm>. Acesso em: 15 set. 2009.
VELHO, L. Cincia e tecnologia: acompanhamento e avaliao. Estratgia para
um sistema de indicadores de C&T no Brasil. Parcerias Estratgicas, n. 13,
dez. 2001.
WITTER, G. P. Produo cientfica. Campinas: tomo, 1997.
WITTER, G. P. Produo cientfica em psicologia e educao. Campinas,
SP: Editora Alnea, 1999.
WITTER, G. P.; PCORA, G.M. M. Temtica das dissertaes e teses em
biblioteconomia e cincia da informao no Brasil. In: WITTER, G. P.(Org.).
Produo cientfica. Campinas: tomo, 1997. p. 77-86.
248
249
APNDICE
250
APNDICE A CLASSIFICAO TEMTICA DAS TESES
Classificao temticas das teses da USP
ANO DE
DEFESA TTULO DA TESE
REA DE
CONCENTRAO LINHA DE PESQUISA DESCRITORES
CATEGORIA
TEMTICA
1994
Crescimento, composio corporal e desempenho
motor em crianas e adolescentes do municpio de
Londrina (PR) Brasil
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho Esportivo
Crescimento
Composio corporal
Desempenho
Anatomia/
Antropometria
/Medidas e Avaliao
1995
Regulao da presso arterial durante o exerccio
fsico: papel dos pressorreceptores arteriais e efeito
do treinamento fsico
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeito do treinamento
fsico
Treinamento fsico
Pressorreceptores arteriais
Presso arterial Fisiologia
1995
Integraco visomotora no controle de tarefas
sincronizatrias
Biodinmica do Movimento
Humano
Processamento da
informao visomotora
Integrao visomotora
Sincronizao
Controle motor
Desenvolvimento
Motor
1996
Efeito do treinamento fsico de baixa e alta
intensidades na resposta hemodinmica de ratos
espontaneamente hipertensos
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeitos agudo e crnico do
exerccio no sistema
cardiovascular
Hipertenso arterial
Treinamento fsico Resposta
hemodinmica
Treinamento
fsico/esportivo
1996
Efeitos da individualizao da intensidade de um
programa de treinamento contnuo em variveis
respiratrias e hemodinmicas de adolescentes
asmticos graves
Biodinmica do Movimento
Humano Asma e atividade fsica
Educao Fsica Adaptada
Asma e Atividade Fsica
Atividade fsica/
Desporto para grupos
especiais
1996
Abordagem metodolgica para determinao da
energia mecnica: aplicao na biomecnica da
locomoo humana
Biodinmica do Movimento
Humano
Anlise cinemtica
descritiva do movimento
humano
Biomecnica
Energia mecnica Locomoo
humana
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
1998
Efeito do exerccio fsico na resposta da presso
arterial a hiperinsulinemia
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeitos agudo e crnico do
exerccio no sistema
cardiovascular
Exerccio Fsico
Presso Arterial
Fluxo sanguneo Fisiologia
1998
Utilizao da eletromiografia na anlise biomecnica
do movimento humano
Biodinmica do Movimento
Humano
Foras Internas e
Modelagem Biomecnica
Eletromiografia Biomecnica
Movimento Humano
Biomecnica
/Cinesiologia/
Cinemtica
1998
Freqncia Cardaca em Cargas Crescentes de
Trabalho: Ajuste Sigmide, Ponto de Inflexo e
Limiar de Variabilidade da Freqncia Cardaca
Biodinmica do Movimento
Humano
Avaliao de
resistncia/endurance
Freqncia Cardaca Ajuste
Sigmide
Consumo de Oxignio Fisiologia
1999
Comportamento imediato e prolongado da presso
arterial ps-exerccio em idosos normotensos e
hipertensos
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeitos agudo e crnico do
exerccio no sistema
cardiovascular
Hipotenso
Ps-exerccio
Idoso hipertenso
Atividade fsica/
Desporto para grupos
especiais
1999
Organizao hierrquica de um programa de ao e
a estabilizao de habilidades motoras
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao hierrquica
de um programa de ao
na aquisio de
Aprendizagem motora
Programa de ao
Organizao hierrquica
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
251
habilidades motoras
1999
Efeitos do treinamento fsico e da dieta com
glutationa na resposta isquemia-reperfuso
cardaca "in vivo" no rato
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeito agudo e crnico do
exerccio na interrelao
horm e subs ener
Treinamento fsico Glutationa
Anti-oxidante
Isquemia
Treinamento fsico-
esportivo
1999
Aspectos biomecnicos da influncia do calado
esportivo na locomoo humana
Biodinmica do Movimento
Humano Biomecnica do Esporte
Biomecnica
Calado esportivo
Marcha
Corrida
Futsal
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2000
Aspectos biomecnicos da locomoo infantil:
grandezas cinticas no andar e no correr
Biodinmica do Movimento
Humano
Biomecnica da
Locomoo
Locomoo infantil
Biomecnica
Momentos articulares
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2001
A especificidade do protocolo ergomtrico na
determinao dos limiares metablicos
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Limiar anaerbio
Lactato
Equilbrio cido-base Fisiologia
2001
Variabilidade e processo adaptativo na aquisio de
habilidades motoras
Biodinmica do Movimento
Humano
Processo Adaptativo em
Aprendizagem Motora
Variabilidade
Processo Adaptativo
Aprendizagem Motora
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
2001
Estrutura de prtica e processo adaptativo na
aquisio de habilidades motoras
Biodinmica do Movimento
Humano
Processo Adaptativo em
Aprendizagem Motora
Estrutura de prtica Aquisio
de habilidades motoras
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
2001
Influncia da neuropatia diabtica no comportamento
de respostas biomecnicas e sensoriais no andar em
esteira rolante
Biodinmica do Movimento
Humano
Biomecnica da
Locomoo
Biomecnica
Andar
Neuropatia diabtica perifrica
FRS
Atividade fsica/
Desporto para grupos
especiais
2001
Tipo de recuperao aps a luta, diminuio do
lactato e desempenho posterior: implicaes para o
jud
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Jud
Lactato
Recuperao Intermitente
Desempenho
Wingat
Treinamento
fsico/esportivo
2001
Periodizao de regimes de treinamentos
antagnicos: um estudo sobre o futsal
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Fenmeno da interferncia
Capacidades Motoras
Periodizao
Treinamento
fsico/esportivo
2002
Anlise biomecnica da postura humana: estudos
sobre o controle do equilbrio
Biodinmica do Movimento
Humano
Biomecnica da
Locomoo
Biomecnica
Controle postural
Ginstica olmpica
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2002
Comportamento corporal do consumo de oxignio
em esforos intermitentes supramximos
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Cintica do consumo de
oxignio; Atividade
intermitente Fisiologia
2002
Efeito da suplementao e do treinamento com
pesos sobre o desempenho motor, a composio
corporal e indicadores de fadiga
Biodinmica do Movimento
Humano
Suplementao nutricional
e alterao metablica da
atividade fsica
Creatina
Treinamento com pesos
Agente ergognico Nutrio/Obesidade
2003
Efeito do nvel de estabilizao do desempenho e do
tipo de perturbao no processo adaptativo em
aprendizagem motora
Biodinmica do Movimento
Humano
Processo adaptativo na
aquisio de habilidades
motoras
Adaptao, Perturbao
Processo adaptativo
Aprendizagem Motora
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
252
2003
Efeito de restries da tarefa na habilidade
manipulativa de crianas nos dois primeiros anos de
vida
Biodinmica do Movimento
Humano
Anlise e diagnstico do
desenvolvimento motor
Desenvolvimento motor
Habilidades manipulativas
Restries
Desenvolvimento
Motor
2003
Variveis morfolgicas, funcionais e desempenho em
corredores adultos
Biodinmica do Movimento
Humano
Composio Corporal de
Esportistas
Limiar anaerbio
Modelos preditivos Variveis
morfolgicas
Anatomia/
Antropometria/
Medidas e Avaliao
2003
Monitorao e adaptaes fisiolgicas e motoras em
atletas de voleibol masculino, num macrociclo de
preparao
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Voleibol
Testes motores
Fisiologia
Jovens atletas
Treinamento
fsico/esportivo
2004
Aptido fsica e sade: um estudo de tendncia
secular em escolares de 7 a 12 anos de Jequi- BA
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Aptido fsica
Tendncia secular
Desempenho motor
Anatomia/
Antropometria/
Medidas e Avaliao
2004
Efeito da dor muscular experimentalmente induzida
sobre a fora isomtrica e validao de ndices de
estimao da co-concentraao muscular
Biodinmica do Movimento
Humano
Co-contrao Eletromiografia
Controle motor
Dor muscular Fisiologia
2005
Coordenao postural em adultos e idosos durante
movimentos voluntrios na postura ereta
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao da resposta
motora e aquisio de
habilidades motoras
Biomecnica
Postura
Idosos
Desenvolvimento
Motor
2005
Efeito da intensidade do exerccio fsico no controle
barrorreflexo e cardiopulmonar no perodo ps-
exerccio
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeitos agudo e crnico do
exerccio no sistema
cardiovascular
Exerccio fsico
Presso arterial Fisiologia
2005
Anlise biomecnica do andar de adultos e idosos
nos ambientes aqutico e terrestre
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao da resposta
motora e aquisio de
habilidades motoras
Biomecnica
Idosos
Marcha
Cinemtica
Eletromiografia
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2005
Conhecimento de resultados no processo adaptativo
em aprendizagem motora
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao da resposta
motora e aquisio de
habilidades motoras
Aprendizagem motora
Processo adaptativo
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
2005
Anlise do desenvolvimento motor e social de
adolescentes com deficincia visual e das atitudes
dos professores de educao fsica: um estudo sobre
a incluso
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Adolescentes cegos Incluso
Educao fsica escolar
Atividade fsica/
Desporto para grupos
especiais
2006
A aquisio da locomoo aqutica em bebs no
primeiro ano de vida
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao da resposta
motora e aquisio de
habilidades motoras
Bebs
Desenvolvimento motor
Reflexo de nadar
Desenvolvimento
Motor
2006 Potncia aerbia de crianas e jovens
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Pico de consumo de Oxignio
Lactato
Massa corporal Fisiologia
2006
Perfil de crianas com transtorno do
desenvolvimento da coordenao em tarefas de
timing
Biodinmica do Movimento
Humano
Anlise e diagnstico do
desenvolvimento motor
Aprendizagem motora
Desenvolvimento motor
Desenvolvimento
Motor
2006
Aquisio de aes motoras em crianas com
dificuldades motoras
Biodinmica do Movimento
Humano
Anlise e diagnstico do
desenvolvimento motor Sem indicao
Desenvolvimento
Motor
253
2006
Comparao entre dois protocolos de reabilitao
aps reconstruo do ligamento cruzado anterior
atravs de anlise biomecnica
Biodinmica do Movimento
Humano
Biomecnica da
Locomoo
Biomecnica
Marcha
Reabilitao
Ligamento cruzado anterior
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2006 Desenvolvimento de judocas brasileiros talentosos
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Jud
Talento esportivo
Aptido fsica
Treinamento
fsico/esportivo
2006
Efeito do treinamento fsico na cardiomatia induzida
por hiperatividade simptica em camundongos com
ablao dos receptores alfa 24/alfa 2c- adrenrgicos
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeitos agudo e crnico do
exerccio no sistema
cardiovascular
Fisiologia do exerccio
Treinamento esportivo
Cardiologia
Treinamento
fsico/esportivo
2006
Aquisio de uma habilidade motora bsica: a prtica
sistemtica em foco
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao da resposta
motora e aquisio de
habilidades motoras
Desenvolvimento motor
Atividade motora
Desenvolvimento
Motor
2006 Treinamento a longo prazo de nadadores
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Treinamento infanto-juvenil
Treinamento a longo prazo
Natao
Treinamento
fsico/esportivo
2006
Efeitos da informao verbal no acoplamento entre a
informao visual e oscilao corporal
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao da resposta
motora e aquisio de
habilidades motoras
Controle postural
Ao motora
Ciclo percepo-ao
Desenvolvimento
Motor
2006
O estudo do fenmeno da compensao em atletas
de voleibol do sexo feminino
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Voleibol
Fenmeno da compensao
Talento esportivo
Treinamento
fsico/esportivo
2006 Validao de teste de flexibilidade da coluna lombar
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Flexibilidade
Coluna lombar
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Avaliao do sinal eletromiogrfico como parmetro
para determinao do limiar de fadiga muscular
Biodinmica do Movimento
Humano
Biomecnica da
Locomoo
Eletromiografia
Fadiga muscular Quadrceps
femoral Fisiologia
2007
O ciclo instabilidade-estabilidade-instabilidade no
processo adaptativo em aprendizagem motora
Biodinmica do Movimento
Humano
Organizao da resposta
motora e aquisio de
habilidades motoras
Aprendizagem motora
Processo adaptativo
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
2007
Comportamento de autoconceito de crianas em
idade escolar: um estudo da influncia de variveis
antropomtricas e psicossociculturais Sem indicao Sem indicao
Auto conceito Comportamento
Escola
Crianas
Sobrepeso
Psicologia/
Psicologia do Esporte
2007
Desempenho de adolescentes no futsal: relaes
com medidas antropomtricas, motoras e tempo de
prtica
Biodinmica do Movimento
Humano Desempenho esportivo
Adolescentes
Futsal
Talento
Treinamento esportivo
Anatomia/
Antropometria/
Medidas e Avaliao
2007
Efeito teraputico do treinamento fsico em modelo
gentico de insuficincia cardaca induzida por
hiperatividade simptica
Biodinmica do Movimento
Humano
Efeitos agudo e crnico do
exerccio no sistema
cardiovascular
Insuficincia cardaca
Treinamento fsico Intracelular
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Validade das estimativas de ingesto energtica de
trs mtodos de avaliao do consumo alimentar em
relao gua duplamente marcada
Biodinmica do Movimento
Humano
Suplementao nutricional
e alteraes metablicas
da atividade fsica
Avaliao do consumo
alimentar
Gasto energtico Nutrio/Obesidade
2007 Anlise de parmetros biomecnicos na locomoo Biodinmica do Movimento Biomecnica da Biomecnica Biomecnica/
254
de crianas portadoras de p torto congnito Humano Locomoo Locomoo Cinesiologia/
Cinemtica
2008
Estimativa dos metabolismos anaerbicos no dficit
mximo acumulado de oxignio Estudos do Esporte Desempenho esportivo
Metabolismo anaerbio altico
Metabolismo anaerbio ltico Fisiologia
2008
Caractersticas dinmicas e eletromiogrficas do
forehand e backhand em tenistas: uma perspectiva
biomecnica para avaliar o desempenho
Biodinmica do Movimento
Humano Biomecnica do Esporte
Biomecnica Dinamometria
Eletromiografia
Cinemetria
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2008
Estudo longitudinal do tempo de aderncia a
programa de preveno e reabilitao cardaca Estudos do Esporte
Aspectos Psicossociais do
esporte
Condicionamento fsico
Reabilitao
Hipertenso
Atividade fsica/
Desporto para grupos
especiais
2008
Treinamento psicolgico e sua influncia nos estados
de humor e desempenho tcnico de atletas de
basquetebol Estudos do Esporte
Aspectos Psicossociais do
esporte
Psicologia do esporte
Basquetebol
Psicologia/
Psicologia do Esporte
2008 Estudo do stress fisiolgico em atletas de triatlon Estudos do Esporte Desempenho esportivo
Stress
Triathlon
Treinamento
Alteraes fisiolgicas Fisiologia
Classificao temtica das teses da Unicamp
ANO DE
DEFESA TTULO DA TESE
REA DE
CONCENTRAO
LINHA DE
PESQUISA DESCRITORES CATEGORIA TEMTICA
1995
Estratgias para a aprendizagem esportiva:
uma abordagem pedaggica da atividade
motora para cegos e deficientes visuais Sem indicao
Educao Fsica para
Pessoas Portadoras
de Deficincia
Cegos
Educao fsica para deficientes
Exerccios fsicos
Atividade motora
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
1995
Lazer e deficincia mental: o papel da famlia e
da escola em uma proposta de educao pelo e
para o lazer Sem indicao Sem indicao
Educao fsica
Lazer
Recreao
Educao especial
Deficincia mental
Sndrome de Down
Aspectos sociais Recreao/Lazer/Jogo
1996
Esportes para todos: a desescolarizao da
educao fsica e do esporte e o universalismo
olmpico Sem indicao
As Inter-Relaes do
Lazer na Sociedade
Esportes
Historia
Educao fsica
Estudo e ensino
Olimpadas
Histria/Historia da
Educao Fsica e do
Esporte/Histria da
Educao
255
1997
Desporto adaptado no Brasil: origem,
institucionalizao e atualidade Sem indicao
Educao Fsica para
Pessoas Portadoras
de Deficincia
Esportes
Educao fsica para deficientes
Esportes
Legislao
Brasil
Atividade fsica/Desporto
para grupos especiais
1997
Concepo e implementao de um sistema
para analise cinemtica de movimentos
humanos Sem indicao
Instrumentao e
Metodologia em
Biomecnica
Biomecnica
Aprendizagem motora
Movimento
Estudo
Percepo visual do movimento
Biomecnica/Cinesiologia/
Cinemtica
1997
Ginstica geral: uma rea do conhecimento da
educao fsica Sem indicao Sem indicao
Ginstica
Exerccios fsicos
Estudo e ensino
Educao do movimento
Educao fsica para crianas
Prtica
desportiva/Fundamentos
desportivos
1997
Educao fsica brasileira: autores e atores da
dcada de 80 Sem indicao
Pedagogia do
Movimento
Educao fsica
Discursos, ensaios e conferencias
Etnologia
Discusses e debates
Educao fsica
Brasil Epistemologia/ Cincia
1997
Estudo de aplicao de rede de investigao
em sade e urgncia em educao fsica Sem indicao
Sade Coletiva -
Epidemiologia e
Atividade Fsica
Professores universitrios
Estudo e ensino Pesquisa
Avaliao educacional
Pesquisa educacional
Fundamentos da
Educao/ Teorias de
ensino aprendizagem/
Avaliao da
Aprendizagem
1997
Crescimento e desempenho motor em pr-
escolares de Itapira SP: um enfoque bio-social-
cultural Sem indicao
Desenvolvimento e
Adaptao Motora
Crescimento humano
Capacidade motora nas crianas
Educao fsica
Avaliao Desenvolvimento Motor
1997
Avaliao motora para a pessoa deficiente
mental nas APAEs da regio de Campinas-SP :
um estudo de caso Sem indicao
Educao Fsica para
Pessoas Portadoras
de Deficincia
Deficincia mental
Deficientes mentais
Educao especial
Educao fsica para deficientes
Fundamentos da
Educao/ Teorias de
ensino aprendizagem/
Avaliao da
Aprendizagem
1997
Corpo: a busca de si, esse estranho... no
encontro com o outro Sem indicao
Pedagogia do
Movimento
Educao fsica Ensino
Educao permanente
Formao profissional
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
1998
Efeitos do estresse fsico no processamento das
informaes visuais perifricas em motoristas
do transporte coletivo urbano Sem indicao Sem indicao
Educao fsica
Percepo visual
Viso perifrica
Transportes coletivos
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
1998
Reflexes sobre programas de atendimento a
adolescentes e adultos portadores de
deficincia mental em instituies Sem indicao Sem indicao
Deficientes mentais Educao
Educao fsica para deficientes
mentais
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
256
especializadas: aspectos de transformao e
transio para a vida ativa
Orientao profissional
Deficientes Emprego
Integrao social
1998 Nadar: modo de ver e viver a gua Sem indicao Sem indicao Natao
Prtica
desportiva/Fundamentos
desportivos
1998
O efeito posterior duradouro de treinamento
(EPDT) das cargas concentradas de fora:
investigao a partir de ensaio com equipe
infanto juvenil e juvenil de voleibol Sem indicao Sem indicao
Voleibol
Educao fsica treinamento
Treinamento
fsico/esportivo
1998
Metodologia para a suavizao de dados
biomecnicos por funo no paramtrica
ponderada local robusta Sem indicao Sem indicao
Biomecnica
Movimento
Cinemtica
Biomecnica/
Cinesiologia/Cinemtica
1998
Socorros de urgncia e a preparao do
profissional de Educao Fsica Sem indicao Sem indicao
Formao profissional
Primeiros socorros
Educao fsica
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
1998
Centro esportivo virtual: um recurso de
informao em educao fsica e esportes na
internet Sem indicao Sem indicao
Educao fsica
Esportes
Internet (Redes de computao)
Comunicao/Informao/I
nformtica
1998
Do esquema corporal consistncia do corpo:
subsdios para a prtica da educao fsica nas
sries iniciais de ensino Sem indicao Sem indicao
Educao fsica
Corpo humano
Desenho da figura humana
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
1998
Atividade fsica no padro epidemiolgico de
transio: investigao de leses sensitivo-
motoras na hansenase a partir de estudo
transversal hibrido no Instituto Lauro de Souza
Lima, Bauru Sem indicao Sem indicao
Hansenase
Epidemiologia
Sade publica
Exerccios fsicos
Deficincia fsica
Leses corporais
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
1998
Futebol e sociedade: as manifestaes da
torcida Sem indicao Sem indicao
Futebol
Futebol Torcedores
Futebol - Aspectos sociais
Violncia nos esportes
Sociologia/Sociologia do
Esporte
1998 Do discurso da Educao Fsica Sem indicao Sem indicao
Educao fsica
Educao fsica Historia
Formao profissional
Anlise do discurso Epistemologia/ Cincia
1998
A ginstica geral na sociedade contempornea:
perspectivas para a Educao fsica escolar Sem indicao Sem indicao
Ginstica
Ginstica - Estudo e ensino
Educao fsica
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
1998
Programa de estimulao precoce para crianas
com marasmo na primeira infncia: subsdios
para atuao dos profissionais da equipe de
sade infantil. Sem indicao Sem indicao
Desnutrio nas crianas
Psicologia infantil Nutrio/Obesidade
1998 Do Corpo no Tempo ao Tempo do Corpo Sem indicao Sem indicao
Corpo
Corporeidade Filosofia/Corporeidade
257
Formao Profissional
1998
A universidade sob a tica da extenso
universitria Sem indicao Sem indicao
Ensino superior
Extenso universitria Brasil
Universidades e faculdades
Educao fsica
Histria/Historia da
Educao Fsica e do
Esporte/Histria da
Educao
1998
Entre o fogo e o vento: as praticas de batuques
e o controle das emoes Sem indicao Sem indicao
Civilizao
Vida e costumes sociais
Antropologia social
Etnicismo
Lazer
Dana Estudos Culturais
1998 Esporte espetculo e futebol-empresa Sem indicao Sem indicao
Esporte
Futebol
Futebol Historia
Esportes - Organizao e
administrao Organizao/Gesto
1999
Performance da resistncia muscular de
membros inferiores em praticantes da
modalidade esportiva voleibol, atravs do salto
vertical
Atividade Fsica e
Adaptao
Estudo da Postura
Humana
Voleibol Treinamento
Aptido fsica
Avaliao
Treinamento
fsico/esportivo
1999 Educao Fsica no ensino mdio-perodo
noturno: um estudo participante
Educao Motora Desenvolvimento e
Adaptao Motora
Educao fsica
Estudo e ensino
Ensino
Ensino Metodologia
Escolas noturnas Brasil
Estudantes de escolas noturnas -
Maring (PR)
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
1999 Resposta eletromiogrfica do msculo iliocostal
lombar e abordagem da presso intradiscal da
coluna lombar
Atividade Fsica e
Adaptao
Estudo da Postura
Humana
Eletromiografia
Msculos
Coluna vertebral
Anatomia/Antropometria/M
edidas e Avaliao
1999 Brincando no ambiente natural: uma
contribuio para o desenvolvimento sensorio-
motor da criana portadora de paralisia cerebral
Atividade Fsica e
Adaptao
Educao Fsica e
Esportes para
Pessoas Portadoras
de Deficincia
Paralisia cerebral
Jogos infantis
Aprendizagem motora
Crianas deficientes
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
1999 Variabilidade da frequncia cardaca : estudo
das influencias autonmicas sobre suas
caractersticas temporal e espectral em
halterofilistas e sedentrios
Atividade Fsica e
Adaptao
Adaptaes
Cardiorrespiratrias e
Metablicas ao
Exerccio Fsico
Adaptao (Fisiologia)
Educao fsica
Sistema cardiovascular
Sistema nervoso autnomo
Fisiologia
1999 A formao do jovem atleta e a pedagogia da
aprendizagem esportiva
Educao Motora Pedagogia do
Movimento
Esportes
Aprendizagem
Educao fsica
Estudo e ensino
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
1999 Imagens de beleza: o dilema de Paris Educao Motora Pedagogia do
Movimento
Beleza fsica
Mulheres Historia
Educao fsica
Filosofia/Corporeidade
258
1999 Efeitos da atividade fsica sobre o sistema
locomotor e nos hbitos de vida
Sem indicao Sem indicao Postura humana
Coluna vertebral
Exerccios fsicos
Qualidade de vida
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
1999 Estudos dos desnveis e desvios posturais nas
atletas que praticam a modalidade esportiva
voleibol
Sem indicao Sem indicao Postura humana
Atletas Treinamento
Voleibol
Anatomia/Antropometria/M
edidas e Avaliao
1999 Influencia do treinamento fsico aerbio sobre
as respostas cardiovasculares e respiratrias
em mulheres na menopausa com e sem terapia
de reposio hormonal
Atividade Fsica e
Adaptao
Adaptaes
Cardiorrespiratrias e
Metablicas ao
Exerccio Fsico
Educao fsica para mulheres
Menopausa
Exerccios aerbicos
Sistema cardiovascular
Hormnios
Treinamento
fsico/esportivo
1999 A cultura do lazer fsico esportivo como
resultado da disciplina da Educao fsica
escolar: o caso do colgio estadual "Culto a
Cincia" de Campinas
Educao Motora Pedagogia do
Movimento
Educao fsica
Esportes
Lazer
Recreao/Lazer/Jogo
2000 Atividade fsica e relao com a qualidade de
vida, ansiedade e depresso em pessoas com
seqelas de acidente vascular cerebral
isqumico
Atividade Fsica e
Adaptao
Educao Fsica e
esportes para
pessoas portadoras
de deficincia
Exerccios Fsicos
Qualidade de vida
Sade
Depresso mental
Ansiedade
Acidentes vasculares cerebrais
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2000 Histrias das polticas pblicas do esporte e
lazer no estado do Paran
Estudos do Lazer As inter-relaes do
lazer na sociedade
Educao Fsica
Estudo e ensino
Brasil
Poltica/Polticas Pblicas
de Esporte e Lazer
2000 Ginstica rtmica: construindo uma metodologia Cincias do Esporte Pedagogia do esporte Ginstica rtmica
Professores de educao fsica
Prtica
desportiva/Fundamentos
desportivos
2000 Influncia da utilizao do mobilirio adaptado
na postura sentada de indivduos com paralisia
espstica
Atividade Fsica e
Adaptao
Educao Fsica e
esportes para
pessoas portadoras
de deficincia
Paralisia cerebral
Postura humana
Mobilirio
Biomecnica/Cinesiologia/
Cinemtica
2000 Os donos das pistas: uma efgie sociolgica do
esporte federativo brasileiro
Estudos do Lazer As inter-relaes do
lazer na sociedade
Atletismo
Esporte
Organizao e administrao
Organizao/Gesto
2000 Fatores de stress em jogadores de futebol
profissional
Cincias do Esporte Pedagogia do esporte Educao Fsica
Aspetos psicolgicos
Voleibol-treinamento
Psicologia/Psicologia do
Esporte
2000 O esporte na cidade: aspectos do esforo
civilizador brasileiro
Estudos do Lazer As inter-relaes do
lazer na sociedade
Esportes
Rio de Janeiro (cidade)
Histria
Histria/Historia da
Educao Fsica e do
Esporte/Histria da
Educao
2000 Comportamento motor de pessoas portadoras
de deficincia mental em tarefas de desenhar
Educao Motora Pedagogia do
movimento
Comportamento;
Deficincia
Desenhar
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
259
Mental
Motor
Pessoas
2000 Orientao do corpo humano como um todo a
partir do seu elipside central de inrcia
Educao Motora Instrumentao e
Metodologia em
Biomecnica
Corpo humano
Imagem corporal
Antropometria
Movimento
Biomecnica/Cinesiologia/
Cinemtica
2000 Brincar: uma opo para vencer obstculos da
interao entre me ouvinte/filho surdo
Atividade Fsica e
Adaptao
Educao Fsica e
Esportes para
Pessoas Portadoras
de Deficincia
Sem indicao Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2000 Sucesso de pessoas portadoras de deficincia
atravs da prtica esportiva
Atividade Fsica e
Adaptao
Educao Fsica e
Esportes para
Pessoas Portadoras
de Deficincia
Sem indicao Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2001 Sacando o voleibol: do amadorismo a
espetacularizao da modalidade no Brasil
(1970-2000)
Atividade Fsica e
Adaptao
Desenvolvimento
Corporal no contexto
da sociedade e
cultura
Voleibol
Historia e sociologia do esporte
Amadorismo
Histria/Historia da
Educao Fsica e do
Esporte/Histria da
Educao
2001 Devoes e diverses em So Joo Del Rei: um
estudo sobre as festas do Bom Jesus de
Matosinhos (1884-1924)
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Desenvolvimento
Corporal no contexto
da sociedade e
cultura
Historia
Lazer-cultura
Festas religiosas
So Joo Del Rei
Estudos Culturais
2001 Educao Fsica na 1 srie do ensino mdio:
uma prtica por compromisso
Pedagogia do
Movimento
Educao Fsica
escolar
Educao Fsica
Ensino de 1 grau
Ensino Mdio
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2001 Teste de banco com carga contnua para
anlise do volume de oxignio predito e
analisado por tempo de esforo em pessoas
treinadas (TRD) ativas (ATV) e destreinadas
(DTR) a partir dos 13 anos: proposta de
validao
Cincias do Desporto Atividade Fsica e
Performance Humana
Teste de esforo
Educao Fsica
Aptido fsica
Avaliao
Treinamento
fsico/esportivo
2001 A inteligncia corporal-cinestsica como
manifestao da inteligncia humana no
comportamento de crianas
Pedagogia do
Movimento
Inteligncia corporal
cinestsica
Crianas
Inteligncia corporal
Inteligncia humana
Desenvolvimento Motor
2001 A Educao Fsica e o Discurso Miditico:
abordagem crtico-emancipatria em pesquisa-
ao no ensino de graduao. Subsdios para a
Sade?
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de Vida,
Sade Coletiva e
Atividade Fsica
Educao Fsica
Ensino
Graduao
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2001 A Realidade da Educao Infantil na Rede
Municipal de Ensino das Capitais da Regio
Norte do Brasil
Pedagogia do
Movimento
Estudos Neurolgicos
e Psicolgicos na
Educao Motora e
no Esporte
Educao infantil
Regio norte
Rede municipal
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2001 A Prtica da Educao Motora na Primeira
Srie Escolar, Luz da Teoria Ecolgica
Pedagogia do
Movimento
Estudos Neurolgicos
e Psicolgicos na
Ecologia
Educao motora
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
260
Educao Motora e
no Esporte
Ensino fundamental'
2001 Tua imensa torcida bem feliz...da relao do
torcedor com o clube
Estudos do Lazer As Inter Relaes do
Lazer na Sociedade
Torcedor;
Clube
Sociologia/Sociologia do
Esporte
2001 Tcnico de Ginstica artstica: quem este
profissional?
Pedagogia do
Movimento
Inteligncia corporal
cinestsica
Ginstica
Formao Profissional
Estudo e Ensino
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2001 Fundamentos e intervenes da psicologia no
esporte coletivo no Estado de So Paulo:
anlise de um documento
Pedagogia do
Movimento
Corporeidade Psicologia
Esporte
Esporte-psicologia
Psicanlise
Psicologia/Psicologia do
Esporte
2001 A educao continuada do professor de
educao fsica: possibilitando prticas
reflexivas
Pedagogia do
Movimento
Educao Fsica
escolar
Educao Fsica
Formao profissional
Formao de educadores
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2001 Atividade fsica para sade no ensino mdio e
no tempo livre: estudo quase-experimental em
Bauru, SP
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de vida,
sade coletiva e
atividade fsica
Atividade fsica
Sade
Ensino mdio
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2001 Corporeidade e Cultura Amaznica: reflexes a
partir do pssaro junino do Par
Pedagogia do
Movimento
Corporeidade Corporeidade
Cultura
Folclore
Amaznia
Filosofia/Corporeidade
2002 Educao Fsica, Sade coletiva e a luta do
MST: reconstruindo relaes a partir das
violncias
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de vida,
sade coletiva e
atividade fsica
Educao Fsica
Sade
Trabalhadores rurais-sade
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2002 Preparao profissional em educao fsica: a
questo dos estgios
Pedagogia do
Movimento
Formao
profissional e
mercado de trabalho
Formao profissional
Estgios
Estgios supervisionados
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2002 Da avaliao gesto de processo: uma
proposta de instrumento para acompanhamento
da incluso contextualizada no transcorrer de
atividades motoras
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Imagem Corporal e
movimento
Atividades motoras
Gesto
Educao Fsica
Fundamentos da
Educao/ Teorias de
ensino aprendizagem/
Avaliao da
Aprendizagem
2002 Recreao e Lazer como integrantes dos
currculos dos cursos de graduao em
Educao Fsica
Estudos do Lazer Contedos culturais
do lazer
Educao Fsica
Currculos
Recreao
Lazer
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2002 Utilizao da discriminao grfica de Fisher
para indicao dos dermatglifos como
referencial de potencialidade de atletas de
basquetebol
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de vida,
sade coletiva e
atividade fsica
Baquetebol
Fisher
Atletas
Treinamento
fsico/esportivo
2002 Contribuies da praxiologia motriz para
Educao Fsica escolar ensino fundamental
Pedagogia do
Movimento
Estudos neurolgicos
e psicolgicos na
educao motora e
no esporte
Parlebas, Pierre
Educao Fsica Escolar
Didtica
Currculos
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
261
2002 A trajetria da educao fsica nas primeiras
sries do ensino fundamental na rede pblica
do estado de So Paulo: entre o proposto e o
alcanado
Pedagogia do
Movimento
Educao Fsica
Escolar
Educao fsica
Ensino fundamental;
Rede pblica
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2002 Perspectivas de atuao profissional: um estudo
de caso das olimpadas especiais
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Atividade fsica para
grupos com
necessidade
especiais
Atuao Profissional
Olimpadas
Necessidades Especiais
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2002 A Formao de Profissionais de Educao
Fsica: Alongamento muscular, uma Proposta
de Contedo
Pedagogia do
Movimento
Formao
Profissional e
Mercado de Trabalho
Formao profissional
Alongamento
Educao fsica
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2002 A Corporeidade do Cego: Novos Olhares' Pedagogia do
Movimento
Corporeidade Corporeidade
Deficincia
novos olhares
Filosofia/Corporeidade
2002 A Identidade Acadmico-Cientifica da Educao
Fsica: uma Investigao
Pedagogia do
Movimento
Formao
Profissional e
Mercado de Trabalho
Educao Fsica
Acdemico-Cientifico
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2002 As emoes na educao fsica escolar Pedagogia do
Movimento
Inteligncia corporal
cinsestsica
Emoes
Educao Fsica escolar
Fenmeno
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2003 O futebol e os jogos/brincadeiras de bola com
os ps: todos semelhantes, todos diferentes
Pedagogia do
Movimento
Educao Fsica
escolar
Futebol
Jogos e brincadeiras
Recreao/Lazer/Jogo
2003 Limiar anaerbico, velocidade crtica
determinada a partir de diferentes distncias e
performances aerbica em nadadores e
nadadoras de 10 a 15 anos
Cincias do Desporto Teoria do treinamento Nadadores
Bioenergtica
Testes de aptido
Treinamento
fsico/esportivo
2003 Meninos de rua ou de um beco sem sada? Um
novo resgate
Estudos do Lazer As inter relaes do
lazer na sociedade
Menino de rua
Novo resgate
Beco
Sociologia/Sociologia do
Esporte
2003 A constituio da interveno profissional em
Educao Fsica: interaes entre o
conhecimento formalizado e a noo de
competncia
Pedagogia do
Movimento
Estudos neurolgicos
e psicolgicos na
educao motora
Interveno Profissional
Educao Fsica
Conhecimento
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2003 Estudo sobre o nvel de participao num
programa de atividade fsica e sade e suas
relaes com as doenas crnicas no
transmissveis e a qualidade de vida: um estudo
de caso
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
esportivo
Atividade fsica
Qualidade de vida
Doenas crnicas
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2003 Avaliao da eficcia de um programa de
reabilitao como modificador nos indicadores
de dor e qualidade de vida em pacientes com
lombalgia crnica inespecfica
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de vida,
sade coletiva e
atividade fsica
Programa de realibilitao
Indicadores
Lombalgia
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2003 Pesquisa e ao em Educao Fsica para
idosos
Pedagogia do
Movimento
Estudos neurolgicos
e psicolgicos na
educao motora e
Pesquisa
Ao
Educao Fsica
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
262
no esporte
2003 Mercado de trabalho em Educao Fsica:
significado da interveno profissional luz das
relaes de trabalho e da construo da carreira
Pedagogia do
Movimento
Formao
profissional e
mercado de trabalho
Relao de trabalho
Interveno
Mercado de trabalho
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2003 Avaliao da catexe corporal dos participantes
do programa de educao fsica gerontolgica
da Universidade Federal do Amazonas
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Imagem corporal e
movimento
Educao Fsica
Amazonas
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2003 Polticas pblicas de lazer e participao
cidad: entendendo o caso de Porto Alegre
Estudos do Lazer As inter relaes do
lazer na sociedade
Poltica
Lazer
Participao
Poltica/Polticas Pblicas
de Esporte e Lazer
2003 Parques urbanos de Curitiba: a relao entre
cidade e natureza nas experincias de lazer
Estudos do Lazer As inter relaes do
lazer na sociedade
Parques Urbanos
Natureza
Lazer
Recreao/Lazer/Jogo
2003 Corpo-movimento-deficincia: as formas dos
discursos da/na dana em cadeira de rodas e
seus processos de significao
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Desenvolvimento
Corporal no Contexto
da Sociedade e
Cultura
Dana
Cadeira de Rodas
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2003 Modernidade, formas de subjetivao e
amizade: potencialidades das experincias de
lazer e aventura na natureza
Estudos do Lazer As inter relaes do
lazer na sociedade
Lazer
Subjetividade
Amizade
Recreao/Lazer/Jogo
2003 O perfil fsico e tcnico de atletas de
basquetebol: contribuio para identificao e
promoo do talento esportivo mltiplo no
basquetebol feminino
Cincias do Desporto Teoria do treinamento
desportivo
Basquetebol
Talento esportivo
Treinamento
fsico/esportivo
2004 O corpo e seus textos: o esttico e o poltico na
dana
Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Corpo
Dana
Atividades rtmicas/Dana
2004 Modelo de incluso digital para a construo do
conhecimento em qualidade de vida e atividade
fsica
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Sem indicao Educao a distncia
Exerccios Fsicos
Qualidade de Vida
Comunicao/Informao/I
nformtica
2004 Os caminhos e os descaminhos da educao
fsica escolar: repensando o pensamento
terico a partir da prtica docente
Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Educao Fsica escolar
Educao Fsica
Ensino-planejamento
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2004 A natao no deslizar aqutico da corporeidade Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Natao
Corpo
Fenomenologia
Filosofia/Corporeidade
2004 Esportes na natureza e deficincia visual: uma
abordagem pedaggica
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Sem indicao Pedagogia
Esportes
Natureza
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2004 Adaptaes da geometria da coluna vertebral e
do dorso durante a corrida
Biodinmica do
Movimento Humano
Sem indicao Biomecnica
Coluna Vertebral
Corrida
Biomecnica/Cinesiologia/
Cinemtica
2004 Atletas paraolmpicos: figuraes e sociedade
contempornea
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Sem indicao Atletas Paraolmpicos Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2004 Avaliao da aptido em diabticos submetidos Atividade Fsica, Sem indicao Qualidade de vida Atividade fsica/ Desporto
263
a programa de atividade fsica: repercusses
sobre domnios e facetas da qualidade de vida
Adaptao e Sade Diabetes
Aptido fsica
para grupos especiais
2004 Corpo-sujeito Kadiweu: jogo e esporte Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Jogos
Esportes
Indgenas brasileiros
Recreao/Lazer/Jogo
2004 Crescimento, composio corporal e
desempenho motor de escolares de 7 a 10 anos
de idade no municpio de cascavel - PR
Cincias do Desporto Sem indicao Crescimento
Corpo
Composio
Antropometria
Crianas
Desenvolvimento Motor
2004 Educao Fsica Escolar: programa para
formao de lderes comunitrios para alunos
das 2 e 3 sries do Ensino Mdio
Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Educao Fsica
Ensino Mdio
Liderana Comunitria
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2004 Desenvolvimento de equaes generalizadas
para estimativa da coordenao motora em
criana e adolescentes portadores de
deficincia mental
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Sem indicao Sem indicao Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2005 Clown, processo criativo: rito de iniciao e
passagem
Sem indicao Sem indicao Clown
Iniciao
Passagem
Filosofia/Corporeidade
2005 O campo atrativo perceptual do nadar (CAPn) e
propulso na natao
Cincias do Desporto Sem indicao Nadar
Natao
Propulso
Treinamento
fsico/esportivo
2005 A estimulao da inteligncia corporal
cinestsica no contexto da educao fsica
escolar
Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Inteligncia
Educao Fsica
Estudo e ensino
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2005 Ta ligado mano: o hip-hop como lazer e busca
da cidadania
Pedagogia do
Movimento
Educao Fsica
escolar
Hip-hop
Manuteno
Lazer
Recreao/Lazer/Jogo
2005 Entre o cio e o negcio: teses acerca da
anatomia do lazer
Estudos do Lazer Sem indicao cio
Teses
Lazer
Recreao/Lazer/Jogo
2005 Formao continuada de professores de
Educao Fsica em ambiente escolar inclusivo
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Sem indicao Formao continuada
Professores
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2005 Pedagogia do treinamento: mtodo,
procedimentos pedaggicos e a mltiplas
competncias do tcnico nos jogos desportivos
coletivos
Cincias do Desporto Teoria do treinamento
desportivo
Pedagogia
Treinamento
Mtodo/treinamento
Jogos em grupo
Esporte
Teatro
Formao profissional
Prtica
desportiva/Fundamentos
desportivos
2005 A ginstica como rea de conhecimento na
formao profissional em Educao Fsica:
encaminhamento para uma reestruturao
Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Ginstica
Professores
Profissional
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
264
curricular
2005 Anlise das alteraes nos padres de
preenso palmar em pianistas
Biodinmica do
Movimento Humano
Metodologia e
instrumentao em
biomecnica
Anlise
Alteraes
Preenso
Biomecnica/Cinesiologia/
Cinemtica
2005 Validade de equipamento eletrnico
informatizado para anlise de movimentos
tcnicos do voleibol: um estudo na categoria
juvenil
Cincias do Desporto Sem indicao Tecnologia Avaliao
Voleibol
Voleibol Treinamento
Treinamento tcnico
Aptido fsica - Testes
Movimento
Treinamento
fsico/esportivo
2005 A Personagem Desconstruda: Argumentos
para uma Arte Cnica No-Logocntrica
Pedagogia do
Movimento
Sem indicao Corporeidade
Artes Cnicas
Jogo
Performance
Desconstruo
Personagem
Filosofia/Corporeidade
2005 Quando o Estado joga a favor do privado: as
polticas de esporte aps a constituio de 1988
Estudos do lazer Sem indicao Constituio
Polticas
Esportes
Poltica/Polticas Pblicas
de Esporte e Lazer
2005 Educao Fsica adaptada: proposta de ao
metodolgica para formao universitria
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Pessoas com
Necessidade
especiais: aspectos
da atividade fsica e
da imagem corporal
Deficincia
Metodologia
Educao Fsica
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2005 Treinamento de fora e suplementao de
creatina: a densidade da carga como estmulo
otimizador nos ajustes morfolgicos e funcionais
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Treinamento
Fora
Suplementao
Treinamento
fsico/esportivo
2005 A Reorganizao da Formao Profissional em
Educao Fsica no Brasil: Aspectos Histricos
Significativos
Cincias do Desporto Sem indicao Educao fsica Legislao
Diretrizes curriculares
Formao profissional
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2006 Estudo da distribuio da presso plantar e do
equilbrio corporal em corredores de longa
distncia
Cincias do Desporto Desporto, Sade e
Educao
Equilbrio Corporal;
Presso Plantar
Biomecnica/Cinesiologia/
Cinemtica
2006 Risco, corpo e socialidade no vo livre Estudos do Lazer Sem indicao Sem indicao Sociologia/Sociologia do
Esporte
2006 A eficcia e a hetorocronia das respostas de
adaptao de basquetebolistas submetidos a
diferentes modelos de estruturao da carga de
treinamento
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Eficcia
Hetorocrnica
Basquetebol
Modelos
Adaptaes
Treinamento
fsico/esportivo
2006 Perfil antropomtrico e desempenho fsico-
motor de crianas e jovens com deficincia
visual participantes do atletismo nos I Jogos
Escolares da Confederao Brasileira de
Desportos para cegos
Atividade fsica,
Adaptao e Sade
Pessoas com
Necessidades
Especiais: aspectos
da atividade fsica e
da Imagem corporal
Desenvolvimento motor
Deficientes visuais
Atletismo
Atividade fsica/Desporto
para grupos especiais
265
2006 Incapacidades fsicas em hansenase e
atividade fsica: coisa do passado ou problema
do futuro?
Cincias do Desporto Desporto, sade e
educao
Hansenase
Hansenase-controle
Incapacidade
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2006 A prtica do basquetebol feminino no estado de
So Paulo: conhecendo e analisando seu
contexto
Sem indicao Sem indicao Educao Fsica
Basquetebol
Esportes femininos
Sociologia/Sociologia do
Esporte
2006 Mudanas nas variveis de aptido fsica numa
equipe de futebol da primeira diviso do
campeonato nacional durante uma pr-
temporada
Educao Fsica e
Sociedade
Corpo e Educao
Fsica
Antropomtricas
Fisiolgicas
Futebolistas
Treinamento
fsico/esportivo
2006 Salto triplo: o sistema de preparao do
desportista: da deteco promoo do talento
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Esporte
Salto
Atletismo
Preparao fsica
Prtica
desportiva/Fundamentos
desportivos
2006 Etno Desporto indgena: contribuies da
antropologia social a partir da experincia entre
os Kaingang
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Desenvolvimento
Corporal no Contexto
da Sociedade e
Cultura
Antropologia
Jogos
Futebol
Corpo
ndios Kaingang - Etnologia
Antropologia/Antropologia
Social/Antropologia Cultural
2006 Vivncias corporais na escola: uma experincia
com professores de educao infantil e das
quatro series iniciais do ensino fundamental
Educao Fsica e
Sociedade
Corpo e Educao
Fsica
Educao fsica
Imagem corpora
; Pratica pedaggica
Professores de ensino de primeiro grau
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2006 Controle autonmico da frequencia cardaca de
adolescentes em treinamento
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Atividade Fsica e os
Ajustes e Adaptaes
Cardiorrespiratrias
Sistema nervoso autnomo
Eletrocardiografia
Adolescentes
Educao fsica
Fisiologia
2006 Psicologia do esporte: discusses sobre o
cenrio brasileiro
Sem indicao Sem indicao Psicologia do esporte
Formao profissional
Competncias
Psicologia/ Psicologia do
Esporte
2006 O esporte numa perspectiva educativa para a
sade e qualidade de vida do idoso
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de Vida,
Sade Coletiva e
Atividade Fsica
Esporte para terceira idade
Idosos
Sade
Qualidade de vida
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2006 A selvagem dana do corpo Educao Fsica e
Sociedade
Corpo e Educao
Fsica
Corpo
Dana selvagem
Atividades rtmicas/Dana
2006 As diferentes interfaces da aventura na
natureza: reflexes sobre a sociabilidade na
vida contempornea
Educao Fsica e
Sociedade
Lazer e Sociedade Aventura
Natureza
reflexes
Recreao/Lazer/Jogo
2006 As interfaces entre imagem corporal e
representao simblica de Carl Gustav Jung
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Pessoas com
Necessidades
Especiais: aspectos
da atividade fsica e
da imagem corporal
Imagem corporal
Jung
Simblica
Filosofia/Corporeidade
2007 O jud: do modelo artesanal ao modelo Cincias do Desporto Teoria do Jud Formao e atuao do
266
cientfico: um estudo sobre as lutas, formao
profissional e a construo do habitus
Treinamento
Desportivo
Luta
Formao profissional
professor/ Educao fsica
e currculo
2007 Anlise da disciplina de educao fsica
especial nas instituies de ensino superior
pblicas do estado do Paran
Atividade fsica,
Adaptao e Sade
Pessoas com
Necessidades
Especiais
Anlise de disciplina
Educao fsica especial
Paran
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2007 Contribuies dos Programas de Ps-
Graduao Stricto Sensu na formao e
atuao dos docentes de ensino superior: o
caso da Educao Fsica
Cincias do Desporto Desporto, Sade e
Educao
Educao fsica
Programas
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2007 O processo de formao tcnica e ttica no
basquetebol do Brasil: um estudo sob a tica de
tcnicos e professores universitrios
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Basquetebol
Professores universitrios
Educao fsica
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2007 A configurao do lazer no espao das
universidades da terceira idade
Educao Fsica e
Sociedade
Lazer e Sociedade Terceira idade
Lazer
Espao
Recreao/Lazer/Jogo
2007 Proposio, validao e aplicao de um novo
mtodo para anlise cinemtica tridimensional
da movimentao da caixa torcica durante a
respirao
Biodinmica do
Movimento Humano
Metodologia e
instrumentao em
biomecnica
Caixa torcica
Mtodo
Anlise
Biomecnica/Cinesiologia/
Cinemtica
2007 O ensino das disciplinas esportivas coletivas
nos cursos de licenciatura em Gois: um estudo
descritivo
Cincias do Desporto Desporto, Sade e
Educao
Disciplinas esportivas
Gois
Licenciaturas
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2007 Possibilidades corporais como expresso da
inteligncia humana no processo de ensino-
aprendizagem
Educao Fsica e
Sociedade
Educao Fsica
Escolar
Possibilidades corporais
Inteligncia
Ensino
Aprendizagem
Fundamentos da
Educao/ Teorias de
ensino aprendizagem/
Avaliao da
Aprendizagem
2008 Anlise do desenvolvimento das prticas
urbanas de lazer relacionadas a produo
cultural no perodo nacional-desenvolvimentisa
globalizao atravs da teoria da ao
comunicativa
Estudos do Lazer Sem indicao Globalizao
Lazer;
Relaes
Cultural
Recreao/Lazer/Jogo
2008 Efeito da ingesto de cafena sobre o dficit
mximo acumulado de oxignio, sinal
eletromiogrfico dos msculos superficiais do
quadrceps e desempenho fsico de ciclistas
Cincias do Desporto Teoria do treinamento
desportivo
Ingesto de cafena
Oxignio
Ciclismo
Nutrio/Obesidade
2008 Relaes entre aptido fsica, sexo, idade, nvel
de atividade fsica e superviso dos exerccios
em indivduos fisicamente ativos de 50 a 79
anos de idade
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de vida,
Sade Coletiva e
Atividade Fsica
Envelhecimento
Aptido fsica
Sade
Atividade fsica
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2008 Os currculos de licenciatura em Educao
Fsica: a dana em questo
Educao Fsica e
Sociedade
Educao Fsica
Escolar
Currculos
Licenciatura
Educao fsica
Dana em questo
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2008 Formao humana e ginstica geral na Educao Fsica e Educao Fsica Formao humana Formao e atuao do
267
Educao Fsica Sociedade Escolar Educao fsica professor/ Educao fsica
e currculo
2008 Mudanas do desempenho da fora explosiva
durante um ciclo anual em voleibolistas na
puberdade
Cincia do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Desempenho
Fora explosiva
Treinamento
fsico/esportivo
2008 Trabalho, tempo livre e emancipao humana:
os determinantes ontolgicos das polticas
sociais de lazer
Educao Fsica e
Sociedade
Lazer e Sociedade Emancipao humana
Poltica Social
Lazer
Recreao/Lazer/Jogo
2008 O uso de softwares para estimulao da
percepo do surdo frente aos parmetros de
velocidade do ritmo: proposta de utilizao do
BPM counter e do VPM counter no programa de
atividdes rtmicas adaptado s pessoas surdas
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Pessoas com
Necessidades
Especiais
Softwares
Surdo
velocidade
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2008 Influncia da atividade fsica na imagem
corporal e percepo de dor de pessoas idosas
com dores crnicas
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Pessoas com
Necessidades
Especiais
Envelhecimento
Dor Crnica
Auto Imagem
Auto Estima
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2008 Sistema de periodizao em blocos: efeitos de
um modelo de treinamento sobre o
desempenho de nadadores velocistas de alto
nvel
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Nadadores
Alto nvel
Treinamento
Treinamento
fsico/esportivo
2008 Prticas scio-culturais, figuraes, poder e
diferenciaes em bico, cuiamuc e canela fina
comunidades amaznicas
Educao Fsica e
Sociedade
Esporte e Sociedade Comunidades amaznicas
Figurao
Poder
Diferenciao
Antropologia/Antropologia
Social/Antropologia Cultural
2008 Respostas neuromusculares, metablicas e
percepo de esforo durante exerccios
intermitentes de alta intensidade
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Percepo
Metablicas
Exerccio
Fisiologia
2008 Juventude, Lazer e uso abusivo de lcool Educao Fsica e
Sociedade
Esporte e Sociedade Juventude
Lazer
Alcool
Recreao/Lazer/Jogo
2008 Tracking dos indicadores da aptido fsica
relacionada sade em escolares
Cincias do Desporto Teoria do
Treinamento
Desportivo
Tracking
Indicadores
Aptido fsica
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
2008 Viso estratgico-ttica de tcnicos campees
da Liga Nacional de Futsal
Educao Fsica e
Sociedade
Esporte e Sociedade Estratgia
Ttica
Treinadores
Esportes-Metodologia
Prtica
desportiva/Fundamentos
desportivos
2008 Da formao e desenvolvimento profissional do
professor de Educao Fsica inovao
educativa
Educao Fsica e
Sociedade
Educao Fsica
Escolar
Semitica
Trabalho pedaggico
Formao
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica
e currculo
2008 Mediao de sentidos: aulas compartilhadas no
Brasil e em Portugal junto a estudantes de
educao fsica
Educao Fsica e
Sociedade
Educao Fsica
Escolar
Aula
Cultura
Linguagem
Mdia
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
268
Formao de professores
2008 Educao Fsica no Ensino Mdio:
representaes dos alunos
Educao Fsica e
Sociedade
Educao Fsica
Escolar
Educao fsica
Ensino mdio
Representao dos alunos
Educao fsica
escolar/Esporte escolar
2008 Relaes entre marcadores dgito-palmares e
aptido fsica em atletas de jud de elite
Cincias do Desporto Desporto, Sade e
Educao
Marcadores digitais
Palmares
Aptido fsica
Treinamento
fsico/esportivo
2008 Adaptao e validao da Askas - Aging Sexual
Knowledge and attitudes scale em idosos
brasileiros
Atividade Fsica,
Adaptao e Sade
Qualidade de vida,
sade coletiva e
atividade fsica
Adaptao
Validao
Escala askas
Atividade fsica e
sade/Qualidade de
vida/Sedentarismo
Classificao temtica das teses da UGF
ANO DE
DEFESA TTULO DA TESE
REA DE
CONCENTRAO LINHA DE PESQUISA DESCRITORES CATEGORIA TEMTICA
1998
Futebol, raa e nacionalidade no Brasil: releitura
da histria oficial
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Racismo
Futebol Estudos culturais
1998
A ginstica de academia brasileira analisada
segundo os postulados da esttica de Schiller,
Vieira de Mello e Maffesoli
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Ginstica de academia
Esttica Filosofia/Corporeidade
1998
Representao social da mulher brasileira na
atividade fsico-desportiva: da segregao
democratizao
Educao Fsica &
Cultura
Representaes de gnero
na educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Representao social
Mulher esportiva Sociologia/Sociologia do Esporte
1999 Sade e espiritualidade na atividade corporal
Educao Fsica &
Cultura
Identidade Cultural da
educao fsica, esporte e
lazer e do olimpismo
Ginstica suave
Sade
Espiritualidade Sociologia/Sociologia do Esporte
1999
Respostas multiculturais ao olimpismo: uma
pesquisa etnogrfica em Olmpia Antiga - Grcia
Educao Fsica &
Cultura
Identidade Cultural da
educao fsica, esporte e
lazer e do olimpismo
Olimpismo
Multiculturalismo
Educao
Antropologia/Antropologia
Social/Antropologia Cultural
1999
Cidade Sportiva: O turfe e o remo no Rio de
Janeiro (1849-1903)
Educao Fsica &
Cultura
Produo histrica na
educao fsica, esporte e
lazer
Esporte
Histria
Turfe
remo
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
1999
A participao do Brasil no Movimento Olmpico
Internacional no perodo de 1826 a 1925
Educao Fsica &
Cultura
Identidade cultural da
educao fsica, esporte,
lazer e do olimpismo
movimento olmpico
Brasil
Histria
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
269
identidade cultural
1999
Esportes de aventura e risco na montanha: uma
trajetria de jogo com limites e incertezas
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Esporte
representao social
ecoturismo
aventura Sociologia/Sociologia do Esporte
2000
Sentidos de pesquisa para os atores da educao
fsica: da mistificao ao imaginrio utilitrio
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Representao
Universidade Pesquisa/Ps-Graduao
2000 O declnio de um paradigma: ensaio crtico sobre
a relao de causalidade entre exerccio fsico e
sade
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Efeitos da atividade fsica
sobre a sade na perspectiva
da qualidade de vida
Atividade Fsica
Sade
Epistemologia
Produo do Conhecimento
Atividade fsica e sade/Qualidade
de vida/Sedentarismo
2000 Motivao no trekking: um caminhar nas
montanhas
Educao Fsica &
Cultura
Identidade Cultural da
educao fsica, esporte e
lazer e do olimpismo
Motivao
Flow-feeling
Esporte
Meio ambiente
Recreao/Lazer/Jogo
2000 As bias-frias e suas representaes sociais
sobre o tempo livre e lazer
Educao Fsica &
Cultura
Representaes de gnero
na educao fsica, esporte e
lazer
Lazer
Mulher
Boia Fria
Tempo Livre
Recreao/Lazer/Jogo
2001 Por que Flamengo? Educao Fsica &
Cultura
Identidade Cultural da
educao fsica, esporte e
lazer e do olimpismo
Educao Fsica
Flamengo
Representao social
Sociologia/Sociologia do Esporte
2001 Autopercepo da aptido fsica relacionada
sade
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Efeitos da atividade fsica
sobre a sade na perspectiva
da qualidade de vida
Atividade Fsica
Autopercepo
Sade
Qualidade de Vida
Atividade fsica e sade/Qualidade
de vida/Sedentarismo
2002 A formao intelectual, moral e fsica em Minas
Gerais no sculo XIX: um estudo da histria do
colgio do Caraa
Educao Fsica &
Cultura
Produo histrica na
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Colgio do Caraa
Formao Intelectual
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
2002 Futebol, linguagem e mdia: entrada, ascenso e
consolidao dos negros e mestios no futebol
brasileiro
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Esporte
Futebol
Racismo
Mdia
Copa do Mundo
Sociologia/Sociologia do Esporte
2002 Igreja catlica, atividades corporais e esportes:
superando preconceitos
Educao Fsica &
Cultura
Pensamento pedaggico da
educao fsica brasileira
Educao Fsica
Escola Catlica
Pensamento Pedaggico
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
2003 O sculo da higiene: uma histria de intelectuais
da sade (Brasil, sculo XX)
Educao Fsica &
Cultura
Pensamento pedaggico da
educao fsica brasileira
Higienismo
Educao Fsica
Poltica
Sade
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
2003 Da educao fsica moral e intelectual a um corpo
idealizado: desvelando o discurso mdico nas
teses da Faculdade de Medicina do Rio de
Educao Fsica &
Cultura
Produo histrica na
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica Escolar
Medicina
Corpo
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
270
Janeiro Sade
2003 Entre o drama e a tragdia: pensando os projetos
sociais de dana na cidade do Rio de Janeiro
Educao Fsica &
Cultura
Interveno profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Favela
Projetos sociais de dana
Iimaginrio social
Sociologia/Sociologia do Esporte
2003 Histria das mulheres na natao brasileira no
sculo XX: das adequaes s resistncias
sociais
Educao Fsica &
Cultura
Representaes de gnero
na educao fsica, esporte e
lazer
Natao
Atletas
Mulheres
representao social
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
2003 Transio caminhada corrida: estudo dos
mecanismos envolvidos na regulao da
locomoo e subsdios para prescrio do
exerccio aerbio
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Efeitos da atividade fsica
sobre a sade na perspectiva
da qualidade de vida
Exerccio
Caminhada-corrida
fisiologia
Fisiologia
2003
A produo imaginria dos jogadores
compulsivos: a potica do espao do jogo
Educao Fsica &
Cultura
Aspectos simblicos dos
jogos e danas populares
Jogo
Jogador
Imaginrio
Bingo
mito Recreao/Lazer/Jogo
2003
Esporte, Movimento Olmpico e Democracia: o
atleta como mediador
Educao Fsica &
Cultura
Identidade cultural da
educao fsica, esporte,
lazer e do olimpismo
Jogos olmpicos
Comit olmpico
Atletas Sociologia/Sociologia do Esporte
2004
Fundamentos tericos para elaborao do projeto
pedaggico do curso de educao fsica
Educao Fsica &
Cultura
Formao Profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Currculo
Formao Profissional
Educao Fsica
Educao fsica escolar/Esporte
escolar
2004 A pastoral do envelhecimento ativo
Educao Fsica &
Cultura
Interveno Profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Atividades fsicas
Idosos
Interveno Profissional
Atividade fsica e sade/Qualidade
de vida/Sedentarismo
2004
O sexismo nas aulas de educao fsica: uma
anlise dos desenhos infantis e dos esteretipos
de gnero dos jogos e brincadeiras
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Gnero
Esteretipos
Jogos
Educao fsica escolar/Esporte
escolar
2004
Aspectos fisiolgicos e metodolgicos do controle
autonmico da freqncia cardaca
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Efeitos das atividades fsica
sobre variveis
morfofuncionais do ser
humano
Exerccio Fsico
Frequncia Cardaca
Atividade Vagal Fisiologia
2004
A utopia da aventura em cadeira de roda: o
imaginrio da dana como (re) descoberta das
linguagens corporais
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Dana
Imaginrio social
PPD
Cadeirante Dana e Atividades Rtmicas
2004
Influncia da ordem dos exerccios sobre o
nmero de repeties, percepo subjetiva de
esforo e consumo de oxignio em sesses de
treinamento resistido
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Efeitos do treinamento contra
resistncia
Treinamento de fora
Escala de Borg
Dispndio energtico Treinamento fsico/esportivo
2004
Caminhando nas trilhas do reencatamento da
natureza
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Esporte
Aventura
Natureza Sociologia/Sociologia do Esporte
271
Caminhada
Imaginrio Social
2004
Mais do que pendurar as chuteiras: projetos
sociais de ex-jogadores de futebol famosos
Educao Fsica &
Cultura
Anlise institucional em
educao fsica, esporte e
lazer
Futebol
Projetos sociais
Ex-jogadores Sociologia/Sociologia do Esporte
2004
Teste de exerccio de 4 segundos: aspectos
metodolgicos e implicaes prognsticas
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Efeitos da atividade fsica
sobre a sade na perspectiva
da qualidade de vida
Atividade Fsica
Cardiopatas
Teste de 4s Fisiologia
2004
Entre a paixo e o interesse: o amadorismo e o
profissionalismo no futebol brasileiro
Educao Fsica &
Cultura
Identidade cultural da
educao fsica, esporte,
lazer e do olimpismo
Futebol
Amadorismo
Profissionalismo
Mdia Sociologia/Sociologia do Esporte
2004
Efeito agudo do aquecimento ativo sobre a fora,
potncia e trabalho de extenso isocintica de
joelho em mulheres jovens e saudveis
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Efeitos da atividade fsica
sobre a sade na perspectiva
da qualidade de vida
Exerccio Fsico
Aquecimento
Potncia
Trabalho Muscular Treinamento fsico/esportivo
2005
Limites e possibilidades ou o mximo de
conscincia possvel a educao fsica nos
anos 1980
Educao Fsica &
Cultura
Formao Profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Pensamento pedaggico
Anos 1980
Formao
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
2005
Um s corao e uma s alma: as influncias da
tica romntica na interveno educativa
salesiana e o papel das atividades corporais
Educao Fsica &
Cultura
Pensamento Pedaggico e
interveno profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Tradio Salesiana
tica Romntica
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
2005
Caractersticas da personalidade do atleta
brasileiro de alto-rendimento
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano Sem indicao
Esporte
Personalidade
Atletas
Alto Rendimento Psicologia/Psicologia do Esporte
2005
As faces de pandora: a mulher na famlia, no
trabalho e no lazer
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Lazer
Mulher;
Mito
Famlia
Trabalho Sociologia/Sociologia do Esporte
2005
A memria da copa de 70: esquecimento e
lembranas do futebol na construo da
identidade nacional
Educao Fsica &
Cultura
Identidades culturais na
educao fsica, no esporte,
no lazer e no olimpismo
Futebol
Memria
Copa de 70
Imprensa
Identidade Estudos culturais
2006
Participao das mulheres na gesto do esporte
brasileiro: desafios e perspectivas
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Gesto Esporte de alto rendimento
Participao da mulher Organizao/Gesto
2006
Qualidade de vida no trabalho do professor de
educao fsica: um estudo sobre a decncia
laboral em academias a partir do ponto de vista
docente
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Professor
Qualidade de vida
Representao
Atividade fsica e sade/Qualidade
de vida/Sedentarismo
272
2006
Os sentidos de formao profissional no
imaginrio dos docentes do curso de graduao
em Educao Fsica da Universidade Federal de
Alagoas
Educao Fsica &
Cultura
Formao Profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Educao Fsica
Formao profissional
Imaginrio social Formao e atuao do professor
2006
Um estudo do imaginrio e da ludicidade de
crianas ribeirinhas
Educao Fsica &
Cultura
Identidades culturais na
educao fsica, no esporte,
no lazer e no olimpismo
Jogo
Ludicidade
Imaginrio
Mitos
Caboclo
Ribeirinho Recreao/Lazer/Jogo
2006 Os sentidos da aventura no lazer de caminhantes Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica , esporte e
lazer
Esporte
Aventura
Lazer
Caminhantes
Imaginrio social
Recreao/Lazer/Jogo
2006 Os jogos das paixes ordinrias nas emoes
ascensionais: o imaginrio dos escaladores
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica , esporte e
lazer
Esporte
Escalada
Vertigem
Prazer;
Imaginrio social
Sociologia/Sociologia do Esporte
2006 O processo de incluso das mulheres nos Jogos
Olmpicos
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica , esporte e
lazer
Esporte
Olimpismo
Atletas
Mulheres
Histria
Histria/Histria da Educao
Fsica/Histria da Educao
2006 Diagnstico de esporte e lazer: conhecer para
transformar um estudo em Municpios do Rio
Grande do Sul
Educao Fsica &
Cultura
Gesto e anlise institucional
em educao fsica, esporte
e lazer
Esporte
Poltica Pblica
Lazer
Gesto
Planejamento
Recreao/Lazer/Jogo
2006 Esporte e esprito romntico: o caso do golfe Educao Fsica &
Cultura
Identidades culturais na
educao fsica, no esporte,
no lazer e no olimpismo
Esporte
Golfe
Romantismo
Sociologia/Sociologia do Esporte
2006 Oxigenao e volume sanguneo do msculo
vasto lateral e do crebro, medidos com
espectrospia no infravermelho prximo, durante o
exerccio contra-resitncia
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Variveis intervenientes e
efeitos do treinamentos
contra-resitncia
1RM
repeties mximas;
Velocidade
Intensidade
Intervalo
Fisiologia
2006 Estudo da influncia do exerccio de fora sobre
as respostas sub-agudas de presso arterial e
fluxo sanguneo
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Variveis intervenientes e
efeitos do treinamento
contra-resistncia
Exerccio fsico resistido
Presso arterial
Fisiologia cardiovascular
Fisiologia
2006 Os sentidos da aventura de cavalgar rastreando
pegadas no imaginrio social
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Esporte
Hipismo
Imaginrio social;
Aventura
Sociologia/Sociologia do Esporte
273
2006 Variveis do treinamento contra-resistncia em
idosos: dois estudos especficos
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Variveis intervenientes e
efeitos do treinamento
contra-resistncia
Treinamento de fora;
Envelhecimento
Fisiologia do exerccio
Treinamento fsico/esportivo
2007 Educao Fsica e esterides anabolizantes:
riscos e desejos no labirinto dos espelhos
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Corpo
Educao Fsica
Imaginrio Social
Sociologia/Sociologia do Esporte
2007 O imaginrio social de aventureiros do extremo: o
universo simblico dos praticantes das provas de
ultra-resistncia
Educao Fsica &
Cultura
Representaes sociais da
educao fsica, esporte e
lazer
Imaginrio social
Esporte de Risco Extremo
Provas Resistncia
Sociologia/Sociologia do Esporte
2007 Efeitos da hipoxia sobre respostas
hemodinmicas, ventilatrias e de oxigenao
tecidual durante o exerccio contra resistncia em
indivduos saudveis
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Variveis intervenientes e
efeitos do treinamento
contra-resistncia
Levantamento de peso
Altitude
Adaptaes fisiolgicas
Fisiologia
2007 Projeto esporte cidado: avaliao e
reoorientao
Educao Fsica &
Cultura
Gesto do conhecimento e
anlise institucional em
educao fsica, esporte e
lazer
Cidadania
Educao Fsica
Projetos Sociais
Esportes comunitrios
2007 Os estilos de futebol e os processos de seleo e
deteco de talentos
Educao Fsica &
Cultura
Identidades culturais na
educao fsica
Seleo e deteco de talentos
Estilos de jogar futebol
Sociologia/Sociologia do Esporte
2007 Fatores de potncia muscular e desempenho
aerbio na corrida a 1 e 10% de inclinao:
aspectos determinantes e suas relaes com
estmulos concorrentes
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Variveis intervenientes e
efeitos do treinamento
contra-resistncia
TLim
Mart
VO2Mx;
Trabalho total
Inclinao
Fisiologia
2007 O discurso antidisciplinar na educao fsica
escolar
Educao Fsica &
Cultura
Pensamento Pedaggico e
interveno profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Sociologia
Educao
Educao fsica escolar
Representao
Educao fsica escolar/Esporte
escolar
2007 Produo cientfica na rea de educao fsica
escolar: os obstculos epistemolgicos nos
estudos de interveno docente
Educao Fsica &
Cultura
Pensamento Pedaggico e
interveno profissional em
educao fsica, esporte e
lazer
Produo conhecimento
Educao fsica escolar
Epistemolgicos
Educao fsica escolar/Esporte
escolar
2007 Esportes e camadas populares: incluso e
profissionalizao
Educao Fsica &
Cultura
Identidades culturais na
educao fsica, no esporte,
no lazer e no olimpismo
Pedagogia do esporte
Incluso social
Polticas pblicas
Esportes comunitrios
2008 Efeito de dietas restritiva em caboidratos ou
convencional e do treinamento contra-resistncia
sobre a fora e hipertrofia muscular e indicadores
de sade de adultos com sobrepeso
Atividades Fsicas &
Desempenho
Humano
Variveis intervenientes e
efeitos do treinamento
contra-resistncia
Obesidade
Funo endotelial
Emagrecimento
Nutrio/Obesidade
274
Classificao temtica das teses da UFRGS
ANO DE DEFESA TTULO DA TESE
REA DE
CONCENTRAO LINHA DE PESQUISA DESCRITORES CATEGORIA TEMTICA
2003
O efeito do impacto repetitivo sobre a placa de
crescimento estudo experimental em ratos
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
Crescimento sseo
Placa de crescimento
Impactos repetitivos
Biomecnica/
Cinesiologia/Cinemtica
2003
Implicaes biomecnicas da tcnica da
pedalada na economia de movimento de
ciclistas e triatletas
Movimento Humano, Sade e
Performance
Neuromecnica do
Movimento Humano
Ciclismo
Tritlon
Economia de Movimento
Eletromiografia
Biomecnica/
Cinesiologia/Cinemtica
2003 O debate tico e biotico na educao fsica
Movimento Humano, Cultura
e Educao
Representaes sociais do
movimento humano
Educao Fsica
tica
Biotica Epistemologia/Cincia
2003
Controle de fora e torque isomtrico em
crianas com e sem desordem coordenativa
desenvolvimental
Movimento Humano, Sade e
Performance
Atividade Fsica e
performance
Desenvolvimento moto
Controle motor
Desordem motora Desenvolvimento Motor
2003
Um estudo de casos: as relaes de crianas
com sndrome de Down e de crianas com
deficincia auditiva na psicomotricidade
Movimento Humano, Cultura
e Educao
Movimento Humano e
Portadores de
necessidades especiais
Sndrome de Down
Deficincia Auditiva
Psicomotricidade relacional
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2003
O conhecimento cientfico relacionado
educao fsica escolar: paradigmas e
aplicaes
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
Epistemologia
Educao Fsica
Prtica Pedaggica
Educao fsica
escolar/esporte escolar
2004
A escola postural na perspectiva da educao
somtica: a reformulao de um programa de
extenso na ESEF/UFRGS
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
Corpos retos
Corretos
postura
Biomecnica/
Cinesiologia/Cinemtica
2004
O uso da eletromiografia, da mecanomiografia
e da dinamometria no estudo da adaptao
funcional do msculo esqueltico aps
imobilizao
Movimento Humano, Sade e
Performance
Neuromecnica do
Movimento Humano Sem indicao
Biomecnica/
Cinesiologia/Cinemtica
2004
Atividades fsicas e padro de consumo
alimentar em estudantes do ensino mdio em
Santa Catarina|: do estudo descritivo
interveno
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade Sem indicao Nutrio/Obesidade
2006
A prtica pedaggica dos professores de
educao fsica e o currculo organizado por
ciclos: um estudo na rede municipal de Porto
Alegre
Movimento Humano, Cultura
e Educao
Formao de professores e
Prtica pedaggica Sem indicao
Formao e atuao do
professor/ Educao fsica e
currculo
2007
Determinantes do desempenho para a prova
de 200 metros nado livre
Movimento Humano, Sade e
Performance
Neuromecncia do
Movimento Humano
Nado Livre
Desempenho Treinamento fsico-esportivo
2007
Monitorao de adaptaes antropomtrica,
motora e modelao da estrutura do
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e sade
Adaptaes
antropomtricas Treinamento fsico-esportivo
275
desempenho esportivo de atletas de voleibol
durante perodo de preparao
Monitorao
2007
Treinamento concorrente com sries simples
nos parmetros imunolgico, virolgico,
cardiorrespiratrio e muscular de indivduos
infectados pelos vrus da imunodeficincia
humana
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
HIV
Treinamento concorrente
Srie simples
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2007
Efeitos do exerccio fsico no sistema
hemosttico
Movimento Humano, Sade e
Performance
Atividade Fsica e
performance
Exerccio fsico
Sistema hemosttico Fisiologia
2007
Interveno nutricional e estresse oxidativo ao
longo do treinamento em triatletas
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
Triatlo
Dieta
Vitaminas antioxidantes
Estresse oxidativo Nutrio/Obesidade
2008
Efeitos de um programa de interveno motora
em crianas obesas e no obesas nos
parmetros motores, nutricionais e
psicossociais
Movimento Humano, Sade e
Performance
Desenvolvimento da
coordenao e do controle
motor
Obesidade
Criana
Nutrio
Educao fsica
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2008
O eu do ns: o professor de Educao Fsica
e a construo do trabalho docente coletivo na
rede municipal de ensino de Porto Alegre
Movimento Humano, Cultura
e Educao
Formao de professores e
prtica pedaggica
Educao fsica escolar
Docente
Trabalho coletivo
Formao e atuao do
professor/ Educao Fsica
e currculo
2008
O perfil do estilo de vida de pessoas com
sndrome de down e normas para avaliao da
aptido fsica
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
Estilo de vida
Sindrome de Down
Aptido fsica
Atividade fsica/ Desporto
para grupos especiais
2008
Predio da ocorrncia de entorse de tornozelo
em atletas de basquetebol e voleibol atravs
da identificao de riscos intrnsecos e
extrnsecos
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
Predio
Entorse de Tornozelo
Biomecnica/
Cinesiologia/Cinemtica
2008
Evidncias cognitivas do desenvolvimento da
coordenao e do controle motor na
aprendizagem: pesquisa experimental
interdisciplinas em educao, sade e
neurocincias
Movimento Humano, Sade e
Performance
Desenvolvimento da
coordenao e do controle
motor
Aprendizagem
Msica
Cognio
Eletroincefalografia
Aprendizagem
motora/Pedagogia do
movimento
2008
Efeitos da escola postural no trabalho e da
ergonomia sobre o comportamento postural
Movimento Humano, Sade e
Performance Atividade Fsica e Sade
Escola Postural no Trabalho
Ergonomia
Desconforto postural
Biomecnica/
Cinesiologia/Cinemtica
2008
Skate para meninas: modos de se fazerem um
esporte em construo
Movimento Humano, Cultura
e Educao
Representaes sociais do
movimento humano
Skate
Esporte em construo
Meninas Estudos Culturais
276
Classificao temticas das teses da UNESP
ANO DE
DEFESA TTULO DA TESE REA DE CONCENTRAO LINHA DE PESQUISA DESCRITORES
CATEGORIA
TEMTICA
2004
Protocolos de treinamento aerbio intervalado e
da periodizao para natao em ratos
Biodinmica da Motricidade
Humana
Fisiologia endcrino-
metablica e exerccio
Lactato
Limiar anaerbico
Glicose
Metabolismo
Treinamento
fsico/esportivo
2004
Exerccio fsico de alta intensidade e diabetes
experimental: influncias do treinamento sobre
as variveis metablicas e endcrinas
relacionadas ao estresse em ratos
Biodinmica da Motricidade
Humana
Fisiologia endcrino-
metablica e exerccio
Metabolismo
Exerccio fsico
Endocrinologia
Fisiologia
Treinamento
fsico/esportivo
2005
Efeitos dos diferentes tipos de treinamento
sobre a intensidade e o tempo de exausto a
100% do VO2 max
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Corredores
Treinamento
Fora
Treinamento
fsico/esportivo
2005
Metabolismo glicdico em ratos submetidos
imobilizao por desnervao do msculo
esqueltico
Biodinmica da Motricidade
Humana
Fisiologia endcrino-
metablica e exerccio
Desnervao
Metabolismo Glicdico
Msculo esqueltico Fisiologia
2005
Treinamento fsico aerbio e o eixo de
crescimento GH/IGF-1 em ratos diabticos
experimentais
Biodinmica da Motricidade
Humana Atividade fsica e sade
Fisiologia
Diabetes Mellitus
Treinamento Fsico
Treinamento
fsico/esportivo
2005
Predies do modelo de potncia crtica quanto
ocorrncia da exausto em exerccio
intermitente
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Potncia crtica
Corrida aqutica
Cicloergmetro
Treinamento
fsico/esportivo
2006
Determinao da maior intensidade de esforo
onde o consumo mximo de oxignio atingido
durante o ciclismo: influncia do estado e
especificidade do treinamento aerbio
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Ciclismo
Consumo de oxignio
Treinamento aerbio
Treinamento
fsico/esportivo
2006
Anlise de parmetros eletromiogrficos
durante testes de contraes isomtricas
fatigantes e do efeito de um treinamento de
resistncia de curta durao
Biodinmica da Motricidade
Humana
Mtodos de anlise
biomecnica
Cinesiologia
Eletromiografia
Fadiga
Coluna
Biomecnica
Cinesiologia
Cinemtica
2007
Informao sensorial e controle motor em
indivduos com leso do ligamento cruzado
anterior
Biodinmica da Motricidade
Humana
Coordenao e controle de
habilidades motoras
Ligamento cruzado
anterior
Propriocepo
Controle postural
Informao sensorial
adicional
Sistema
somatossensorial
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2007
Perseverao Motora em crianas. Impacto da
condio de deficincia mental
Biodinmica da Motricidade
Humana
Coordenao e controle de
habilidades motoras
Perseverao motora
Percepo-ao
Atrasos Desenvolvimento Motor
277
desenvolvimentais
2007
Modulao do metabolismo muscular de glicose
e protenas pelo exerccio em ratos diabticos
Biodinmica da Motricidade
Humana
Fisiologia endcrino-
metablica e exerccio
Exerccio
Diabetes mellitus
Metabolismo glicdico
Ratos
Atividade
fsica/Desporto para
grupos especiais
2007
Fadiga muscular: analise de variveis
biomecnicas e metablicas
Biodinmica da Motricidade
Humana
Mtodos de anlise
biomecnica
Biomecnica
Eletromiografia
Fadiga muscular
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2007
Protocolos invasivos e no invasivos para
avaliao aerbica e anaerbica de ratos wistar
Biodinmica da Motricidade
Humana
Fisiologia endcrino-
metablica e exerccio
Avaliaes aerbias e
anaerbias
Natao
Ratos wistar Fisiologia
2007
Efeito do tipo de exerccio sobre a cintica do
consumo de oxignio durante o exerccio
severo em crianas
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Esteira rolante
Biblicleta ergomtrica
Lactato
Componente lento
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Efeito do treinamento fsico e da dieta
hipercalrica sobre a reatividade do msculo
liso de artrias aorta e mesentrica de ratos
wistar
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Obesidade
Reatividade vascular
Perfil lipdico
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Efeito agudo dos exerccios com pesos sobre
os nveis de leptina, adiponectina e fator de
necrose tumoral alfa em adultos no treinados
Biodinmica da Motricidade
Humana Atividade fsica e Sade
Exerccios resistidos
Leptina
Adiponectina
Fator de necrose
Tumoral alfa
Voluntrios saudveis
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Utilizao do sistema de nado atado na
avaliao de parmetros fisiolgicos, mecnicos
e no treinamento de nadadores
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Nado atado
Fora
Lactato
Clula de carga
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Co-ordination and fatigue of countermovement
jump
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Central fatigue
Peripheral fatigue
Coordination of
movement
Control of movement
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Resposta de alguns marcadores bioqumicos de
overtraining ao longo de uma peiodizao no
futebol
Biodinmica da Motricidade
Humana
Aspectos biodinmicos do
rendimento e treinamento
esportivo
Jogadores Profissionais
de futebol
Overtraining
Treinamento
Performance
competitiva
Treinamento
fsico/esportivo
2007
Avaliao gnica do xido ntrico endotelial
(enos) em adultos de meia idade e idosos
hipertensos submetidos ao treinamento fsico
Biodinmica da Motricidade
Humana Atividade fsica e sade
Oxido ntrico
Polimorfismo T-786C
do gene da Enos
Hipertenso arterial
Atividade
fsica/Desporto para
grupos especiais
278
Presso arterial
2007
Processos Adaptativos no sistema de controle
postural de bebs, crianas e adultos
Biodinmica da Motricidade
Humana
Coordenao e controle de
habilidades motoras
Reweighting
Informao visual
Propriocepo,
Controle postural
Desenvolvimento motor Desenvolvimento Motor
2008
Informao visual no controle postural de
crianas: efeito das caractersticas do estmulo
Biodinmica da Motricidade
Humana
Coordenao e controle de
habilidades motoras
Informao visual
Controle postural Desenvolvimento Motor
2008
Efeitos da manipulao sacroilaca sobre a
simetria e a mobilidade lomboplvica na
avaliao radiolgica e na realizao da marcha
Biodinmica da Motricidade
Humana
Coordenao e controle de
habilidades motoras
Oscilao lomboplvica
Manipulao sacroilaca
Biomecnica/
Cinesiologia/
Cinemtica
2008
Interleucinas e perfil quimiometablico
msculo-esqueltico de ratos com o membro
posterior imobilizado e submetidos
estimulao eltrica neuromuscular
Biodinmica da Motricidade
Humana Atividade fsica e sade
Msculo-esqueltico
Interleucinas
Imobilizao Fisiologia
Classificao temtica das teses da UCB/DF
ANO DE DEFESA TTULO DA TESE
REA DE
CONCENTRAO LINHA DE PESQUISA DESCRITORES
CATEGORIA
TEMTICA
2008
Papel do sistema calicrena-cininas
sobre os efeitos hipotensores e
hipoglicemiantes do exerccio em
diabticos tipo 2 Atividade Fsica e Sade
Exerccio Fsico, Reabilitao,
Doenas Crnico no
Transmissveis e
Envelhecimento
Diabetes Mellitus tipo 2
Exerccio
Calicrena plasmtica
Treinamento
fsico/esportivo
2008
Perfil psicolgico de atletas brasileiros
baseado na teoria do individualismo-
coletivismo e na metodologia do
modelo interativo Atividade Fsica e Sade
Aspectos Scio-Culturais e
Pedaggicos Relacionados a
Atividade Fsica e Sade
Grupos tipolgicos
Idiocentrismo-Alocentrismo
Psicologia/Psicologia
do Esporte
Você também pode gostar
- Regulamento Tusca 2023Documento76 páginasRegulamento Tusca 2023joao oliveiraAinda não há avaliações
- Aluno Especial - Ficha de Inscricao - CORRIGIDADocumento2 páginasAluno Especial - Ficha de Inscricao - CORRIGIDADionilaAinda não há avaliações
- O Calcanhar de Aquiles Da MetrodologiaDocumento26 páginasO Calcanhar de Aquiles Da MetrodologiaGustaavo LimaAinda não há avaliações
- Dissertacao - Mariabarbarafalcon - ReggaeDocumento218 páginasDissertacao - Mariabarbarafalcon - ReggaeDanilo CruzAinda não há avaliações
- Emilio Meyer JT Perspectiva Transnacional 2017 Final PDFDocumento392 páginasEmilio Meyer JT Perspectiva Transnacional 2017 Final PDFbfestefanesAinda não há avaliações
- Modelo Resumo Cic 2016Documento2 páginasModelo Resumo Cic 2016Yuri YungAinda não há avaliações
- Currículo Do Sistema de Currículos Lattes (Crislaine Aparecida Selles Oliveira Côrtes)Documento4 páginasCurrículo Do Sistema de Currículos Lattes (Crislaine Aparecida Selles Oliveira Côrtes)Crislaine Selles Oliveira CôrtesAinda não há avaliações
- Curriculo DocentesDocumento42 páginasCurriculo DocentesHugo RodriguesAinda não há avaliações
- Currículo - Alessandra Valentim Da SilvaDocumento1 páginaCurrículo - Alessandra Valentim Da SilvaAlessandra ValentimAinda não há avaliações
- Reis Do CorrigidaDocumento155 páginasReis Do CorrigidaPedro GandollaAinda não há avaliações
- Controle MPC Multivariável Com Restrições Usando Funções de LaguerreDocumento138 páginasControle MPC Multivariável Com Restrições Usando Funções de LaguerreTarcisio CarlosAinda não há avaliações
- Revista Embraco BOLAPRETA102Documento20 páginasRevista Embraco BOLAPRETA102MicaelAinda não há avaliações
- Tecnico de Laboratorio EdificacesDocumento9 páginasTecnico de Laboratorio EdificacesAlison SantosAinda não há avaliações
- Dompms 2948Documento17 páginasDompms 2948Gabriele BritoAinda não há avaliações
- I ADl 6 Du VQ44 XAb Atk TRAMB5 LX EZ7 JR Y34 Igqja VCDocumento24 páginasI ADl 6 Du VQ44 XAb Atk TRAMB5 LX EZ7 JR Y34 Igqja VCClebson FantasticoAinda não há avaliações
- Currículo Do Sistema de Currículos Lattes (Ronaldo Moreira Salles)Documento24 páginasCurrículo Do Sistema de Currículos Lattes (Ronaldo Moreira Salles)Ricardo JoynerAinda não há avaliações
- Anais Ix Sapis Setembro 2020Documento900 páginasAnais Ix Sapis Setembro 2020Arlindo NetoAinda não há avaliações
- Proficiência 32 - 2019 PDFDocumento2 páginasProficiência 32 - 2019 PDFLeonardo SilvaAinda não há avaliações
- O Percurso Das Políticas Educacionais No BrasilDocumento51 páginasO Percurso Das Políticas Educacionais No BrasilMariana MatosAinda não há avaliações
- Inform A Coes para Matric UlaDocumento7 páginasInform A Coes para Matric UlaMarcio SantosAinda não há avaliações
- ProjetoDocumento43 páginasProjetoRobson Dante GomesAinda não há avaliações
- Manual Do Aluno - 042023Documento11 páginasManual Do Aluno - 042023Thaís LimaAinda não há avaliações
- Formaçao+Documento21 páginasFormaçao+Bruna Beagioni CantelmoAinda não há avaliações
- COAPES Angra (08.07.17) - FINAL - ASSINADODocumento11 páginasCOAPES Angra (08.07.17) - FINAL - ASSINADOCoordenação Geral FMPFMAinda não há avaliações
- Caderno de ResumosDocumento85 páginasCaderno de ResumosAnonymous b5AFY2C5sHAinda não há avaliações
- 1a Retificacao Editais PPG Historia Rev02 RegularDocumento2 páginas1a Retificacao Editais PPG Historia Rev02 RegularSaulo MarraAinda não há avaliações
- A Teologia Na Universidade Do Século XXI PDFDocumento34 páginasA Teologia Na Universidade Do Século XXI PDFRafael RodriguesAinda não há avaliações
- EDITAL AuxD-PG-PROAES-PROPG - FinalDocumento9 páginasEDITAL AuxD-PG-PROAES-PROPG - FinalMatheus MoreiraAinda não há avaliações
- Edital Retificador 001.2022 Vinculado Ao Edital 101.2022 25102022Documento7 páginasEdital Retificador 001.2022 Vinculado Ao Edital 101.2022 25102022Juliana CarolinaAinda não há avaliações
- 1DOCENCIADocumento2 páginas1DOCENCIARenato CoelhoAinda não há avaliações