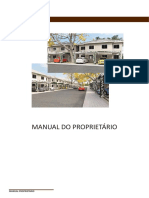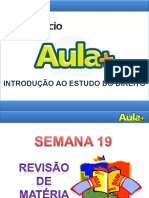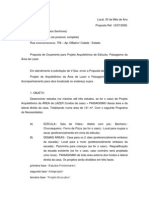Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CFSD 2016 - História Da Pmpi
CFSD 2016 - História Da Pmpi
Enviado por
Jayro AmorimTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CFSD 2016 - História Da Pmpi
CFSD 2016 - História Da Pmpi
Enviado por
Jayro AmorimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
POLCIA MILITAR DO PIAU
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUO E PESQUISA - DEIP
CENTRO DE FORMAO E APERFEIOAMENTO DE PRAAS - CFAP
COORDENADORIA GERAL DE ENSINO - CGE
CURSO DE FORMAO DE SOLDADOS - CFSD 2016
HISTRIA DA POLCIA MILITAR DO PIAU
TERESINA - PI
Maro - 2016
SUMRIO
1. ORIGEM DAS INSTITUIES MILITARES.....................................................................03
1.1 CONCEITO DE POLCIA...........................................................................................03
1.2 ORIGEM DA ATIVIDADE POLICIAL.........................................................................03
1.3 AS PRIMEIRAS CIVILIZAES...............................................................................03
2. AS INSTITUIES POLICIAIS NO BRASIL.....................................................................04
2.1 PERODO COLONIAL...............................................................................................04
2.2 PERODO IMPERIAL.................................................................................................05
2.3 PERODO REPUBLICANO........................................................................................06
3. POLCIA MILITAR DO PIAU............................................................................................07
3.1 CONTEXTO POLTICO E SOCIAL............................................................................07
3.2 CRIAO DA PMPI...................................................................................................07
3.3 DENOMINAES......................................................................................................08
3.4 A PMPI EM COMBATES...........................................................................................09
3.5 DATAS COMEMORATIVAS......................................................................................10
3.6 IMPORTNCIA DAS POLCIAS MILITARES...........................................................11
UNIDADE I
ORIGEM DAS INSTITUIES MILITARES
CONCEITO DE POLCIA
A definio de Polcia a seguinte: s.f. A ordem ou segurana pblica; o conjunto de leis
e disposies que lhe servem de garantia; a parte da Fora Pblica incumbida de manter
essas leis e disposies de boa ordem; civilizao; cultura social; cortesia; nome comum a
diversos departamentos especializados na defesa do regime poltico do Estado (polcia
poltica, polcia militar), na fiscalizao, inspeo ou profilaxia de certas doenas (polcia
sanitria), etc.; s.m. indivduo pertencente corporao policial .
POLCIA um vocbulo de origem grega, politeia, e derivou para o latim, politia, ambos
com o mesmo significado: governo de uma cidade, administrao, forma de governo. Com o
passar dos tempos, o termo POLCIA assumiu sentido mais restrito, particular, passando a
representar a ao do governo enquanto exerce sua misso de tutela da ordem jurdica,
assegurando a tranqilidade pblica e a proteo da sociedade contra as violaes e
malefcios. Toda essa amplitude exprime na realidade a faculdade que tem o Estado de
policiar os diversos setores que compem a sociedade, cuidando, advertindo, e corrigindo.
ORIGEM DA ATIVIDADE POLICIAL
A atividade policial comeou junto com a humanidade. A partir do momento em que o
homem resolveu delimitar e cercar uma rea, classificando-a como sendo sua propriedade,
iniciaram-se a os conflitos de toda ordem. Se prevalecesse a lei natural, somente os fortes
que se imporiam, ficando reservado aos vencidos o triste destino da humilhao e da
servido. Entretanto, o Estado caracterizado como uma entidade abstrata, com personalidade
jurdica, avoca para si a exclusividade de manter a ordem e aplicar a lei, coordenando as
relaes entre pessoas de modo a minimizar os desentendimentos.
AS PRIMEIRAS CIVILIZAES
A gnese da polcia muito remota e transcende h sculos. Os egpcios e hebreus, em
face do crescimento de suas cidades, constituram um grupo de pessoas com a funo de
exercer o policiamento das cidades. No ano 2969 a.C. o Fara Mens instituiu o primeiro
cdigo de polcia, atravs do qual a ordem entre os egpcios era imposta pelo medo e por uma
justia perversa. Os hebreus se serviram da mais bem organizada instituio policial da
Antiguidade, Jerusalm foi dividida em jurisdies policiais. Na cidade santa foi criada a
funo de Inspetor de Quarteiro, aps sua diviso em quadro partes, instituindo tambm um
Intendente por quarteiro, responsvel pela vigilncia das casas e pessoas na rea.
Na Grcia, registraram-se a existncia de acusao e julgamento pblico dos rus, como
tambm a aplicao da priso preventiva e liberdade provisria. Em Roma tambm aparece a
Polcia como vigilante das cidades, principalmente noite, evitando a prtica de delitos, e com
responsabilidade de manuteno da ordem, dentre outras atribuies.
Em Portugal, no perodo medieval, estavam em vigncia os Forais, sendo que no ano de
1446, surgiram as Ordenaes Afonsinas que se constituram no Cdigo mais antigo que teve
vigncia no direito lusitano e agrupava todas as leis que at aquele ano tinham aplicao
naquele pas. No mesmo perodo, as funes Polcia e Judicatura se completavam surgindo
os primeiros funcionrios da Polcia, isto , os Alcaides Pequenos que permaneceram entre
ns, at a edio de nosso primeiro Cdigo Criminal do Imprio de 1832. Existia ainda, o
Alcaide Mor, espcie de Juiz Ordinrio e Policial do mundo rabe e que em Portugal somente
tinha atribuies militares e policiais.
A Polcia Judiciria era exercida pelos Juzes auxiliados e meirinhos, homens que juravam
cumprir os deveres de polcia. A Polcia funcionava da seguinte maneira, durante o dia, os
Alcaides determinavam prises mediante mandado do Juiz, enquanto que a noite era exercida
pelos Alcaides das Vilas. Quando o Brasil foi descoberto vigoravam entre ns as
Ordenaes Afonsinas e Manuelinas que vigoraram at 1603.
A Frana foi o primeiro Pas a instituir em sua linguagem jurdica a expresso "Polcia",
isso no sculo XVI. Por volta do ano de 1791, a Assemblia Nacional Francesa definiu a
misso da Polcia, considerando suas relaes com a segurana pblica, disciplinando que a
polcia devia preceder a ao da justia; a vigilncia devia ser o seu principal carter; e a
sociedade, considerada em massa, o objeto essencial de sua solicitude. Em 1794 surgiu
tambm na Frana a distino entre os conceitos de Polcia Administrativa e Polcia Judiciria.
A primeira era responsvel pela ordem pblica, e a segunda pelas investigaes dos crimes e
contravenes que a Polcia Administrativa no pudesse impedir que fossem cometidos,
competindo-lhe, ainda, coligir as provas e entregar os infratores aos Tribunais incumbidos de
puni-los.
UNIDADE II
AS INSTITUIES POLICIAIS NO BRASIL
1- PERODO COLONIAL (1500 -1822)
A instituio policial brasileira, conforme documentao existente no Museu Nacional do
Rio de Janeiro data de 1530 quando da chegada de Martin Afonso de Souza ao Brasil. A
segurana das cidades, vilas e da rea rural era provida pelos Alcaides (oficial de justia),
auxiliados pelos Quadrilheiros e Capites-do-mato, todos escolhidos dentre cidados civis.
Era o mundo da desordem agindo em nome da ordem, colonial e escravista. A organizao
dos Quadrilheiros foi criada no Brasil nos mesmos moldes da metrpole. No final do sculo
XVII, Dom Joo IV criou o cargo de Juiz de Fora nas principais cidades do Imprio
ultramarino portugus, aumentando dessa forma o poder de interferncia dos funcionrios
rgios na administrao local.
Quando o fidalgo portugus Thom de Sousa aportou ao Brasil, em 1549, como
governador e capito-general da nova terra, com ele chegaram as primeiras instituies
oficiais para a direo da nova colnia. Assim, para a justia havia um ouvidor-mor; para a
fazenda, um procurador e para a vigilncia e guarda do litoral, um capito-mor-da-costa. Com
ele veio, tambm, o Regimento DEL REY, onde vamos encontrar, talvez, o embrio da fora
armada brasileira. Thom de Sousa, seguindo a tradio portuguesa de ter milcias,
determinou, na dcada de 1560, a criao do primeiro policiamento militar das estradas
prximas s vilas.
Com a chegada de D. Joo VI ao Brasil, em 1808, a organizao geral da colnia era
nitidamente militar. O vice-rei, preposto da coroa, possua amplos poderes. Como mais alto
delegado de metrpole era detentor de grande autoridade poltico-administrativa e sua ao
fazia-se sentir, principalmente, na capitania onde se encontrava sediado. A situao polticoadministrativa desse tempo era regulada pelas Ordenaes, Cartas Rgias, Alvars e pelo
Conselho da ndia, criado em 1604 e transformado em Conselho Ultramarino, em 1642.
A partir de 13 de maio de 1809, atravs de ato de D. Joo VI foi criada a Diviso Militar da
Guarda Real de Polcia, na cidade de Rio de Janeiro. Mais tarde, criou-se tambm a
Intendncia de Polcia do Brasil e, com ela, implantou-se a dicotomia policial que prevalece
atualmente, tendo em vista que as duas instituies criadas nasceram com caractersticas
bem definidas. A Diviso Militar da Guarda possua natureza Militar e a Intendncia de Polcia
possua natureza civil.
ORDENANAS, TEROS E MILCIAS.
Quando da colonizao do Brasil, suas foras armadas eram constitudas de tropas de
linha e ordenanas e, a partir de 1570, das milcias. As ordenanas foram criadas pelo
Regimento de 16 de dezembro de 1579. No incio do sculo XVI, mantinha a formao dos
Teros e Milcias Pagas. Cada tero dispunha de dez companhias com cem homens cada
uma. Essas tropas eram comandadas por um mestre-de-campo e tinha a misso de manter a
ordem interna das companhias. O primeiro tero criado no Brasil, em 22 de junho de 1625, foi
sediado na Bahia para guarnio da cidade com um efetivo de mil homens, e foi comandado
pelo sargento-mor Pedro Corra da Gama. Esta considerada a primeira tropa permanente
brasileira. Os teros, em ocasies excepcionais, eram reforados de auxiliares, tais como
drages, caadores, chacareiros, forasteiros, etc. Aps 1796 foram classificados como de 2
linha, com seus integrantes j percebendo soldo, quando mobilizados para o servio de
guerra, da seu nome de milcias pagas. No ano seguinte, em 1797, os teros auxiliares so
transformados em regimentos de milcias. Estas eram as reservas naturais do pas e tinha um
carter muito mais civil do que militar.
Em 1808 foi criada a Intendncia Geral de Policia da Corte, com as tarefas de zelar
pelo abastecimento da capital e de manuteno da ordem. Entre suas atribuies incluam-se
a investigao dos crimes e a captura dos criminosos. O intendente Geral de policia
ocupava o cargo de desembargador, e seus poderes eram bastante amplos. Alm da
autoridade para prender, podia tambm julgar e punir aquelas pessoas acusadas de delitos
menores. Mais do que as funes de policia judiciria, o Intendente Geral era juiz com
funes de polcia.
Outra instituio policial criada no sculo XIX foi a Guarda Real de Policia. Criada em
1809 e organizada militarmente, a Guarda Real possua amplos poderes para manter a
ordem. Era subordinada ao Intendente Geral de policia e no possua oramento prprio.
Seus recursos financeiros vinham de taxas pblicas, emprstimos privados e subvenes de
comerciantes locais. Seus mtodos espelhavam a violncia e a brutalidade da vida nas ruas e
da sociedade em geral. Foi extinta no ano de 1831 aps problemas de disciplina e em seu
lugar foi criado, no mesmo ano, o Corpo de Guardas municipais permanentes. Diferente de
sua antecessora, o Corpo de Permanentes, como era chamado, no estava subordinado ao
Intendente Geral, mas recrutas alistados voluntariamente que recebiam melhor
remunerao e melhores condies de vida que a maioria das tropas. Os soldados tampouco
estavam sujeitos a castigos corporais.
2 - PERODO IMPERIAL- (1822-1889)
A Constituio de 1824 criou a figura do juiz de paz, eleito pela populao para
desempenhar em todas as provncias as funes anteriormente atribudas ao Intendente
Geral de polcia. Foi, porm, o Cdigo de Processo Penal de 1832 que deu relevo funo
quando definiu as suas competncias. O juiz de paz significou uma profunda mudana na
estrutura de dominao poltica at ento existente. Por serem eleitos, esses juzes acabaram
ficando sob influencia das lideranas polticas locais e no mais do governo central.
Considerando-se o papel fundamental da policia (e do juiz de paz) nas disputas eleitorais, isto
significou o fortalecimento da poltica local em relao ao poder central. Em 03 de dezembro
de 1841, com o recrudescimento da criminalidade e em razo da absoluta incapacidade
operacional dos magistrados para cuidarem, tambm, das questes de polcia, veio a Lei n
261, regulamentada pelo Decreto n 120, de 31 janeiro de 1842, modificando o Cdigo de
Processo Criminal e reestruturando a Polcia Civil. Essa Lei criou em cada Municpio da Corte
e em cada Provncia um Chefe de Polcia, contando com o auxilio de Delegados e
Subdelegados, nomeados pelo Imperador ou pelos Presidentes das Provncias. Ao Chefe de
Polcia e ao Delegado cabiam, inclusive, atribuies prprias de Juiz, como expedir mandados
de busca, conceder fianas, julgar crimes comuns e, ainda, proceder formao de culpa.
GUARDA NACIONAL
A Guarda Nacional foi um fora paramilitar organizada no Brasil durante o perodo
regencial, em agosto de 1831. No ato de sua criao lia-se: "Com a criao da Guarda
Nacional foram extintos os antigos corpos de milcias, as ordenanas e as guardas
municipais. Os membros da Guarda eram recrutados entre os cidados com renda anual
superior a 200 mil ris, nas grandes cidades, e 100 mil ris nas demais regies. Com o
objetivo de realizar um enxugamento no Exrcito, a Regncia tomou uma srie de medidas:
em maio de 1831 o nmero de efetivos das tropas j havia baixado de 30 mil para 14.342
homens e, em 30 de agosto, reduziu-se ainda mais caindo para 10 mil homens. As demisses
e licenas de militares so facilitadas, enquanto cessa, por tempo indeterminado, o
recrutamento militar. Entretanto, perdendo espao com o advento da Repblica (cuja
instalao se deu por conta do Exrcito), teve sua ltima apario pblica no dia 7 de
setembro de 1922, quando do desfile pela independncia do Brasil na cidade do Rio de
Janeiro, marcando aquele, tambm, o ano de sua oficial desmobilizao.
3 - PERODO REPUBLICANO - (1889- 2008)
Com a Proclamao da Repblica, em 1889, inaugurou-se uma nova ordem poltica e
houve a reorganizao do aparato policial. O papel das polcias no controle social
concentrava-se na vigilncia das classes urbanas perigosas, e com o fim da escravido, as
policias reinterpretaram sua funo na estrutura de controle social. Uma das primeiras tarefas
impostas s foras policiais foi o controle da populao rural que migrou em massa para os
principais centros urbanos. O cdigo Penal foi reformado em 1890 dando maior importncia
s prticas comuns das ditas classes perigosas como vadiagem, prostituio, alcoolismo e
embriaguez.
A Policia Militar do Distrito Federal cada vez mais se assemelhava ao Exrcito.
Incorporou os regulamentos militares, bem como a programao de inspees, revistas,
instrues e servios. Esses regulamentos tratavam minuciosamente dos servios, das
obrigaes de comando e do cerimonial militar. Alm disso, a rgida hierarquia exigia forte
disciplina dentro dos quartis. Os policiais militares eram investidos de amplos poderes para o
cumprimento das suas tarefas junto populao.
UNIDADE III
POLCIA MILITAR DO PIAU
CONTEXTO POLTICO E SOCIAL
No final do sculo XVII, a regio que seria o atual Estado do Piau ficaria pertencendo
freguesia de Rodelas (Pernambuco), para estabelecimento de fazendas de gado.
Posteriormente, as tropas conquistadoras pertencentes Casa da Torre oriundas do estado
da Bahia iniciaram o processo de colonizao.
Constituda a freguesia da Mocha, abrangendo toda esta rea territorial, sob a invocao
de Nossa Senhora da Vitria, instalou-se uma administrao rudimentar. A parte policial-militar
continuou a cargo da Casa da Torre, propriedade de quase todas as terras ocupadas da nova
freguesia, assim como todo o serto sul do Estado vizinho do Maranho, at as margens do
Rio Tocantins, tendo como comandante o desbravador Coronel Francisco Dias Dvila (1736).
Estas tropas tomaram cunho oficial depois da nomeao de Dias Dvila para Coronel de
Milcias pelo Governo da Bahia. Dias Dvila estabeleceu arraial onde hoje est a cidade de
Jerumenha e dali policiava uma parte do vasto imprio que criara.
Em 1759, chegou Vila da Mocha Joo Pereira Caldas (1700-1790), o primeiro
Governador do Piau, com o posto de coronel de cavalaria e com o soldo anual de dois contos
de ris. Era oficial de carreira do exrcito portugus. A nova capitania tinha, ento, 12.800
habitantes, sendo 8.100 livres e 4.700 escravos, entre negros e ndios, e o governante
batizou-a de So Jos do Piau.
Os governantes de capitanias, assim como, depois, os presidentes de provncias, no
careciam de foras locais para guarda pessoal e imposio de respeito sua autoridade, pois
como os funcionrios da Coroa, eram protegidos por tropas regulares ou de linha. Pereira
Caldas, governador, dispunha de uma Companhia de Cavalaria de Drages vinda do
Maranho. Assim, para a organizao meramente policial-militar, bem como para eventuais
comoes internas, foram criadas as Unidades de Polcia, agrupadas em Companhias,
Batalhes ou Regimentos, formados pelos cidados livres e vlidos.
Como cidado vlido pertencia, obrigatoriamente, s polcias, registram-se efetivos
assustadores para a poca e para a populao da Capitania. Assim, em 1766, com uma
populao estimada em 14.000 habitantes, entre livres e escravos, a capitania dispunha de
cinco Batalhes e duas Companhias de Milcias de Ordenanas e p, com um efetivo de
1.514 homens, alm de 10 Companhias de Cavalaria, com 600 homens. Estas milcias
podiam ser convocadas pelo Governo para prestarem servios, caso em que eram
consideradas tropas pagas. Na tinham noo de disciplina, porque eram formados por
vaqueiros que viviam em diminutas comunidades autossuficientes, de quase nada
dependendo, alm dos limites das fazendas e cujas nicas ligaes com o resto do mundo se
representavam na vizinhana, na vaquejada dos boiadeiros, na desobriga do padre e na
revista anual das Milcias.
Quando apareceu a primeira oportunidade de alguns desses policiais serem testados, nas
lutas pela independncia, demonstraram sua ineficcia militar, entre outras provas, na Batalha
do Jenipapo. Dessa situao teve conscincia o Brigadeiro Manuel de Sousa Martins, depois
Baro e Visconde da Parnaba, que em ofcio ao patriarca Jos Bonifcio dizia: O Piau, para
se considerar seguro, necessita ter guarnecido diferentes pontos; no temos artilharia; nem
temos chefes militares capazes de traar e pr em execuo planos de ataque e defesa;
finalmente tudo nos falta. Depois da rendio do Major Fidi, em 1823, na cidade de CaxiasMA, foi novamente esquecido, pelo prprio Baro da Parnaba, o problema da segurana
organizada para qualquer emergncia.
CRIAO DA POLCIA MILITAR DO PIAU
O decnio compreendido entre 1831 a 1840, indo da abdicao de D. Pedro I (1831),
passando pelo ciclo das regncias, at a maioridade antecipada de D. Pedro II (1840), foi sem
dvida uma das transies mais tensas da nossa histria e, efetivamente, o mais sintomtico
dos estgios em busca de valores do nosso Estado contemporneo.
A presso poltico-social que forara a sada de D. Pedro I possibilitaria muitas decises
dos Regentes, fazendo surgir, por exemplo, instrumentos legais de grande impacto coletivo,
como a Lei n 16, de 12 de agosto de 1834, subscrita pelo General Francisco de Lima e Silva
e Joo Brulio Muniz, que fez alteraes e adies constitucionais, nos termos da Lei de 12
de outubro de 1832, no seu artigo 1, substitua os Conselhos Gerais, pelas Assemblias
Legislativas, com extensa gama de poder para os administradores dos negcios provinciais. O
segundo pargrafo do artigo 11 dava competncia provncia de fixar, por informaes do seu
Presidente, a Fora Policial respectiva.
Em 1833, entrou em vigor o novo Cdigo Criminal do Imprio, sendo o Piau dividido em
quatro comarcas (Oeiras, Marvo, Parnaba e Parnagu). Para cada uma delas tinha que ser
nomeado um juiz togado. Estes precisavam de fora policial regular, para dar cumprimento s
decises. As milcias j haviam esgotado sua misso histrica. A autorizao para a criao
dos corpos de polcia nas Provncias somente aconteceu atravs do artigo 11, 2. do Ato
Adicional (Lei de 12-08-1834). A Assemblia Legislativa Provincial do Piau, organizada com
base na Lei n 16, de 12 de agosto de 1834, instalada a 4 de maio do ano seguinte, no
segundo ms do princpio de sua legislatura, atravs da resoluo n 13, de 25 de junho, criou
o Corpo de Polcia, origem da atual Polcia Militar do Estado do Piau.
Eleita e reunida a primeira Assemblia Legislativa da Provncia, foi votada a resoluo
(como eram chamadas s leis provinciais) de nmero 13, de 25-06-1835, que criou o CORPO
DE POLCIA. Eis a integra da resoluo que foi promulgada pelo ento presidente da
provncia, o Baro da Parnaba:
RESOLUO N 13, DE 25 DE JUNHO DE 1835.
Criou um corpo de policia composto de Estado Maior e duas companhias, com a fora
total de 309 praas.
O Baro da Parnaba, presidente da Provncia do Piau:
Fao saber a todos os habitantes que a Assemblia Legislativa decretou e eu sancionei a
Resoluo seguinte.
Art. 1 - Fica criado nesta provncia do Piau um corpo de tropas de polcia, composto de
um Estado Maior e duas companhias, com a fora total de 309 praas.
Art. 2. - O Estado- maior constar de um capito comandante, 1 sargento quartel- mestre;
e cada companhia de tenente , 2 alferes, (1) 1. sargento, (2) 2.sgt. sargentos, 1 furriel, 8
cabos, 2 corneteiros e 136 soldados.
Art. 3. - Essa tropa ser engajada e, na falta recrutada pela forma que prescrevem as leis
e instrues para o recrutamento da 1. linha do Exrcito.
Art.4.- Logo que se abra assento da praa ou engajamento, lhe ser dado uma cautela,
assinada pelo Comandante do Corpo, em que alm de individualizar-se a sua filiao,
naturalidade, idade, dia e ano de sua praa, se declare, que naquele dia, ao terminar o tempo
de seu engajamento, nesse mesmo dia expirar a obrigao que contraiu, sem outra
dependncia mais que a de simples apresentao da referida cautela.
Art.5. - Os oficiais vencero o mesmo soldo que venceram os oficiais da primeira linha do
Exrcito, porm, quanto aos mais vencimentos, tero, unicamente : o capito, pelo comando
do corpo, a gratificao mensal de 20$000(vinte mil ris), e forragem para uma cavalgadura,
razo de $240(duzentos e quarenta ris) dirios ; e os tenentes, pelo comando das
Companhias que se lhe ficam a cargo 10$000(dez mil ris) mensais.
Art.6.- O sargento- ajudante, sargento quartel- mestre, e os mais oficiais inferiores,
cabos, corneteiros e soldados, tero igualmente o mesmo soldo,etapa , fardamento, quartel e
hospital, como tm os de primeira linha do Exrcito, na arma de caadores.
Art.7.- Os oficiais sero efetivos e com direito aos acessos que lhes competirem para o
futuro no mesmo Corpo; os oficiais inferiores tero os mesmos acessos.
Art.8.- Ao Presidente da provncia fica competida a nomeao dos referidos oficiais,
podendo empregar, em comisso neste corpo, quaisquer oficiais de primeira linha, que
estejam a servio da provncia, uma vez meream a sua confiana.
Art.9.- Logo que for organizado o mencionado Corpo,ser dissolvido qualquer outro que
haja na provncia, pago pelo cofre provincial.
Art.10.-Quanto disciplina deste Corpo, Observar-se- o atual regulamento de instrues
da tropa de primeira linha do Exrcito, enquanto pela Assemblia no for baixado qualquer
outro regulamento, que ela julgar conveniente.
Art.11.- Ficam revogadas todas as leis e determinaes em contrrio.
O secretrio desta provncia a faa imprimir, publicar e correr.
Palcio do Governo, em Oeiras do Piau, aos vinte e cinco dias do ms de junho de 1835,
14. da independncia e do imprio.
Baro da Parnaba.
O primeiro comandante do corpo de polcia foi o capito Antnio de Sousa Mendes.
DENOMINAES DA PMPI
Ao ser criada, recebeu o nome de Corpo de Polcia, permanecendo este nome
durante todo o imprio, embora fosse, s vezes, tratado tambm como Companhia de
Polcia. Quanto aos efetivos, variaram sempre, pois dependiam das disponibilidades do
Tesouro Provincial, e das circunstancias de cada momento.
No incio do regime republicano, todavia, cada governador que entrava, entre as
reformas introduzidas na administrao, inclua a mudana de nome da Corporao.
Somente nos 44 primeiros dias da republica em 1889, foram duas de denominaes:
Companhia Policial do Estado, sendo logo depois denominada como Guarda Republicana.
Em 1890, por decreto de 30 de maio, foi transformada em Corpo de Segurana
Pblica. Em 1913, passou a Fora Policial, pela Lei n750, de julho. Em 1929, era Batalho
de Infantaria de Policia; em 1931, foi Brigada Militar do Estado; em 1934, era Fora
Policial do Estado. Logo a seguir passou, em definitivo, em face de dispositivo da
Constituio Federal deste ano, a POLCIA MILITAR, no mais podendo, da por diante, ser
modificada sua denominao por legislao estadual.
PARTICIPAES EM REVOLUES
A)GUERRA DOS BALAIOS (1840)
Quatro anos depois de criado, o Corpo de Polcia teve a primeira oportunidade de
demonstrar sua eficincia militar, na guerra dos Balaios. Contudo, o Baro da Parnaba que
mantinha na provncia por ele governada uma tranqilidade e paz social, assustou-se com
aquela revolta, que contou com o envolvimento de vaqueiros na sua maioria. Por isso,
entregou o comando das tropas irregulares a seu parente e amigos ntimos, para combater
aos insurretos, at que o Governo Geral mandasse tropas de linha. Quanto ao Corpo de
Polcia, reservou sua utilizao unicamente na vigilncia de todos os pontos da provncia, a
fim de evitar adeso aos rebeldes. Esse fato est expresso no Relatrio feito pelo Baro e
dirigido ao Ministrio do Imprio: Sem armas e sem munies e s com o fraco contingente
de tropa regular da Polcia, com o efetivo de 361 praas, mas em sua maior parte destacada
em diferentes localidades.
B)GUERRA DO PARAGUAI (1865-1870)
Envolvido na Guerra com o Paraguai, o governo brasileiro verificou que contava com um
Exrcito pequeno para a envergadura da ao, e no dispunha de reserva organizada.
Tambm no podia ser convocada desordenadamente a Guarda Nacional, porque arruinaria a
produo do pas. Apelou, ento, para o voluntariado. Pelo decreto n 3.371, de 07-01-1865,
criou o Corpo de Voluntrios da Ptria para servio de guerra, o qual pelo Decreto n4.504,
perduraria enquanto durasse o conflito.
No caso do Piau, o voluntariado para guerra foi feito quase sem constrangimento. No
aconteceu como se dava com o recrutamento em tempo de paz para as foras armadas,
verdadeiras caadas humanas, antes da lei de recrutamento por sorteio, de 1873. Com
relao populao de ento, aproximadamente, calculada em 170.000 habitantes, o Piau foi
uma das provncias que deu maior contribuio em homens. Ao todo forneceu 3.150 homens,
em 3 batalhes de voluntrios da ptria, 1 de voluntrios da Guarda Nacional, alm do
Batalho de Linha e da Companhia de Polcia Militar.
A tropa da policia militar partiu comandada pelo capito Manuel Hilrio da Rocha,
auxiliado pelo alferes Joo Pedro de Oliveira, com um efetivo de 80 praas. Embarcaram, em
11-04-1865, no vapor Uruu. O comandante Hilrio entregou as chaves do quartel ao
presidente da provncia Dr.Franklin Amrico de Meneses Dria, que compareceu ao embarque
e fez um belo discurso de despedida e estimulo. Desses 82 componentes da Companhia,
somente conseguimos encontrar os nomes do 2 sargento ANTNIO FRANCISCO DO
ROSADO, cabos RAIMUNDO PEREIRA DE BRITO e TIBRIO NUNES DE ARAJO e
soldados ANTNIO FRANCISCO DE AZEVEDO e JOS DE SOUSA PEREIRA.
Reverenciamos a memria de todos os desconhecidos da companhia, relembrando os nomes
desses heris. Deve-se presumir o sacrifcio ptria, pois que na relao dos que retornaram
nenhum deles aparece.
C) COLUNA PRESTES NO PIAU (1925-1926)
Das comoes que abalaram o Piau, a mais sria depois dos Balaios, ocorreu entre
os anos de 1925 e1926 quando os rebeldes da Coluna Prestes foram se aproximando pelo
norte de Gois e sul do Maranho. Naturalmente, procuravam os caminhos menos policiados,
10
de mais difcil acesso para as tropas convencionais, que as perseguiam, Foram bem
planejadas as barreiras em Uruu e Floriano, provveis pontos de ataque. Foram
arregimentados cerca de 3000 voluntrios de ltima hora.
D) REVOLUO DE 1930
A crise do capitalismo internacional (1929) provocou internamente a reduo dos
preos dos principais produtos de exportao, especialmente o caf que ainda era o
sustentculo da economia brasileira. Os resultados foram catastrficos.
Havia descontentamento geral do pas, ele fazia sentir com maior intensidade nos
meios urbanos. No nordeste e especialmente no Piau, o movimento revolucionrio foi
liderado por uma frao da classe dominante, momentaneamente fora do poder local, que se
envolveu com a Aliana Liberal, por discordar do processo poltico encaminhado pela
oligarquia Pires Ferreira, representado pelo governador Joo de Deus Pires Leal, Contando
com apoio dos coronis aliados de outrora.
E) REVOLUO CONSTITUCIONALISTA 1932
O deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro ocorreu no dia 27/07/1932 chegando
naquela cidade no dia 09/08/1932, onde comeariam os treinamentos na cidade de Itatiaia/RJ.
Comandada pelo Tenente Coronel Daniel Ribeiro Borges e com o efetivo de 450 homens
incorporou ao destacamento divisionrio sob o comando do Tenente Coronel Nilton
Cavalcante, onde foi feita a organizao do BTL com a fuso do 3 BTL do Piau, com a
denominao de 2 BTL.
F) LEVANTE PAU DE COLHER 1938
A ltima ameaa de cangao no sul do Estado surgiu em 1938. O beato Jos Loureno,
remanescente da cidade de Juazeiro do Norte no estado do Cear, andou criando problemas
nos sertes de Pernambuco e Bahia. Vrios seguidores invadiram o Piau fugindo da polcia
militar pernambucana comandada pelo tenente Antonio Mendes da PMPE, j veterano
naquele tipo de luta. Os fanticos chegaram na localidade Olho DAgua na cidade de So
Raimundo Nonato, onde cometeram uma chacina, e em fuga, rumaram para Pau Colher no
municpio baiano de Casa Nova.
O tenente Antonio Mendes, ento, incorporou vrios voluntrios a seu destacamento de
somente nove homens, e em perseguio atacou os retirantes perto de Pau Colher em
18/08/1938. Logo no incio da luta os voluntrios debandaram. Perdendo um de seus homens
em combate, o oficial ficou somente com 8(oito) praas, fato este que o obrigou a esperar
pelo reforo de outras corporaes.
Foi, ento, enviada uma tropa com, aproximadamente 20 homens, da nossa corporao,
sob o comando do capito Benedito da Luz, acompanhado dos tenentes Manoel Soares
Godim e Jos Ribeiro de Arajo para a regio do conflito. Quando chegaram ao local, os
fanticos j haviam enfrentado os policiais militares pernambucanos. Durante os combates,
apesar de vitoriosa, a polcia militar pernambucana perdeu 5 (cinco) soldados, alm de 10
terem sido feridos. Contudo, a polcia do Piau no deu trguas aos desordeiros derrotados.
Em novo combate dominou definitivamente a situao, fazendo inmeros prisioneiros, entre
os quais o dirigente da chacina de olho dagua, o fantico Srgio Manuel da Silva.
DATAS COMEMORATIVAS
As polcias militares de todo o Brasil possuem um calendrio de solenidades praticamente
iguais, com exceo para algumas datas especficas como a do aniversrio de cada
11
Corporao. No nosso caso, a PMPI realiza, tradicionalmente, solenidades militares nas
seguintes datas:
- 21 de Abril: comemora-se o dia do patrono (Tiradentes) das polcias militares brasileiras
com promoes para o oficialato;
- 25 de Junho: aniversrio da PMPI com promoes para as praas, entre elas para os
aspirantes ao primeiro posto (2 tenente);
- 25 de Agosto: comemora-se o dia do soldado. No h promoes nesta data;
- 07 de Setembro: comemora-se a dia da Independncia do Brasil (desfile militar);
- 27 de Setembro: comemora-se o dia dos policiais militares da reserva e reformados da
PMPI. Esta data passou a fazer parte do calendrio militar a partir de 2006;
- 19 de Novembro: comemora-se o dia da Bandeira. Esta a segunda data de promoes
para os oficiais durante o ano;
- 25 de Dezembro: data sem solenidade que ocorre a segunda promoo para as praas
durante o ano.
IMPORTNCIA DAS POLCIAS MILITARES
Indiscutivelmente, a instituio de um servio de polcia, fardada ou no, em todos os
tempos, sempre foi e continua sendo uma necessidade do organismo social, sob qualquer
forma ou regime de governo.
As Polcias Militares brasileiras, cientes e conscientes de sua misso, buscam
permanentemente aprimorarem cada vez mais, retribuindo com seus servios eficientes a
confiana nelas depositadas. As corporaes militares sempre estiveram presentes em todos
os momentos da nossa histria em que a ordem pblica esteve abalada e comprometida por
algum tipo de convulso social.
Como bvio, engajadas a servio das situaes provinciais ou estaduais, segundo os
tempos, sempre foram empregadas para debelar movimentos armados nas suas unidades de
origem, bem como sempre colaboraram com as foras federais, das quais so sua reserva,
em movimentos eclodidos fora das raias de suas jurisdies oficiais e at no estrangeiro.
Assim, no que diz respeito polcia, o nico modelo compatvel com a democracia o de
uma organizao que pertena comunidade, com vocao para promover a dignidade
humana, e que v alm das suas atribuies legais. Instituio de Direito Pblico destinada a
manter e a recobrar, junto sociedade a na medida dos recursos que dispe a paz pblica ou
a segurana individual.
12
BIBLIOGRAFIA
COSTA, Arthur Trindade Maranho. Entre a lei e a ordem: violncia e reforma nas Polcias
do Rio de Janeiro e Nova York. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
HOLLOWAY, Thomas H. Polcia no Rio de Janeiro: represso e resistncia numa cidade
do sculo XIX. Traduo de Francisco de Castro Azevedo. Rio de Janeiro: FGV, 1997.
LDIO,Filho TC. Teixeira, Chagas Bisneto, Leonel, Capites.Histria da PMPI, 2000.
FILHO, Celso Pinheiro. O soldado Tiradentes.
NETO, Adrio. Geografia e Histria do Piau para estudantes - da pr-histria a
atualidade. 2 Edio. Revista Atualizada, Melhorada e Ampliada 2003. Edies Gerao 70.
NASCIMENTO, Francisco Alcides do. A Revoluo de 1930 no Piau (1928-1930). Teresina:
Fundao Monsenhor Chaves, 1994.
VIEIRA, Flaubert Rocha da PMPI.Sgt. BM.Apostila.2002.
Você também pode gostar
- Modelo Inventário Com Herdeiro IncapazDocumento4 páginasModelo Inventário Com Herdeiro IncapazCristina Meira50% (4)
- Resolução SSP 057Documento2 páginasResolução SSP 057leclesan0% (1)
- Ae4 Filo 2ano GabaritoDocumento16 páginasAe4 Filo 2ano GabaritoSandra M Silva100% (1)
- Modelo de Manual Do ProprietárioDocumento12 páginasModelo de Manual Do ProprietárioLeonardo de AraujoAinda não há avaliações
- Apostila SURDOSDocumento101 páginasApostila SURDOSalefarvcAinda não há avaliações
- Manual - Legislação Administrativa Básica - FinalDocumento33 páginasManual - Legislação Administrativa Básica - FinalRazac Mussa LuisAinda não há avaliações
- Cópia de Parecer Averiguação Famíliar Fátima AndréDocumento3 páginasCópia de Parecer Averiguação Famíliar Fátima AndrémariavilmadossantosoliveiraAinda não há avaliações
- Be16 20Documento40 páginasBe16 20Eliezer JúniorAinda não há avaliações
- IDIBDocumento3 páginasIDIBHugo GabrielAinda não há avaliações
- A Primavera Arabe e AngolaDocumento12 páginasA Primavera Arabe e AngolaAngelo LuangoAinda não há avaliações
- Manual SICOM 2017 AM ConsolidadoDocumento260 páginasManual SICOM 2017 AM ConsolidadoAlziris Martins de SouzaAinda não há avaliações
- ACORDAO TCU 1310-2013 Matriz de RiscosDocumento10 páginasACORDAO TCU 1310-2013 Matriz de RiscosPetroniosAinda não há avaliações
- Diario 1642 5 12 1 2015 PDFDocumento171 páginasDiario 1642 5 12 1 2015 PDFMarceloDeOliveiraFerreiraAinda não há avaliações
- RiodeJaneiro 2701 PadraoDocumento12 páginasRiodeJaneiro 2701 PadraoAlessandro BarbosaAinda não há avaliações
- Lênio Streck - PrecedentesDocumento49 páginasLênio Streck - PrecedentesEduardoHenrikAubertAinda não há avaliações
- Aula 20 OriginalDocumento37 páginasAula 20 OriginalpauduroAinda não há avaliações
- Edital EfommDocumento21 páginasEdital EfommVinicius OliveiraAinda não há avaliações
- Lei N.º 14-2011 - Lei Do Procedimento Administrativo (LPA) PDFDocumento22 páginasLei N.º 14-2011 - Lei Do Procedimento Administrativo (LPA) PDFGerson ONAinda não há avaliações
- Direito Processual Civil IDocumento19 páginasDireito Processual Civil Icarlos samuel chucuaAinda não há avaliações
- Quem Tem Medo Da Regulação Das Redes Sociais Revista FórumDocumento4 páginasQuem Tem Medo Da Regulação Das Redes Sociais Revista FórumLuciano DuarteAinda não há avaliações
- CONSIGNAÇÃODocumento5 páginasCONSIGNAÇÃOCarol CaminoAinda não há avaliações
- Modelo ContratoDocumento16 páginasModelo Contratopaula_677Ainda não há avaliações
- LicitacoesDocumento30 páginasLicitacoesTaís FloresAinda não há avaliações
- Parecer de Licenciamento UrbanísticoDocumento30 páginasParecer de Licenciamento UrbanísticoDaniel Silva QueirogaAinda não há avaliações
- A Etica Argumentativa HoppeanaDocumento4 páginasA Etica Argumentativa HoppeanaAndré Caregnato100% (1)
- C - Armas 01 - Portaria 0106-2009-CGDocumento11 páginasC - Armas 01 - Portaria 0106-2009-CGRoberta SantosAinda não há avaliações
- Declaração DETRAN-SPDocumento1 páginaDeclaração DETRAN-SPJunior100% (1)
- Comunicado de Divulgação Do Gabarito Das Provas ObjetivasDocumento2 páginasComunicado de Divulgação Do Gabarito Das Provas ObjetivasDaniel dos SantosAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo IV (Tentativa 04)Documento3 páginasExercícios de Fixação - Módulo IV (Tentativa 04)Leandra AlvesAinda não há avaliações
- Dodf 051 15-03-2023 Integra-65-76Documento12 páginasDodf 051 15-03-2023 Integra-65-76Marc ArnoldiAinda não há avaliações