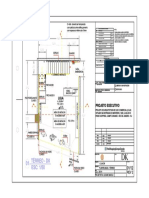Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Gêneros Musicais e Sonoridade PDF
Gêneros Musicais e Sonoridade PDF
Enviado por
Júlia SilveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gêneros Musicais e Sonoridade PDF
Gêneros Musicais e Sonoridade PDF
Enviado por
Júlia SilveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
cone
Programa de Ps-Graduao em Comunicao
Universidade Federal de Pernambuco
ISSN 2175-215X
v. 10 n.2
dez - 2008
Gneros musicais e sonoridade:
construindo uma ferramenta de anlise
Felipe Trotta1
Resumo
Este artigo discute modelos de anlise de sonoridade aplicados msica popular.
Parte-se da noao de que o estudo das interaes sociais e miditicas da msica
popular so indissociveis dos elementos sonoros que moldam sua apropriao e
circulao social. Assim, uma abordagem sobre o fenmeno musical no deveria
prescindir de comentrios sobre a sonoridade, incorporando este elemento a um
arsenal metodolgico propcio para o estudo da msica e dos gneros musicais.
Palavras-chave: msica popular, gneros musicais, sonoridade, anlise
Abstract
This paper aims to discuss analytical models of popular music concerning the
sound. The social experience of the music is held form the interaction between the
sounds itself and its context. So, the analysis of popular music cannot deny the
sonic element, and this must be included in the analytical tools, dealing with genres
in the study of music.
Key-words: popular music, music genres, sound, analysis
Os gneros musicais e suas fronteiras
O fenmeno comunicativo desencadeado pela msica popular um processo cujo
principal ponto de partida o reconhecimento dos gneros musicais. Os gneros
instauram um ambiente afetivo, esttico e social no qual as redes de comunicao
e compartilhamento de smbolos iro operar. De acordo com Simon Frith, so os
gneros que determinam
1 Professor do Programa de Ps-Graduao em Comunicao da UFPE, Doutor em
Comunicao e Cultura pela UFRJ, Mestre em Musicologia pela Uni-Rio. Msico, violonista e
arranjador, possui diversos artigos publicados sobre msica e mercado musical.
1/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
como as formas musicais so apropriadas para construrem sentido e
valor, que determinam os vrios tipos de julgamento, que determinam
a competncia das diferentes pessoas de fazer comentrios. atravs
dos gneros que ns experimentamos a msica e as relaes musicais,
que ns unimos o esttico e o tico (Frith, 1996:95).
Nesse sentido, a classificao do universo musical em gneros representa uma
espcie de traduo entre os sistemas simblicos da produo e do consumo,
estabelecendo modos de mediao entre as estratgias produtivas e o sistema de
recepo (Janotti Jr, 2006:39). Em outras palavras, a construo de sentido da
msica opera a partir dos gneros musicais e do potencial reconhecimento de suas
categorizaes e classificaes. Portanto, para que gostos e identidades musicais
sejam formados necessrio que haja este reconhecimento dos gneros que
habitam um mesmo universo sonoro compartilhado pelo corpo social envolvido.
A definio de um gnero musical um processo altamente complexo, resultado de
associaes diversas feitas pelos indivduos e assimiladas (ou no) pela sociedade
como um todo. Para o musiclogo Franco Fabbri, gnero musical um conjunto de
eventos musicais (reais ou possveis), cujo curso governado por um conjunto
definido de regras abertamente aceitas socialmente (Fabbri, 1981:52). Tais regras
seriam compostas de determinantes tcnico-formais (melodia, harmonia, arranjo,
etc.), semiticos, comportamentais, sociais, ideolgicos, econmicos e jurdicos, e
estariam diretamente relacionadas a uma determinada comunidade musical, que
no necessariamente coincide com aqueles presentes no momento em que os sons
so ouvidos (idem: 59), isto , representam antes uma associao imaginria ao
conjunto de regras caractersticas daquele gnero.
A definio de Fabbri se torna particularmente interessante (e bastante til) na
medida em que, atravs dela, somos convidados a isolar os eventos musicais de
uma determinada experincia musical, identificando convenes scio-sonoras
(regras) que colaboram para a associao mental (e tambm corporal e afetiva) de
grupos de indivduos em torno de certa prtica musical. Sendo assim, a construo
de uma classificao de gneros musicais seria um processo ativo, resultado de
diversas associaes. O autor no estabelece hierarquias entre as vrias regras,
que seriam formas sincrnicas e complementares de estabelecer o reconhecimento
dos gneros. No entanto, basta ouvir com um pouco mais de ateno as conversas
sobre msica vivenciadas por estudiosos, fs e ouvintes diversos para perceber
uma certa primazia dos parmetros sonoros (regras tcnico-formais) sobre os
demais como condio prvia para estabelecimento das outras regras de gnero.
sempre ou, pelo menos, quase sempre o som que determina o aparato
simblico inicial de estabelecimento das regras e das identificaes musicais.
Somente depois de ser ouvida que uma determinada prtica musical se
2/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
transforma
em
experincia, que por sua
vez
possibilita qualquer tipo de
classificao de gneros, de semelhanas e de valoraes.
Nesse sentido, um mergulho mais aprofundado nas nuances e nas caractersticas
das estruturas sonoras pode permitir uma compreenso mais precisa dos processos
de identificao, classificao e uso que envolvem as prticas musicais. A idia de
que os parmetros sonoros instauram determinado tipo de ambincia nos leva a
identificar quais desses elementos musicais atuam com maior preponderncia na
construo e classificao dos gneros. Dentre os vrios eventos que compem a
parte propriamente sonora da msica, possvel destacar dois elementos
(musicais) que respondem de forma razoavelmente satisfatria pela classificao
inicial dos gneros musicais: o ritmo e a sonoridade.
O ritmo um elemento cuja funo demarcatria no universo dos gneros musicais
facilmente audvel, sendo seu reconhecimento imediatamente associado a
determinado ambiente scio-musical-afetivo. Para Muniz Sodr, ele representa uma
forma de inteligibilidade do mundo, capaz de levar o indivduo a sentir,
constituindo o tempo, como se constitui a conscincia (1998:19). Como elemento
de inteligibilidade, o ritmo responde pela organizao da experincia, representada
na classificao do universo musical em gneros. De acordo com o etnomusiclogo
Carlos Sandroni,
quando escutamos uma cano, a melodia, a letra ou o estilo do cantor
permitem classific-la num gnero dado. Mas antes mesmo que tudo
isso chegue aos nossos ouvidos, tal classificao j ter sido feita
graas batida que, precedendo o canto, nos fez mergulhar no sentido
da cano e a ela literalmente deu o tom (2001:14).
Se, por um lado, a execuo de um determinado padro rtmico coloca o ouvinte
em contato estreito com um conjunto de smbolos caractersticos de um certo
gnero musical, este reconhecimento dever ser complementado com outras
informaes para que a classificao ocorra de forma coerente e convincente. Um
desses elementos que atua, talvez, de forma to evidente quanto o ritmo a
sonoridade.
Atravs do reconhecimento de sonoridades caractersticas, as msicas so
agrupadas
elementos,
em
gneros
estabelecem
musicais
que,
condies
sincreticamente
imaginrios
associados
que
moldam
a
o
outros
fluxo
comunicacional da msica popular.
Definindo sonoridade
A sonoridade pode ser entendida como o resultado acstico dos timbres de uma
performance, seja ela congelada em gravaes (sonoras ou audiovisuais) ou
3/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
executada ao vivo. Trata-se, portanto, de uma combinao de instrumentos (e
vozes) que, por sua recorrncia em uma determinada prtica musical, se
transforma em elemento identificador. Falamos em baixo, guitarra e bateria e
imediatamente pensamos na esttica musical do rock. Visualizamos um trio de
instrumentistas em silncio portando sanfona, tringulo e zabumba e
esperamos a execuo de um forr. Analogamente, ningum espera que um
quarteto de cordas (2 violinos, viola e violoncelo) v tocar um reggae, um frevo ou
um blues. Cada formao instrumental evoca um determinado ambiente musical,
representado sonoramente em seu conjunto de instrumentos caractersticos que
servem como elementos constitutivos de sua prtica.
O conceito de sonoridade evoca uma estratgia de reconhecimento musical
bastante comum, que a analogia com outras msicas, que o musiclogo Philip
Tagg chamou de anafonias. Uma anafonia seria caracterizada pelo uso de
modelos existentes na formao dos sons (musicais) (1999:24). Para o autor, a
semiose musical um processo que se instaura atravs de identificaes sonoras,
sociais e afetivas. No entanto, essa interpretao de sentido no se d de uma
maneira unvoca, mas sim atravs da combinao de pequenos elementos
musicais, que ele chamou de musemas. Cada musema seria uma unidade
mnima de discurso musical, que recorrente e significativa nela mesma e no curso
de cada gnero musical (Tagg, 1999:32). Sendo assim, o sentido de uma msica
construdo pelo ouvinte atravs de associaes destas unidades mnimas de
significao (musemas), por sua vez elaboradas a partir de uma experincia
musical anterior. Em sua teoria semiolgica, o ouvinte descobre anafonias entre a
msica recm-ouvida e sua bagagem musical anterior (culturalmente apreendida)
e, deste encontro, elabora seus significados e identificaes. De fato, ao ouvir uma
msica pela primeira vez, inevitavelmente buscamos semelhanas entre alguns de
seus elementos e outros previamente conhecidos. Frases como isso parece a
introduo da msica tal, me lembra a cano tal, igualzinho ao ritmo tal so
extremamente recorrentes quando nos referimos a uma nova experincia musical.
Essas associaes so quase sempre involuntrias e aleatrias, evidenciando um
modo de construo simblica na interpretao musical que parece ser utilizada a
todo instante.
Vale
ressaltar que
tais
anafonias
no
estabelecem
ligaes
exclusivas
ao
componente sonoro de uma prtica musical, mas tambm a toda uma extensa
gama de relaes no-musicais, associadas a atitudes, pensamentos, vises de
mundo, sentimentos, modos de ser e vivenciar o cotidiano, as experincias, enfim,
a prpria vida.
4/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
Na complexa teoria desenvolvida por Tagg, a demarcao dos gneros um dos
fatores que operam nesta semiose, colaborando para estabelecer elos entre a
msica e o conjunto de simbologias agrupadas em torno dos gneros, o mergulho
de sentido. Sendo assim, uma determinada msica soa como pertencente a um
certo gnero musical porque o(s) ouvinte(s) foi(ram) capaz(es) de identificar
anafonias entre os elementos desta msica e elementos de outras msicas
previamente classificados numa bagagem musical e afetiva anterior, socialmente
compartilhada. A sonoridade seria, portanto, um desses elementos musemas
capaz de estabelecer associaes entre uma msica recm-ouvida e as simbologias
e categorias musicais compartilhadas pelos indivduos e grupos sociais.
Nesse sentido, possvel estabelecer ligaes estreitas entre sonoridades e gneros
musicais,
ou
seja,
podemos
observar
que
uma
determinada
combinao
instrumental (e vocal), recorrentemente utilizada em um certo gnero musical,
pode se transformar numa caracterstica deste gnero, moldando um referencial de
reconhecimento de seu contexto scio-musical-afetivo.
Gneros e sonoridades: dois exemplos
Nas primeiras dcadas do sculo XX o samba se fixou enquanto gnero musical e
ao mesmo tempo, como referncia principal da msica nacional (Vianna, 1995).
Nesta poca, a aproximao entre sambistas e msicos de choro da cidade do Rio
de Janeiro, que freqentavam os mesmos espaos e eventos musicais, fez com que
se moldasse tambm uma sonoridade bsica para o acompanhamento instrumental
do samba: pandeiro, tamborim, surdo, cuca, flauta, cavaquinho e violo. O
ambiente das rodas de samba era o espao por excelncia dessa prtica e, a esses
instrumentos eventualmente se somavam chocalhos, prato e faca, caixas de
fsforos, chapus, latas e toda uma infinidade de objetos percussivos que
poderiam se transformar em instrumentos. Contudo, essa sonoridade pouco
aparecia nos discos de samba. Na fase mecnica das gravaes, e mesmo aps o
incio das
gravaes eltricas, em 1928, os
sambas eram gravados
com
acompanhamento de orquestras ou mesmo de grupos instrumentais variados, que
quase sempre incluam naipes de sopros (flauta, clarinete e trombone so os
preferidos) e uma percusso discreta. Progressivamente, a importncia da
percusso
foi
aumentando
na
sonoridade
dos
discos,
mas
nfase
do
acompanhamento era dada em maior grau aos instrumentos meldicos e
harmnicos.
somente a partir do final da dcada de 1960, com a melhoria nos equipamentos
tcnicos de gravao que a sonoridade do samba aparece de forma prioritria nos
discos dedicados ao gnero. Pandeiro, agog e tamborim, alm do surdo de
5/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
marcao, passam a ocupar um papel de maior importncia nas gravaes; o
cavaquinho chega pra frente na mixagem e, ao mesmo tempo, os violes se
encarregam de fixar o ritmo, a harmonia e a conduo do baixo. Um outro
elemento muito utilizado para caracterizar esse ambiente o coro. O canto coletivo
refora
idia
de
compartilhamento
dos
pensamentos
das
canes,
se
aproximando da experincia real das rodas de samba. no canto que os
sentimentos
comunitrios
produzem
uma
sensao
de
pertencimento
familiaridade ao ambiente musical do samba. A roda de samba um evento que
envolve a participao dos presentes atravs do canto, que confere legitimidade
coletiva aos significados das canes. No ambiente do estdio, o coro funciona
como representao dessa energia coletiva, colaborando para estabelecer um
paralelo entre o produto musical gravado e a prtica amadora do fundo de quintal.
Durante a dcada de 1970, essa sonoridade incorpora uma gama cada vez maior
de instrumentos e combinaes instrumentais, ampliando sua diversidade esttica.
Aos paradigmticos cavaco, pandeiro e tamborim so acrescidos baixo eltrico,
bateria, piano, teclados, e praticamente todos os instrumentos de sopro vo aos
poucos se revezando nos arranjos dos artistas mais proeminentes do gnero. J na
segunda metade da dcada de 1980, a novidade mercadolgica do pagode
introduziu outros instrumentos at ento pouco utilizados no samba como o banjo,
o tant e o repique de mo.
Todo esse repertrio de variaes de sonoridades que permeou a trajetria das
gravaes de samba e tambm das apresentaes ao vivo em shows e rodas
derivava basicamente da sonoridade fixada pelos conjuntos de choro do incio do
sculo XX. A centralidade do cavaquinho, violo, pandeiro e tamborim como
instrumentos de acompanhamento de sambas perpassou todas essas dcadas.
Mesmo quando artistas, arranjadores e produtores incluam novos instrumentos e
combinaes em determinadas gravaes, o ambiente sonoro estava dado pelo
tilintar agudo do cavaco, acompanhado pela conduo do pandeiro, o suporte
harmnico do violo, com suas baixarias e pela guia percussiva do tamborim,
responsvel pela execuo do padro rtmico bsico do samba (Trotta, 2007). No
convm aqui listar as inmeras variaes dessa formao bsica ou mesmo
enumerar exemplos nos quais essa sonoridade foi evitada. Apenas necessrio
registrar que o ambiente simblico do samba aparece de forma categrica nesses
instrumentos, que guardam em si mesmos a prpria representao da sonoridade
do samba, se tornando um critrio para a prpria identificao do gnero. A
importncia desta sonoridade para a existncia e para o reconhecimento do samba
ratificada nos versos iniciais do samba Sem cavaco no, de Dona Ivone Lara e
6/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
Mano Dcio, gravado pela sambista no disco Sambo 70, produzido por Sargentelli
em 1970:
Samba sem cavaquinho no samba
Tem que ter pandeiro e um violo
Geme a cuca baixinho, surdo na marcao
Nos acordes de um violo
A gente vibra de tanta emoo
A mesma idia aparece no famoso Argumento, de Paulinho da Viola, lanado em
1975 no LP Amor Natureza:
T legal, eu aceito o argumento
Mas no me altere o samba tanto assim
Olha que a rapaziada est sentindo a falta
De um cavaco, de um pandeiro ou de um tamborim
Passando do samba para o forr, mais precisamente para a vertente estilstica
reconhecida atualmente como forr p-de-serra, podemos observar a relevncia
da anlise da sonoridade como elemento demarcador dos gneros musicais e, por
conseqncia, dos smbolos, valores e sentidos que circulam rotulados atravs
deles. Tal vertente esttica se consolidou nas dcadas de 1940/50 a partir do
sucesso miditico do pernambucano Luiz Gonzaga, radicado na ento capital
federal. O famoso rei do baio quase unanimemente apontado como o
personagem central na nacionalizao da prtica do forr, caracterstica do serto
nordestino.
Mais
do
que
um
simples
divulgador,
Gonzaga
estabeleceu
determinados modelos estticos a partir dos quais o forr passou a ser
reconhecido e difundido. Entre essas caractersticas, destaca-se o uso do trio
sanfona, zabumba e tringulo como elemento sonoro (e performtico) essencial.
Sanfoneiro de tcnica apurada, Luiz Gonzaga utilizou seu status miditico em prol
da sedimentao de uma esttica sonora capaz de identificar um certo perfil sciomusical-geogrfico. Sendo assim, o evento social forr continuamente narrado
em suas canes, construindo uma espcie de mtica do ambiente do serto, com
seus valores, pensamentos e modos de viver, veiculados massivamente pela
indstria fonogrfica nacional. Deste trio instrumental, a sanfona adquire posio
hierrquica primordial, sendo a figura do sanfoneiro o responsvel pela prpria
festa do forr, animando a dana e possibilitando seu ambiente musical-afetivo.
Quase todas as introdues de suas gravaes so executadas pelo instrumento,
que fornece assim uma ambientao sonora para a experincia musical, moldando
o perfil esttico e a rede de smbolos da cano. Nas letras, a relao da sanfona
com este universo scio-musical recorrentemente evocada, quando no
7/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
explicitamente tematizada nos ttulos e refres de algumas canes2. Um bom
exemplo disso a cano Sanfoneiro macho, de Luiz Gonzaga e Onildo Almeida,
lanada em 1985:
Sanfoneiro puxa o fole
Bota o fole pra roncar
Que o ronco desse fole
Faz a gente se animar
Da mesma forma, na cano Forr no escuro, de Luiz Gonzaga, lanada em 1957,
narra at uma certa auto-suficincia fantstica da sanfona em relao ao
sanfoneiro, absorvidos pelo ambiente de festa e celebrao do forr:
O candeeiro se apagou
O sanfoneiro cochilou
A sanfona no parou
E o forr continuou
O repertrio divulgado por Luiz Gonzaga durante meio sculo de atuao no
mercado
fonogrfico
nacional
formou
uma
bagagem
musical
afetiva
compartilhada por parcelas significativas da populao brasileira, que, num
movimento de associao simblica direta, passou a identificar o som da sanfona
ao prprio repertrio por ele divulgado. Estabelece-se assim, com o passar dos
anos (e do sucesso no s de Luiz Gonzaga, mas de outros artistas tambm
importantes nesse processo como Jackson do Pandeiro, Marins e Trio Nordestino,
entre outros) uma associao intensa entre a prtica musical do forr, seu espao
social ideal de experincia musical e sua base sonora. Tal sonoridade se refora e
se atualiza nos artistas contemporneos ligados prtica do forr e herdeiros da
vertente esttica e estilstica cunhada por Luiz Gonzaga. No cenrio musical
pernambucano, por exemplo, artistas como Petrcio Amorim, Maciel Melo, Josildo
S e Irah Caldera, entre outros, dedicam sonoridade da sanfona um espao
primordial tanto em shows quanto em seus respectivos repertrios gravados. A
sanfona permanece como um elemento de ancestralidade, de referncia ao prprio
imaginrio idlico do serto, cantado em boa parte do repertrio referencial de Luiz
Gonzaga e continuado atravs das prticas musicais atuais desses artistas, unidos
na vertente batizada (sintomaticamente) de p-de-serra3. Os versos da msica
2 Diversas outras canes do repertrio gravado por Luiz Gonzaga abordam direta ou
indiretamente a figura do sanfoneiro ou a prpria sanfona como protagonistas do evento do
forr, responsveis pela festa ou interlocutores de sentimentos variados. Cito alguns
exemplos: Forr nmero um, Forr no escuro, O fole roncou, No meu p de serra, O tocador
quer beber, Piriri, Sanfona do povo, Sanfoninha choraderia, Sanfona sentida, Sanfoneiro
macho, Sanfoneiro Z Tatu e Sala de reboco.
3 O rtulo p-de-serra passou a circular agregado prtica de alguns forrozeiros durante a
dcada de 1990 como forma de oposio a novas estticas de forr que desde ento vm
8/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
Eu sou o forr, de Petrcio Amorim, revelam essa simbiose entre sonoridade e
gnero musical:
Aonde tem um sanfoneiro
Zabumbeiro, triangueiro
Sou ouvido sou querido
Sou o rei da brincadeira
Bote f nessa bandeira
No me deixe, no esquea
Eu sou o forr
No entanto, a sonoridade no se define apenas pela tipologia instrumental. A forma
com que uma determinada msica soa depende ainda do jeito de tocar (e cantar)
e de misturar os timbres, que caracteriza o perfil sonoro da msica e do gnero
musical ao qual ela potencialmente se encaixa. Presente em vrias prticas
musicais ao redor do planeta, a sonoridade da sanfona se aproxima do referencial
do forr quando se associa a outros instrumentos tambm caractersticos como a
zabumba e o tringulo, compondo um referencial sonoro. Mas essa identificao se
complementa com a tcnica empregada na puxada do fole e no tipo de soluo
meldico-harmnico empregada preferencialmente pelos forrozeiros. Nesse sentido,
a sanfona do forr difere-se, por exemplo, do acordeo do tango, do fado ou da
gaita gacha, pela maneira que o instrumentista utiliza o universo de possibilidades
do instrumento. Vale destacar que o tipo de sanfona largamente utilizada no serto
nordestino at meados do sculo XX aquele conhecido como sanfona de oito
baixos, anloga gaita de fole do sul do pas, que se caracteriza basicamente pela
ausncia do teclado, sendo as notas e acordes obtidos atravs de botes. A
utilizao do acordeo de teclado no universo da msica do forr representou, em
certa medida, uma traduo do jeito de tocar do sanfoneiro de oito baixos para o
instrumento de teclado (de 120 baixos), mais completo e verstil. Nesse sentido,
o estilo de execuo da sanfona do forr (de 8 ou 120 baixos) tem, portanto,
relao direta com as caractersticas rtmicas, meldicas e harmnicas do repertrio
do forr, o que estabelece uma proximidade entre a sonoridade e os outros
musemas que caracterizam os gneros musicais, como o ritmo e os clichs
meldicos, entre outros.
obtendo grande destaque no cenrio musical nacional como o eletrnico e o universitrio.
Essas novas tendncias buscam elementos sonoros e imagticos extrnsecos ao modelo
sedimentado por Luiz Gonzaga e, com isso, procuram modernizar a prtica do forr. Como
resposta, os forrozeiros p de serra promovem uma valorizao da idia de raiz e de
autenticidade de sua prtica, reverente aos autores e repertrios legitimados e ao
imaginrio do serto. Para essa corrente estilstica, a sonoridade da sanfona coadjuvada pela
zabumba e pelo tringulo torna-se elemento central de diferenciao e de associao a
smbolos, pensamentos, valores e vises de mundo da msica e da dana do forr, tal qual o
modelo cunhado em meados do sculo XX pelo rei do baio.
9/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
O mesmo pode ser dito em relao ao samba e aos seus caractersticos cavaco,
violo, pandeiro e tamborim. O referencial sonoro encontra-se estreitamente
relacionado aos elementos rtmicos e solues meldicas e harmnicas comumente
empregadas no repertrio consagrado do gnero. O jeito de tocar, o tipo de
fraseologia musical empregada, a construo das relaes entre melodia, letra e
harmonia e os estilos vocais do canto sambista complementam a identificao da
sonoridade e estruturam a simbiose entre o som, o gnero e seus sentidos
atribudos e compartilhados socialmente.
Anlise de sonoridades: um estudo do instvel
A anlise musical ferramenta metodolgica fundamental da
Musicologia.
Transportada para fora do mbito relativamente fechado da disciplina (ainda que
atualmente esse fechamento esteja sendo continuamente posto em xeque), pode
fornecer novos elementos para o estudo das msicas populares em outros campos
do saber. O objetivo da anlise sempre identificar modos de fazer e discutir suas
implicaes
estticas,
discursivas.
Nesse
normativas,
sentido,
classificatrias,
anlise
de
simblicas,
elementos
musicais
semiticas
capaz
e
de
instrumentalizar as pesquisas com parmetros sonoros que se relacionam sem
adotar necessariamente um modelo causal com a construo de sentidos e fluxos
comunicativos da circulao de msicas pela sociedade. Afinal de contas, atravs
dos sons que as pessoas interagem atravs das msicas, reafirmam seus gostos e
identificaes musicais. E esse som no uma categoria fsica rgida, mas o
resultado de um complexo simblico de escolhas realizadas pelos indivduos e
grupos sociais que integram o fazer musical e que, conseqentemente, determinam
as formas de circulao das msicas e seus significados compartilhados.
A sonoridade, como qualquer parmetro de anlise musical, um elemento
indissocivel de outros elementos musicais e no-musicais, sendo seu isolamento
desejvel apenas como exame em detalhado de um determinado aspecto, uma
situao de laboratrio. Como experincia laboratorial, a anlise da sonoridade
revela aspectos especficos que s fazem sentido a partir de uma leitura
interpretao que leve em conta o conjunto global estudado. Sendo assim, ela
deve incorporar outras informaes sobre a circulao e as formas de construo
simblica e compartilhamento de sentidos, valores e vises de mundo de um certo
gnero
musical,
colaborando
para
um
entendimento
mais
aprofundado
da
comunicao musical, ou seja, das caractersticas sociais e comunicativas dos
fenmenos musicais.
Da mesma forma, a associao entre determinadas sonoridades e as classificaes
de gneros est continuamente sendo questionada e revista, num movimento
10/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
prprio do fazer musical, baseado em colagens, citaes, repeties, fuses e
misturas de elementos e smbolos. Por um lado, possvel afirmar que timbre,
textura, combinao instrumental e modos de execuo e arranjo compem uma
poderosa ferramenta de anlise dos gneros musicais, atravs da qual torna-se
possvel identificar classificaes, estabelecer territrios de gostos e usos sociais da
msica popular disponibilizada para consumo. No entanto, por outro, essa mesma
ferramenta evidencia as contradies dessas classificaes, as disputas simblicas,
as zonas de sombras e territrios indefinidos, que tambm caracterizam a
circulao de msicas pela sociedade.
A anlise das sonoridades se torna, portanto, um estudo de algo em constante
movimentao, dotado de certo componente de instabilidade, de imprevisibilidade.
As sonoridades, assim como os prprios gneros, esto o tempo todo sendo
desafiadas pela criatividade dos msicos, produtores, compositores, arranjadores e
de todos aqueles envolvidos com o fazer musical, que continuamente colocam em
xeque as fronteiras e desafiam a definio de msicas neste ou naquele gnero
musical. essa criatividade que est a todo instante quebrando essas rgidas
demarcaes e tocando forr com guitarra, baixo e bateria; frevo com quarteto de
cordas e samba com sanfona e zabumba. Talvez essa seja a grande riqueza da
msica em nossa sociedade, ao mesmo tempo vetor e ordenador de mudanas e de
constantes movimentos de indivduos, grupos, valores, pensamentos e vises de
mundo.
Referncias bibliogrficas
JANOTTI Jr., Jeder. Msica popular massiva e gneros musicais: produo e
consumo da cano na mdia In: Comunicao, mdia e consumo vol. 3 n.7.
So Paulo: ESPM, 2006.
FRITH, Simon. Performing rites: on the value of popular music. EUA: Harvard
University Press, 1996.
FABBRI, Franco. A Theory of Musical Genres: Two Applications. In: Popular
Music Perspectives, Papers from the First International Conference on Popular
Music Research, David Horn e Philip Tagg, eds., IASPM, Gteborg & Exeter,
1982.
SANDRONI, Carlos. Feitio decente: transformaes no samba (1917-1933).
Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2001.
SODR, Muniz. Samba, o dono do corpo. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.
11/12
cone v. 10 n.2 dezembro de 2008
TAGG, Philip. Musicology and semiotics of popular music. Verso virtual
extrada em 19/1/2004 do site oficial do autor: www.tagg.org, originalmente
publicado na Revista Semiotica n 66-1/3, pp. 279-298, 1987.
TROTTA, Felipe. O samba e suas fronteiras: samba de raiz e pagode
romntico nos anos 1990. Belo Horizonte: EdUFMG, 2007 (no prelo).
VIANNA, Hermano. O mistrio do samba. Rio de Janeiro: EdUFRJ/Zahar, 1995.
12/12
Você também pode gostar
- (Instrumento) Bateria de Avaliação Frontal (FAB) PDFDocumento1 página(Instrumento) Bateria de Avaliação Frontal (FAB) PDFHelena DVAinda não há avaliações
- Santinha - Mãezinha Do CéuDocumento16 páginasSantinha - Mãezinha Do CéuHeloisa Nogueira100% (11)
- CIELO Extrato Eletronico - Manual - Versao 14Documento31 páginasCIELO Extrato Eletronico - Manual - Versao 14leozinsantanaAinda não há avaliações
- Louco Por Guitarra - O (Grande) Problema Da Guitarra Com Singles e Humbuckers.Documento12 páginasLouco Por Guitarra - O (Grande) Problema Da Guitarra Com Singles e Humbuckers.Marcio Lima de CarvalhoAinda não há avaliações
- Aspectos Fisiologicos Na NataçãoDocumento8 páginasAspectos Fisiologicos Na NataçãoMarlon ColaçoAinda não há avaliações
- Catálogo - Arte Do Bordado À Mão e Bordado LunevilleDocumento55 páginasCatálogo - Arte Do Bordado À Mão e Bordado Lunevillevregiane100% (1)
- Receita Cerveja Easy IPA - 20LDocumento1 páginaReceita Cerveja Easy IPA - 20LKaio TonheiroAinda não há avaliações
- Cardapio BoscoDocumento5 páginasCardapio BoscoFernanda BaldoAinda não há avaliações
- Mega Hair EBOOKDocumento9 páginasMega Hair EBOOKAlexandre MelloAinda não há avaliações
- 01 - Planta Baixa Térreo - DKDocumento1 página01 - Planta Baixa Térreo - DKlidiane maioliAinda não há avaliações
- Preludio n4, Gilberto MendesDocumento4 páginasPreludio n4, Gilberto MendesJuliana Galdino VitaAinda não há avaliações
- Apostila MusicaDocumento19 páginasApostila MusicaThiago OliveiraAinda não há avaliações
- Introducao PAINTDocumento4 páginasIntroducao PAINTAndre CunhaAinda não há avaliações
- Colo de Menina - FalamansaDocumento8 páginasColo de Menina - FalamansaVinícius de MoraisAinda não há avaliações
- Ficha LadinoDocumento3 páginasFicha Ladinoarthur bueno lima bispoAinda não há avaliações
- Menor MelodicaDocumento17 páginasMenor MelodicaFrank Russo100% (3)
- Fofo Baleia For Nature 177Documento3 páginasFofo Baleia For Nature 177Fernanda mAinda não há avaliações
- O Primeiro Beijo Sylvia Orthof Adjetivos e Locução AdjetivaDocumento3 páginasO Primeiro Beijo Sylvia Orthof Adjetivos e Locução AdjetivaDaiane Costa0% (1)
- Classic Rock Songs 70s 80s 90s?metallica, Queen, ACDC, U2, Bon Jovi, Aerosmith, Nirvana, Guns N'Roses - YouTubeDocumento2 páginasClassic Rock Songs 70s 80s 90s?metallica, Queen, ACDC, U2, Bon Jovi, Aerosmith, Nirvana, Guns N'Roses - YouTubesegurancadotrabalhoAinda não há avaliações
- Apostila 6º AnoDocumento3 páginasApostila 6º AnoAnderson SoroziniAinda não há avaliações
- Resumo Modulo Afiliado ShopeeDocumento5 páginasResumo Modulo Afiliado ShopeegladitzaarainnysAinda não há avaliações
- Guião Leit Meu Pé Laranja Lima - 1Documento2 páginasGuião Leit Meu Pé Laranja Lima - 1rosabarbosa100% (1)
- 07 - Tipos de CantoDocumento2 páginas07 - Tipos de CantoCarina SimeãoAinda não há avaliações
- Confeitaria 11 Bolos SimplesDocumento6 páginasConfeitaria 11 Bolos Simplesvjfhgjff7vAinda não há avaliações
- Ficha ArtoriasDocumento3 páginasFicha ArtoriasVitor MoroAinda não há avaliações
- Breve História Da Educação Musical No BrasilDocumento4 páginasBreve História Da Educação Musical No BrasilWeslem SantanaAinda não há avaliações
- Planilha de Decupagem de DireccedilatildeoDocumento5 páginasPlanilha de Decupagem de DireccedilatildeoArthur Luiz PeixerAinda não há avaliações
- Plano de Aula - SE LIGADocumento4 páginasPlano de Aula - SE LIGA272910Ainda não há avaliações
- Jessica Giampaolo - TCC LudopedagogiaDocumento9 páginasJessica Giampaolo - TCC LudopedagogiaBispo Dom GastãoAinda não há avaliações
- KX TC1468LBBDocumento28 páginasKX TC1468LBBCarlos Alberto PereiraAinda não há avaliações