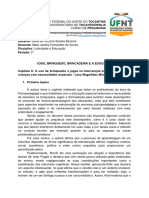Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
03 - Corbin, A - Do Limousin As Culturas Sensiveis PDF
03 - Corbin, A - Do Limousin As Culturas Sensiveis PDF
Enviado por
Flavio Divini0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
63 visualizações15 páginasTítulo original
03 - Corbin, A - Do Limousin as culturas sensiveis.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
63 visualizações15 páginas03 - Corbin, A - Do Limousin As Culturas Sensiveis PDF
03 - Corbin, A - Do Limousin As Culturas Sensiveis PDF
Enviado por
Flavio DiviniDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 15
direccdo de
Jean-Pierre Rioux
Jean-Francois Sirinelli
PARA UMA HISTORIA
CULTURAL
1998
EDITORIAL ESTAMPA
DO LIMOUSIN AS CULTURAS SENSiVEIS
Alain Corbin
A impossivel «histéria total» e a tentacio da antropologia
Em 1962, a seguir a uma estada de vinte e sete meses na Argélia
que me havia dispensado dos programas da agregac4o e me permitiu
reflectir em liberdade, tive de escolher um assunto para tese. Eu
pensava numa histéria dos gestos, projecto que pertencia entéo ao
absurdo. O campo da hist6ria contempordnea estava dominado, em
Franga, pela autoridade de Ernest Labrousse, historiador prestigiado
e defensor de um projecto entusiasmante: o de deduzir o cultural da
andlise das técnicas, das estruturas econémicas e do jogo da conjun-
tura. Herdeiro ao mesmo tempo de Frangois Simiand e dos fundadores
das Annales, este ap6éstolo da histéria quantitativa e de uma histéria
ainda nao baptizada de serial, preconizava a assombrosa, ou antes,
comovente ambi¢4o de uma hist6ria total. Animado de um optimismo
indestrutivel, Ernest Labrousse enraizava nos jovens investigadores a
crenga na possivel detecgéo de um sistema simples de causalidade,
operada na salvaguarda da objectividade. Convidava o historiador a
situar-se num ponto nodal de onde poderia desenvolver-se um esque-
ma elucidativo que explicasse a totalidade.
Como outrora um suserano ou, depois, um ministro do Interior,
Emest Labrousse distribuia os feudos e as prefeituras. No quadro
desta departamentalizacao da hist6ria de Franga, ja criticada por Jacques
Rougerie, recebi por encargo o Limousin, e Bertrand Gille foi encar-
regado pelo mestre de dirigir a minha investigagao. Esta vasta regiao,
depois apreciada pelos historiadores americanos em virtude da sua
aparéncia de conservat6rio, revelou-se uma terra angustiante. Com
97
efeito, as estatisticas elaboradas no século XIX cedo se Tevelaray,
desprovidas de valor; faltavam aos Limusinos do inicio do século yy,
© papel e o saber para ser possivel desenhar de uma maneira Cientific,
os ritmos da conjuntura. Nesta regidio de pesca, caga, colheitas, &
policultura de viveres, de criagao familiar do porco e de aves, nest,
terra de trigo e de castanha, de uma popula¢ao obsidiada pela proy;
sio, a permuta e a troca de servigos, a detec¢ao do movimento do,
pregos e sobretudo da produgdo e dos rendimentos transformavay
em pesadelo. Levantava-se um dilema: limitar-se a uma investigaci,
artificial e mediocre ou descobrir outra coisa. Dai o resvalar para um
hist6ria cultural que nao ouso qualificar de antropologia histérica
A estrutura da familia, o comportamento biolégico, 0 processo de alfz.
betizagao modulado segundo a pratica da migragao temporaria, 0 sis
tema de crengas, a rede das tensGes e solidariedades no seio da com.
nidade de aldeia e de lugarejo e a identidade politica prenderam-ne
alternadamente a atengdo. Longo trabalho, dos anos 1960 (1962-1972,
interrompido dois anos por um inquérito oral que me permitiu com.
preender melhor 0 objecto da minha investiga¢4o, publicada em 1975
sob 0 titulo Archaisme et Modernité en Limousin au XIX* siécle!
No Verado de 1988, voltei a esta terra; maneira de transgredir um
dos mais evidentes tabus da disciplina: © que consiste em pér en
causa a sua propria investigagao. Surgem vdrias lacunas no trabalho
passado: um estudo mais subtil das relagGes de autoridade no interior
da familia e da comunidade dos lugarejos € 0 que se impée de futuro
a todo o investigador desejoso de descobrir as redes de solidariedat,
a configuragao dos antagonismos e as modalidades do exercicio do
poder no seio da sociedade rural. A hist6ria dos comportamentos
politicos nio € unicamente a da difusao das ideologias; nao result
apenas dessa propagacAo ou, antes, da pesquisa de que Maurice Agulhor
esbogou o processo em La République au village; igualmente decis-
vas revelam-se a andlise das lutas de poder que se desenrolam 1
quadro da localidade e a dos processos de inscrigdo das clivagen
nacionais no jogo destas rivalidades. A percepcao desta maneira
reinterpretar os grandes debates e de os vergar ao servico de aposta
especificas implica um conhecimento s6lido das relagGes interpessoais
! Paris, Riviére, 1975, 2 vol.
98
dos sistemas de normas, dos mecanismos do rumor e dos outros canais
pelos quais se transmite a informagao.
No decorrer do meu trabalho, o imagind4rio do espago e a elabo-
ragéo da imagem regional nao haviam sido suficientemente conside-
rados. O Limousin, desde a alvorada dos Tempos Modernos, foi vi-
tima de uma imagem negra, fabricada pelas elites parisienses. Os
habitantes da regiao revelaram-se incapazes de elaborar uma contra-
-imagem capaz de a valorizar. Mais grave: a imagem depreciativa,
recebida do exterior, profundamente interiorizada, contribuiu para forjar
a identidade regional e, finalmente, para modelar as atitudes politicas.
O socialismo que triunfa no Limousin no final do século XIX participa
desta consciéncia identitéria nascida da depreciagao. Antes dele, o
cesarismo democratico permitira exibir a identidade politica de um
campesinato vermelho, quase un4nime no seu apego ao imperador.
Em suma, ha um tergo de século era dificil conduzir o estudo
sistematico das representagdes do espago, do territério, da sociedade
e da politica, de que se apercebe claramente constituir de futuro um
precedente indispensavel.
Para uma histéria do paroxismo e do horror
A liberdade conferida pelo acabamento da tese permitiu-me, desde
1973, dedicar-me ao estudo de alguns processos importantes que me
pareciam merecer investigagao. Evoco-os aqui, a granel, para evitar
a falaciosa construgao a posteriori que esconde a nogao de itinerario
e para evitar também a esclerose que a atengao voltada para a sua
prépria histéria nao pode deixar de causar.
A lenta desagregagao das formas rituais do massacre e do suplicio,
a ascensao da intolerancia ao espectéculo do sofrimento desenham o
primeiro destes processos, facilmente assinalado entre 0 século XVI e
o fim do século XVIII, enquanto o humanitarismo se afirma e se
aprofundam as exigéncias da alma sensivel. De Emmanuel Le Roy
Ladurie a Pieter Spierenburg e Denis Crouzet, numerosos sao os his-
toriadores desta lenta evolugdo das sensibilidades. Entre 1770 e 1850,
da-se uma verdadeira oscilagao. A rapida evolugado dos graus de to-
lerancia 4 dor e ao seu espectaéculo autoriza a nova vulnerabilidade ao
99
sentimento de horror, a revolta do ser confrontado com 0 que exis
de abjecto no homem. A repugnancia, a repulsa em relacao A crys,
dade estimulam a inovag4o.
A guilhotina, pela sua instantaneidade, modifica radicalmente 0s
processos de suplicio. Novas figuras do monstro, do «canibal», qo.
minam o imagin4rio a seguir aos massacres da Revolucao. Bronislay,
Baczko soube analisar, num livro magnifico, Comment sortir de |g
Terreur. Thermidor et la Révolution, essa renovagao da teratologia,
Em 1832, a marca a ferro em brasa é abolida em Franga. No ano
seguinte, a guilhotina deixa a praga de Gréve pela barreira Saint.
-Jacques. Em 1848, a exposi¢ao é suprimida. Entretanto, a dissecagio
foi regulamentada, os combates de animais proibidos na capital, e as
matangas expulsas da cidade. A dissociagaéo espacial operada entre 9
abate e o comércio a retalho pde fim ao espectaculo pi&blico do derra-
mamento de sangue; inocenta o matadouro. A literatura de horror que
triunfa no romantismo negro contribui para exorcizar a crueldade, para
operar uma desrealizagao da violéncia. Conservam-se apenas 0 gosto
pelo espectaculo macabro e a contemplagao do cadaver da morgue.
Mas a evolucao nao se dé ao mesmo ritmo no seio do corpo social.
O desnivel dos comportamentos acusa a distancia cultural, acentua a
estranheza dos comportamentos do Outro. As clivagens sociais acom-
panham a tomada de consciéncia de uma diferenga radical, de natu-
reza antropolégica. A percepgaio do mundo da miséria encontra-se
ordenada pelo sentimento de estranheza monstruosa de uma base social,
nao completamente desligada, julga-se, dos lagos que a prendiam a
animalidade e em que os seres que a compéem sé dificilmente podem
aceder ao estatuto de pessoa. A acentuagao e a mutagao da figura do
monstro obsidiam os dois primeiros tergos do século.
Foi 4 percepcao deste desvio que me apliquei, entre 1988 e 1990,
através do estudo do crime de «canibais», cometido a 16 de Agosto de
1870, no campo da feira de Hautefaye, pequena aldeia da Dordogne.
Nesse dia, trezentos a oitocentos camponeses, reunidos por ocasiao de
uma feira, longe das autoridades, supliciaram durante duas horas e
depois queimaram vivo (?) um jovem nobre acusado de ter gritado:
«Viva a Reptblica!». Além da estranheza aparente dos sistemas de
Tepresentag6es sociais e politicas em fungao dos quais se desenvolve
100
acrueldade, convinha analisar a recepcdo do crime, isto €, o sentimento
de horror que se apoderou de todo 0 corpo social, perante comporta-
mentos que parecem vindos do fundo dos tempos. Em 1870, contrari-
amente ao que se produziu em 1792, o massacre diurno, realizado num
espaco descoberto, j4 nao entra na gama das manifestagGes toleraveis
do politico. A percep¢ao de uma distancia cultural, brutalmente reve-
lada pelo excesso de crueldade, permite além disso a sociedade abrangida
acalmar a angtstia pela execrago dos monstros.
Parece-me dificil compreender 0 século XIX sem estudar mais
adiante esta rapida deriva que confina com um passado longinquo de
horriveis comportamentos de crueldade, ha pouco geradores de ale-
gia. O estudo dos tiltimos sobressaltos da ferocidade colectiva auto-
riza a percepgao da mutacdo das sensibilidades. Conviria, parece-me,
acompanhar sistematicamente esta hist6ria do excesso, do paroxismo,
do horror e da teratologia, feita da percep¢do de uma distancia cul-
tural. Tal hist6ria nado pode ser desligada da do imaginério social.
Osistema das emogées experimentadas e a sensibilidade decretada
entram no desenho da figura de si e da do outro. A afinagao da
sensibilidade no seio das elites rejeita o outro, repetimos, na esfera da
barbarie, relega-o para as franjas da animalidade, isola-o na proximi-
dade da morte. O livrinho que recentemente intitulei (1982) Le Miasme
et la Jonquille? nao tinha por finalidade estudar a hist6ria dos perfu-
mes, mas a maneira como a utilizagdo do olfacto entra nos processos
de elaboragao do imagindrio social. O «mau cheiro do pobre» nao
constitui sendo um dos aspectos desse refinamento da delicadeza; e
€ assim com todos os processos de disting¢fo que entram na compo-
sigdo das imagens de si, como o trabalho das aparéncias subtilmente
tragado por Philippe Perrot.
Do mesmo modo, o que em 1978 me levou a escrever Les Filles
de noce? nao era tanto 0 projecto de fazer o quadro da prostituigao no
século XIX, mas o de discernir a mutagao das formas do desejo da
prostituta. A sexualidade masculina que cria a prostituigdo devia, com
esse propdésito, ser estudada nas suas frustragdes, na sua inobservancia.
? Paris, Aubier, 1982, e Champs-Flammarion, 1986.
3 Paris, Aubier, 1978, e Champs-Flammarion, 1982.
101
4
A propagaciao da aparéncia da sedugao, ao mesmo tempo que a
ascensdo da ansiedade biolégica e a sua focalizagéo no perigo vené-
reo, contribuiu para desenhar a fisionomia da prostitui¢ao «fim de
século» e para determinar a condig&éo da mulher venal.
A confusao das leituras da paisagem
Enquanto cede o limiar do intoler4vel, se modifica a configuragio
do horror, um outro importante processo conduz a evolug4o das sen-
sibilidades e a das representagdes: estou a falar do prolongamento
infinito da duragaéo geolégica. Esta revolugao sem precedente modi-
ficou radicalmente os sistemas de percepgdo e de apreciaco da na-
tureza e, a0 mesmo tempo, as maneiras de ser do individuo no con-
junto que o rodeia. Sabe-se tudo isso, sem nunca se reflectir suficien-
temente na vastidao das consequéncias desta mutag4o.
Ao mesmo tempo que as representagGes entrelagadas do tempo e
do espago, s4o as modalidades do bem-estar e as figuras do desejo que
ent&o se modificam. A titulo de exemplo, as maneiras de perceber e
apreciar a 4gua, a sua transparéncia e o seu contacto, ou ainda a busca
de ar puro, a vis4o e 0 gosto do pitoresco transformam-se de acordo
com essa renovacao.
Ora, também neste dominio a histéria é feita de sedimentagao de
sistemas de representagdes. A simultaneidade de comportamentos
desnivelados desqualifica uma generalizagao apressada. Duas pessoas
sentadas num rochedo, frente ao oceano e mergulhadas uma e outra
na sua contempla¢gao, podiam, cerca de 1800, fazer leituras radical-
mente diferentes da paisagem que se desdobrava sob os seus olhos.
Para uma, os rochedos costeiros figuravam os restos imutdveis do
dilavio; para a outra, o resultado da usura do tempo, o sinal da infinita
sucessao dos ciclos geolégicos. Foi o que me fez tomar consciéncia
do trabalho necessario a redaccao do Territoire du vide (1984-1988)‘.
Conviria analisar mais adiante como se amalgamam e interferem os
miltiplos sistemas de representagdes do ambiente e da sociedade.
A histéria cultural é feita destes entrelagados.
4 Paris, Aubier, 1988, e Champs-Flammarion, 1990.
102
Desde meados do século XVIII que a paisagem entra na construgao
das entidades locais, regionais, nacionais, de que se tornou um atributo
essencial; a este respeito basta pensar na fabricagao da imagem da
Suiga. Ora a nogio de paisagem é miltipla. Por isso a sua histéria surge
confusa. Aqueles que primeiramente se interessaram por ela— na maior
parte ge6grafos — comegaram pelo que se impde com maior evidéncia
e 0 que a primeira vista parece mais s6lido; isto 6, 0 que compete a
morfologia e 4 ecologia. A histéria das paisagens foi em primeiro lugar
a da maneira como se construiram e como evoluiram, segundo a
tect6nica, as formas do relevo, a evolug¢do dos meios naturais, da flora,
da fauna; segundo os sistemas de produgio e de troca. Elaborou-se uma
hist6ria ecolégica estreitamente associada 4 dos modos de interveng¢ao
do homem, variaveis ao infinito consoante a diversidade das culturas.
A fascinagao recentemente exercida pela fotografia aérea traduzia 0
triunfalismo de uma ciéncia Avida de objectividade.
Depois as interrogagdes complicaram-se. A hist6ria da paisagem
privilegiou durante muito tempo a vista; ora existe uma paisagem
sonora e uma paisagem olfactiva, ela prépria evocadora de sabores.
Imp6s-se a pouco e pouco a no¢do de uma paisagem vista em primeiro
lugar como uma leitura sujeita 4 evolugdo dos desejos, das modalida-
des de atengio e de escuta, da mecAnica do olhar e, ao mesmo tempo,
as formas da desatengao, da desenvoltura e da cegueira.
As grelhas de leitura da paisagem que variam ao infinito e se
dispdem confusamente tém cada uma a sua histéria. O desejo de
saber, por exemplo, 0 do sdbio ge6logo, em busca dos arquivos da
terra, suscitou paisagens marcadas pela estratigrafia. No decorrer dos
séculos, o estratigrafo, o cart6grafo e 0 economista alimentaram pro-
jectos de dominio ou de intervengdo que determinaram outras leituras.
Ha as que, indiferentes a tais finalidades, provém do deleite, as que
resultam de sistemas de apreciagao, também eles sujeitos a influéncia
dos cédigos estéticos, 4 busca do belo, do sublime ou do pitoresco.
Foi 0 que determinou os prazeres do campo, ordenou a emogao sus-
citada pela imensidade do mar, do deserto ou da floresta, 0 que leva
a elaborar todas as tacticas que vao da caga 4 paisagem pitoresca e
que nos esforgamos por encerrar num quadro ou numa fotografia. Em
suma, 0 que correntemente se chama paisagem é indissocidvel da sua
representacao «artealizada».
103
elaine
meee
Mas a paisagem é também indissocidvel das praticas que determi-
nam a sua apreensao. A sua hist6ria est4 sujeita 4 das modalidades do
passeio, do circuito, da excursdo, da viagem, da explora¢4o e de todas
as formas de percurso do espago. Acompanha a da cultura somitica;
os prazeres do corpo na montanha ou na praia, as formas de aventura
submarina, as emocées do deslizar no gelo contribuem para a ordenar,
O historiador deve pois aplicar-se a discernir a sucesso e 0 ema-
ranhado deste conjunto de dados objectivos, de desejos, de maneiras
de intervengao, de modos de deleite, de cédigos de apreciagao, de
tacticas de salvaguarda, de arranjo e de criagao que constituem a
paisagem.
O poder de evocag&o das sonoridades desaparecidas
De 1984 a 1994, nao parei de reflectir nas hist6rias emaranhadas
das representagGes e das praticas do espago e, ultimamente, na do
espaco sonoro®. Curiosamente, esta hist6ria foi, com efeito, quase
totalmente negligenciada. Convém destacar a relativa desenvoltura a
propésito do que animava o meio em redor — pois 0 ruido acompanha
© movimento — e 0 esquecimento do poder de evocag4o das sonori-
dades desaparecidas, tao destacado recentemente pelos roméanticos,
em especial por Chateaubriand e por Michelet. Este inquérito nao se
baseia apenas na convic¢do da historicidade da gama dos ruidos e dos
sons; nem pode resumir-se 4 simplicidade do inventario sonoro. Im-
plica conhecer o equilibrio estabelecido entre os sentidos — na ocor-
réncia, a importancia dada as percepgdes do ouvido —, as modalidades
da atengado, a qualidade da escuta, os patamares de tolerancia em
relagdo ao volume e 4 frequéncia das mensagens, assim como os
sistemas de apreciagao da sonoridade. Em suma, pressupde que se
considerem hAbitos perceptivos que desenhem uma cultura sensivel,
modulada consoante as dependéncias sociais.
A hist6ria dos espagos e das paisagens sonoras contribui muito
para a das emog6es, a das representagdes do meio e a dos usos quo-
3 Em Les Cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les
campagnes au XIX* siécle, Paris, Albin Michel, 1994,
104
tidianos. Mas o seu interesse nao se limita a isso. A hist6ria social
tende a tornar-se a dos processos de construgao das identidades, in-
dividuais ou colectivas, e a das maneiras como se desenham as repre-
sentagdes € se organizam as relag6es sociais. Ora, a hist6ria das pai-
sagens sonoras, isto é, das maneiras como estas se constituem, se
tornam a arranjar e se desfazem, pode felizmente contribuir para tais
projectos. O mesmo acontece com tudo o que diz respeito a histéria
da atengfio prestada as sonoridades e ao sentido que se Ihes atribui.
Para levar a bom termo um tal designio, convém interrogar-se em
primeiro lugar sobre a natureza, os ritmos, as qualidades e os signi-
ficados do siléncio no seio do espago e da sociedade considerados.
Este constitui, com efeito, o pano de fundo em que se destacam os
ruidos e os sons que torna mais ou menos perceptiveis, segundo a sua
propria intensidade. Limitar-nos-emos aqui ao exemplo da sociedade
rural do século XIX.
Neste meio, como noutros, impde-se a influéncia dos «dadores de
tempos sonoros», cuja historia € insepar4vel da dos ritmos biolégicos.
Sabe-se que estes no dependem estritamente de um relégio interno
e central, como durante muito tempo se julgou. Estao sujeitos a fac-
tores externos, na primeira fila dos quais se impdem os sincronizadores
sonoros. Entre estes, os rufdos da natureza — 0 do galo, os dos p4s-
saros... —, a propria qualidade do siléncio associam-se a uma série de
sinais sociais. Os sinos, é evidente, mas também os ruidos de vizi-
nhanga, de que se mostrou a influéncia no dormir, no comer e na
actividade sexual, e o ambiente sonoro do dia determinam os ritmos
biolégicos.
Estes sincronizadores sociais variam segundo os dias da semana.
Nos campos do século XIX, o siléncio das actividades e 0 quase-mono-
pélio das sonoridades pr6éprias da igreja garantem a autonomia da
paisagem dominical. Esta disponibilidade auditiva contribui para
explicar a influéncia do canto de igreja nos ouvidos campesinos. As
antifonas, o prefacio e os canticos impregnam a meméria dos audi-
tores e sugerem muitas 4rias profanas. Por isso, o chantre € uma
personagem respeitada, exactamente como o sineiro. E também o
calendario sonoro do ano; mostramo-lo a propésito dos sinos. Poder-
-se-ia, nesta perspectiva, evocar a especificidade dos ruidos do Car-
105
naval e, mais ainda, os do periodo que vai da Quinta ao Sébado
Santos. Em muitos lugares, a anarquia sonora das matracas eé a liber.
tagdo dos sinais individuais substituem, durante esses dias, a centralidade
autoritéria dos sinos.
Sobre este pano de fundo, e segundo os ritmos sonoros da colectivi-
dade, desenvolvem-se os ruidos e os sons da actividade quotidiana,
Estes, repetimos, ensinam muito quanto aos processos de construgao
das identidades, humanas e animais. O ruido dos passos, 0 dos taman-
cos e, com maior raz4o, o das vozes, bastam para designar os indi-
viduos. O ruido das proprias coisas € recebido como um signo
identitario que marca as memérias. A intensidade sonora de todas
estas mensagens, que as normas da civilidade ainda nao vém amor-
tecer, como acontece no seio do espacgo de vida da burguesia, facilita
aqui a leitura e a influéncia dos sinais. As chamadas e ordens ao
animal, os nomes que se Ihe dao, as onomatopeias e o piar das aves,
cujo uso tem a sua hist6ria, contribuem poderosamente para a riqueza
da paisagem sonora dos campos franceses até meados do século XIX.
Participam, também, dos processos identitarios.
Os gestos sonoros informam igualmente sobre as maneiras de viver
0 espago. Os ruidos do quotidiano designam e balizam o territério do
agricultor ou do artesao, como os da familia ou da comunidade na
aldeia. Significam a posse dos elementos da terra. Acontece que hoje
eles entram deliberadamente na gama dos sinais destinados a identi-
ficar a regiao.
Os numerosos trabalhos consagrados ao charivari destacaram a
maneira como esta pratica visa significar a influéncia tempordria do
grupo juvenil na comunidade de que tem por missdo assegurar 0
respeito do sistema de normas; mas a algazarra conseguida com ca-
garolas, caldeiros e campainhas é também um elemento essencial da
paisagem sonora das sociedades rurais. Como o sino, 0 tambor e a
corneta, visa proclamar a autoridade e destacar 0 dominio exercido
sobre um territ6rio. Acontece também frequentemente com os ruidos
e a algazarra que sancionam as condutas de embriaguez.
Quer se trate da roda da carroga, do carro, do carrinho-de-mao ou
do moinho, do postigo, da porta ou da fechadura, do martelo, do
machado ou do mago, do sino ou do cAntaro, a paisagem sonora é
106
entéo essencialmente constituida por objectos méveis. Resulta, em
larga medida, de todas as prAticas de itinerancia. A maior parte dos
ruidos indica ao auditor que movimentos ou deslocagées se esto a
dar, os quais ele precisa continuamente de interpretar. A riqueza da
paisagem sonora resulta da escuta atenta, que visa a constante deci-
frago dos gestos e das condutas sonoras do outro.
O uso dos sentidos e figuras da cidade
Este exemplo tende a recordar que a histéria cultural engloba a
partir daqui uma rica antropologia sensorial em que 0 campo mais
trabalhado é constituido pela cidade sensivel. Detenhamo-nos alguns
momentos neste assunto.
A apreciacao sensorial da cidade nao poderia, como se sabe, redu-
zir-se a uma arquitectura de pedra, isto é, a uma natureza morta.
Ultrapassa em muito essa materialidade. Os seus ruidos, os seus odores
e@ 0 seu movimento constituem a identidade da cidade, tanto quanto
© seu desenho e as suas perspectivas. A espacialidade urbana nado
existe em si mesma. Cria-se na interacgao daqueles que habitam a
cidade, a percorrem ou visitam e Ihe conferem uma multiplicidade de
sentidos. Resulta de um fluxo incessante, de um emaranhado de lei-
turas simultaneas que constituem outras tantas paisagens. E continua-
mente apreendida através do filtro de mitologias, de rituais preexistentes,
eles préprios arrastados num deslizar incessante.
A cidade assim sugerida por fluxos de sensagdes, de ruidos, de
cheiros, apercebida nos seus movimentos e€ nos seus ritmos, resulta
também do sentimento de que excede os limites da apreensio
perceptiva, a qual s6 pode ser parcial, momentanea e determinada por
praticas de espaco especificas. Dai, a dificuldade de fazer a histéria
da cidade, pois cada um dos que a vivem realiza com essa cena
quotidiana uma montagem que lhe é prépria, consoante os seus ha-
bitos perceptivos, a sua cultura sensivel, a gama das suas ansiedades
e dos seus cuidados, a sua mais ou menos estreita submissao as
nostalgias e a fascinagdo do imaginério.
107
Como, portanto, manejar as fontes que, 4 primeira vista, melhor
informam sobre o que liga o uso dos sentidos as figuras da cidade?
Que tratamento reservar aos cédigos estéticos, as tradi¢Ges retéricas,
aos sistemas de representagdes que contribuem para determinar a
apreciagao, isto ێ, a apreensdo perceptiva e emocional do espago
urbano? Privilegié-los sera talvez correr 0 risco de fazer essencial-
mente a histéria das retéricas da modernidade urbana, de esticar ao
infinito a cadeia que une Edgar Poe, Baudelaire, Marx, Walter Ben-
jamin 4 «cidade sensivel» de Pierre Sansot, ignorando a extensdo
social e até a prépria consisténcia de tais leituras, uma vez que estas
correspondem em primeiro lugar a um projecto literaério que provém
da fic¢Ao ou da criagao poética. O mesmo acontece, com mais forte
raz4o, com o tratamento das grandes obras-primas da literatura roma-
nesca do século XX, evocadoras da vida moderna; quer se trate da
Dublin de Joyce, da Paris e da Londres de Céline, da Berlim de
Déblin, da Nova Iorque de Dos Passos ou da Buenos Aires de Robert
Arlt.
No entanto, desde que foram publicados, estes textos nao deixaram
de ensinar a perceber a vida moderna, a analisar e a efectuar as
montagens que acabo de evocar. Sem diivida — e esse € um outro
problema desde ha muito levantado por Timothy J. Clark — que ante-
ciparam o devir da cidade e incitaram os arquitectos e bem assim os
administradores a conceberem e construirem cidades j4 esbogadas no
imagin4rio. Mas nao est4 no nosso prop6sito entrar aqui no intermi-
navel debate sobre a anterioridade das formas colectivas do desejo e
a autonomia das légicas econémicas.
O historiador nao pode porém agir de outro modo que nao seja
utilizar os vestigios sujeitos eles préprios A montagem realizada por
quem os construiu; o que impGe, em primeiro lugar, a reconstitui¢ao
dos processos em fungdo dos quais essa montagem foi realizada; isto,
a fim de melhor discernir, pela detec¢ao da l6gica dessa construgao,
© que provém do cliché, do eixo ou da simples manutengao de uma
tradi¢o retorica; compreender o imperceptivel e 0 indizivel no seio
do que constitui um quadro fixo, quando a apreensdo perceptiva da
cidade, feita num emaranhado de tempos sociais, é toda ela mobilidade.
108
A histéria da cidade sensivel encontra-se assim, mais que outras,
assediada pelo anacronismo. Deste modo, o investigador de hoje corre
o sério risco de interpretar 0 espago sonoro da rua de acordo com as
modalidades de uma escuta contemporanea sujeita a formas de recolha
cuja imposi¢ao constitui um facto histérico recente.
Resta a hist6ria das representagdes e dos usos do tempo a que mais
especialmente me dediquei no decorrer dos dois Ultimos anos. Trata-
-se de um imenso territério mal descoberto. Consagraram-se trabalhos
brilhantes a hist6ria da medida e da conquista do tempo; muito poucos
4 dos seus usos e 4 mutagado de ordem antropolégica — sem equivalente
desde o Neolitico... — que os transformou. A quebra da duragao do
trabalho, a aceleragdo das cadéncias e das velocidades, a imposi¢ao
progressiva de uma leitura linear do tempo e, portanto, o recuar das
sequéncias de vida policronas, as modificagdes do ritmo nictemeral e
das modalidades de aparecimento das estagGes, as novas exigéncias de
exactidao, o aumento da intolerancia ao atraso e da impaciéncia, bem
como de outros dados, modificaram radicalmente a estrutura temporal
das sociedades, as formas de dominio ou de dependéncia e a propria
textura da existéncia. Haverd objecto mais decisivo de histéria cultural?
Verificamos hoje uma incerteza na denominagao dos campos no
seio da disciplina historica. E disso prova a flexibilidade das nogdes
de mentalidades, de representagGes, de antropologia hist6rica. O mesmo
acontece com a histéria cultural. Neste campo, qualquer tentativa de
definigaéo s6 pode ser artificial. As hist6rias culturais actualmente
elaboradas sao miltiplas: a dos objectos culturais, a das instituigdes
culturais, dos agentes que as animam, dos sistemas que lhes regula-
mentam o funcionamento, a das prAticas culturais e dos conjuntos de
normas que as ordenam, a das ideias, dos saberes e da sua distribui-
cdo... e mal se percebe como especialistas que tém exactamente por
finalidade analisar as insténcias e os mecanismos de legitimagao
poderiam, eles préprios, decretar hoje as divisdes desse saber e pro-
ceder as exclusdes. A delimitagao inicial, o enriquecimento e a satis-
fagdo da curiosidade dao-se no desenrolar da busca conduzida por
cada investigador. Assim concebida em relagao com a individualidade
da diligéncia, wma histéria cultural poderia ser alimentada pela deter-
109
minagao da existéncia e da evolugao de hierarquias sensoriais, de
sistemas de percepgdo, de apreciagao e de emogGes; da anlise dos
patamares de tolerancia, do estudo das modalidades do bem-estar, das
maneiras de sentir a dor e também de se preservar dela. Expliquei-me
mais demoradamente sobre isto em Le Temps, le Désir et I'Horreur’,
Estas investigagdes, que provém do que Lucien Febvre recente-
mente baptizava de hist6ria das sensibilidades, deviam ser apoiadas
por estudos sdlidos saidos da histéria do imagin4rio social. A percep-
¢a0 dos desvios, da distancia, dos desniveis geradores de figuras de
desejo, de angistia e de horror que fragmentam as sociedades é in-
dispensdvel neste dominio.
E possivel reler as tensdes, os antagonismos, os conflitos e as
solidariedades 4 luz desta histéria cultural, concebida ao mesmo tem-
po como a das representagdes do eu e do outro e como a das sensi-
bilidades, indissociavelmente ligadas. Num tal projecto, as denomina-
goes tradicionais dos elementos do campo da investigag4o histérica
sao levadas a fundir-se como num crisol. Mas os exemplos aqui
propostos admitem todas as outras maneiras de agir. O essencial,
neste campo, é conservar a disponibilidade, evitar a crispag&o e a
reproducdo estrita. Que os jovens historiadores compreendam a men-
sagem do engenheiro Gérard. Levado a dirigir um olhar ao seu itine-
rario intelectual, este her6i de Balzac sofre, com efeito, por ver «subor-
dinar as capacidades activas a antigas capacidades extintas que, jul-
gando agirem melhor, alteram ou desnaturam em geral as concep¢ées
que Ihes sdo sujeitas, talvez com o Gnico fim de nao ver pér a sua
existéncia em questdo»”.
© Paris, Aubier, 1991.
7 Honoré de Balzac, Le Curé de village, edigio comentada por Gérard
Gengembre, Paris, Pocket, 1994, pp. 201-202.
110
Você também pode gostar
- Para Aula 7Documento2 páginasPara Aula 7Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Kishiomoto Cáp VI - 6Documento25 páginasKishiomoto Cáp VI - 6Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Aula 01Documento19 páginasAula 01Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Cap. 6 Jogo, Brinquedo...Documento2 páginasCap. 6 Jogo, Brinquedo...Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Aula 00Documento15 páginasAula 00Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Aula 02Documento23 páginasAula 02Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Auto Declaração - Estudante IndígenaDocumento1 páginaAuto Declaração - Estudante IndígenaFlavio DiviniAinda não há avaliações
- 00912303-cea1-43af-88a7-def005e71944Documento1 página00912303-cea1-43af-88a7-def005e71944Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Lista de Docs Estudante IndígenaDocumento1 páginaLista de Docs Estudante IndígenaFlavio DiviniAinda não há avaliações
- O Lúdico No Processo de Aprendizagem Na Educação InfantilDocumento6 páginasO Lúdico No Processo de Aprendizagem Na Educação InfantilFlavio DiviniAinda não há avaliações
- Espelho - PDF #Zoom 150Documento1 páginaEspelho - PDF #Zoom 150Flavio DiviniAinda não há avaliações
- Img20230926 10484163Documento36 páginasImg20230926 10484163Flavio DiviniAinda não há avaliações
- 13 Aula - Eliane Cavalleiro - 0Documento40 páginas13 Aula - Eliane Cavalleiro - 0Flavio DiviniAinda não há avaliações
- 2 AULA - O-Que-e-Racismo-Joel-Rufino-dos-SantosDocumento41 páginas2 AULA - O-Que-e-Racismo-Joel-Rufino-dos-SantosFlavio DiviniAinda não há avaliações
- Sobre A Naturalidade Das Coisas - Mary Catherine BatesonDocumento4 páginasSobre A Naturalidade Das Coisas - Mary Catherine BatesonFlavio DiviniAinda não há avaliações
- 10Documento19 páginas10Flavio DiviniAinda não há avaliações
- DownloadDocumento1 páginaDownloadFlavio DiviniAinda não há avaliações
- Festival de PerecíveisDocumento2 páginasFestival de PerecíveisFlavio DiviniAinda não há avaliações
- Tabela de Serviços 2024Documento3 páginasTabela de Serviços 2024Flavio DiviniAinda não há avaliações
- 78954-Texto Do Artigo-315001-1-10-20211129Documento15 páginas78954-Texto Do Artigo-315001-1-10-20211129Flavio DiviniAinda não há avaliações