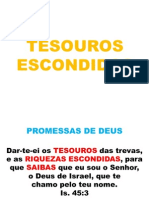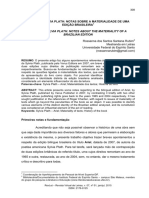Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DAMACENO, Carolina Duarte. Formalismo Russo em Sala de Aula, Uma Introdução À Poesia
DAMACENO, Carolina Duarte. Formalismo Russo em Sala de Aula, Uma Introdução À Poesia
Enviado por
pgcTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DAMACENO, Carolina Duarte. Formalismo Russo em Sala de Aula, Uma Introdução À Poesia
DAMACENO, Carolina Duarte. Formalismo Russo em Sala de Aula, Uma Introdução À Poesia
Enviado por
pgcDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Formalismo russo
experiência
em sala de aula:
uma introdução à poesia
Carolina Duarte Damasceno
Doutoranda pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestra em Teoria Literária
na mesma instituição.
E‑mail: carolinaddf@yahoo.com.br
Resumo: Este artigo tem como objetivo Abstract: The present work aims to point
apontar possíveis vínculos entre textos out possible connections between theo‑
teóricos da Literatura e a prática em retical literary texts and the practice within
sala de aula, a partir de uma experiência the classroom, derived from a successful
bem‑sucedida com duas turmas de 8a experience with two classes of the last
série do Ensino Fundamental. Trata‑se year of primary education. It represents an
de uma introdução à linguagem poéti‑ introduction to poetic language, produced
ca, feita a partir da teoria de Chklovski, from Chklovski’s theory, an important name
importante nome do formalismo russo. in Russian formalism. After presenting to
Após apresentar aos alunos a noção de students the notion of strange they were
estranhamento, eles foram convidados a invited to choose a common object and to
escolher um objeto comum e a retratá‑lo describe it in a singular manner, in the form
de forma singular em uma poesia. Essa of a poem. This activity will be presented
atividade será apresentada e discutida, a and discussed, with the aim of showing
fim de mostrar como a aproximação da how the proximity between the students’
realidade do aluno com o universo literário reality and the literary universe, through
através da criação pode fazê‑lo vivenciar a creation, can make them to experience
Literatura de forma mais plena. literature in a more ample manner.
Palavras‑chave: ensino de Literatura, leitu‑ Keywords: Literature teaching, reading/
ra/criação, poesia, formalismo russo. creation, poetry, Russian formalism.
Um dos desafios do professor de Literatura é fazer com que os alunos,
em vez de verem o universo literário como mais um conteúdo a ser estudado,
vivenciem‑no de forma plena. Esse tipo de vivência dificilmente ocorre sem
uma resignificação pessoal dos textos lidos, capaz de levá‑los para fora do Recebido: 25.09.2009
âmbito escolar e ingressar na trajetória de cada um. O objetivo da atividade Aprovado: 07.10.2009
aqui relatada, a qual se prestava também a ser uma introdução à linguagem
poética, era justamente tentar estabelecer uma interseção entre o cotidiano dos 1. Zilberman, Regina. A
leitura na escola. In: ZIL‑
estudantes e a Literatura, a fim de mostrar uma possível continuidade entre BERMAN, Regina (Org).
suas realidades e a obra literária. Leitura em crise na es-
cola. 5. ed. Porto Ale‑
Regina Zilberman, ao refletir sobre problemas no ensino de Literatura, gre: Ed. Mercado Aberto,
destaca que a “experiência pessoal e igualitária com o texto”1 é praticamente 1985. p. 21.
111
Revista eca XV 1_miolo.indd 111 07/06/10 14:55
comunicação & educação • Ano XV • Número 1 • jan/abr 2010
anulada nas atividades escolares. Esse tipo de relação com os livros, de fato,
tende a ser bastante tolhida, devido a diversos fatores, como a hierarquia
estabelecida entre o aluno e o professor – o qual amiúde se coloca como de-
tentor da única interpretação correta sobre determinado texto – e programas
excessivamente voltados a estudos reducionistas de movimentos literários ou de
obras selecionadas por vestibulares. Diante desse quadro, a aproximação entre
leitura literária e criação pode ser uma forma de resgatar o tipo de experiência
assinalado pela autora.
Neste ponto, cabe analisar uma tendência presente no ensino de Português.
Cyana Leahy‑Dios lembra que a criatividade, altamente incentivada nas ativi-
dades escolares destinadas às crianças, costuma ser banida naquelas realizadas
com adolescentes. “Para este, [o adolescente] a experiência literária escolar se
volta para o ‘aprender’, mais e mais distanciado do prazer e da criatividade
literários, com ênfase nos aspectos mais formais e menos desafiadores da edu-
cação.”2 Desdobra sua reflexão em um comentário que, apesar de inicialmente
voltado aos alunos do Ensino Médio, parece abranger também os da 7ª e 8ª
séries: “Permitimos que eles escrevam sobre os textos, mas não seus próprios
textos e, muitos menos, que eles sejam vistos como autores”3.
Essa prática tem motivações teóricas, pois, além de reforçar uma concepção
um tanto transcendental da produção literária, vinculando‑a a certa genialidade
inata, segrega autores e leitores em patamares muito distintos. Essa separação
entre leitura e criação vem sendo questionada por alguns teóricos, como Sartre,
para quem “[…] a leitura é uma criação dirigida”4. O caráter criativo do ato de
ler, geralmente, assume uma forma silenciosa e introspectiva, por ser realizada,
na maioria das vezes, mentalmente pelo leitor. Entretanto, nada impede que a
criação atrelada à leitura se materialize sob a forma de um texto escrito. Na
experiência relatada a seguir, optou‑se por lançar mão dessa materialização,
vista como uma forma de aproximar os alunos do universo literário. É impor-
tante ressaltar que não estava em questão a qualidade das produções feitas
por eles, mas seu direito de criar, uma vez que a criação é uma das formas de
apropriação pessoal da Literatura.
2. Leahy‑Dios, Cyana.
Feitas essas considerações, o foco passa a ser a atividade de introdução à
Educação literária como poesia realizada com duas 8as séries do Ensino Fundamental, de escolas dife-
metáfora social: desvios
e rumos. 2. ed. São Pau‑
rentes. Em um dos primeiros momentos desse exercício, o qual ocorreu apro-
lo: Martins Fontes, 2004. ximadamente ao longo de cinco aulas, os alunos foram apresentados à teoria
p. 28.
de Chklovski. Embora, no caso em questão, tenha‑se feito alusão ao nome do
3. Ibid., p. 24.
autor, frisando que os alunos não precisavam de forma alguma decorá‑lo, essa
4. Sartre, Jean Paul. menção não é imprescindível. Em contextos diferentes e com grupos de outras
Que é a literatura? 3. ed.
São Paulo: Ática, 1999. faixas etárias, bastaria explicar de forma simplificada a noção de estranhamento.
p. 52.
Vale recordar os pontos principais do pensamento do teórico russo.
5. Chklovski, Victor. Chklovski5, no ensaio A arte como processo, busca caracterizar a especificida-
A arte como processo.
In: TODOROV, Tzvetan. de da linguagem literária, até então pouco delineada nas teorias com as quais
Teoria da literatura. 1. dialoga. Essa tentativa de caracterização parte de dicotomias primordiais, como
ed. Lisboa: Ed 70, 1999.
152 p. linguagem poética/linguagem prosaica, percepção automática/percepção estética.
112
Revista eca XV 1_miolo.indd 112 07/06/10 14:55
Formalismo russo em sala de aula • Carolina Duarte Damasceno
As diferenciações estabelecidas entre a experiência artística e a experiência
cotidiana são um bom ponto de partida para compreender essas oposições.
Segundo ele, uma das finalidades da Literatura é desautomatizar o modo
de ver o mundo, restituindo às coisas o impacto e a singularidade que apre-
sentaram quando vistos pela primeira vez. A arte retrataria, portanto, objetos
e situações de forma peculiar, causando estranhamento. Pela natureza da expe-
riência estética, a qual pede um olhar mais detido e prolongado, a percepção
embotada e automática do cotidiano sairia de cena, sendo substituída por uma
nova visão das formas e significados das coisas, mesmo daquelas consideradas
familiares ou banais.
O texto do formalista russo se aplica à Literatura em geral. Optou‑se por
utilizá‑lo justamente em uma introdução à poesia porque, nesse caso, parece
ocorrer um estranhamento mais acentuado no âmbito linguístico. Ou seja, no
texto poético o impacto se dá tanto pelo olhar sobre uma nova situação ou
objeto, como pela linguagem, muito distinta da empregada na prosa não lite-
rária e até mesmo na literária. Obviamente, alguns textos em prosa também
empreendem um esmiuçado trabalho com as palavras. Entretanto, embora as
fronteiras entre o prosaico e o poético tenham‑se tornado mais tênues desde
o século XX, acredita‑se que, de forma geral, o jogo entre significante e signi-
ficado e as conotações ganham mais espaço na poesia. É importante ressalvar
que o propósito não era abordar uma complexa discussão sobre os gêneros
literários com os alunos, mas esboçar algumas diferenças entre essas duas ma-
nifestações literárias. Uma imagem de Paul Valéry6 contribuiu para condensar
essa distinção, a qual já tinha sido percebida de certa forma pelos alunos na
leitura de poemas realizada ao longo do ano. Para o poeta e ensaísta francês,
a prosa pode ser comparada a uma caminhada, em que os passos tomam um
rumo específico, visando atingir um objetivo. Por exemplo, alguém caminha
para atravessar a sala, chegar a um endereço específico etc. A poesia, por sua
vez, equivaleria à dança, pois nela os objetivos dos passos estão contidos neles
mesmos. Em outras palavras, uma bailarina faz uma série de movimentos por
seu desenho e beleza, não somente para se deslocar ou chegar a algum lugar.
Explicitando ainda mais a metáfora de Valéry, a palavra na poesia não é um
mero meio de comunicação, mas também é escolhida graças a sua forma e
sonoridade.
6. VALÉRY, Paul. Poésie et
Após essa explicação, fez‑se um resumo simplificado dos principais pontos pensée abstraite (Poesia
do pensamento de Chklovski. Eis uma reprodução dessa síntese: uma das fun- e pensamento abstrato).
In: Oeuvres I (Obras I).
ções da Literatura é fornecer uma nova abordagem de um objeto ou situação, 1. ed. Paris: Gallimard,
através de uma linguagem que também se diferencie de nossa prática linguística 1957. 1310 p.
habitual. Em seguida, passou‑se à segunda etapa da atividade, que consistia na 7. BANDEIRA, Manuel. Es-
trela da vida inteira. 20.
leitura e análise, em pequenos grupos, de alguns poemas. ed. Rio de Janeiro: Nova
No caso em questão, foram escolhidos dois poemas de Manuel Bandeira, Fronteira, 1993. 421 p.
“Maçã” e “Gesso”7. Em outras vezes em que a mesma experiência foi aplicada, 8. MEIRELES, Cecília.
trabalhou‑se também com “Mapa de anatomia: o olho”, de Cecília Meireles8, e, Poesia completa. 2. ed.
Rio de Janeiro: Nova
em uma turma de 2º ano do Ensino Médio, com “Num monumento à aspiri- Aguilar, 1994. 308 p.
113
Revista eca XV 1_miolo.indd 113 07/06/10 14:55
comunicação & educação • Ano XV • Número 1 • jan/abr 2010
na”, de João Cabral de Melo Neto9. Com efeito, muitos são os poemas capazes
de exemplificar de forma bastante direta o conceito de estranhamento. Convém
lembrar que esse pode ser trabalhado também com textos em prosa, como “Os
homens que observavam a reunião”, de Inácio de Loyola Brandão10, e “Instruções
para subir uma escada”, de Julio Cortázar11, por exemplo.
A escolha de realizar a leitura e a análise em grupo teve como finalidade
facilitar a participação do aluno, o qual se poderia sentir intimidado caso de-
vesse expressar suas impressões individuais sobre textos complexos. Para tolher
essa intimidação, optou‑se também por não atribuir nenhuma nota referente
à qualidade de seus comentários nem de seus poemas. Mesmo sendo delicado
avaliar apenas a participação, a peculiaridade da experiência, a qual almejava
justamente mostrar o interesse da Literatura fora do universo escolar, valia esse
risco. Como se pretende apresentar todas as etapas da atividade, um comentário
sobre os poemas “Maçã” e “Gesso”, de Manuel Bandeira12, faz‑se necessário.
Maçã
Por um lado te vejo como um seio murcho
Pelo outro como um ventre de cujo umbigo pende ainda o cordão placentário
És vermelha como o amor divino
Dentro de ti em pequenas pevides
Palpita a vida prodigiosa
Infinitamente
E quedas tão simples
Ao lado de um talher
Num quarto pobre de hotel.
Gesso
Esta minha estatuazinha de gesso,
Quando nova
– O gesso muito branco, as linhas muito
puras –
Mal sugeria imagem de vida
(Embora a figura chorasse).
9. NETO, João Cabral de
Há muitos anos tenho‑a comigo.
Melo. Obra completa. 1. O tempo envelheceu‑a, carcomeu‑a,
ed. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1995. 836 p.
manchou‑a de pátina amarelo‑suja.
10. BRANDÃO, Ignácio de
Os meus olhos, de tanto a olharem,
Loyola. Cadeiras proibi- impregnaram‑na da minha humanidade
das. 10. ed. São Paulo:
Global, 2003. 140 p.
irônica de tísico.
11. CORTÁ Z AR, Julio.
Um dia mão estúpida
Histórias de cronópios inadvertidamente a derrubou e partiu.
e de fama. Rio de Janei‑
ro: Civilização Brasileira,
Então ajoelhei com raiva, recolhi aqueles
1998. 157 p. tristes fragmentos, recompus a figurinha
12. BANDEIRA, op. cit. que chorava.
114
Revista eca XV 1_miolo.indd 114 07/06/10 14:55
Formalismo russo em sala de aula • Carolina Duarte Damasceno
E o tempo sobre as feridas escureceu ainda
mais o sujo mordente da pátina…
Hoje esse gessozinho comercial
É tocante e vive, e me fez agora refletir
Que só é verdadeiramente vivo o que já sofreu.
Ambos foram entregues concomitantemente aos grupos, que deveriam
principalmente refletir sobre as seguintes questões: em que medida a noção de
estranhamento está presente nos poemas? Os dois lidam com ela da mesma forma?
Mesmo para quem tem familiaridade com a leitura, textos poéticos geralmente são
de difícil apreensão, principalmente para alunos dessa faixa etária. Sabendo de
antemão dessa dificuldade, foi reforçado que eles não precisavam entender todas
as imagens e alusões criadas pelo poeta, mas tentar responder, de alguma forma,
às perguntas propostas. Lidos os dois poemas de Bandeira e compartilhadas as
impressões, eles conseguiram notar que o estranhamento, em “Maçã”, devia‑se à
forma inusitada pela qual a fruta foi representada. Perceberam também que, no
final do poema, a maçã, anteriormente vista sob seu aspecto simbólico, muito
atrelado à fertilidade e ao feminino, volta a ser retratada como uma simples
fruta. Em “Gesso”, por sua vez, perceberam que ocorre um movimento distinto:
a estátua de gesso, inicialmente, não tinha nenhuma importância especial. Ela
é ressignificada, ou seja, olhada com estranhamento, quando se quebra e assume
novos sentidos, passando a ser, por exemplo, uma projeção do eu lírico e uma
metáfora da condição humana (“… só é verdadeiramente vivo o que já sofreu”).
Após essa discussão, passou‑se à atividade de criação literária. Os alunos
deveriam escrever um poema em que objetos comuns fossem vistos com estranha‑
mento. Nesse sentido, é interessante comentar a escolha de Bandeira para ilustrar
a teoria de Chklovski. Além de esse poeta habitualmente dar uma dimensão
simbólica ao cotidiano e ao aparentemente banal, os dois poemas apresentados
não têm métrica nem rima. Assim, foi possível desatrelar a concepção de poesia
de sua forma mais tradicional, ajudando a desinibir os alunos no processo de
escrita. O resultado foi extremamente satisfatório e seus textos foram lidos em
sala. O fato de ter havido apenas uma objeção à leitura de um poema, bem
como os aplausos após muitos deles, mostra o quanto se envolveram na ativi-
dade. Eis alguns exemplos:
I) Rede
Teus balanços me levam a sonhos
que percorrem o mundo.
Me torno a pessoa mais feliz do
Planeta quando você oscila
feito uma gôndola.
Quem precisa do gondoleiro
se tenho minha mente
E você, rede?
(João Marcos Lenhardt Silva)
115
Revista eca XV 1_miolo.indd 115 07/06/10 14:55
comunicação & educação • Ano XV • Número 1 • jan/abr 2010
Nesse singelo poema, a descrição da rede está estreitamente ligada ao es-
capismo. A ideia de que é possível lançar‑se a viagens sem sair do lugar ganha
força com a comparação feita com a gôndola, a qual transporta também o leitor a
Veneza. A mente, de fato, ganha um grande poder, pois substitui viagens efetivas.
Travesseiro
Tão macio e tão fofo,
Companheiro de todos os sonhos
Mesmo quando te molho com minhas lágrimas
Continua um amigo insubstituível.
Um amigo para todas as horas
Especialmente em hora de alegria
Quando voa pelo quarto
Nas minhas guerras infantis
(Pedro Parolin Teixeira)
Em “Travesseiro”, esse objeto tão prosaico é ressignificado, ao ser compara-
do com um amigo, capaz de compartilhar tanto os momentos de tristeza como
os de prazer. O verso final desse poema, escrito por um aluno que raramente
se interessava pelas aulas de Português, ganha um tom especial, pois remete à
presença da infância na alegria experimentada na adolescência.
Telefone
Vejo‑te como um fiel passageiro
Sempre exato e ligeiro
Através de seus fios transmite o recado
Por seu toque anunciado
Pontual e preciso
Não há distância intransponível
Não há caminho impossível
Não há hora nem lugar
A qualquer um que chamar
Ele atende prontamente
Ele sabe de grandes segredos
De fraquezas e medos
Também de coisas banais
E a isso assiste indiferente
Rindo de toda essa gente
Que não sabe o que diz e o que faz.
(Carolina Dias)
O poema de Carolina Dias, deficiente visual desde o nascimento, foi o único
que se preocupou com rimas. A aluna, com grande hábito de leitura, lembra
as grandes vantagens do telefone e seu encanto, provavelmente compartilhado
por muitos no momento de sua invenção. Em sua personificação desse objeto,
116
Revista eca XV 1_miolo.indd 116 07/06/10 14:55
Formalismo russo em sala de aula • Carolina Duarte Damasceno
a eficiência, o conhecimento sobre a vida alheia, bem como certo deboche,
fazem‑se presente. Segue um último exemplo dos textos criados pelos alunos:
Relógio
Alicerce na vida,
Perigo no amor,
A Hora!
A hora no relógio
É incessante,
Imutável,
Inalterável.
Contínua…
Fixo à parede, nada.
Olhares preocupados,
Olhares ansiosos.
Seus ponteiros em sintonia, marcando
Pressa,
Rotina,
Padrão.
Esse relógio da vida sempre irá comigo
A cada passo, pensamento
A hora de amar
A hora de ser
A hora de estar
E continuará batendo unânime
Até a Hora da Morte.
(Hellen Perussolo)
Como as produções feitas pela turma de uma escola foram lidas para a
outra, esse foi o poema que mais se destacou, segundo os comentários dos alu-
nos. Muitos elogiaram, por exemplo, a presença de ritmo, que alude ao relógio
e demonstra especial traquejo da aluna com a linguagem. Fora essa visão do
tempo e as anteriormente apresentadas, foram retratados de forma peculiar
objetos como chaves, sapato, edredon, sabonete, cadeira, carro etc.
Independentemente da qualidade dos textos, a atividade, marcada inicial-
mente pelo receio inerente a novos procedimentos didáticos, foi extremamente
satisfatória. Além de contar com especial engajamento dos alunos, tanto ao
longo da leitura dos poemas quando no processo de escrita, a proposta fez
com que, durante uma semana, eles lançassem um olhar distinto sobre seu
mundo cotidiano, à procura de um objeto a ser retratado com estranhamento.
Na discussão final, espaço para comentarem a experiência, muitos escolheram
essa busca como um dos momentos mais interessantes. Assim, a percepção do
mundo de forma peculiar, um dos efeitos da Literatura, segundo Chklovski, foi
efetivamente vivenciada por eles, mesmo se somente por alguns dias, através
da aproximação entre leitura e criação.
117
Revista eca XV 1_miolo.indd 117 07/06/10 14:55
comunicação & educação • Ano XV • Número 1 • jan/abr 2010
Referências bibliográficas
BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 20. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1993. 421 p.
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. 10. ed. São Paulo: Global,
2003. 140 p.
Chklovski, Victor. A arte como processo. In: TODOROV, Tzvetan. Teoria da
literatura. 1. ed. Lisboa: Ed 70, 1999. 152 p.
CORTÁZAR, Julio. Histórias de cronópios e de fama. 5. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1994. 157 p.
LEAHY‑DIOS, Cyana. Educação literária como metáfora social: desvios e rumos.
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 255 p.
MEIRELES, Cecília. Poesia completa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
308 p.
NETO, João Cabral de Melo. Obra completa. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,
1995. 836 p.
Sartre, Jean Paul. Que é a literatura? 3. ed. São Paulo: Ática, 1999. 231 p.
VALÉRY, Paul. Poésie et pensée abstraite (Poesia e pensamento abstrato). In:
Oeuvres I (Obras I). 1. ed. Paris: Gallimard, 1957. 1310 p.
Zilberman, Regina. A leitura na escola. In: ZILBERMAN (Org.). Leitura em
crise na escola. 5. ed. Porto Alegre: Ed. Mercado Aberto, 1985. 164 p.
118
Revista eca XV 1_miolo.indd 118 07/06/10 14:55
Você também pode gostar
- Fluxograma - Cumprimento de Sentença - (SeEJud II - Versão 2023-07-27)Documento15 páginasFluxograma - Cumprimento de Sentença - (SeEJud II - Versão 2023-07-27)Erita BarrosAinda não há avaliações
- Apostila TCC Guia PráticoDocumento88 páginasApostila TCC Guia PráticoCristiane Mendes100% (1)
- Exame Modulo 3Documento4 páginasExame Modulo 3Carla PachecoAinda não há avaliações
- NBR 7287 PDFDocumento10 páginasNBR 7287 PDFWender MartinsAinda não há avaliações
- Tesouros Escondidos OriginalDocumento21 páginasTesouros Escondidos OriginalMoreh Joel MoraisAinda não há avaliações
- Edital-Supervisor-Pibid 2020Documento11 páginasEdital-Supervisor-Pibid 2020UfpbAinda não há avaliações
- Ufpb Resolucao-76 97Documento5 páginasUfpb Resolucao-76 97UfpbAinda não há avaliações
- Ariel de Sylvia Plath Notas Sobre Uma Ed PDFDocumento10 páginasAriel de Sylvia Plath Notas Sobre Uma Ed PDFUfpbAinda não há avaliações
- 01 Poemas Escolhidos de Gregorio de Matos PDFDocumento12 páginas01 Poemas Escolhidos de Gregorio de Matos PDFUfpb0% (1)
- Melhor Que ArderDocumento3 páginasMelhor Que ArderUfpbAinda não há avaliações
- Lista de Postos RJDocumento11 páginasLista de Postos RJmbtavaresAinda não há avaliações
- Impacto Do Estresse de Minoria em Pessoas TransDocumento13 páginasImpacto Do Estresse de Minoria em Pessoas Transawnjiminx xAinda não há avaliações
- 08 Pupt 2010 LogaritmosDocumento8 páginas08 Pupt 2010 LogaritmosCarlos BraynerAinda não há avaliações
- Analista Portuario (Advogado) (NS002) Tipo 2Documento16 páginasAnalista Portuario (Advogado) (NS002) Tipo 2danielelage.advAinda não há avaliações
- Prática 7 - Medição de PresençaDocumento5 páginasPrática 7 - Medição de PresençaLuana MeloAinda não há avaliações
- 37 - As Armas - Poderes - Personagens Mais Overpower Dos GamesDocumento14 páginas37 - As Armas - Poderes - Personagens Mais Overpower Dos GamesIvan Souza de AbreuAinda não há avaliações
- CASOS-PRÁTICOS - Direito Romano - Turmas Práticas P8, P9, P10 e P11 - Diogo Figueiredo FerreiraDocumento2 páginasCASOS-PRÁTICOS - Direito Romano - Turmas Práticas P8, P9, P10 e P11 - Diogo Figueiredo FerreiraNúria MachocoAinda não há avaliações
- Produtos - UltragazDocumento2 páginasProdutos - UltragazleorioliAinda não há avaliações
- De-Abnt - Ep-001 (000) - NBR 15570 - Espec. Téc. para Fabricação de Veículos de Carac. Tranporte Coletivo de PassegeiroDocumento68 páginasDe-Abnt - Ep-001 (000) - NBR 15570 - Espec. Téc. para Fabricação de Veículos de Carac. Tranporte Coletivo de PassegeiroGilberto FernandesAinda não há avaliações
- Instituicoes Financeiras Emprestimo Consignado Propaganda EnganosaDocumento17 páginasInstituicoes Financeiras Emprestimo Consignado Propaganda EnganosaCarla Dos SantosAinda não há avaliações
- Resumo Antropologia - CAPÍTULO 11Documento1 páginaResumo Antropologia - CAPÍTULO 11Anonymous 6HsCKwYx6Ainda não há avaliações
- Relatorio de TransicaoDocumento68 páginasRelatorio de TransicaoBruno PereiraAinda não há avaliações
- DiarioDocumento3 páginasDiarioancelmo vieiraAinda não há avaliações
- Zodíaco Árabe - Alto AstralDocumento3 páginasZodíaco Árabe - Alto AstralMônica Mello BragaAinda não há avaliações
- Manual Telefone PhillipsDocumento32 páginasManual Telefone Phillipsscandall100% (1)
- Tipos de CarajásDocumento32 páginasTipos de CarajásDaniel SignorelliAinda não há avaliações
- 2.2. Geografia - Exercícios Resolvidos - Volume 2Documento11 páginas2.2. Geografia - Exercícios Resolvidos - Volume 2Jordyson Matheus0% (1)
- O Ciclo Completo de PoliciaDocumento10 páginasO Ciclo Completo de PoliciaTsirmaox SouzaxAinda não há avaliações
- HumanismoDocumento26 páginasHumanismoJoão Oliveira RodriguesAinda não há avaliações
- Regulamentos Comunitários em Matéria de Segurança SocialDocumento8 páginasRegulamentos Comunitários em Matéria de Segurança Social1zoio2zoioAinda não há avaliações
- Do Big Stick Ao New DealDocumento8 páginasDo Big Stick Ao New DealRenataAinda não há avaliações
- Comprovante - Direito de Resposta - Bolsonaro - 15.09 - 0601140-45.2022.6.00.0000Documento26 páginasComprovante - Direito de Resposta - Bolsonaro - 15.09 - 0601140-45.2022.6.00.0000MetropolesAinda não há avaliações
- G2 - Contab. Custos - Q5Documento9 páginasG2 - Contab. Custos - Q5Dehon Antonio Santos OliveiraAinda não há avaliações
- 3 303anDocumento1 página3 303ancristalAinda não há avaliações
- Apostila Unid 2 - Análise Do Capital de GiroDocumento17 páginasApostila Unid 2 - Análise Do Capital de GiroGeovania NascimentoAinda não há avaliações