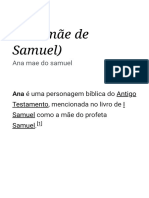Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Diálogo Entre Zen e o Cristianismo
Diálogo Entre Zen e o Cristianismo
Enviado por
Mônica CamposTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Diálogo Entre Zen e o Cristianismo
Diálogo Entre Zen e o Cristianismo
Enviado por
Mônica CamposDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anais do V Congresso da ANPTECRE
“Religião, Direitos Humanos e Laicidade”
ISSN:2175-9685
Licenciado sob uma Licença
Creative Commons
O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO ENTRE O CRISTIANISMO E O ZEN
BUDISMO ATRAVÉS DA EXPERIÊNCIA MÍSTICA: REFLEXÕES
MERTONIANAS
Jefferson Soares da Silva
Mestre em Educação
PUC-PR
jeffersonpdgg@gmail.com
Bolsista CAPES
GT 03 - ESPIRITUALIDADES CONTEMPORÂNEAS, PLURALIDADE RELIGIOSA E DIÁLOGO
Resumo: Thomas Faverel Merton (1915-1968) é considerado um dos escritores católicos mais
influentes do século XX. Monge cisterciense, Merton viveu na Abadia de Gethsemani no
Kentucky-EUA desde 1941 a 1968, data de sua morte precoce, ocorrida na Coréia quando
participava da primeira Convenção da União dos Mosteiros da Ásia. Seus escritos transitaram
desde a poesia ao estudo das religiões comparadas, da mística aos direitos civis e do pacifismo
ao diálogo inter-religioso. Nesse último tema, sua atenção concentrou-se sobre as religiões
orientais, com destaque ao Zen Budismo em sua relação com a mística Católica,
correspondência que iremos nos ater nesse estudo. Cientes que na pós-modernidade o diálogo
inter-religioso comporta a possibilidade de anulação dos padrões de referência identitário,
propomos refletir sobre o diálogo entre o Cristianismo e o Zen Budismo no que tange à
experiência mística, pautados no mergulho do autor nesse delicado terreno. Para tanto,
intentamos reconhecer sua hermenêutica e as bases que sustentam essa dialética, para assim
estabelecer proposições para a interlocução atual. Considerando também o caráter profético
das reflexões mertonianas acerca da influência do utilitarismo moderno sobre o cristianismo e
sua mística ocidental, sustenta-se a utilização de seus escritos pela constatação dessa azáfama
na pós-modernidade. Para tanto, o estudo pautar-se-á na análise qualitativa bibliográfica e
afluirá com destaque às obras: Místicos e Mestres Zen (2006), Zen e as Aves de Rapina (1972)
e A experiência interior (2007). Em contradição a teses progressistas e conservadoras de sua
época, Merton, ao contemplar uma espiritualidade não teísta em sua relação com o
Cristianismo, esforça-se por desvelar os aspectos simétricos que uma e outra conservam. Essa
relação torna-se factível ao confessar na experiência cristã e zen budista razoável contiguidade
através da experiência mística. Seu deslocamento da mística ocidental, permeada pela lógica
formal para a intuição metafísica, porém existencial e empírica do Zen Budismo, aponta em
verdade para o retorno ao Cristianismo primitivo. Nesse sentido, Merton supera a aparente
dialética da negação entre o Cristianismo e o Zen Budismo através da dialética da concessão.
Palavras-chave: Diálogo inter-religioso; Cristianismo; Zen Budismo; Experiência mística;
Teologia.
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
Se eu me afirmo como católico simplesmente negando
tudo que é muçulmano, judeu, protestante, hindu,
budista, etc., no fim descobrirei que, em mim, não resta
muita coisa com que me possa afirmar como católico: e
certamente nenhum sopro do Espírito com qual possa
afirma-lo.
Thomas Merton1
Introdução
O fascínio do monge Thomas Merton (1978) pelas fronteiras espirituais do
homem pautou-se em uma fé segura. Iluminado pela luz do Cristianismo lançou-se a
interpretar as possíveis simetrias e assimetrias entre as religiões, com destaque às
religiões orientais.
Percebia na vida contemplativa uma possibilidade de ampliação e sustentação
do diálogo inter-religioso. Nessa via asseverava (MERTON, 2006) que o legado cultural
da Ásia tinha o mesmo privilégio de ser estudado nas faculdades e na mesma
intensidade que a herança cultural de Roma e da Grécia, pois considerava as “tradições
culturais asiáticas” “profundamente espirituais”. Não obstante, o padre estava ciente
que constatar pontos de confluência entre Cristianismo e Budismo era uma empreitada
exigente, aparentemente impraticável.
Nesse horizonte eclode a pergunta que norteia esse ensaio: é possível destilar
da experiência mística cristã e da iluminação Zen Budista algum rudimento que faz
convergir uma e outra? Deste modo, a pretensão é esboçar de forma concisa possíveis
aproximações entre as mencionadas religiões a partir da experiência mística pautadas
nas reflexões mertonianas que versam sobre o tema.
Cristianismo e Zen Budismo: aproximações e distanciamentos
No que tange aos traços comuns entre Cristianismo e Budismo, destaca-se,
inicialmente, que são religiões, pois, segundo Merton (2006), mesmo sendo o Budismo
1
MERTON, Thomas. Reflexões de um espectador culpado. Petrópolis: Vozes, 1970.
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
lançado para além qualquer “ismo” filosófico ou teológico, pode ser considerado uma
“religião2”. Deste modo, uma religião ocidental e judeu-cristã, outra asiática.
O Ocidente é persuasivo, o Oriente, silencioso. Mas seu silêncio pode ser tão
eloquente quanto a “verbosidade” (SUZUKI3, 1976). O Ocidente não somente estima o
verbalismo, mas “transforma a palavra em carne e faz com que essa carnalidade
sobressaia, às vezes de maneira [...] demasiado gritante e voluptuosa, em sua artes e
religião”, enquanto que as religiões do Oriente anseiam pela “desencarnação”, pela
“absorção”, uma vez que para o “Zen a encarnação é desencarnação; o silêncio reboa
como o trovão; o Verbo é o não-verbo, a carne é a não carne, o imediatamente
presente é igual ao vazio (Sunyata) [...] (SUZUKI, 1976, p. 19). Imersas em contextos
singulares, uma religião concede ao homem uma salvação de “base teológica”, a outra,
uma “iluminação metafísica”, porém, ambas se assemelham por adotarem a tessitura
ordinária do cotidiano como material para a transfiguração radical da
4
consciência (MERTON, 1972).
Mas nesse horizonte, Merton (2006, 1972) ressalta que para alguns mestres o
Zen5 não se enquadra em uma “religião” (apesar de não opor-se à existência de um ser
supremo). Asseveram que paramentá-lo em termos estruturais ou na forma de um
sistema religioso é “fraudá-lo”, pois o Zen sequer reivindica-se “místico”. Deste modo,
2
Além do budismo encontram-se protestos contra a atribuição do termo “religião” também ao Cristianismo. Para
Karl Barth (1886-1968), as estruturas culturais e sociais representavam, em verdade, uma “deturpação” do
cristianismo. Também no Islã encontram-se os sufis que “buscam o Fana”, visando a extinção do ser cultural e social
determinado pelas estruturas religiosas, com vistas a atingir a liberdade mística em que o ser se perde e se refaz no
“Baga”. Algo que se aproxima do novo homem cristão, isso de acordo com os místicos e, mesmo com os apóstolos,
pois, como dizia Paulo “Eu vivo, mas neste momento não sou eu, e sim o Cristo que vive em mim” (GL 2, 20).
(MERTON, 1972, p. 10).
3
O Dr. Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966), uma das maiores autoridades em Budismo e uma das principais fontes
de Merton no estabelecimento do diálogo inter-religioso.
4
Não raramente, o conhecimento superficial de alguns autores sobre o budismo e sobre o monaquismo no
cristianismo, intentam conciliar os monges cistercienses aos monges Zen-Budistas. Há de fato alguma evidente
simetria, considerando que os monges Zen também se distinguem pelo rigor e pela simplicidade de suas vidas, no
“trabalho manual”, na pobreza e singeleza, na disciplina e no viver em comunidade (MERTON, 2006, p. 249). Não
obstante, para os monges Zen a “experiência direta” transcende o conhecimento abstrato e teórico contraído pelo
estudo e pela leitura. Mas com isso não negam que ambos (em seu “devido lugar”) poderiam concorrer para a
licitude de sua formação espiritual4. (MERTON, 2006, p. 255, 256).
5
O termo zen advém palavra chinesa “Ch’na”, e indica, de certo modo, “meditação”. Porém, é equivocado
compreender o zen como um “método de meditação” ou ainda como uma “forma de espiritualidade.” (MERTON,
2006).
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
parece claro que para a lógica Ocidental o Zen é mesmo a árvore tombada que cruza
“nosso caminho”. Mas não somente. Ao refutar o Zen como religião rejeitam também a
ideia de tratar-se de “seita” ou “escola”, contestando, assim, sua redução ao Budismo.
Porém, não há aqui indicação alguma que não possa haver Zen Budismo, pois aqueles
que o praticam bem sabem diferenciar um e outro (MERTON, 1972).
Através dessas considerações, a sentença universal de Lévi-Strauss (1908-
2009) de que “nada existe que possa ser concebido ou entendido sem a básica
exigência de suas estruturas” coloca-se como um problema para Merton (1972, p. 7)
quando atribuída ao Zen, e faz eclodir a pergunta: seria possível enquadrá-lo nos
modelos de uma antropologia estruturalista?
Se compreendido em relação com outros componentes de um sistema cultural,
como o Zen Budismo, essa possibilidade existe, mesmo com a precedência do Budismo
ao Zen. Por essa via, o Zen pode ser considerado, segundo Merton (1972), como um
modelo especial de estrutura com requisitos básicos e factíveis ao perscrutar científico,
tornando plausível sua contextualização à história da China e do Japão, ou seja, como
produto do contato entre o budismo hindu, voltado à especulação, com o “taoísmo
prático chinês”, com o confucionismo, ou ainda iluminado pelo fulgor da “cultura da
dinastia T’ang”. Nessa circunstância o Zen pode também ser comparado com outras
estruturas religiosas como, por exemplo, a estrutura do catolicismo, com sua liturgia,
sacramentos, teologia, sacerdócio e catedrais.
O “eu interior” na experiência mística cristã e zen budista
Conforme a tradição mística cristã, perscrutar o abismo de nosso ser tem a ver
com a libertação do “fluxo ordinário” constantemente saturado de impressões sensíveis,
dos alaridos e ímpetos inconscientes das paixões desregradas. Nesse sentido é que a
liberdade para embrenhar-se no santuário interior do homem é comumente recusada
àqueles que se guiam pela servidão do deleite dos sentidos e pela “autogratificação”.
Apenas o coração verdadeiramente pobre, aquele que não conserva qualquer resquício
do “eu” como morada pode permitir que Deus seja o singular “cenário da ação”, uma
vez que Ele age dentro de Si mesmo (MERTON, 1972; 2007).
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
Pautado nos escritos dos teólogos João Cassiano (360-435) e Mestre Eckhart
(1260-1328), em que o Deus cristão é pensado como abismo infinito e alicerce em que
o “eu” se assenta, Merton (2006, p. 29) salienta a semelhança com o Zen Budismo, se
considerado que o Zen não é atingido simplesmente pela “meditação de limpeza do
espelho, e sim pelo esquecimento de si no presente existencial da vida aqui e agora”
(MERTON, 2006, p. 29, grifo do autor). Mas, nesse seguimento, recorda (e avança)
com São João da Cruz (1542-1591) ao citar que o caminho espiritual:
[...] é falsamente concebido se for pensado como uma negação da carne, dos
sentidos e da visão, a fim de se chegar a uma experiência mais elevada. Pelo
contrário, a “noite escura dos sentidos” que deixa a casa de carne em repouso
é, no máximo, um começo sério. A verdadeira noite escura é a do espírito, onde
o “sujeito” de todas as formas mais elevadas de visão e de inteligência é
deixado no escuro e no vazio: não como um espelho, puro de todas as
impressões, mas como um vazio sem conhecimento e sem qualquer
capacidade natural de conhecer o sobrenatural [...]. [São João da Cruz], ensina
que a luz de Deus brilha em toda a vacuidade onde não há nenhum sujeito
natural para recebê-la. Para essa vacuidade não há, na realidade, nenhum
caminho. “Entrar no caminho é deixar o caminho,” pois o próprio caminho é
vacuidade.” (MERTON, 2006, p. 29).
É nessa perspectiva que a experiência mística cristã se assemelha ao Zen, pois
segundo Merton (2006) é intuído como uma “experiência”, um “caminho” e,
contrariamente, um “não caminho”. É evidente, porém, que no Budismo a estrutura
religiosa ou filosófica pode mais naturalmente ser colocada de lado, pois em dado
momento aquele que medita é lançado ao vazio6, enquanto que no Cristianismo:
[...] a doutrina objetiva retém a prioridade tanto em relação ao tempo como à
eminência. No Zen, a experiência é prioritária, não quanto ao tempo, mas
quanto à importância. Isso acontece porque o cristianismo se baseia na
revelação sobrenatural e o Zen, rejeitando tôda ideia de qualquer revelação e
mesmo adotando visão muito independente da sagrada tradição, procura
penetrar o fundamento ontológico do ser natural (MERTON, 1972, p. 45).
Com isso, não se negligencia a relevância da experiência no Cristianismo,
assevera Merton (1972), pois experienciar o mistério do Cristo “misticamente” tem a ver
com transcender a esfera tão somente psicológica, individual, criando a possibilidade
6
Saber se é possível ao místico cristão avançar em sua experiência sem a “Santa Humanidade do Cristo”, é uma
questão ainda candente, segundo Merton (1972), pois a figura de Cristo é o ícone da contemplação cristã. Mas isso
ocorre também pela falta de distinção entre os fatos psicológicos do misticismo cristão e a teologia objetiva da
experiência cristã.
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
da experimentação teológica com a Igreja. Mas destaca, que enquanto a experiência
cristã deve ser partilhada com a Igreja, através da teologia, o Zen busca distar-se e
contrapor-se a qualquer sedução em ser imediata e simbolicamente comunicável, ou
seja, a linguagem utilizada pelo Zen é, de certo modo, uma “anti-linguagem7”. Nesse
sentido, Merton declara que o Zen está mesmo além do Budismo e também da
mensagem do Cristianismo, pois consegue transgredir as fronteiras das estruturas
culturais religiosas, desata e torna possível o renascimento do espírito por meio da
“liberdade”. Essa “liberdade” (sem a intenção que teologicamente designem a mesma
coisa), nomeada pelos chineses “Wu-wei” e no Novo Testamento como a “liberdade dos
filhos de Deus”, possui a “mesma espécie de dimensão ilimitada, a mesma ausência de
inibição, a mesma plenitude psíquica de criatividade que marcam a plena e integrada
maturidade do ‘eu iluminado8’” (MERTON, 1972, p. 13). Mas ressalta também que a
consciência do “eu” iluminado, do “eu” interior, pode, ao menos hipoteticamente, no Zen
ser produto de uma “purificação” tão somente psicológica e natural:
Já nossa consciência de Deus é uma participação sobrenatural na luz pela qual
Ele revela a Si mesmo habitando nosso eu mais profundo. Logo, a experiência
mística cristã é, não apenas uma consciência do eu interior, mas também, pela
intensificação sobrenatural da fé, uma apreensão experiencial de Deus, na
medida em que Ele se faz presente em nosso interior. (MERTON, 2007, p. 20).
Nos ombros de Santo Agostinho, Merton salienta que no zen inexistem esforços
para ir “além” do “eu” interior, enquanto que no cristianismo, o “eu” interior é aventado
tão somente como um degrau para se atingir uma “consciência de Deus”: “O homem é
a imagem de Deus e o eu interior é uma espécie de espelho no qual se vê refletido e ao
qual se revela” (MERTON, 2007, p. 19, grifo nosso). Nessa perspectiva, o “eu” interior
comunica-se com o “ser de Deus, o Qual está ‘em nós’. Se entrarmos em nós mesmos,
se encontrarmos nosso verdadeiro eu e se, então passarmos ‘além’ do ‘eu’ interior,
7
O dilema humano da comunicação, para Merton (1972, p. 46), “está no fato de que não podemos nos comunicar
ordinariamente sem palavras e sinais, mas, mesmo a experiência ordinária tende a ser falsificada pelos hábitos de
verbalização e racionalização [...]. Em lugar de ver as coisas e os fatos como realmente são, nós os vemos como
reflexos e verificações de sentenças que previamente construímos em nossas mentes.”
8
Teologicamente podemos dizer que a “mente de Cristo”, representada por São Paulo aos filipenses, no capítulo 2,
dista imensamente da “mente de buda”, mas podemos inferir que “o total auto esvaziamento do Cristo – e o auto-
esvaziamento que faz o discípulo ser um com êle em Sua quênose [...] pode ser compreendido [...] num sentido muito
semelhante ao Zen no que se relaciona com a psicologia e experiência.” (MERTON, 1972, p. 13).
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
adentraremos na imensidão na qual confrontamos “Eu Sou” do Onipotente (MERTON,
2007, p. 19).
Não obstante, cabe aqui recordar que há probabilidade de um oriental referir ao
“eu” a mesma descrição que faz o místico oriental ao descrevê-lo como Deus, pois está
distante da discussão teológica, da minucia e requinte metafísico comuns ao Ocidente,
mas isso não indica que não tenha experienciado Deus quando expressa o
conhecimento sobre o “Eu mais profundo”. (MERTON, 2007).
Por isso que, ao revisitar os místicos cristãos e os mestres zen, Merton (2007)
considera que a sarça das formas e estruturas culturais, que inegavelmente estão
presentes na experiência mística9, queima “ardente”, pois o “eu” interior reveste-se do
segredo de Deus, escapando de toda apreensão conceitual.
Considerações finais
As distinções e analogias entre o Zen Budismo e o Cristianismo são claramente
divisadas por Merton, para, a partir dessas premissas, avançar, no sentido de transpô-
las “com” o arcabouço das tradições místicas de ambas as religiões.
Salvo respectivas dissonâncias entre à iluminação budista e a visão mística de
Deus, a experiência mística é interpretada a partir da categoria “Zen”, expressão de
“ilimitação” ou “vazio” no Budismo e da “noite escura” no Cristianismo. É por meio da
equivalência entre essas categorias e de sua razoável harmonização que o “eu interior”
revela-se e é revelado ao místico. Essa representação, expressão viva da experiência
mística e intelectual do autor, não conserva dualidade, mas sua hermenêutica confessa
e coaduna, a partir da dialética da concessão, a carnalidade da mística ocidental à
imaterialidade da experiência oriental, e vice-versa.
Referenciais
MERTON, Thomas. Reflexões de um espectador culpado. Petrópolis: Vozes, 1970.
9
Ressalta ainda Merton (2007, p. 19), que se faz realmente necessário fazer uma distinção entre a experiência de
nosso ser mais interior e a consciência de ter-se Deus revelado para nós em nosso eu interior e por meio deste.
Devemos saber que o espelho é distinto da imagem nele refletida, distinção esta que se baseia na fé teologal”.
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
MERTON, Thomas. Zen e as aves de rapina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1972.
MERTON, Thomas. Místicos e mestres zen. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MERTON, Thomas. A experiência interior: notas sobre a contemplação. São Paulo:
Martins Fontes, 2007.
SUZUKI, Daisetz Teitaro; FROMM, Erich; DE MARTINO, Richard. Zen-budismo e
psicanálise. São Paulo: Cultrix, 1976.
Anais do Congresso ANPTECRE, v. 05, 2015, p. GT0311
Você também pode gostar
- Desmascarando As Seduções (Gary L. Greenwald)Documento60 páginasDesmascarando As Seduções (Gary L. Greenwald)Daniel Lopes78% (9)
- Salmos P. Manuel LuisDocumento496 páginasSalmos P. Manuel LuisJoana Isabel Navarro33% (3)
- Manual Terço Do Homens - PSPADocumento32 páginasManual Terço Do Homens - PSPAManoel Cordeiro100% (1)
- Os Fundamentos Da Igreja Comunidade Da Graca PDFDocumento29 páginasOs Fundamentos Da Igreja Comunidade Da Graca PDFserranomaria100% (3)
- AmbientaçãoDocumento2 páginasAmbientaçãoKatia SilvaAinda não há avaliações
- Oração de Sábado de ManhãDocumento2 páginasOração de Sábado de ManhãCVJ-MaiaAinda não há avaliações
- Uma Igreja FamíliaDocumento5 páginasUma Igreja Famíliaalecio lisboaAinda não há avaliações
- SARDESDocumento7 páginasSARDESMarcio LimaAinda não há avaliações
- Exame de ConsciênciaDocumento56 páginasExame de ConsciênciaVitoria BuenoAinda não há avaliações
- 7 Passos para A Vida EternaDocumento4 páginas7 Passos para A Vida EternaHelga MeloAinda não há avaliações
- Paulo e A Fidelidade de Deus - Vol.3Documento527 páginasPaulo e A Fidelidade de Deus - Vol.3Junior RibeiroAinda não há avaliações
- 49 Estudo-Vida de Efésios Vol. 1 - ToDocumento355 páginas49 Estudo-Vida de Efésios Vol. 1 - ToTalita Povoleri Yunes100% (2)
- Missa Da Vigília de Pentecostes - 2024Documento22 páginasMissa Da Vigília de Pentecostes - 2024Denis SantiagoAinda não há avaliações
- Estudo 07 - O Valor Da PurezaDocumento1 páginaEstudo 07 - O Valor Da Purezasplash mapas100% (2)
- Lec VM TempoComumDocumento113 páginasLec VM TempoComumAlexandre Mendes de FigueiredoAinda não há avaliações
- Tríduo Pe. Pio de PietrelcinaDocumento2 páginasTríduo Pe. Pio de PietrelcinaLucas MunizAinda não há avaliações
- História Do Metodismo No BrasilDocumento21 páginasHistória Do Metodismo No BrasilMaria de Fátima de O. S. DavidAinda não há avaliações
- HISTÓRIA DA IGREJA NO BRASIL I (Aula 01)Documento69 páginasHISTÓRIA DA IGREJA NO BRASIL I (Aula 01)dog kidAinda não há avaliações
- Ângelo Antônio-3 Sermões, Dízimo, Política, MúsicaDocumento14 páginasÂngelo Antônio-3 Sermões, Dízimo, Política, Músicaprangeloan177Ainda não há avaliações
- AE 006 - Junho 2002Documento52 páginasAE 006 - Junho 2002Aparecida Silvino SilvaAinda não há avaliações
- Missal Romano - CorrigidoDocumento31 páginasMissal Romano - CorrigidoFrancisco das Chagas Oliveira de Aquino FrancoAinda não há avaliações
- Terço Mariano Mes Das VocaçõesDocumento2 páginasTerço Mariano Mes Das VocaçõesFredericoAinda não há avaliações
- A Atuação Das Mulheres Na Bíblia e A Interface Com o Feminismo ModernoDocumento48 páginasA Atuação Das Mulheres Na Bíblia e A Interface Com o Feminismo ModernoJhonathan James de Sousa100% (1)
- Santo Agostinho - Sermão 536 (56) (A Páscoa IV)Documento4 páginasSanto Agostinho - Sermão 536 (56) (A Páscoa IV)eduardoexp9515Ainda não há avaliações
- Bíblia Satânica (Versão Integral)Documento144 páginasBíblia Satânica (Versão Integral)Leopoldo Schaefer100% (1)
- Novo Testamento em 90 Dias Rev1Documento2 páginasNovo Testamento em 90 Dias Rev1Daniele Amelia Da SilvaAinda não há avaliações
- 2o Ano Catequese 11 Santificado Seja o Vosso NomeDocumento18 páginas2o Ano Catequese 11 Santificado Seja o Vosso NomeAna PachecoAinda não há avaliações
- Ana (Mãe de Samuel)Documento9 páginasAna (Mãe de Samuel)tudoparasuacasarj1Ainda não há avaliações
- Carta de Ensino 14 - Quando Deus ChamaDocumento20 páginasCarta de Ensino 14 - Quando Deus ChamadufrossAinda não há avaliações
- A Pnematologia em Yves GongarDocumento129 páginasA Pnematologia em Yves GongarKarla BrittoAinda não há avaliações