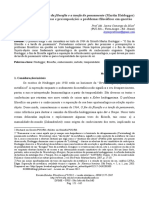Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
26 Larissa Drigo Agostinho o Absoluto em Hegel1
26 Larissa Drigo Agostinho o Absoluto em Hegel1
Enviado por
Pedro MauadTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
26 Larissa Drigo Agostinho o Absoluto em Hegel1
26 Larissa Drigo Agostinho o Absoluto em Hegel1
Enviado por
Pedro MauadDireitos autorais:
Formatos disponíveis
254
O ABSOLUTO EM HEGEL
Larissa Drigo Agostinho1
Resumo: Nosso objetivo aqui é demonstrar como o conceito hegeliano de absoluto visa
romper com um diagnóstico de época, que concerne tanto a história assim como um
determinado estado da filosofia alemã. Para isso, iniciamos com uma breve introdução
ao diagnóstico hegeliano, que diz respeito à filosofia, e, uma vez colocado o que Hegel
considera o maior desafio para o pensamento em seu tempo, podemos acompanhar
como o conceito de absoluto realiza a ruptura com a cisão entre mundo empírico e a
razão provocada pela filosofia kantiana.
Introdução
Como Hegel ressalta no prefácio da “Fenomenologia do Espírito”, o exame de
outros sistemas filosóficos não significa apenas uma tomada de posição contra ou a
favor, pois a diversidade não significa apenas contradição. Da mesma maneira, a
exposição de uma filosofia não reside na exposição de seus fins e resultados, como um
cadáver que deixa para trás sua história, mas na exposição de seu vir-a-ser do qual
entrevemos faz parte um diálogo com a tradição filosófica. Chegou o tempo em que a
filosofia deve deixar de ser saber universal ou pensamento da coisa em geral para
tornar-se saber efetivo e só a exposição das razões e necessidades que levam a filosofia
a ansiar pela condição de ciência é que podem realizar esta meta.
O diagnóstico sobre a filosofia de seu tempo começa a ser traçado por Hegel, a
partir do exame da filosofia de Schelling. O verdadeiro, ou o saber imediato do
absoluto, para Schelling, que se manifesta através da religião ou do ser, só pode ser
intuído ou sentido. Portanto, o absoluto rejeita a forma do conceito. Este é o indício
maior de que nesta forma de filosofia se manifesta a perda da substancialidade e a
densidade dos sujeitos modernos ávidos pelo belo, pelo sagrado, de religião e de amor,
de êxtase e de entusiasmo abrasador, capazes de se contentar com o “mísero sentimento
do divino em geral.” 2
De outro lado, está o formalismo, ou a filosofia kantiana, cuja crítica dá origem
entre outras, à filosofia de Schelling, segundo o qual o absoluto é o que Hegel chama de
universalidade abstrata, ou o inefetivo que exclui o diferente e o determinado. Para
combater este formalismo é necessário que “o conhecer da efetividade absoluta se torne
perfeitamente claro quanto à sua natureza.”3 A filosofia que procura dominar o
Absoluto, que estipula que antes de abordar a coisa mesma é preciso “pôr-se de acordo
sobre o conhecer”, esta filosofia que é a que, por medo de errar, nos mostra que o medo
do erro é também medo da verdade.
Assim, Hegel anuncia objetivo da exposição de sua filosofia “só o absoluto é
verdadeiro, ou só o verdadeiro é absoluto”. E, só é possível rejeitar esta proposição
1
Mestre em filosofia pela Universidade de Paris I-Sorbonne. E-mail: <larissa_drigo@yahoo.com.br>.
2
Hegel. G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes: 2003, § 8 p. 29.
3
Idem., §16 p. 34.
Anais do Seminário dos Estudantes da Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417
IX Edição (2013)
255
mediante a distinção entre um conhecimento que não conhece o absoluto (como a
filosofia Kantiana que postula a impossibilidade de conhecer a coisa em si) e o
conhecimento em geral que embora incapaz de apreender o absoluto é capaz de
formular outras verdades. Ou seja, esta proposição só pode ser negada quando
estabelecemos limites ao que pode ser conhecido e distinções entre o conhecimento e
outras formas de apreensão do absoluto. Aqui se delineia a função que o conceito de
absoluto desempenhará na filosofia hegeliana, a de restabelecer as relações entre a
efetividade e a universalidade do conceito, entre a razão e a coisa em-si, entre o saber e
o real. O conceito de absoluto visa romper com a cisão instaurada pela filosofia
moderna no cerne de nossa experiência histórica.
Esta experiência histórica designa-se como modernidade, ela é marcada pela
Reforma protestante e, sobretudo pela Revolução francesa. A modernidade inaugura
uma nova era, nas palavras de Hegel: “não é difícil ver que nosso tempo é um tempo de
nascimento e trânsito para uma nova época.” 4 No entanto, “falta, porém a esse mundo
novo (...) uma efetividade acabada.” 5 Rebecca Comay6 afirma que a Revolução
francesa não é apenas um marco inaugural da modernidade, nela se delineia a natureza
de nossa experiência histórica. Segundo a autora, o idealismo alemão procura, através
da filosofia, eliminar a distância que separa, por exemplo, a Alemanha, a “deutsch
misère”, da França revolucionária. Ou seja, procura nos dizeres de Paulo Arantes7,
vencer o atraso econômico através da ideia. Esta ausência de sincronicidade entre a
França revolucionária e a Alemanha ainda vivendo um absolutismo feudal é, para a
autora, apenas um caso especial do anacronismo que marca e define toda experiência
histórica.
De fato, a revolução francesa transformou a experiência do presente, ou seja,
do real que passa a ser entendido sob o modelo fornecido pela revolução, por isso
podemos dizer que a dialética hegeliana, sobretudo a noção de absoluto, é uma teoria do
acontecimento. O real passa a ser pensado, a partir da experiência revolucionária de
dilatação e contração do tempo, a partir, sobretudo do signo da urgência. No real estão
inseridas as diversas possibilidades, desvios, descaminhos, ascendências e regressões
que um acontecimento pode tomar. Nele está contida uma racionalidade que cabe à
filosofia formalizar.
O idealismo alemão se caracteriza, sobretudo, pela tentativa de compreensão e
análise do presente, com todos os riscos que tal pensamento carrega consigo. Entender o
que é o presente significa mostrar como o presente se insere num processo, em seguida,
determinar de que maneira este processo concerne a atividade do pensamento que
procura objetivá-lo. O terceiro momento desta análise, do “agora”, se pauta na descrição
4
Idem., § 11 p. 31.
5
Idem., § 12 p. 31.
6
Comay, Rebecca. Mourning sickness : Hegel and the French revolution. Stanford: Stanford University
Press: 2010.
7
Arantes, Paulo. Ressentimento da dialética. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
Anais do Seminário dos Estudantes da Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417
IX Edição (2013)
256
de como, aquele que fala, o filósofo, é também agente e ator em seu tempo e desta
maneira desempenha um papel importante no interior deste processo. 8
É no interior desta tradição que podemos classificar textos que vão de Burke,
do conservadorismo anti-revolucionário passando por Schiller, Kant, De Maistre,
Comte, Hegel até Marx. Alternando entre descrição e prescrição, entre análise e
injunção, o século XIX parece ter se colocado como tarefa “terminar a revolução”, seja
realizando suas promessas, seja tentando apagá-la ou eliminá-la da História. O século
XIX parece, sem cessar, nos colocar diante do problema de saber quais os limites de um
acontecimento e, principalmente, qual a posição, a importância e os limites do
pensamento diante da ação histórica.
Enquanto filósofos como Schiller pensam em maneiras de reconciliar a
revolução política com a filosofia, procurando os meios para uma revolução sem
revolução, Hegel escolhe outra perspectiva. Mais do que tentar reconciliar a prática
política com o pensamento, Hegel procura compreender as razões que provocam este
“gap”, que nos levam a perceber a experiência histórica do presente e no presente, a
partir desta diferença entre a ideia e a ação.
O que eu gostaria de defender é que examinando o conceito de Absoluto, como
ele aparece na Ciência da lógica, nós podemos compreender a origem desta percepção
moderna, segundo a qual a experiência histórica é sempre marcada por um atraso ou
diferença entre o real e as pretensões da razão.
As modalidades segundo Kant
Para compreendermos como Hegel define a racionalidade do real, em sua
Ciência da lógica, propomos uma comparação com as modalidades kantianas que
definem a faculdade de julgar empírica.
As modalidades kantianas, a tese dos postulados, presentes no fim da analítica,
são responsáveis pela constituição não da ideia do real, mas das condições de
possibilidade do mundo físico. É papel das antinomias pensar o sistema do mundo físico
newtoniano, a partir das sínteses a priori do “Eu penso”, que trabalha sobre as formas a
priori da sensibilidade, segundo as regras das categorias. Trata-se aqui de demonstrar
como o julgamento julga ou determina toda existência possível, efetiva ou necessária,
ou seja, as modalidades Kantianas examinam a relação entre o conteúdo mundano e a
faculdade de conhecer.
A necessidade e a contingência pertencem às categorias do entendimento puro
que tem quatro categorias: quantidade, relação, qualidade e modalidade. A categoria da
modalidade é dividida em três pares: possibilidade, impossibilidade; existência, não-
existência e necessidade, contingência. Estas são as categorias que nos interessam aqui.
As modalidades estão presentes no fim da “analítica dos princípios”, onde é
questão da aplicação aos fenômenos dos conceitos do entendimento que contém a
condição das regras a priori. É importante lembrar que, para Kant, a faculdade de julgar
8
M. Foucault, Le Gouvernement de soi et des autres. Paris : Seuil/Gallimard/EHESS, 2008, p. 16, p. 12,
p. 13.
Anais do Seminário dos Estudantes da Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417
IX Edição (2013)
257
tem o papel de julgar se algo se inscreve ou não sob uma regra dada. A crítica se mostra
aqui tal qual, pois ela deve prevenir os passos em falso da faculdade de julgar na
utilização dos conceitos puros do entendimento.
Esta seção começa com alguns esclarecimentos no que diz respeito ao papel das
modalidades. Segundo Kant, as modalidades não exprimem conhecimento nenhum
sobre o próprio objeto, mas somente sua relação com o entendimento e seu uso
empírico, ou seja, sua relação com a faculdade de julgar empírica e a razão. Trata-se,
portanto, de pensar os conceitos de necessidade, possibilidade e realidade no seu uso
empírico, a partir da análise das condições de seu uso transcendental, portanto,
estabelecendo a condição de possibilidade do conhecimento dos objetos. Ou seja, o uso
empírico da faculdade de julgar diz respeito à relação entre o entendimento e o próprio
objeto.
A possibilidade para Kant é compreendida como possibilidade formal, uma
possibilidade para ser dita tal deve estar de acordo com as condições formais da
experiência em geral. Por isso, podemos conhecer e caracterizar as possibilidades sem
nenhum recurso à experiência, mas simplesmente em relação às condições formais sob
as quais um objeto se determina, ou seja, a priori. Uma possibilidade se determina não
com relação ao real, mas com relação às condições a priori de determinação de um
objeto. Se a possibilidade kantiana é puramente formal, a necessidade, assim como a
contingência, se restringe à relação de causa e efeito.
O princípio de causalidade é a resposta kantiana ao princípio de razão suficiente,
segundo o qual tudo deve ter uma causa. A relação causal é responsável pela
determinação dos conceitos de necessidade, possibilidade, contingência e realidade.
Para Kant não se pode conhecer a necessidade de existência das coisas, mas
somente seu estado pode ser dito necessário. Se a existência não pode ser reconhecida
como necessária, é necessário somente o efeito produzido por causas dadas seguindo a
lei da causalidade. O critério da necessidade reside unicamente na lei da experiência
possível, que determina que tudo o que acontece é determinado a priori,
fenomenalmente, por sua causa.
O princípio de causalidade é diretamente ligado ao princípio de razão suficiente.
Quando dizemos que algo acontece estamos diante de uma percepção que pertence à
experiência possível, e se torna real quando considero o fenômeno como determinado
com relação ao espaço que ele ocupa no tempo, ou como um objeto que pode ser
encontrado e determinado segundo uma regra no encadeamento de percepções. Esta
regra, que determina um objeto a partir da sucessão do tempo, estipula que é preciso
encontrar no que precede o objeto a condição que torna real o acontecimento (ou seja
sua necessidade). Assim todo acontecimento tem uma causa que o antecede e determina
sua necessidade. A causalidade é um princípio temporal que determina as condições de
possibilidade da experiência alinhada ao princípio de razão suficiente, elevado aqui a
condição de fundamento de toda experiência possível e de todo conhecimento objetivo
dos fenômenos.
A maior consequência deste postulado, que transforma o princípio de razão
suficiente na condição de possibilidade de toda experiência, é que o princípio de relação
Anais do Seminário dos Estudantes da Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417
IX Edição (2013)
258
causal na sucessão dos fenômenos tem um valor que precede todos os objetos da
experiência (submetidos a condição temporal, segundo a qual toda causa tem um efeito
que a precede) porque o princípio causal é o fundamento da possibilidade de toda
experiência. Isso faz com que Kant afirme que para conhecer e determinar um
acontecimento, o conhecimento das causas é suficiente.
Para compreendermos a distância que separa a lógica hegeliana da Crítica da
razão pura não basta examinar apenas a definição de cada uma das modalidades, mas a
relação que elas estabelecem com o real ou no caso kantiano, com a faculdade de julgar
empírica. Como vimos, a faculdade de julgar empírica determina as relações entre a
faculdade de julgar empírica e os objetos do mundo, ou seja, entre o entendimento e o
mundo empírico, por isto trata-se de uma faculdade de julgar determinada. Já Hegel
procura romper com a cisão instaurada pela filosofia kantiana entre a razão e o mundo
empírico. Assim, ele procura determinar as modalidades no interior das relações entre o
real e as suas determinações, isto significa que a determinação do real, a necessidade
assim como a contingência são definidas com relação ao real e não em relação aos
postulados a priori que determinam as condições da experiência e as condições de
aplicação dos julgamentos. Ou seja, mesmo na lógica, a filosofia hegeliana se constitui
a partir do recurso à experiência e à objetividade.
O Absoluto
O absoluto é a categoria que antecede e por isso abre espaço e torna possível a
configuração do real (Wirklichkeit) no interior da “Ciência da lógica”. Podemos afirmar
que o absoluto nada mais é do que o próprio real. Mas, devemos entender o que isso
significa. Como o absoluto é o verdadeiro, a totalidade, isso quer dizer que não há nada
exterior ao real. Por isso o absoluto é o conceito que rompe com a dicotomia metafísica
entre dois planos distintos, transcendência e imanência ou empiria, planos distintos que
são responsáveis pela diferenciação entre o conceito e as coisas e objetos do mundo. A
partir do momento em que Hegel estabelece o absoluto como conceito que determina o
real, ele rompe com a dicotomia kantiana entre uma faculdade de julgar e os objetos do
mundo, que são submetidos às regras que determinam o conhecer, assim como toda
experiência possível.
Ao definir o real como absoluto, Hegel estabelece que nada é exterior ao real,
sobretudo o pensamento. Isto implica que as determinações do absoluto se dão de
maneira negativa, todas elas demonstram apenas sua relatividade e finitude. No absoluto
repousam todas as determinações de maneira imanente, sem que seja possível a
constituição de uma unidade. Por isso, o absoluto não se apresenta, não é uma
determinação, nem uma reflexão exterior. Se ele não se deixa determinar é porque ele
deve se expor. O absoluto é o ato de mostrar o que ele é. Ou seja, não há determinação
racional capaz de definir o que de fato é o absoluto, não há reflexão capaz de, na
distância que hipoteticamente a separaria de seu objeto, do real, seja capaz de apresentá-
lo. A razão não pode, como no interior da filosofia kantiana, conhecer um
acontecimento ou determiná-lo a partir de suas causas. Isso significa que as
determinações do real são sempre insuficientes ou finitas e perecem diante da própria
Anais do Seminário dos Estudantes da Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417
IX Edição (2013)
259
realidade. Isso significa que diante do real a razão experimenta sua finitude, condição
que abre espaço para a liberdade.
As determinações da Wirklichkeit demonstram a fragilidade e a instabilidade
do real. Segundo Hegel, o real se divide em três momentos: contingência ou efetividade,
possibilidade e necessidade formais; necessidade relativa ou efetividade, possibilidade e
necessidade reais; e finalmente a necessidade absoluta. Podemos dizer que o real se
define, portanto, no interior da teia de relações que se estabelece entre suas
determinações, a contingência, a possibilidade e a necessidade. Temos num primeiro,
uma possibilidade, que se define em relação ao real, ou seja, é possível o que pode se
tornar real, e, o que pode se tornar real se torna real através da ação da contingência. A
contingência transforma a possibilidade em realidade. Como a contingência age sobre o
possível, ela é o que é, mas poderia não ser. Contingente é o que poderia ser outro. E
finalmente a necessidade é o que é. Necessidade é, portanto um atributo de uma
possibilidade que se tornou real. “Necessário” é uma determinação que pode ser
atribuída a tudo o que é real, e que significa apenas que o real é real. Trata-se, portanto
de uma determinação vazia e ainda mais instável quando sabemos que o real é resultado
de uma contingência e que ele poderia, portanto, ser outro. É evidente o caráter limitado
e circunscrito destas determinações. Só posso afirmar do que possível que ele não é real,
só posso determinar o real como o outro do possível, o que é necessário e que se tornou
real a partir da ação da contingência, que faz com que o real seja sempre assombrado
por infinitas possibilidades que podem, por acaso, se tornar reais.
Se o contingente, como ressalta Lebrun “Déjà plus concret, le contingent peut
être ou n’être pas. Contingent est le réel qui peut être aussi bien possible, dont l’être a la
valeur de non-être. Dans le contingent, la négation de soi-même est ainsi posée ; il est
donc un passage de l’être au non-être ; il est, comme le Fini, négatif en soi”. Isto
significa que o caráter instável das determinações do ser é representativo do caráter
eminentemente limitado do pensamento finito, e como Lebrun destaca, a passagem do
finito ao infinito não é uma ascensão ao conhecimento, mas antes de qualquer coisa, a
constatação da fragilidade do saber finito. Assim, a afirmação do caráter indeterminado
e contingente do ser, ou a afirmação da contingência na determinação do real, são mais
uma vez, uma outra figura da impossibilidade de se conhecer o que se apresenta de
maneira imediata, e também a constatação da impossibilidade de um conhecimento
imediato. Mas, a contingência não é apenas um índice do caráter limitado do
pensamento finito, ela abre espaço no interior do real para que algo da ordem do infinito
possa se manifestar. Pois o contingente porque ele é também « non-être, il est également
le passage du non-être à l’être. La détermination de la contingence est donc bien plus
riche et plus concrète que de la Finitude.9 Como compreender que o caráter
indeterminado da contingência seja também o que caracteriza sua infinitude?
Na Filosofia da História, Hegel insiste que existem determinadas ações que
realizam muito mais do que as intenções conscientes e a vontade de um indivíduo são
capazes de prever. Hegel cita que César, temendo que seus inimigos o tirassem do
9
Lebrun, G. La patience du concept. Paris: Gallimard, 1972, p. 96.
Anais do Seminário dos Estudantes da Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417
IX Edição (2013)
260
poder, fundou um Império, com o único objetivo de se livrar de seus inimigos. Esta
ação tem consequências que vão além das previsões ou intenções de César, por isso ela
é contingente. Eis o que Hegel chama de liberdade unidade da Ideia e da vontade
subjetiva, dos objetivos e intenções particulares e de suas consequências universais, ou
seja, a liberdade é a demonstração do caráter necessário da contingência.
A liberdade é também chamada de uma “compulsão infinita do pensamento”.
Isto porque um acontecimento desencadeia uma compulsão que busca incessantemente
reduzi-lo ou encerrá-lo no interior de uma série de causas. Mas, este movimento não
deve nos levar a imaginar que um acontecimento pode ser produzido pela elaboração
intelectual. Pois é justamente o caráter irremediavelmente contingente do real que
desencadeia a inútil compulsão do pensamento. Diante desta hipótese devemos lembrar
que Hegel só é capaz de pensar a causalidade a partir da ação recíproca, onde causa e
efeito são recíprocos, internos ao real ou “efetividades livres” e por isso mesmo
necessários. Assim, o pensamento não pode ser tido como causa exterior de um
acontecimento, pois isso significaria um retorno ao entendimento kantiano e ao mundo
cindido que ele cria.
A fragilidade das determinações do real e sua instabilidade apontam para a
necessidade de reconhecermos a insuficiência da razão diante dos acontecimentos, trata-
se de reconhecer que o repertoriamento das causas de um acontecimento não é capaz de
esgotar sua potencialidade, trata-se de salientar que o acontecimento ultrapassa a razão e
não encontra determinações lógicas suficientes para explicá-lo. Há, portanto um excesso
do real diante de suas determinações, que é justamente o que Hegel chama de liberdade.
O real é necessidade absoluta ou pura contingência, não pode ser compreendido a partir
de causas que lhe sejam externas e produz possibilidades que não se deixam restringir
ao exame das razões que o produzem. Desta maneira, nem as causas, nem os agentes
são responsáveis por um acontecimento ou pelo que ele é capaz de produzir. Isto
significa dizer que a determinação que define o real é a necessidade absoluta ou a pura
contingência.
BIBLIOGRAFIA:
ARANTES, Paulo. Ressentimento da dialética. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
COMAY, Rebecca. Mourning sickness: Hegel and the French revolution. Stanford:
Stanford University Press: 2010.
FOUCAULT, Le Gouvernement de soi et des autres. Paris : Seuil/Gallimard/EHESS,
2008.
HEGEL. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes: 2003.
____Wissenschaft der Logik. Leipzig : F. Meiner, 1932-1934. Vol 2.
KANT. Kritik der reinen Vernunft. Akademie-Ausgabe. Berlin, Walter de Gruyter,
1968.
LEBRUN, G. La patience du concept. Paris: Gallimard, 1972.
Anais do Seminário dos Estudantes da Pós-Graduação em Filosofia da UFSCar
ISSN (Digital): 2358-7334 ISSN (CD-ROM): 2177-0417
IX Edição (2013)
Você também pode gostar
- Seminários Sonhos Crianças PDFDocumento27 páginasSeminários Sonhos Crianças PDFMarcos Braulio de Souza29% (7)
- O Risco de Comer Uma Sopa e Outros Casos de Direito Penal - Miguez GarciaDocumento579 páginasO Risco de Comer Uma Sopa e Outros Casos de Direito Penal - Miguez Garcialuyriddle100% (6)
- Higiene Do Trabalho - Riscos Quimicos No Ambiente de Trabalho PDFDocumento96 páginasHigiene Do Trabalho - Riscos Quimicos No Ambiente de Trabalho PDFAlessandro Moraes AzevedoAinda não há avaliações
- Física e Filosofia - HeisenbergDocumento152 páginasFísica e Filosofia - HeisenbergArahantManjushri100% (4)
- Os Fundamentos Do Direito Da Guerra e Da PazDocumento15 páginasOs Fundamentos Do Direito Da Guerra e Da PazEduardo PradoAinda não há avaliações
- Schopenhauer e MondrianDocumento14 páginasSchopenhauer e MondrianRoberto BlattAinda não há avaliações
- II-transcendental em Tomas de AquinoDocumento19 páginasII-transcendental em Tomas de AquinoJean PatrikAinda não há avaliações
- O Fim Da Filosofia e A Tarefa Do PensamentoDocumento15 páginasO Fim Da Filosofia e A Tarefa Do PensamentoEsdras GabrielAinda não há avaliações
- Escrita e Real - Joseph AttiéDocumento13 páginasEscrita e Real - Joseph AttiéAmanda FernandezAinda não há avaliações
- A Filosofia Da Mente e Da Consciência - Kevin LeyserDocumento18 páginasA Filosofia Da Mente e Da Consciência - Kevin LeyserKevin LeyserAinda não há avaliações
- Aula Eclass PCMDocumento185 páginasAula Eclass PCMHorus Eng. & Assistência TécnicaAinda não há avaliações
- Liberdade e Determinismo Questões de Escolha MultiplaDocumento21 páginasLiberdade e Determinismo Questões de Escolha Multiplaluisr487976% (37)
- Prelecoes Filosoficas Silvestre Pinheiro FerreiraDocumento15 páginasPrelecoes Filosoficas Silvestre Pinheiro FerreiraMari SandraAinda não há avaliações
- Acidentes de Trabalho em OdontologiaDocumento6 páginasAcidentes de Trabalho em OdontologiasicodaAinda não há avaliações
- Relação Entre A Liberdade e DeterminaçãoDocumento9 páginasRelação Entre A Liberdade e DeterminaçãoEdson Domingos Thonge100% (4)
- O Nó Do Mundo: Sobre o Conceito de Indivíduo em SchopenhauerDocumento152 páginasO Nó Do Mundo: Sobre o Conceito de Indivíduo em SchopenhauerPaulo TylerAinda não há avaliações
- O Novo Mundo Do EspiritoDocumento284 páginasO Novo Mundo Do EspiritoComitê de Mortalidade MFIAinda não há avaliações
- Fooquedeu - Nuno RamosDocumento18 páginasFooquedeu - Nuno RamosRosano FreireAinda não há avaliações
- (Ciência) Fisica Quantica - Uma Ponte Entre Ciência e Espiritualidade - Amit GoswamiDocumento21 páginas(Ciência) Fisica Quantica - Uma Ponte Entre Ciência e Espiritualidade - Amit GoswamiJose Antonio Q Mello100% (1)
- Da Ética Filosófica À Ética em Saúde - Franklin LeopoldoDocumento15 páginasDa Ética Filosófica À Ética em Saúde - Franklin LeopoldodavidlopesdasilvaAinda não há avaliações
- Cronotopia Um Fenômeno de Largo EspectroDocumento30 páginasCronotopia Um Fenômeno de Largo EspectroMarcelo HerinqueAinda não há avaliações
- LibertarismoDocumento13 páginasLibertarismoAdelinesBritoAinda não há avaliações
- Roteiro 17 Causa e EfeitoDocumento16 páginasRoteiro 17 Causa e EfeitobrfsantosAinda não há avaliações
- Efetivo Policial Militar ParadigmasDocumento14 páginasEfetivo Policial Militar ParadigmasCarlos IsraelAinda não há avaliações
- Autism oDocumento2 páginasAutism oEscola Brasileira Psicanálise Ebp SpAinda não há avaliações
- GAGNEBIN - História e Narração em Walter BenjaminDocumento3 páginasGAGNEBIN - História e Narração em Walter BenjaminMarceloAinda não há avaliações
- TeseDocumento527 páginasTeseRui Miguel DuarteAinda não há avaliações
- 138 589 1 PB PDFDocumento38 páginas138 589 1 PB PDFMariana MenezesAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur e o AcontecimentoDocumento16 páginasPaul Ricoeur e o AcontecimentoArthur Arantes BilegoAinda não há avaliações
- Carlos Alberto Cordovano Vieira - Interpretações Da Colônia Leitura Das Contribuições de Caio PradoDocumento29 páginasCarlos Alberto Cordovano Vieira - Interpretações Da Colônia Leitura Das Contribuições de Caio PradoMario ConteAinda não há avaliações