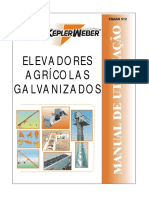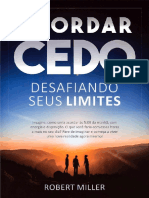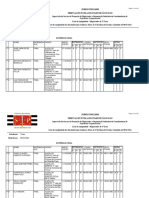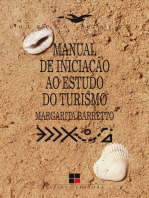Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Contas Externas, Políticas Econômicas e Ciclos de Crescimento No Brasil Entre 1947 e 2002
Enviado por
Castoroil7Descrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Contas Externas, Políticas Econômicas e Ciclos de Crescimento No Brasil Entre 1947 e 2002
Enviado por
Castoroil7Direitos autorais:
Formatos disponíveis
000361_RevNegociosInt_ok.
fm6 Page 7 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
Contas Externas, Políticas Econômicas e
Ciclos de Crescimento no Brasil de 1947 a 2002
CLAYTON DANIEL MASQUIETTO
Especialista em Geoprocessamento pela
Universidade Federal de São Carlos, Economista
masquietto@yahoo.com.br
FRANCISCO CONSTANTINO CROCOMO
Professor Dr. e Coordenador do Banco de Dados
Socioeconômicos da UNIMEP
fcrocomo@unimep.br
Resumo: O presente artigo analisa as relações entre a trajetória das contas externas brasileiras e as
políticas econômicas implantadas no país no período de 1947 a 2002, por meio de revisão bibliográ-
fica a respeito da política econômica, conjuntura interna e externa no período e de levantamento
estatístico, conforme estrutura das contas externas brasileiras. A análise permitiu estudar as implica-
ções da trajetória econômica do país em relação às contas externas.
Palavras-chave: contas externas brasileiras.
Abstract: The present article analyzes the relation between the course of the Brazilian external bills
and the economic politics implanted in the country from 1947 to 2002. It begins with a bibliographic
review about the economic politics, internal and external conjuncture in that period of time, and the
statistic analysis of the structure of the Brazilian external bills. The analysis allows to study the relation
between the external bills and other economic indicators (like GDP) pointing the implication of the
external bills in the course of the economy.
Keywords: Brazilian external bills.
1. Introdução E para a interpretação da conjuntura interna,
Este artigo tem como objetivo analisar as utilizaram-se ponderações de alguns analistas da
variações das contas externas brasileiras a partir economia brasileira no período.
das políticas econômicas, levando em conta as Em vista da característica exploratória deste
opções de desenvolvimento e crescimento to- texto, a série histórica citada acima não será utili-
madas pelos governantes do país ao longo dos zada em sua íntegra, portanto serão considera-
anos, bem como as influências externas. dos alguns períodos “chave” na evolução econô-
Para tal, tomar-se-á como base estatística mica nacional, uma vez que dizem respeito a
uma série especial do balanço de pagamentos, importantes ciclos econômicos da história do
para os anos de 1947 a 2002, lançado pelo Ban- país.
co Central do Brasil em início de 2003, adapta- A estrutura do artigo é organizada segundo
do à nova estrutura contábil do balanço de pa- os períodos “chave”, com as seguintes considera-
gamentos, de janeiro de 2001 (BACEN, 2001). ções:
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 7
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 8 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
Período 1: de 1947 a 1967, tendo em vista da década de 1960, percebe-se que os superávits
que, paralelamente, e apesar do amplo recurso da balança comercial não ultrapassam os três dí-
ao financiamento externo, observou-se um no- gitos, alcançando, inclusive, déficits nos anos de
tável “fechamento” da economia entre 1947 e 1960 e 1962.
1980, sendo que este movimento foi mais inten- Porém, o mais interessante no Quadro 01 é
so entre fins dos anos 1940 e meados da década notar a tendência deficitária da conta de transa-
de 1960 (SERRA, 1998). Também é interessante ções correntes, como um todo, e a grande parti-
citar que o ano de 1967 foi incluído neste perío- cipação da conta de serviços e rendas para este
do por ser o início de uma virada de política resultado. Assim, o país depois de desfrutar de
econômica, já que é o ano inicial do “milagre” uma posição credora em termos líquidos no fim
econômico; dos anos 40, acumulou uma dívida que, no iní-
Período 2: de 1972 a 1989, leva em conta os cio da década de 1980, alcançava uma pro-
últimos anos do “milagre” (1972 e 1973), os cho- porção próxima a um quarto do PIB e duas ve-
ques externos do petróleo (1973 e 1979), a cha-
zes e meia o valor das exportações. Deste total,
mada “década perdida” (década de 1980), e o
aproximadamente um terço empregou-se no pa-
início da abertura econômica do país com o go-
gamento dos juros, ou dois terços se forem con-
verno de Fernando Collor (1989);
sideradas as amortizações (SERRA, 1998).
Período 3: de 1991 a 2002, abrange o apro-
Este endividamento crescente pode ser me-
fundamento da abertura econômica do país, a
lhor visualizado no Quadro 02. Pode-se perce-
partir da prática de políticas neoliberais, até o fi-
nal do governo FHC. ber que nos anos de 1948, 1960, 1962, 1967 e
1968 o país fechou seu balanço de pagamentos
com resultados negativos, e nos demais anos os
2. 1947 – 1967: O “Fechamento” da Economia
déficits em transações correntes foram financia-
O período pós-guerra foi caracterizado pelo
dos via superávits na conta capital e financeira,
notável desempenho do PIB brasileiro, que
o que confirma que o “fechamento” da econo-
cresceu a uma taxa média maior que 7% ao
mia, no que se refere a transações reais, deu-se
ano, superando o crescimento do conjunto dos
paralelamente a ampla utilização de financia-
países capitalistas desenvolvidos e subdesenvol-
mento externo.
vidos, próximo à média dos países socialistas
(SERRA, 1998). Quanto à grande participação da balança de
O interessante no desempenho deste perío- serviços e rendas no agravamento dos déficits
do é que confirmou o efetivo deslocamento em transações correntes, o mais interessante a
das exportações como principal fonte de de- ser citado é a evolução da importância da conta
manda para o crescimento, pois enquanto a rendas neste resultado, como pode ser visto na
expansão do PIB foi de 7,1% ao ano, as expor- Figura 01, pois esta conta é formada pelas tran-
tações, em quantidade, cresceram a 5,6% e o sações relacionadas com salários, remessa de lu-
coeficiente de exportações com relação ao PIB cros e pagamento de juros. Portanto, tal conta
declinou de 14,8%, no início do período, para passa a ser tão grande que, a partir de 1965, atin-
7,6% (SERRA, 1998). ge a maior participação dentro da balança de
Esta menor importância das exportações pa- serviços e rendas.
ra o crescimento pode ser melhor visualizada na A evolução das contas externas brasileiras
evolução da balança comercial demonstrada no (descrita acima) ocorreu influenciada pela políti-
Quadro 01, já que mesmo ocorrendo um vulto- ca de desenvolvimento traçada pelos governan-
so “fechamento” da economia no que se refere tes do país durante este período, caracterizada
às importações, entre 1947 e 1980, com intensi- pelo enfrentamento à situação externa criada no
dade maior entre fins dos anos 1940 e meados pós-guerra e pelo Plano de Metas do governo JK.
8 Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 9 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
Quadro 1. Transações Correntes – Brasil, 1947-1967 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1947 1948 1954 1955 1956 1960 1961 1962 1965 1966 1967
Exportações 1152 1180 1562 1423 1482 1269 1403 1214 1595 1741 1654
Importações (1056) (973) (1415) (1104) (1075) (1293) (1292) (1304) (941) (1303) (1441)
Balança Comercial 96 207 147 319 407 (24) 111 (90) 655 438 213
Balança de Serviços e Rendas (276) (315) (378) (344) (419) (498) (389) (402) (446) (548) (566)
Transferências Unilaterais (24) (7) (5) (10) (11) 4 15 39 75 79 77
Saldo de Transações Correntes (204) (115) (236) (35) (23) (518) (263) (453) 284 (31) (276)
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Quadro 2. Balanço de Pagamentos – Brasil, 1947-1967 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1947 1948 1954 1955 1956 1960 1961 1962 1965 1966 1967
Conta de Transações Correntes (204) (115) (236) (35) (23) (518) (263) (453) 284 (31) (276)
Conta Capital e Financeira 349 (52) 236 34 190 493 390 472 (35) 47 49
Erros e Omissões (9) 100 11 13 16 11 51 (137) (31) (25) (35)
Saldo do Balanço de Pagamentos 136 (67) 11 12 183 (14) 178 (118) 218 (9) (262)
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
proteção natural, representada pelo conflito
mundial, seguiu-se uma fase de liberalização
das importações (1945-46), mas o rápido esgo-
tamento das reservas de divisas e a defesa dos
interesses do café impuseram (a partir de
1947), uma política simultânea de controle de
câmbio e de preferências especiais que favore-
ceu as importações de máquinas e equipa-
mentos” (SERRA, 1998, p.73)
Por outro lado, o Brasil viu crescer, na década
de 1950, a implantação de indústrias multi e
transnacionais, sendo que essas empresas foram
Figura 1. Balança de Serviços e Rendas – Brasil,
as pioneiras na transferência de tecnologia e
1947-1967 técnicas gerenciais que afetariam todo mecanis-
mo de produção, até então com predomínio de
A fase que se estende desde a guerra até mea- estatais e de firmas nacionais de caráter privado
dos dos anos 1950, cuja importância foi mui- (GRIECO, 1999).
tas vezes subestimada, deve ser considerada A instrução 113 da Superintendência da Mo-
fundamental. Por um lado, começaram a ope-
eda e do Crédito (SUMOC), de 1955, estimulou
rar empreendimentos iniciados pelo Estado e
o crescimento do número de empresas estrangei-
voltados à produção de minério de ferro
(Companhia Vale do Rio Doce), barrilha e ras no país ao permitir a estas empresas importa-
soda cáustica (Companhia Nacional de Alca- rem máquinas e equipamentos sem cobertura
lis), aço (Companhia Siderúrgica Nacional) e cambial, sempre que as autoridades governamen-
aços especiais (Acesita). Por outro lado, conti- tais estimassem “convenientes” para o desenvol-
nuou a proteção ao mercado interno em vimento do país. A partir desta instrução, as fir-
favor da produção industrial doméstica. À mas estrangeiras garantiam a exploração de um
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 9
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 10 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
mercado de razoáveis dimensões, porém relativa- 3. 1972 – 1989: O Milagre Econômico e a
mente fechado às importações de seus produtos Década Perdida
devido à escassez de divisas (SERRA, 1998). A recuperação da economia que correspon-
Porém, o amplo recurso à Instrução 113 não deu ao chamado “milagre” econômico, caracteri-
se deveu exclusivamente ao desejo de atrair in- zado como um vigoroso ciclo expansivo termi-
vestimentos estrangeiros em setores de tecno- nado em 1973, começou em meados de 1967,
logia mais complexa, mas também à crise do sob a influência da política fiscal e monetária
balanço de pagamentos que acompanhou a mais folgada do segundo governo militar, instau-
deterioração das relações de troca posterior a rado em abril desse ano. Sendo que este ciclo,
1953, deterioração esta (Quadro 02), que fez em contraste com o primeiro ciclo apresentado,
com que o país fechasse em déficit em alguns teve como principal característica o rápido cresci-
anos, simultaneamente à acumulação dos servi- mento da economia via uma acentuada abertura
ços da dívida contraída em função do boom im- externa. Isto fica nítido ao observar-se que o coe-
portador do biênio 1951/52. Do ponto de vista ficiente de importações com relação ao PIB au-
da política econômica interna, a instrução 113 mentou de forma considerável, principalmente
parecia permitir contornar os problemas do ba- no que diz respeito aos produtos industriais
lanço de pagamentos para a importação de (SERRA, 1998).
máquinas e equipamentos, financiando o déficit É importante citar que essa abertura externa
em transações correntes (SERRA, 1998). somente foi viável devido a um rápido cresci-
É importante citar que, embora este período mento das exportações, cujo volume mais que
seja caracterizado por uma expansão notável do dobrou, e ao abundante fluxo de financiamento
PIB, foi transparente, a partir de 1962, o declínio externo, o que disponibilizou ao país uma abun-
do ritmo de crescimento da economia. Entre dante quantidade de divisas. Assim, a vigorosa
1962 e 1967, a taxa média anual de expansão do expansão das importações deveu-se ao dinamis-
PIB caiu mais da metade (SERRA, 1998). mo da demanda mundial, à relativa diversifica-
A desaceleração do crescimento decorreu em ção do parque industrial bem como a oferta di-
grande parte dos fatores de natureza cíclica, versificada de produtos primários exportáveis.
relacionados com a conclusão do volumoso Neste mesmo sentido, contribuíram de forma
‘pacote de investimentos públicos’ e privados importante a política de minidesvalorizações
iniciados em 1956/57. As políticas de estabili- cambiais, iniciada em agosto de 1968, e os abun-
zação do início de 1963 e de 1965-1967 (pri- dantes incentivos e subsídios de natureza fiscal e
meiro trimestre) contribuíram para aprofundar creditícia. O intenso financiamento externo foi
essa desaceleração. Sua adoção foi motivada possibilitado pelo extraordinário crescimento das
pelo recrudescimento da inflação que, por sua disponibilidades de reservas internacionais, ten-
vez, resultou da mesma desaceleração e de do sido viabilizado pela legislação interna desti-
problemas derivados do setor externo. No nada a facilitar o endividamento externo em mo-
mesmo sentido contribuíram fatores pura- edas das empresas (SERRA, 1998).
mente circunstanciais, como foi o caso da seca
Porém, o crescimento não se deu de forma
de 1963” (SERRA, 1998, p.81).
tranqüila, sendo acompanhado de focos de ten-
Assim, pode-se dizer que, entre 1962 e 1967, são inflacionária (em 1973) e da tendência a for-
a economia brasileira atravessou sua pior fase do tes déficits na conta comercial do balanço de pa-
pós-guerra no que se refere ao crescimento, en- gamentos, a partir de 1971-1972, mesmo com as
quanto se promoviam modificações profundas exportações mantendo-se em um nível razoável.
no arcabouço da política econômica, no que diz Como pode ser visto no Quadro 03, a tendência
respeito ao financiamento público, privado e ex- de déficits da balança comercial prolongou-se
terno, o comércio exterior e o capital estrangeiro. até 1979.
10 Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 11 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
Quadro 3. Transações Correntes – Brasil, 1972-1989 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1947 1948 1954 1955 1956 1960 1961 1962 1965 1966 1967 1947
Exportações 3991 6199 7951 12659 15244 23293 20175 21899 22349 26224 33789 34383
Importações (4232) (6192) (12641) (13683) (18084) (22091) (19395) (15429) (14044) (15051) (14605) (18263)
Balança Comercial (241) 7 (4690) (1024) (2839) 1202 780 6470 8304 11173 19184 16119
Balança de Serviços (1452) (2119) (2814) (6030) (7880) (13094) (17039) (13354) (13707) (12676) (15096) (15334)
e Rendas
Transferências Unilaterais 5 27 1 71 11 186 (14) 111 80 65 92 246
Saldo de Transações (1688) (2085) (7504) (6983) (10708) (11706) (16273) (6773) (5323) (1438) 4180 1032
Correntes
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Quadro 4. Balança de Serviços e Rendas – Brasil, 1972-1989 (emUS$ milhões)
Discriminação/Ano 1972 1973 1974 1978 1979 1981 1982 1983 1986 1987 1988 1989
Conta serviços (743) (1027) (1541) (1770) (2320) (2819) (3491) (2310) (2557) (2258) (2896) (2667)
Conta rendas (709) (1093) (1274) (4261) (5560) (10275) (13548) (11044) (11150) (10418) (12200) (12667)
Saldo da Balança de (1452) (2119) (2814) (6030) (7880) (13094) (17039) (13354) (13707) (12676) (15096) (15334)
Serviços e Rendas
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Desta forma, é importante apontar que o Porém, como já foi mencionado, esse fenô-
chamado choque externo provocado pelo petró- meno de abertura do coeficiente de importações
leo em fins de 1973 incidiu sobre uma situação foi acompanhado por um excessivo crescimento
de preços e de balanço de pagamentos tendenci- das exportações brasileiras. Desta forma, não
almente vulnerável. No que se refere mais especi- houve pelo lado do comércio de mercadorias,
ficamente ao balanço de pagamentos, a despro- qualquer pressão indutora da tomada de capitais
porção embutida na estrutura econômica não de empréstimo ao longo do ciclo expansivo, co-
poderia ser corrigida no curto prazo, de modo mo pode ser visto no Quadro 03, o qual de-
que a prolongação do ciclo expansivo 1967-1973 monstra que, até 1973, o déficit comercial era pe-
exerceria fortes efeitos aceleradores sobre a de- queno ou até nulo. Por outro lado, quanto à
conta de serviços, que está diretamente ligada à
manda de importações (SERRA, 1998).
produção, houve uma evolução expansionista
Assim, pode-se dizer que o primeiro movi-
do déficit, como pode ser visto no Quadro 04.
mento de aceleração da dívida externa coincide,
Porém, a pressão destes serviços produtivos sobre
temporalmente, com o ciclo expansivo de 1967- a tomada de capitais de empréstimo foi inferior
1973, sendo justificado pelo governo como uma ao déficit apontado, já que a entrada de capital
condição sine qua non que expressava a contri- foi muito superior à necessidade de financia-
buição de poupanças externas ao esforço de de- mento deste déficit, como pode ser observado
senvolvimento da economia nacional. Assim, as no Quadro 05.
condições de domínio da tecnologia de ponta, Desta forma, pode-se afirmar que a contra-
os interesses do grande capital internacional e partida do significativo impulso sofrido pela dí-
questões relativas à dimensão de mercado aca- vida externa deve ser buscada na esfera das rela-
bam por fazer com que o atendimento da de- ções financeiras da economia brasileira com o
manda doméstica de bens de capital implique resto do mundo e não na suposta necessidade
um determinado volume de importações com- de superar constrangimentos do setor interno
plementares à produção interna (CRUZ, 1999). (CRUZ, 1999).
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 11
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 12 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
Quadro 5. Conta Capital e Financeira – Brasil, 1972-1989 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1972 1973 1974 1978 1979 1981 1982 1983 1986 1987 1988 1989
Conta Capital (743) (1027) (1541) (1770) (2320) (2819) (3491) (2310) (2557) (2258) (2896) (2667)
Conta Financeira
Investimento Direto 441 1148 1154 2056 2210 2315 2740 1138 174 1031 2630 607
Investimento em Carteira 139 261 140 929 640 (3) (2) (288) (475) (428) (498) (421)
Derivativos 0 0 0 0 32 48 18 17 20 (11) 1 1
Outros Investimentos 3213 2702 5237 8899 4735 10373 9339 6555 1706 2662 (4233) 446
Saldo da Conta Capital 3793 4111 6531 11884 7624 12746 12101 7419 1432 3259 (2098) 629
e Financeira
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Já o recrudescimento da inflação, que vinha poupança privada voluntária para financiar o in-
ocorrendo desde 1973, foi acompanhado, a par- vestimento não se realizou, fazendo com que o
tir de meados de 1974, por um forte declínio do financiamento necessário ocorresse via fontes ex-
ritmo de expansão da economia. Em termos ternas, internacionais ou estatais, por meio de ta-
anuais, a taxa de crescimento do PIB declinou de xas de juros subsidiadas (SERRA, 1998).
14%, em 1973, para 9,8%, em 1974, e 5,6%, em Entre 1973 e 1980 observou-se um novo ci-
1975. Porém, o declínio de 1973 para 1974 obser- clo de “fechamento” estrutural da economia em
vou-se simultaneamente a uma significativa relação ao exterior, tendo o coeficiente de im-
elevação da taxa de investimentos da economia. portações declinado em relação ao PIB. Sendo
O aumento do investimento agregado, em 1974, que o declínio das importações, como pro-
superou amplamente o crescimento do PIB, porção da produção na indústria de transforma-
alcançando 16,2% e, ainda, em 1975, a diferença ção, foi o ponto mais significativo de redução.
se manteve significativa, não havendo, também, Porém, a taxa de crescimento do volume de
nenhuma restrição física pelo lado das importa- exportações, embora tenha declinado considera-
ções, que, em volume, aumentaram 35%, em velmente com relação ao período 1967-1973,
1974, com relação a 1973 (SERRA, 1998). manteve-se em nível razoável, pouco abaixo do
“Assim, a inflexão do ciclo não se deveu a crescimento do PIB e superior às exportações
problemas de demanda pelo lado do investimen- mundiais (SERRA, 1998).
to agregado, tampouco a restrições de oferta de O biênio de 1979-1980 foi representado pelo
importações. As dificuldades surgiram pelo lado agravamento notável da inflação e do desequilí-
da demanda corrente de bens de consumo não- brio externo, embora a economia tivesse manti-
duráveis e duráveis” (SERRA, 1998). do o desempenho produtivo observado no qüin-
O desempenho da economia neste período qüênio anterior. Uma grande parcela de respon-
foi condicionado, em grande parte, pelo II Plano sabilidade por esse agravamento coube, sem dú-
Nacional de Desenvolvimento. Sua extraordiná- vida, ao novo choque externo representado pelo
ria especificidade é que foi formulado e parcial- recrudescimento da inflação mundial, sob a lide-
mente implantado (a partir de 1974), precisa- rança do petróleo, simultaneamente a uma forte
mente quando a economia brasileira esgotara a deterioração das relações de troca do Brasil. Tam-
fase expansiva iniciada em 1967 e a economia bém a elevação da taxa de juros internacional
mundial entrava em sua mais severa recessão des- cumpriu um papel negativo, seja pelo aumento
de os anos 1930. Na prática, o II PND foi parci- dos serviços da dívida externa ou pelo estreita-
almente desativado a partir de meados de 1976, mento do raio de manobra da política monetária
devido, fundamentalmente, à adoção de uma doméstica (SERRA, 1998).
política antiinflacionária de natureza contencio- Por outro lado, na medida que os indicadores
nista. Mas, vale observar que a canalização da convencionais de vulnerabilidade externa se
12 Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 13 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
agravaram; que o volume de financiamento os 200% ao ano já em 1983. Entre 1986 e 1990
externo necessário alcançou dimensões clara- cinco tentativas heterodoxas de estabilizar a in-
mente não marginais no mercado financeiro flação fracassaram: os Planos Cruzado (1986),
internacional; e que o nível de operações de Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) (RI-
alguns bancos norte americanos com o Brasil GOLON; GIAMBIAGI, 1999).
se aproximou do percentual permitido para
Além disso, a partir de 1979, a tendência de
aplicações em um só país, fizeram-se presentes,
deterioração das contas públicas foi agravada pe-
com efeitos ponderáveis, as pressões dos ban-
la reversão das condições do mercado financeiro
cos internacionais, tanto no sentido de aumen-
internacional. O aumento das despesas com en-
tar o spread dos empréstimos ao Brasil como
no de promover alterações na política econô-
cargos da dívida – associado à elevação das taxas
mica doméstica em uma direção mais orto- de juros internacionais em 1979 – deveu-se à
doxa e contencionista (SERRA, 1998, p.116). contratação de mais dívidas externa e interna. A
elevação das taxas de juros domésticas, em 1981,
Assim, no período de 1979-1980, há uma também contribuiu para a expansão da dívida
volta na situação de desequilíbrios na balança interna e das despesas com juros. De 1982 em
comercial que apresenta um déficit aproximado diante, a crise da dívida externa foi administrada
de US$ 2,8 bilhões em 1979. E, como esse resul- domesticamente com a transferência de riscos
tado reflete os efeitos diretos e indiretos do se- cambiais do setor privado para o Banco Central.
gundo choque do petróleo, e do retorno a uma Desta forma grande parte dos custos financeiros
conjuntura recessiva acompanhada de acelera- resultantes da maxidesvalorização de 1983 recaiu
ção inflacionária nas economias capitalistas sobre as contas públicas (RIGOLON; GIAM-
avançadas, fica claro que os períodos em que se BIAGI, 1999).
agravam os déficits na conta de mercadoria e de Tendo em vista a inflação elevada e a crise
serviços produtivos são os mesmos em que so- das finanças públicas criou-se um ambiente ex-
brevêm situações de liquidez restrita e de agrava- tremamente desfavorável para o investimento e
mento dos déficits puramente financeiros o crescimento entre 1981 e 1989. Sendo que a
(CRUZ, 1999). inflação elevada minava a função alocativa do
No período de 1981 a 1989, o crescimento sistema de preços e aumentava consideravel-
econômico foi modesto e errático, com a renda mente a incerteza e o risco associados aos proje-
per capita declinando à taxa média de 0,5% ao tos de longo prazo. E a crise das finanças públi-
ano e o PIB real aumentando apenas 1,4% ao cas inibia o investimento privado de diversas
ano. O crescimento mais lento do produto foi maneiras, seja por contribuir para o aumento da
acompanhado por forte contração na taxa de incerteza macroeconômica, ou porque o finan-
investimento, que caiu de 23% do PIB, em ciamento requeria taxas de juros reais elevadas
1980, para 17%, entre 1981 e 1989 (RIGOLON; competindo na alocação de recursos com o se-
GIAMBIAGI, 1999). tor privado, ou, ainda, porque as medidas de
O período descrito acima foi caracterizado ajuste fiscal muitas vezes se concentravam no
pelo constante crescimento da inflação, uma corte de investimentos públicos complementa-
vez que a resposta acomodatícia de política res ao investimento privado, notadamente em
monetária aos efeitos do segundo choque do pe- infra-estrutura econômica (RIGOLON; GIAM-
tróleo e do choque dos juros internacionais, em BIAGI, 1999).
1979, e a simultânea redução da periodicidade Desta maneira, a saída para buscar o cresci-
dos reajustes salariais resultaram na duplicação mento seria novamente se voltar para a utiliza-
da inflação anual, que alcançou o patamar de ção de poupança externa, o que havia sido, co-
100% entre 1980 e 1982. E, em conseqüência da mo já foi mencionado, muito importante para o
maxidesvalorização cambial de 1983, a inflação financiamento no programa de substituição de
dobrou novamente de patamar, ultrapassando importações da década de 70, porém esta pratica-
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 13
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 14 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
mente desapareceu após a crise da dívida. A cres- em torno de 1%, pode-se dizer que ela é inferior
cente escassez de recursos externos para o investi- a seu peso econômico, o que resulta, em parte,
mento é latente pela saída crescente de capital, do modelo de desenvolvimento voltado para o
como pode ser observado, no Quadro 04, pelo mercado doméstico, principalmente no que se
aumento significativo do déficit da conta de ren- refere ao primeiro período analisado neste traba-
das desde 1981, quando o capital externo que lho, que tem sido gradualmente revisado, desde
entrou no país nos períodos anteriores passa a sa- a década de 1990 (OCDE, 2001).
ir via remessas de lucro e serviços da dívida. Esta
Em contraste ao seu modesto papel no comér-
carência de capital externo também fica evidente cio mundial, o Brasil tem sido um dos maiores
na emergência de superávits na balança comerci- receptores tanto de crédito externo quanto de
al, sendo que em 1981 a balança comercial apre- investimento estrangeiro direto, tendo absor-
senta um saldo positivo superior a US$ 1 bilhão, vido recursos significativos de organismos
como pode ser visto no Quadro 03. internacionais. Entre as economias em desen-
É importante citar que as dificuldades exter- volvimento, o país possui o maior estoque de
nas foram ainda maiores a partir da moratória dívida externa obtido de fontes privadas (ban-
do México, em setembro de 1982, quando se al- cos e emissões de bônus), sendo a maior parte
terou definitivamente o sistema internacional de devida pelo setor privado. Juntamente com
China e México, o Brasil é um dos maiores
empréstimos privados, fechando, de vez, as pos-
receptores de investimento estrangeiro direto
sibilidades de retornar a ter um plano de desen-
líquido (IDE). Esses ingressos de capitais refle-
volvimento financiado da mesma forma como tem-se no importante papel desempenhado
eram os planos desde a década de 1960 (TAVA- pelas companhias estrangeiras no setor produ-
RES, 1986). tivo, as quais detêm 11% do capital da econo-
Desta forma a equipe econômica perdeu to- mia e produzem 14% do produto brasileiro.
talmente a iniciativa de criar um plano para a re- No segmento manufatureiro, as companhias
tomada do crescimento e para o enfrentamento estrangeiras registram participação ainda
dos problemas externos do país, até capitular di- maior, correspondente a 34% do faturamento
ante do FMI, no final de 1982. Mas é relevante (OCDE, 2001, p.34)
lembrar que, em termos de disponibilidades, o Os Planos Collor I e II foram os primeiros
FMI estava longe de poder resolver o problema passos, na década de 1990, em direção à já citada
do reequilíbrio das contas externas nacionais. Is- revisão do modelo de desenvolvimento, sendo
so porque, somadas, todas as linhas a que o Bra- caracterizados como um ambicioso programa de
sil poderia ter acesso num esquema de liberação abertura comercial. Entre 1989 e 1992, as tarifas
em três anos pouco superavam os US$ 5,5 bi- médias foram reduzidas de 39% para 15%, e a
lhões, quando só a conta de juros em 1983 ultra- lista de importações proibidas foi abolida. Os
passava os US$ 12 bilhões (TAVARES, 1986). gestores econômicos reconheceram a importân-
cia da concorrência externa para o atendimento
4. 1991-2002: A Abertura Econômica da demanda e para a moderação das pressões
Na virada do milênio, o Brasil era um dos 10 inflacionárias. O governo também intensificou a
maiores países do mundo, contribuindo com integração regional e expandiu aos demais países
aproximadamente 3% do PIB mundial, o que da América do Sul os acordos bilaterais com a
eqüivale a US$ 1 trilhão (medido em termos de Argentina, o que conduziu ao tratado do Merco-
paridade do poder de compra). Os 167 milhões sul, assinado em março de 1991. Esse tratado
de brasileiros equivalem a uma proporção simi- estabeleceu as etapas para a união aduaneira ple-
lar da população mundial. Considerando-se a su- na entre Brasil, Argentina Uruguai e Paraguai”
perfície, o Brasil encontra-se entre os cinco maio- (OCDE, 2001).
res do mundo. Porém, no que diz respeito a sua Assim, desde 1990, o intercâmbio brasileiro
participação nos fluxos mundiais de comércio, global duplicou de US$ 52 bilhões, naquele ano,
14 Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 15 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
para US$ 114,3 bilhões em 1997. Sendo que este trada líquida de capital superou as importações
crescimento, a partir do começo da década, de- líquidas de bens e serviços.
ve-se à expansão das importações, que aumenta- Em relação à conta capital e financeira, Car-
ram de US$ 21 bilhões, em 1991, para US$ 53,3 neiro (2002) diz que o movimento de integração
bilhões, em 1996, como pode ser visto no Qua- da economia brasileira aos fluxos de capitais re-
dro 06. Porém, no mesmo Quadro, pode-se no- vela um padrão bastante semelhante ao conjun-
tar que, menos brilhante e por isso motivo das to dos países periféricos. Observando o Quadro
críticas mais ferrenhas ao Plano Real, implantado 07, percebe-se que há uma etapa inicial de cresci-
a partir de 1994, foi a evolução das exportações mento muito intenso no saldo da conta capital e
que cresceram de US$ 31,6 bilhões, em 1991, financeira, entre 1991 e 1993, que é atenuada pe-
para apenas US$ 47,7 bilhões, em 1996. la crise mexicana. Segue-se um novo incremen-
Desta forma, os resultados comerciais contri- to, entre 1995 a 1996, antes do agravamento da
buíram fortemente para a deterioração do saldo crise asiática e um forte declínio em 1999, com
de transações correntes, visível no Quadro 06. pequena recuperação em 2000, que não chega a
atingir os picos anteriores. Nova queda é registra-
Porém este desempenho também decorreu da
da em 2002.
ampliação do saldo negativo de serviços e ren-
Uma avaliação da composição da conta fi-
das, como também pode ser visto no mesmo
nanceira pela ótica dos fluxos líquidos mostra
quadro.
quatro momentos distintos, sendo a liderança
Os resultados das contas de comércio podem
dos empréstimos de curto prazo, num primeiro
ser explicados por meio da ótica da política
momento, em 1992, substituída pela do portfólio
monetária pois, com o Plano Collor, reinaugura-
em 1993/1994, sucedida pela do financiamento
se mais uma fase de valorização da moeda nacio- de longo prazo em 1995/1996, e finalmente, pelo
nal, o que traz conseqüências adversas para a IDE desde então. As perspectivas do fluxo de ca-
conta de comércio, embora ocorra expansão da pitais líquidos melhoraram a qualidade da capta-
atividade produtiva (BRITO, 1998). ção, cujo sentido foi o da substituição dos fluxos
Desta maneira, inaugura-se, neste instante, de maior pelos de menor volatilidade. Essa carac-
uma trajetória declinante nas contas de comércio terística, todavia, não elimina a ampliação da vul-
até 1996, como pode ser visto no Quadro 06, e nerabilidade do balanço de pagamentos, porque
um caminho inverso da conta de capital, que to- esta última está associada não só à volatilidade e
ma um trajeto ascendente, como pode ser obser- reversibilidade dos fluxos, mas também, e em al-
vado no Quadro 07. Destaca-se, porém, segundo guns momentos principalmente, ao comporta-
Brito (1998), que as reservas oficiais só começa- mento dos estoques de capitais internalizados
ram a se expandir ao final de 1991, quando a en- previamente (CARNEIRO, 2002).
Quadro 6. Transações Correntes – Brasil, 1991-2002 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1991 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2002
Exportações 31620 38555 43545 46506 47747 48011 55086 60361
Importações (21040) (25256) (33079) (49972) (53346) (49210) (55783) (47235)
Balança Comercial 10580 13299 10466 (3466) (5599) (1199) (698) 13126
Balança de Serviços e Rendas (13543) (15577) (14692) (18541) (20350) (25825) (25048) (23273)
Transferências Unilaterais 1555 1602 2414 3622 2446 1689 1521 2390
Saldo de Transações Correntes (1407) (676) (1811) (18384) (23502) (25335) (24225) (7757)
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 15
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 16 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
Quadro 7. Transações Correntes – Brasil, 1991-2002 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1991 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2002
Conta de Transações Correntes (1407) (676) (1811) (18384) (23502) (25335) (24225) (7757)
Conta Capital e Financeira 163 10495 8692 29095 33968 17319 19326 12003
Erros e Omissões 875 (1111) 334 2207 (1800) 194 2637 (3944)
Saldo do Balanço de Pagamentos (369) 8709 7215 12919 8666 (7822) (2262) 302
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Voltando para a análise histórica do período, trajetória deficitária da conta corrente se
nota-se que o fracasso do Plano Collor, assim expande e, em 1997, passa dos 4% do PIB. As
como dos demais planos anteriores que procu- reservas externas, por conseguinte, caíram bas-
ravam estancar o processo inflacionário, tem co- tante, mas logo voltaram a subir e já acumula-
mo resultado imediato o retorno das taxas de in- vam US$ 60 bilhões, em junho de 1997
(BRITO, 1998, 130).
flação e desvalorização na moeda doméstica.
Porém, as desvalorizações mostram-se pouco Diante dos acontecimentos nas contas exter-
significativas para recuperar níveis históricos de nas, fica claro que a decisão de adotar uma estra-
saldos comerciais, uma vez que o processo de tégia de ancoragem cambial, como haviam feito
abertura comercial começa a mostrar seus im- o México e a Argentina, tomada em meados de
pactos no forte desempenho das importações 1993, exigiu um comprometimento ainda mai-
(BRITO, 1998). or dos governos brasileiros em relação ao apro-
A partir daí o país passa pela transição de fundamento dos vínculos financeiros mantidos
uma etapa de minidesvalorizações com acelera- pela economia com o exterior. A emergência de
ção da inflação para uma ancoragem cambial e um quadro de deterioração dos resultados das
conseqüente apreciação real da moeda domésti- balanças comercial e de serviços e, portanto, do
ca a partir do Plano Real. Entretanto, a redução balanço em transações correntes, comprovou a
da volatilidade cambial não é acompanhada por necessidade de um esforço prévio de acumula-
uma melhoria nos saldos comerciais. O primeiro ção de reservas, como as experiências mexicana
trimestre do Plano Real é um período de reces- e argentina já haviam demonstrado (MARGA-
são para a produção industrial e de queda na li- RIDO, 1997).
quidez internacional. Ou seja, a entrada líquida Porém, os responsáveis pela política econô-
de capitais externos só começa a se ampliar seis mica acreditavam que o quadro vigente no setor
meses após a inauguração da nova moeda Real externo criava os meios para enfrentar esses pro-
(BRITO, 1998). blemas. De um lado, os superávits comerciais
Assim, pode-se dizer que a entrada de capitais elevados, existentes até aquele momento, visível
ocorreu bem antes da apreciação real da no Quadro 06, e a política cambial realista perse-
moeda doméstica, mesmo sob condições guida desde fins de 1991, criavam condições, na
pouco favoráveis em termos de diferencial de visão do governo, para que a economia pudesse
retorno e num ambiente de indefinições de absorver o impacto de um aumento pronuncia-
política econômica. O período imediatamente do das importações e de uma redução das expor-
após a valorização forçada do Real coincide tações. De outro lado, as condições relativas à
com uma forte retração na conta capital,
conta de capital eram vistas como ainda mais
saindo de pouco mais que 4% do PIB para
menos de 2% do PIB, no começo de 1995.
favoráveis, já que o elevado patamar das reservas
Trata-se do mesmo período de queda acentu- cambiais e a crescente entrada de capitais estran-
ada na conta de transações correntes, tor- geiros via investimento em carteira, como pode
nando-se inclusive negativa, chegando em ser observado no Quadro 08, abriram espaço, na
meados de 1995 a cerca de 2,5% do PIB. Esta visão do governo, para que fossem contidos
16 Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 17 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
eventuais ataques especulativos contra a taxa de montante das reservas internacionais, asseguran-
câmbio e para que a economia pudesse absorver do a manutenção do valor externo da moeda.
uma deterioração do saldo em transações corren- Assim, a utilização da âncora cambial tinha co-
tes (MARGARIDO, 1997). mo objetivo a constituição de reservas internaci-
onais altas que permitissem desencorajar tentati-
Em relação à política cambial, a prática de
minidesvalorizações diárias que acompanha- vas de especulação contra a paridade estabeleci-
vam as expectativas de inflação, de modo a da. A manutenção dessas reservas significava, to-
manter estável a taxa de câmbio real, não foi davia, manter elevada a atratividade da nova
mudada, de modo a evitar uma valorização moeda para estimular os fluxos de capitais
cambial mais acentuada e uma perda de com- (CARNEIRO, 2002).
petitividade do setor exportador no período Porém, nos primeiros anos da abertura , co-
anterior à implementação do plano. Além mo já foi mencionado, os fluxos mais voláteis –
disso, a previsibilidade do comportamento da portfólio e empréstimo de curto prazo – consti-
taxa de câmbio continuava a ser importante tuíram as principais formas de absorção de recur-
para se atrair fluxos de capitais. A política
sos financeiros, o que forçava a prática de altas
monetária baseada em elevadas taxas de juros
reais ganhava novo impulso. Em suma, cabia
taxas de juros na moeda doméstica para manter
ao governo Itamar Franco ampliar a aposta no os fluxos líquidos elevados (CARNEIRO, 2002).
modelo de integração financeira externa que As altas taxas de juros domésticas passaram a
vinha sendo construído desde fins de 1991, ser utilizadas com mais força pelas autoridades
com o predomínio dos fluxos de capitais nas econômicas a partir de junho de 1994, com a
formas de investimento estrangeiro de portfó- implantação do regime de câmbio flexível com
lio e de empréstimos externos securitizados, metas de expansão monetária. Assim, a valoriza-
marcados pela presença de forte elemento ção do Real foi mantida pelo Governo como
especulativo e de curto prazo (MARGA- base da estabilização econômica, já que os
RIDO, 1997, p.49).
preços ficaram atrelados à taxa de juros, provo-
Assim, pode-se dizer, do ponto de vista fi- cando forte entrada de capitais especulativos
nanceiro, que a afirmação da abertura econômi- (GRIECO, 1999).
ca do país, no Plano Real, significou a volta de Porém, a possibilidade de contar com os ca-
financiamento externo abundante até 1997, per- pitais estrangeiros de curto e de médio prazo pa-
mitindo superar a permanente escassez de divi- ra a sustentação do Plano Real viu-se ameaçada
sas típica da década anterior e que se expressava no período compreendido entre dezembro de
no baixo valor das reservas internacionais e na 1994 e março de 1995, dados os efeitos da crise
instabilidade da taxa de câmbio. A abertura per- mexicana, que levaram à crise cambial neste últi-
mitiu, portanto, ampliar consideravelmente o mo mês (MARGARIDO, 1997).
Quadro 8. Conta Capital e Financeira – Brasil, 1991-2002 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1991 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2002
Conta Capital 0 83 174 352 454 338 273 433
Conta Financeira
Investimento Direto 87 799 1460 3309 11261 26888 30498 14084
Investimento em Carteira 3808 12325 50642 9217 2169 3802 6955 (5119)
Derivativos 3 5 (27) 17 (38) (88) (197) (356)
Outros Investimentos (3735) (2717) (43557) 16200 673 (13620) (18202) 2961
Saldo da Conta Capital e 163 10495 8692 29095 33968 17319 19326 12003
Financeira
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 17
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 18 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
Como enfrentamento desta crise, no que se que estes investimentos geram remessas de lu-
refere à política cambial, a única medida adotada cros e dividendos num momento seguinte. Po-
pelo governo foi a implementação de um siste- rém, de 1999 para 2000, ocorre uma queda nas
ma de bandas cambiais e que, em virtude da for- remessas, indicando uma intensificação do ciclo
ma como foi feita e do movimento especulativo de investimentos externos, o que certamente está
que se seguiu, gerou uma minidesvalorização do associado ao aumento das inversões em empre-
Real. Além disto, o governo evitou a imposição sas adquiridas previamente, sobretudo naquelas
de restrições mais fortes às importações, limita- privatizadas. Este aumento de inversões contras-
das a medidas como o aumento das alíquotas ta-se com o baixo crescimento da economia bra-
em setores que não prejudicassem o esforço de sileira entre 1998 e 2000, o que indica que o ci-
estabilização e de modernização produtiva e a clo expansivo do IDE guarda maior correlação
imposição de um sistema de cotas para as impor- com os ciclos econômicos nos países centrais
tações de automóveis (MARGARIDO, 1997). (CARNEIRO, 2002).
Os governantes, nesta época, apostavam que Também é importante citar que, em 1999 e
as reformas, apontadas como fundamentais até o 2000, o peso do investimento direto continua
dia de hoje, conjuntamente com a abertura às elevado, apesar do esgotamento temporário das
importações, aumentariam a produtividade, a privatizações. Isso se deveu à ampliação das fu-
eficiência e a competitividade externa da econo- sões e aquisições no âmbito privado, ampliação
mia, permitindo compensar no médio prazo o esta estimulada pela desvalorização cambial pós
impacto da valorização cambial e reverter os dé- 1999 e conseqüente barateamento dos ativos.
ficits comerciais (MARGARIDO, 1997). Dentro disto, percebe-se que os novos investi-
Mas, já em princípios de 1995, não mais per- mentos se concentraram, sobretudo, no setor de
sistiam dúvidas sobre o déficit recorde em contas serviços e, especialmente, naqueles cuja atividade
correntes, fortemente influenciado pelo déficit não produz divisas. É o caso de energia, gás e
na balança de serviços e rendas, o que fica claro água, correios e telecomunicações, e também a
ao observar o Quadro 06. O déficit em transa- intermediação financeira, que passaram a con-
ções correntes bateu a casa dos US$ 18 bilhões, centrar cerca de um terço do estoque de investi-
resultado muito parecido ao verificado na balan- mento estrangeiro no país (CARNEIRO, 2002).
ça de serviços e rendas.
Pode-se, portanto, falar num deslocamento de
Com os Quadros 09 e 10 podem ser visuali- grande intensidade do fluxo de IDE, da indús-
zadas a evolução das diversas contas da balança tria e de ramos tradables e dentro dela, para o
de serviços e rendas, durante o período de análi- setor de serviços que é na sua quase totalidade,
se desta parte do trabalho. Nota-se que, no to- um produtor de non-tradables. A combinação
cante aos serviços, as viagens internacionais e os da elevada participação do investimento patri-
transportes apontam déficits expressivos no perí- monial no total do IDE e o direcionamento
odo como um todo. Já no que se refere a rendas, para os setores non-tradables poderão criar
fica nítida a grande participação das rendas de in- sérios constrangimentos no balanço de paga-
vestimentos, e, a partir de 1995, observa-se um mentos, se e quando houver uma nova retra-
ção de novos investimento (CARNEIRO,
salto das rendas referentes aos investimentos em
2002, p.279)
carteira que, em 1999, atinge a maior participa-
ção entre os investimentos. Com as questões levantadas até aqui, fica
A partir do Quadro 10 pode-se perceber que, nítido que a continuidade da política econômica
além do salto evidente das rendas de investimen- de redução da taxa de inflação, verificada no go-
to em carteira, as rendas de investimento direto verno de Fernando Henrique, causou uma evi-
também tiveram resultados importantes no perí- dente situação de desestabilização macroeconô-
odo. Isto se deve ao crescente patamar de investi- mica, marcada pela criação ou agravamento de
mentos diretos estrangeiros, entre 1995 e 1998, já desequilíbrios internos e externos e pela trajetória
18 Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 19 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
de stop and go determinada, em grande medida, dada a magnitude e a natureza do passivo exter-
pelos erros de política econômica e pela situação no (CARNEIRO, 2002).
internacional (GONÇALVES, 1998). Um aspecto desta vulnerabilidade externa
Assim, a política baseada na abertura finan- diz respeito aos desequilíbrios de fluxos, isto é,
ceira trouxe como resultado, de maior destaque, quando se toma a relação custo do passivo líqui-
o rápido crescimento do passivo externo da eco- do/PIB, nota-se que essa vem assumindo valores
nomia brasileira. Esse desempenho tem a sua tra- progressivamente mais altos desde 1997. Portan-
jetória colada ao ciclo de crédito internacional, to, a desvalorização cambial ocorrida em 1999
vale dizer, aceleração até 1997 e desaceleração a apenas agravou o problema, situando a transfe-
partir de então. Esta última, todavia, não foi sufi- rência de recursos líquidos no patamar de 3% do
ciente para refletir-se numa melhoria dos indica- PIB. Este é, certamente, um valor muito elevado
dores de endividamento medidos relativamente quando comparado com outros períodos históri-
ao PIB em razão da desvalorização cambial em cos e expressa tanto o nível mais alto da taxa de
1999. Assim, ao final do processo, pode-se carac- juros quanto as novas exigências de remuneração
terizar uma situação de grande vulnerabilidade, do IDE (CARNEIRO, 2002).
Quadro 9. Conta de Serviços – Brasil, 1991-2002 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1991 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2002
Transportes (1656) (2091) (2441) (3011) (2717) (3071) (2896) (2084)
Viagens internacionais (237) (795) (1181) (2420) (3598) (1457) (2084) (398)
Seguros (133) (45) (132) (122) (63) (128) (4) (420)
Serviços financeiros (185) (11) 47 (152) (215) (269) (294) (232)
Computação e informação (46) (113) (149) (249) (379) (1010) (1111) (1118)
Royalties e licenças (50) (86) (220) (497) (753) (1150) (1289) (1129)
Aluguel de equipamentos (709) (1065) (939) (769) (656) (599) (1311) (1672)
Governamentais (370) (345) (327) (339) (303) (498) (549) (252)
Comunicações (11) 26 25 (10) (44) 14 4 14
Construção 0 7 32 6 1 16 227 12
Relativos ao comércio (148) (168) (199) (90) (36) 251 194 (12)
Empresariais, profiissionais e técnicos (135) (365) 23 372 348 1259 2251 2460
Pessoais, culturais e recreação (120) (196) (196) (202) (266) (335) (300) (251)
Saldo da Conta Serviços (3800) (5246) (5657) (7483) (8681) (6977) (7162) (5083)
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Quadro 10. Conta de Rendas – Brasil, 1991-2002 (em US$ milhões)
Discriminação/Ano 1991 1993 1994 1995 1996 1999 2000 2002
Salário e ordenado (92) (121) (131) (160) (60) 142 79 102
Renda de Investimentos (9651) (10210) (8903) (10898) (11609) (18990) (17965) (18292)
Renda de Investimento Direto (1089) (2816) (4334) (2545) (2194) (3664) (3239) (4983)
Renda de Investimento em Carteira (343) (689) (918) (3949) (4191) (7710) (8545) (8384)
Renda de Outros Investimento (Juros) (8220) (6706) (3651) (4403) (5223) (7617) (6181) (4925)
Saldo da Conta Rendas (9743) (10331) (9035) (11058) (11668) (18848) (17886) (18191)
Fonte: Banco Central do Brasil – Séries Especiais
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 19
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 20 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
O indicador que mostra com maior precisão
o desequilíbrio de fluxos é o do custo líquido do
passivo/exportações. Crescente desde 1996, atin-
ge cerca de 39%, em 1999, e recua para 33%, em
2000, por força do excepcional crescimento das
exportações nesse último ano, crescimento este
proveniente da desvalorização cambial de 1999.
Ao longo da década, o aumento desse indicador
traduz uma taxa implícita de remuneração do
passivo líquido, superior à taxa de crescimento
das exportações. A implicação mais relevante
desse fato é a rigidez da conta de transações cor-
rentes. Ou seja, com o custo do passivo absor- Figura 2. Conta de Serviços e Rendas – Brasil,
vendo uma parcela crescente das exportações, di- 1991-2002
minui proporcionalmente o espaço para impor-
tação de bens e serviços e, portanto, para o cres- 5. Considerações Finais
cimento doméstico (CARNEIRO, 2002). As relações existentes entre as políticas eco-
Retornando ao Quadro 06, fica claro que a nômicas, traçadas pelos governantes desde 1947,
desvalorização do Real, em 1999, tardia segundo e a evolução das contas externas brasileiras são
muitos economistas, fez com que as exportações nítidas. Esta relação existe tanto no tocante às
retomassem um movimento ascendente. Porém, políticas de desenvolvimento, quando as contas
nos anos 1999 e 2000 a balança comercial man- externas variam de acordo com a concepção que
tém-se negativa, graças à dependência às impor- os tomadores de decisão fazem de desenvolvi-
tações, e, conseqüentemente, à desestruturação mento, isto é, “fechamento” ou “abertura” da
da cadeia produtiva nacional, já que ocorreu um economia, como também no que diz respeito às
movimento de substituição por importações ge- políticas traçadas para o ajuste da economia fren-
rado pela abertura estrutural da economia traça- te às crises externas.
da desde o Plano Collor. Assim, mesmo com a Assim, percebe-se que, entre 1947 e 1967, pe-
desvalorização da moeda, e portanto com o en- ríodo caracterizado por políticas voltadas ao
carecimento das importações, o valor destas na mercado interno e que visavam ao fortalecimen-
balança comercial continua elevado, encontran- to do parque industrial nacional, a balança co-
do-se em 2002 no patamar de U$ 47 bilhões. mercial alcança superávits modestos, apontando,
Analisando o Quadro 07, percebe-se que a inclusive, déficit em alguns anos, em contraparti-
melhora nas contas comerciais influiu positiva- da ao crescente endividamento da economia, já
mente no saldo do balanço de pagamentos, já que estas políticas eram financiadas via capital
que houve uma redução no déficit de 1999 para externo.
2000, atingindo um pequeno superávit em 2002. Já o período de 1972 a 1989 recebe influência
Porém, o resultado só não foi melhor devido à das políticas fiscal e monetária do “milagre eco-
manutenção do déficit da balança de serviços e nômico”, caracterizando-se pelo rápido cresci-
rendas no patamar dos U$ 20 bilhões, conforme mento da economia via uma acentuada abertura
o Quadro 06. Ao verificar a Figura 02, percebe-se externa, visualizado por meio do grande salto
a grande participação da conta rendas no déficit das importações. Porém, o endividamento man-
da balança de serviços e rendas, o que mostra a teve-se crescente, tendo suas raízes nas relações
dependência da economia em relação ao capital financeiras da economia brasileira com o resto
internacional, representada tanto na remessa de do mundo.
lucros e dividendos, como no pagamento de ju- A partir de 1974 a economia do país passa a
ros como serviço da dívida. sofrer as conseqüências da política econômica
20 Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005
000361_RevNegociosInt_ok.fm6 Page 21 Friday, October 21, 2005 10:56 PM
do “milagre”, com o recrudescimento da infla- aposta-se na abertura da economia para o exteri-
ção e as crises internacionais de crédito, quando or como fonte de modernização da economia.
se aprofunda o desequilíbrio do balanço de pa- Além deste viés liberal, a política econômica do
gamentos como um todo, desta vez com uma período também foi caracterizada, a partir de
grande participação do déficit comercial. Com 1993, pela busca da estabilização via ancoragem
isso o Brasil entra na década de 1980 em busca cambial. Estas decisões econômicas fizeram com
da estabilização, passando por diversos planos, que o país alcançasse um grande déficit comerci-
além de continuar enfrentando problemas no al até 1999, quando os governantes foram força-
front externo reforçados pela moratória do Méxi- dos a desvalorizar a moeda, o que, por sua vez,
co em 1982. É interessante notar que estes pro- influenciou uma reversão na conta comercial,
blemas fizeram com que o país retornasse a po- além de aumentar vertiginosamente a dependên-
líticas econômicas ortodoxas, orientadas pelo cia do país pelo capital externo, cujos problemas
FMI, retornando assim os grandes saldos co- para o balanço de pagamento ficam claros com a
merciais. crescente participação da conta rendas no déficit
Já o período de 1991 a 2002 é marcado pela da balança de serviços e rendas e, consequente-
revisão do modelo de desenvolvimento, isto é, mente, no déficit em transações correntes.
REFERÊNCIAS
BACEN. Notas técnicas do Banco Central do Brasil: Notas MARGARIDO, Sérgio Pavan. Fluxos de capitais para a econo-
metodológicas do balanço de pagamentos, Brasília, 2001. 19p. mia brasileira na primeira metade da década de 90: construção
de novos vínculos financeiros externos e emergência de novos
BRITO, Márcio Holland. Taxa de câmbio e regimes cambiais no riscos. Campinas. 1997. 165 f. Dissertação (Mestrado), Instituto
Brasil. Campinas. 1998. 192 f. Tese (Doutorado). Instituto de Eco- de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
nomia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998. 1997.
CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em crise: a economia OCDE. Estudos econômicos da OCDE: Brasil 2000-2001. Rio
brasileira no último quarto do século XX. São Paulo: Editora de Janeiro: FGV, 2001.
UNESP, IE – UNICAMP, 2002.
RIGOLON, José Zagari; GIAMBIAGI, Fábio. A economia bra-
CRUZ, Paulo Davidoff. Dívida externa e política econômica. sileira: panorama geral. Rio de Janeiro: BNDES. 1999.
Campinas: UNICAMP, 1999.
SERRA, José. Ciclos e mudanças estruturais na economia brasi-
GONÇALVES, Reinaldo. Desestabilização macroeconômica e leira do pós-guerra. In: BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello;
incertezas críticas: o governo FH e suas bombas de efeito retar- COUTINHO, Renata (orgs). Desenvolvimento capitalista no
dado. In: MERCADANTE, Aloizio (org). O Brasil pós-real: a Brasil: ensaios sobre a crise. São Paulo: Brasiliense. 1998.
política econômica em debate. Campinas: UNICAMP, 1998.
TAVARES, Maria da Conceição; ASSIS, José Carlos. O grande
GRIECO, Francisco de Assis. O comércio exterior e as crises salto para o caos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1986.
financeiras. São Paulo: Aduaneiras. 1999.
Rev. de Negócios Internacionais, Piracicaba, 3(5):7-21, 2005 21
Você também pode gostar
- Soma de Variáveis AleatóriasDocumento26 páginasSoma de Variáveis AleatóriasCastoroil7Ainda não há avaliações
- DATA WAREHOUSE. Rafael Ervin Hass Raphael Laércio ZagoDocumento38 páginasDATA WAREHOUSE. Rafael Ervin Hass Raphael Laércio ZagoCastoroil7Ainda não há avaliações
- ZanzoniDocumento103 páginasZanzoniCastoroil7Ainda não há avaliações
- Entrevista - O Grande Salto para o Caos - Maria Da Conceição TavaresDocumento7 páginasEntrevista - O Grande Salto para o Caos - Maria Da Conceição TavaresCastoroil7100% (1)
- O Castelo Branco - Ohran PamukDocumento132 páginasO Castelo Branco - Ohran PamukCastoroil7100% (1)
- Plano de Unidade Trimestral 6 AnoDocumento2 páginasPlano de Unidade Trimestral 6 AnoFelipe CorreiaAinda não há avaliações
- Aula 02 - PDF - Maratona Do InglêsDocumento7 páginasAula 02 - PDF - Maratona Do InglêsLinda VillarAinda não há avaliações
- Elev Adores 2Documento79 páginasElev Adores 2Emílio BeckerAinda não há avaliações
- Currículo Lattes HumbertoDocumento3 páginasCurrículo Lattes Humbertohumberto.saAinda não há avaliações
- Equações Diferenciais HomogêneasDocumento3 páginasEquações Diferenciais HomogêneasAna SousaAinda não há avaliações
- Linguagem de Programação II - SemáforosDocumento7 páginasLinguagem de Programação II - SemáforosÍcaro TarginoAinda não há avaliações
- AssueroDocumento6 páginasAssueroAldeníDuarteAinda não há avaliações
- FaturaDocumento4 páginasFaturaTiago FernandesAinda não há avaliações
- Avaliação de Ruído LimítrofeDocumento20 páginasAvaliação de Ruído LimítrofeSandra Oliveira OliveiraAinda não há avaliações
- Referente A Premiação Dos Alunos e Das Escolas Públicas Municipais e Ao Reconhecimento Dos Professores e Diretores Participantes DaDocumento5 páginasReferente A Premiação Dos Alunos e Das Escolas Públicas Municipais e Ao Reconhecimento Dos Professores e Diretores Participantes Daroneyduarte09Ainda não há avaliações
- TCC - O Shiatsu No Tratamento Da Doença de GravesDocumento3 páginasTCC - O Shiatsu No Tratamento Da Doença de GravesTalita SouzaAinda não há avaliações
- Ciclo Do Azoto - Comida de CoraisDocumento7 páginasCiclo Do Azoto - Comida de CoraisLuiz HenriqueAinda não há avaliações
- Cópia de MAILLING RH ENVIO DE RELEASES SPDocumento12 páginasCópia de MAILLING RH ENVIO DE RELEASES SP9gfwffdtpkAinda não há avaliações
- Mudras e o Poder Oculto Das MãosDocumento200 páginasMudras e o Poder Oculto Das MãosLila Léa CardosoAinda não há avaliações
- Planilha Orçamento Familiar - Ben Zruel - Mapa Da Prosperidade JudaicaDocumento24 páginasPlanilha Orçamento Familiar - Ben Zruel - Mapa Da Prosperidade JudaicaAntonio EpitacioAinda não há avaliações
- Ana Virgínia Lima Da Silva: A Intertextualidade Na Produção de Resenha No Ensino SuperiorDocumento239 páginasAna Virgínia Lima Da Silva: A Intertextualidade Na Produção de Resenha No Ensino SuperiorGustavo Cândido PinheiroAinda não há avaliações
- Avaliação de Matemática: 4º Ano Do Ensino Fundamental 1 - 3º BimestreDocumento2 páginasAvaliação de Matemática: 4º Ano Do Ensino Fundamental 1 - 3º BimestreSamuel Alencar83% (64)
- FT200Documento56 páginasFT200Anonymous Auhmc0dKPH100% (1)
- Pfsense Dual Wan Router 2Documento10 páginasPfsense Dual Wan Router 2João Antunes Lapa FilhoAinda não há avaliações
- ExcelDocumento29 páginasExcelluiz santosAinda não há avaliações
- Acordar Cedo - Desafiando Seus Limites - Robert Miller - 080422152452Documento73 páginasAcordar Cedo - Desafiando Seus Limites - Robert Miller - 080422152452Vendedor NetoAinda não há avaliações
- 1 Lista de Exercícios - Química 6Documento3 páginas1 Lista de Exercícios - Química 6Caroline Paglia NadalAinda não há avaliações
- Pedido 16556 VISEIRA E SACOLADocumento1 páginaPedido 16556 VISEIRA E SACOLAVitor LucasAinda não há avaliações
- Trabalho 5Documento3 páginasTrabalho 5Gemerson Pereira SantosAinda não há avaliações
- MALARIADocumento10 páginasMALARIAWältër PömpïlïöAinda não há avaliações
- 5.46 Esquema Toshiba VFS9 - Mono Rev 9Documento3 páginas5.46 Esquema Toshiba VFS9 - Mono Rev 9Rogerio Alves ResendeAinda não há avaliações
- Lista Antiguidade Primeiro GrauDocumento406 páginasLista Antiguidade Primeiro GrauDaniel Del CidAinda não há avaliações
- Prótese Total ImediataDocumento28 páginasPrótese Total ImediataSergio S SouzaAinda não há avaliações
- Calor Sensível e Calor LatenteDocumento3 páginasCalor Sensível e Calor LatenteMaynara SamantaAinda não há avaliações
- ZM Catálogo Linha Leve 2010Documento31 páginasZM Catálogo Linha Leve 2010LEODECIO BELO DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- Trading online de uma forma simples: Como aprender o comércio em linha e descobrir as bases para uma negociação bem sucedidaNo EverandTrading online de uma forma simples: Como aprender o comércio em linha e descobrir as bases para uma negociação bem sucedidaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Trabalho, Poder e Sujeição: trajetórias entre o emprego, o desemprego e os "novos" modos de trabalharNo EverandTrabalho, Poder e Sujeição: trajetórias entre o emprego, o desemprego e os "novos" modos de trabalharAinda não há avaliações
- Gerenciamento pelas diretrizes: O que todo membro da alta administração precisa saber para vencer os desafios do novo milênio.No EverandGerenciamento pelas diretrizes: O que todo membro da alta administração precisa saber para vencer os desafios do novo milênio.Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (4)
- Estratégia de Negociação de Opções Binárias Vencedoras: Segredo simples de fazer dinheiro com opções binárias de negociaçãoNo EverandEstratégia de Negociação de Opções Binárias Vencedoras: Segredo simples de fazer dinheiro com opções binárias de negociaçãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (12)
- 84 perguntas que vendem: Técnicas e ferramentas do coaching de vendas para maximizar os seus resultadosNo Everand84 perguntas que vendem: Técnicas e ferramentas do coaching de vendas para maximizar os seus resultadosNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (6)
- Currículo: Políticas e práticasNo EverandCurrículo: Políticas e práticasNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Diário de bordo: Um voo com destino à carreira diplomáticaNo EverandDiário de bordo: Um voo com destino à carreira diplomáticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Pedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNo EverandPedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- Marketing Digital na Prática: Como criar do zero uma estratégia de marketing digital para promover negócios ou produtosNo EverandMarketing Digital na Prática: Como criar do zero uma estratégia de marketing digital para promover negócios ou produtosNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (19)