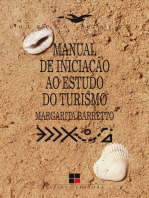Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Limites Do Conceito de Arte
Enviado por
Marcelle NascimentoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Limites Do Conceito de Arte
Enviado por
Marcelle NascimentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ENSINO DE ARTE E ESTÉTICAS AMERÍNDIAS:
REFLEXÕES SOBRE OS EPISTEMICÍDIOS E OS LIMITES DA “ARTE”
Tales Bedeschi Faria1
Resumo: A experiência de simplesmente encarar uma foto de uma pintura facial indígena
no museu, na escola ou na internet está longe de descortinar uma rede complexa de
intencionalidades que essa “prática artística” suscita para seu povo. Por outro lado,
classificar as pinturas corporais indígenas como “arte” pode ser visto como uma
sobreposição autoritária de categorias de análise de uma cultura sobre a outra, ou um
desencontro entre dois regimes de conhecimento. A fim de problematizar a atual prática de
ensino do que chamamos “Arte indígena” na Escola, parte-se da noção da difundida
Abordagem Triangular, indo ao encontro do pensamento de antropólogos e educadores que
sugerem os equívocos e da cegueira da cultura científica - e, por extensão, escolar -, ao
trabalhar outras culturas e cosmologias.
Palavras-Chave: ensino de arte, povos ameríndios, contexto de significado, epistemicídio.
Introdução
Os Huni Kuin, também conhecidos como Kaxinawá, grupo pano,
localizado no Acre, usam pintar seus corpos e faces em eventos cotidianos. Em
museus voltados para a temática indígena, assim como em websites, é possível
apreciar fotos de indivíduos desses povos sustentando motivos abstratos em tinta
negra de jenipapo sobre o rosto. Essas imagens podem causar admiração em
indivíduos das metrópoles pelo seu radicalismo, já que estes usam pintar o rosto
apenas com o que se chama de maquiagem, com cores discretas. A peculiaridade
das fotografias do povo Huni Kuin pode causar prazer estético, assim como sugerir a
esses receptores modos de pensar a aparência pessoal, a beleza e a indumentária
bem diversos dos deles. Contudo, a experiência de simplesmente encarar uma foto
dessa em um museu está longe de descortinar uma rede complexa de
intencionalidades que essa “prática artística” suscita para o povo em questão.
Sem nenhuma plataforma de acesso a essa rede, negligenciam-se
poderosas conexões que a pintura corporal dos Huni Kuin fomenta e que, por sua
1 Doutorando da linha Artes e experiências interartes na educação. Orientado pelo prof. Dr. Evandro
José Lemos da Cunha. E-mail: talesgerais@gmail.com.
EBA - UFMG nov.16
vez, favoreceriam o entendimento de todo um modelo de criatividade2 que sustenta
essa prática, que, diga-se de passagem, é completamente diferente daquele modelo
metropolitano em que se concebe o que se chama de “arte”. “Arte”, por sua vez,
antes de ser considerada aqui um conjunto universal de práticas em que se envolve
raciocínio plástico e estético, será encarada como a categoria semântica
eminentemente ocidental, à qual temos nos empenhado em enquadrar as
manifestações estéticas ameríndias.
Os problemas oriundos da iniciativa de tratar manifestações como a
pintura corporal Huni Kuin como “arte” indígena estão ligados a uma sobreposição
autoritária de categorias de análise, ou contexto de significados de uma cultura
sobre a outra. A título de ilustração da problemática que aqui se delineia, lembra-se
que nas comunidades ameríndias não existe o conceito “arte”, assim como é
inconcebível a figura do artista como um sujeito especial, criador, compromissado
com a novidade e a originalidade (LAGROU, 2009). Wagner formula o problema da
seguinte forma: “podemos entendê-los [os indígenas] em termos de algo que nós
fazemos e que eles não se esforçam deliberadamente para realizar”? (WAGNER,
2012, 2014). Dessa forma, delineia-se o seguinte problema: estudar “arte” indígena
na Escola não tem significado atribuir a ela valores que não existem ou omitir
diversas de suas facetas, conspurcando os gestos e intenções que se pretenderia
valorizar?
A cegueira epistemológica e o ensino de arte
Este empenho em enquadrar a pintura corporal Huni Kuin como “prática
artística” pode aludir ao que Inês Barbosa de Oliveira chama de “cegueira
epistemológica” (OLIVEIRA, 2007, p. 54), tributária da tradicional pretensão
universalista das ciências modernas. Uma vez que não detemos, em nossas práticas
cotidianas, “meios para compreender e poder, a partir daí, crer, e ver/ler/ouvir
determinadas classificações, determinadas formas de compreender o mundo” (Idem,
2
A expressão “modelo de criatividade” ou “estilo de criatividade” é usada por Wagner para substituir a
expressão “tipos de sociedade”, uma vez que esta última é tributária de conceitos muito particulares à
nossa cultura e não poderiam ser aplicados a outros agrupamentos dos povos indígenas (WAGNER,
2012, p. 88).
EBA - UFMG nov.16
ibidem) de uma tribo amazônica, atalhamos, inserindo estas em uma categoria
semântica nossa que, de uma certa maneira, tem alguma relação. Em outras
palavras, forçamos a inserção de determinadas práticas em um contexto ou
“ambiente” de significado estranho, que articula outras associações específicas e é
marcado por outras qualidades em comum 3. O resultado é a sobreposição de
elementos conceituais amazônicos e a suspensão de uma rede de associações
possíveis.
Antes de cercar o professor em um beco sem saída, de forma que ele
acabe se sentindo obrigado a se contentar com suas aulas sobre a arte europeia, o
atual artigo pretende tocar em pontos estratégicos para o ensino de Arte que se
aventure ao estudo de outras “culturas”. Portanto, vale contornar algumas
armadilhas e indicar alguns caminhos que possam ser atravessados por diferentes
regimes de conhecimento.
O campo do Ensino de Artes Visuais na Escola brasileira recebeu, desde
a década de 1990, contribuições valorosas de diversos pesquisadores no que se foi
conhecido como a Abordagem Triangular. Delineada por Ana Mae Barbosa (1998),
essa abordagem tem a pretensão de aproximar a experiência do estudante à aos
modos de fazer e pensar do artista. Sendo assim, ela define três ações, que se
referem às atividades do artista em seu exercício: análise formal de outras obras de
arte, contextualização e estudo das obras em análise e, por fim, elaboração e
construção estética. Tal separação conceitual, alerta a autora, não pretende
distanciar as operações artistas entre si, mas simplesmente destacar a importância
e a natureza de cada uma delas. Tendo isso em vista, Barbosa deixou a cargo do
professor a construção do caminho a ser percorrido, se limitando à construção de
uma “abordagem”, em vez de uma “metodologia” a ser reproduzida nas salas de
aulas dos seus leitores espalhados pelo país. Dessa forma, é o professor que deve
movimentar, criativa e dinamicamente, os pilares do exercício do artista, articulando-
o de acordo com o tema ou as necessidades da turma.
A triangulação cognoscente de Barbosa (1998), prevê que para a
construção de uma metodologia consistente,
3
Como explica Wagner (2012), um “ambiente” de significados ou contexto, articula uma série de
elementos, que por sua vez são reunidos por partilharem de qualidades em comum. Esta questão
sera abordada a seguir.
EBA - UFMG nov.16
que impulsione a percepção da cultura do outro e relativize as normas e
valores da cultura de cada um, teríamos que considerar [1]o fazer (...), [2]a
leitura das obras de Arte (...) e [3] a contextualização, quer seja histórica,
cultural, social, ecológica etc (BARBOSA, 1998, p. 92).
Amplamente difundida no Brasil, esta proposta solucionou diversos
problemas do Ensino de Arte, indo ao encontro dos professores que acreditavam
que as aulas de Artes Visuais não passavam muito da distribuição de folha branca e
lápis de cor. Vista, contudo, sob as lentes de um ensino que se propõe construir
conhecimento a partir da “cultura” do outro, pode-se dizer, ela precisa ser
problematizada. A pedra de toque consiste no fato de que a Abordagem Triangular
não consegue dar conta de diversos tipos de manifestações estéticas que não
comungam das características estruturantes não só das Artes Visuais, mas das
Ciências ocidentais. Pergunta-se: como colocar em prática o fazer ou o ler obras de
arte, sendo que esses gestos estão pautados em pressupostos culturais ocidentais
(para não dizer eminentemente europeus) e, portanto, totalmente diferentes
daqueles encontrados nas aldeias indígenas? Como contextualizar uma
performance ritual a partir de disciplinas ou categorias de análise – como a História,
a Sociologia, ou identidade, estética, percepção –, que longe de serem universais,
são tributárias de uma episteme particular e que, portanto, são incipientes para se
criar e articular significados para as práticas ameríndias?
A relativização e o epistemicídio
Antes de investir sobre as perguntas acima, vale perpassar por algumas
outras questões. No início da citação de Barbosa, trazida acima, a autora coloca a
relativização das normas e valores das “culturas” em questão como um paradigma
do Ensino de Artes Visuais (BARBOSA, 2008, p. 92). Considerando que as “culturas”
em questão seriam a “cultura” estudada assim como a cultura do estudante, a
relativização faz sentido na medida em que seja preciso flexibilizar nossos
pressupostos culturais, normas e valores que organizam nosso cotidiano a fim de
abrirmos espaço para os pressupostos do outro. Sem essa flexibilização, como
aceitar que uma pintura facial indica um “texto” a ser lido por espíritos durante um
ritual, como é o caso dos Huni Kuin? Ou, pensando mais próximo, como aceitar que
EBA - UFMG nov.16
uma peça de madeira de Cedro, construída no contexto de Ouro Preto católica pode
agenciar os poderes de um deus?
Relativizar as normas e valores das “culturas” em questão não significa,
por outro lado, lançar práticas e tradições de diferentes povos no campo da crença,
da superstição ou do folclore. Defender que práticas de que não partilhamos não
possuem estatuto de “realidade”, pois não “existem de verdade”, mas apenas na
cabeça das pessoas que as praticam, é o primeiro passo para desbancar qualquer
possibilidade de criar percepção ou afetação para as questões do outro: é pleitear o
epistemicídio. Aceitar as diferenças, assim como respeitar os pontos de vista do
outro é condição fundamental para a relação entre “culturas” num projeto
pedagógico (e projeto de vida, oras). Isso não significa colocar as diferenças em
segundo plano, mas indica tirar o espaço do que já está constituído e
institucionalizado a fim de gerar espaço para outras vozes e perspectivas. Trata-se
de dar o mesmo poder de fala que tem o nosso regime de conhecimento para os
outros, criando uma cena de dissenso, um desentendimento, um enriquecedor
desconcerto epistêmico.
O desencontro entre regimes de conhecimento
Em um artigo intitulado “Vocês sabem porque viram!: reflexão sobre
modos de autoridade do conhecimento”(2012), Joana Cabral de Oliveira discute a
conferência de autoridade de status de verdade aos saberes, a partir de uma
experiência como professora de um Curso de Ciências Naturais para turmas de
Agentes Indígenas de Saúde (AIS). Trabalhando com jovens do povo Wajãpi, do
Amapá, ela se depara, em diversos momentos, com embates formados a partir do
desencontro entre dois modelos epistemológicos, o das Ciências Naturais ocidentais
e o que chamaremos de “epistemologia” Wajãpi. Ao dizer aos AIS que muitos
elementos nomeados e conhecidos pela Ciência não poderiam ser vistos nem com o
uso microscópio, ela foi questionada pelos alunos com visível incômodo: “Se eles [os
elementos químicos] não podem ser vistos, como vocês sabem que existem?”
(OLIVEIRA, 2012, p. 52). A professora argumenta com os jovens que também no
mundo Wajãpi se considera, nomeia e conhece elementos que não são vistos, como
EBA - UFMG nov.16
os opiwarã – que são substâncias do pajé que possuem diversas manifestações,
como armas ou espíritos. Por mais que concordassem, os AIS ainda replicaram,
argumentando que, ao contrário dos elementos químicos, os opiwarã não são vistos,
mas podem ser percebidos por todos por meio dos sinais que dão, por exemplo, ao
se materializar em um ataque de onça à aldeia, uma vez acionado pelos opiwarã de
um pajé inimigo (Idem, ibidem).
As reflexões subsequentes da autora dizem respeito, justamente, à
diferença entre as modalidades de elaboração de verdade e autorização de saberes.
Ao lidarem com os conteúdos e modos de transmissão formal do conhecimento
científico nas aulas do Curso, os jovens Wajãpi questionaram a legitimidade da
“verdade” científica, usando os seus princípios de autoridade de saber para
deslegitimar os primeiros. Oliveira explica que os AIS, formados em uma modalidade
epistêmica de saberes específica, não confiaram na justificativa trazida por ela, que
recorreu à validade da experimentação em laboratório, como forma de legitimação
do saber das Ciências.
Enquanto no contexto wajãpi a experimentação se refere ao que os nossos
sentidos podem captar, bastando que haja uma única experiência para que
um saber seja legitimado e percorra uma cadeia de transmissão, garantindo
à deferência um valor de verdade, na ciência a experimentação se refere à
possibilidade de reprodução de um fenômeno, que independe da captação
exclusiva de nossos sentidos: é preciso antes ter a mediação de
instrumentos e ampla manipulação dos fenômenos para aferir o status de
verdade a um saber (OLIVEIRA, 2012, p. 69).
Explorando ainda mais este desencontro entre regimes de conhecimento,
é possível verificar que se na modalidade epistêmica wajãpi a experiência ostensiva
de um indivíduo é autoridade inquestionável – são “os sentidos que, em última
instância, legitimam um conhecimento” (OLIVEIRA, p. 59) –, na modalidade
científica é o contrário:
Vale notar que o microscópio e as outras tecnologias empregadas nos
laboratórios garantem a autoridade do conhecimento científico na medida
em que são atores mais confiáveis do que os homens com seus sentidos
enganosos, como nos explica alhures Latour (2005: 28-30) (OLIVEIRA, p.
69).
Diante dessas questões, ressalta-se que as maneiras pelas quais a
Ciência e, por extensão, a Escola, reconhece e legitima os saberes podem ser
EBA - UFMG nov.16
simetricamente inversas aos processos legitimadores de outros povos. Isso indica
que, na medida em que o professor de Arte planeja construir conhecimento a partir
do estudo da “cultura” do outro, ele precisa relativizar a objetividade das Ciências.
No ponto nevrálgico da relativização
No início de seu célebre livro “A invenção da cultura”, Roy Wagner
defende que o antropólogo, a fim de fazer jus ao seu ofício de cientista, precisa
renunciar à clássica pretensão racionalista de objetividade absoluta (WAGNER,
2012, p. 39). Seu argumento é simples: “A objetividade "absoluta" exigiria que o
antropólogo não tivesse nenhum viés e, portanto, nenhuma cultura” (WAGNER, p.
40). A proposta do autor é trazer à baila certa relatividade:
A combinação dessas duas implicações da ideia de cultura - o fato de que
nós mesmos pertencemos a uma cultura (objetividade relativa), e o de que
devemos supor que todas as culturas são equivalentes (relatividade cultural)
- leva a uma proposição geral concernente ao estudo da cultura (WAGNER,
p. 40).
O que pode parecer óbvio, afinal de contas, desde sempre soubemos que
pertencemos a uma cultura, nem sempre foi tão evidente para os cientistas. É
possível explicar melhor. Para Wagner, o antropólogo deve incluir a si mesmo e seu
próprio modo de vida em seu objeto de estudo (WAGNER, p. 39). Avançando sobre
essa ideia, defende que não se pode fugir do fato de que ele usa a sua própria
cultura para estudar as outras. O autor explica que o trabalho do antropólogo é
“inventar” uma cultura para os povos não-ocidentais – mesmo que eles não tenham
a palavra “cultura” –, supondo que eles fazem o mesmo que nós, a saber, cultura
(WAGNER, p. 89). Em um trabalho de campo, ele vivencia um “choque cultural” por
meio da sua inadequação ao mundo que passa a habitar, tornando-se apto a
descrever semelhanças e discrepâncias que ela apresenta em relação à sua cultura.
Por conseguinte, ele cria uma representação compreensível dessa “cultura”, que, por
sua vez, é endereçada a seus compatriotas e colegas antropólogos, pois não faria
sentido de outra maneira. Trata-se, portanto, de uma construção, que parte de seus
próprios pressupostos culturais e cujo resultado é “uma automática extensão
EBA - UFMG nov.16
analógica de seu universo” (WAGNER, p. 64) ou “um conjunto de analogias, que
„traduz‟ um grupo de significados básicos em um outro” (WAGNER, p. 53).
A novidade trazida por Wagner não é, precisamente, o fato de que
pertencemos a uma cultura, mas a seriedade com que ele encarou este fato e suas
implicações para a prática científica. Sua posição descortinou a inviabilidade da
objetividade absoluta, tão exaltada nas Ciências da Natureza, que pretendiam a
imparcialidade total do cientista. Para o autor, a miopia da objetividade absoluta,
descrita no capítulo intitulado “A presunção da cultura”, estaria na nossa convicção
pelas nossas práticas e no nível de imersão que estamos nelas: “frequentemente
assumimos os pressupostos mais básicos de nossa cultura como tão certos que
nem nos apercebemos deles” (WAGNER, p. 39).
A partir do momento em que o antropólogo tem consciência da sua
cultura, inicia-se uma relativização dela, que coloca em cheque seus pressupostos e
certezas. Abre-se espaço, então, para a equivalência entre dois tipos de seres
humanos, assim como se estabelece um sinal de igualdade entre “o conhecedor
(que vem a conhecer a si próprio) e o conhecido (que constitui uma comunidade de
conhecedores)” (WAGNER, p. 42).
Como sugere a repetição da raiz "relativo", a compreensão de uma outra
cultura envolve a relação entre duas variedades do fenômeno humano; ela
visa a criação de uma relação intelectual entre elas, uma compreensão que
inclua ambas. A ideia de "relação" é importante aqui, pois é mais apropriada
à conciliação de duas entidades ou pontos de vista equivalentes do que
noções como "análise" ou "exame", com suas pretensões de objetividade
absoluta (WAGNER, p. 40).
Colocar em relação, ao invés de submeter a uma análise ou a um exame,
como sugere o autor, abre para o professor de Arte um caminho interessante. A
imagem da análise laboratorial, seus instrumentos de controle e procedimentos o
mínimo humano possível4, dá espaço para a experiência sensória e para o universo
das imagens e seus afetos, da arte e suas redes de intenção.
4
Ao citar Stengers e sua referência ao “caso Galileu”, “[...] „uma cena primordial‟ onde nasceu a
singularidade do que chamamos „as ciências modernas‟”, Joana Cabral de Oliveira alega que a
“experimentação a que a autora se refere, consiste na reprodução dos acontecimentos em
laboratórios, de modo a dar voz à Natureza. Nesse momento o cientista sai de cena e quem fala é a
Natureza”. E conclui: “A empiria apaga, assim, as marcas da fabricação humana de um conhecimento
e lhe confere a autoridade necessária” (OLIVEIRA, 2012, p. 57).
EBA - UFMG nov.16
Colocando contextos em relação
Para Wagner, os significados são construídos por meio de associações
que diferentes elementos adquirem ao ser associados ou opostos uns aos outros em
diversos contextos. Ao definir o sentido de “contexto”, o autor usa a figura do
“conceito matemático de conjunto, da „teoria dos conjuntos‟” e conclui que o contexto
“é um ambiente no interior do qual elementos simbólicos se relacionam entre si, e é
formado pelo ato de relacioná-los” (WAGNER, p. 147). Ele explica que um elemento,
ou uma palavra, por exemplo, sempre carrega consigo todos os contextos em que
aparece, relacionando direta ou indiretamente esses contextos mediante qualquer
novo uso ou extensão (WAGNER, p. 113). Dessa forma, todo uso de um elemento
simbólico “é uma extensão inovadora das associações que ele adquire por meio de
sua integração convencional em outros contextos” (WAGNER, p. 113). Na medida
em que um indivíduo, imerso em uma cultura, constrói uma nova associação não
convencional, ele opera uma invenção e, por extensão, aprende.
Ao fazer uma comparação entre a cultura metropolitana e a “cultura” da
aldeia, pode-se imaginar que diferentes contextos e conjuntos de contextos
articulam ambos os ambientes. Cada um deles encontra-se atado a “um arcabouço
relacional de contextos convencionais” (WAGNER, p. 116). É a partir desse conjunto
de convenções compartilhadas que se torna possível a comunicação e a
compreensão das experiências dos indivíduos em comunidade. Pensando que a
comunicação e a expressão são mantidas por meio do uso de elementos simbólicos
– palavras, imagens, gestos – ou sequência destes (WAGNER, p. 110), são suas
associações que lhes garante o significado. Essas, por sua vez, são adquiridas na
medida em que os elementos são “associados ou opostos uns aos outros em toda
sorte de contextos” (WAGNER, p. 110). E o autor conclui: “O significado, portanto, é
uma função das maneiras pelas quais criamos e experenciamos contextos”
(WAGNER, p. 111).
Para que o adolescente da metrópole possa construir conhecimento sobre
uma cultura diferente, ele precisa operar simbolizações que coletivizem signos
(convencional) ou os particularizem (diferenciante). Na simbolização convencional,
ele toma como base o que é convencional para sua cultura, objetifica o contexto
EBA - UFMG nov.16
díspar (indígena) e confere-lhe ordem por meio de uma integração racional. Na
simbolização diferenciante, ele especifica, traçando distinções radicais e delineando
suas individualidades (WAGNER, p. 125). É nesse processo que o receptor cria
associações inéditas entre elementos – e, por conseguinte, entre contextos – e
inventa a cultura indígena (para si).
Frente a uma proposta prática: da análise laboratorial aos afetos relacionais
Neste momento, valeria retornar às perguntas feitas ainda no início do
texto a fim de desdobrar algumas questões ainda obnubiladas para o ensino de Arte.
Retorna-se ao contexto de problematização da Abordagem Triangular, no
que se refere ao estudo de outras “culturas”. Antes de responder as perguntas
suscitadas, vale recolocá-las de uma outra forma: se não faz sentido colocar em
prática o fazer ou o ler obras de arte, uma vez que os povos ameríndios pintam seus
corpos e performam mobilizados por outros pressupostos, pretensões, afetos e
saberes, circunscritos em um regime de conhecimento distinto dos nossos, como
aproximar do fazer e do pensar dos seus “artistas”, ou melhor, seus pintores de
corpos e performers? Seria possível trazer os contextos, conceitos e convenções de
povos ameríndios para o ambiente escolar? Abrindo mão das disciplinas como a
História, Sociologia, ou de conceitos como arte, percepção ou identidade, que tipo
de categorias semânticas esses povos poderiam oferecer ao professor empenhado
em uma espécie de relação simétrica?
Todas essas questões são de extrema importância para um ensino de
Arte que pretende lidar com seriedade com a “cultura” do outro. Contudo, não se vai
ousar definir respostas, dada a amplitude das questões, que ultrapassam o formato
deste artigo. A proposta que rege o texto abaixo do atual subtítulo é o distanciamento
do controle e da análise “laboratorial”, eminentemente racionalista e objetivista para
penetrar no campo dos sintomas, das imagens e dos afetos. Essa proposta visa
aproximar a atual discussão, nessas páginas finais, da natureza da imagem, que é o
material primordial da disciplina Arte. Deixar-se-á, portanto, as questões acima em
latência.
EBA - UFMG nov.16
A expectativa dessa recondução do texto remete à necessidade de
evidenciar a potência dos desvios que a episteme e a estética ameríndia inspiram no
mundo escolar e as transformações expressivas que elas podem imprimir nas
formas de pensar e fazer dos estudantes. Trata-se de, a luz do que José Carlos dos
Anjos (2008) propõe para uma relação simétrica, “permitir a emergência da
dimensão epistêmica da concepção nativa” (DOS ANJOS, 2008, p. 79) no seio de
nossas produções. Em outras palavras, trata-se de ir ao encontro de imagens,
vídeos, relatos, histórias e mitologias, contadas, filmadas ou construídas pelos
próprios povos indígenas, de maneiras que se possa fazê-las ressoar no interior das
imagens, vídeos e narrativas produzidas pelos estudantes.
Essa proposta tem inspiração no método operado pelo pesquisador Mário
Geraldo da Fonseca (2013) que, em sua tese no campo da literatura comparada,
investiga os desvios provocados pelos mitos indígenas na literatura indigenista.
Comparando textos de Mário de Andrade, produtos da sua viagem à Amazônia em
1927, em especial Macunaíma (1928), com textos anteriores, o autor observa uma
língua portuguesa que delirou (FONSECA, 2013, p. 52). No intuito de criar uma voz
autêntica para o brasileiro e fazer ouvir a “tão sonhada voz do indígena”, Andrade
absorve os mitos dos povos amazônicos para, com eles, “construir uma língua que
desse conta de expressá-la” (FONSECA, 2013, p. 16). A partir de comparações entre
textos anteriores e posteriores à viagem de Andrade, Fonseca foca então nas
transformações da escrita do modernista, que o permitem dizer de uma nova língua
literária inventada (Idem, p. 52). São esses delírios da literatura indigenista que o
interessam: o que o mito indígena faz com o literato e não o que ele faz com o mito.
Lidar com os mitos indígenas, presentes nos textos e livros publicados por
eles mesmos, é lidar com um discurso sobre o indígena feito na primeira pessoa.
Esta é também a perspectiva dos vídeo-documentários que tem sido
constantemente lançados e colocados em circulação por cineastas de diversas
aldeias. Muito antes de representarem a voz genuína ou pura do indígena, esses
vídeos, filmes ou livros são o exercício de uma antropologia reversa, no sentido de
que esses videos-documentários, por exemplo, são a descrição de modos de vida
indígenas, a partir da interpretação das maneiras pelos quais os brancos não só
descrevem suas vidas, mas filmam a descrição das suas vidas. É, portanto, um
EBA - UFMG nov.16
empenho na troca simbólica, na articulação entre contextos de significados,
convenções e suas associações. Uma forma de reproduzir o gesto indígena de
antropofagizar e criar uma nova realidade ficcional.
Reforça-se, portanto, a assertiva de Oliveira, segundo a qual a produção
de conhecimento precisa ser sempre obra coletiva, pois “a cegueira de uns pode ser
minimizada pela capacidade de „ver‟ de outros, portadores de outras cegueiras”
(OLIVEIRA, 2007, p. 56).
Referências
BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos. Editora C/ARTE, 1998.
DOS ANJOS, José Carlos. A filosofia política da religiosidade afro-brasileira como
patrimônio cultural africano. In: Debates no NER. Porto Alegre, ano 9, n. 13, p. 77-
96. 2008.
FONSECA, Mário Geraldo Rocha da; ALMEIDA, Maria Inês de. A cobra e os poetas:
uma mirada selvagem na literatura brasileira. 2013. 334 f., enc Tese (doutorado) -
Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/1843/ECAP-97NH6D>. Acesso em : 09 set. 2013.
GELL, Alfred. 1998 Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon
Press
LAGROU, Els. A Fluidez da Forma. Arte, alteridade e agência em uma sociedade
amazônica (Kaxinawa, Acre). Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.
_________________. Arte indígena no Brasil. Belo Horizonte: Ed. C/Arte. 2009.
OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Aprendendo nos/dos/com outros cotidianos a
ver/ler/ouvir/sentir o mundo. In: Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 98, p. 47-72,
jan./abr. 2007. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br.
OLIVEIRA, Joana Cabral. “Vocês não sabem porque não viram!”: reflexões sobre
modos de autoridade do conhecimento. In: Revista de Antropologia. V. 55, n. 1. São
Paulo. USP. 2012.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução: Mônica
Costa Netto. São Paulo: EXO Experimental / Editora 34, 2005.
EBA - UFMG nov.16
_________________. O espectador emancipado. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2012a. 128 p.
WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 253 p. ISBN
9788575039212.
EBA - UFMG nov.16
Você também pode gostar
- 05 - Séries - de Onde Vieram e Como São FeitasDocumento5 páginas05 - Séries - de Onde Vieram e Como São FeitasLUIZ GEHLENAinda não há avaliações
- Fortuna Crítica I - Obra Rosiana - Templo Cultural DelfosDocumento21 páginasFortuna Crítica I - Obra Rosiana - Templo Cultural DelfosGustavo MilanoAinda não há avaliações
- Álvaro de Campos - BiografiaDocumento4 páginasÁlvaro de Campos - BiografiaMário Muniz da SilvaAinda não há avaliações
- Resumo - Os - MaiasDocumento4 páginasResumo - Os - MaiasMarco Firme67% (3)
- Igglybuff Amigurumi Pokemon Receita Gratis PDFBBNDocumento7 páginasIgglybuff Amigurumi Pokemon Receita Gratis PDFBBNSandra PereiraAinda não há avaliações
- Pallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneosDocumento195 páginasPallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneospaollaclayrAinda não há avaliações
- Resolucao Dos Desafios e Exercicios Unibta Displina Arte e MusicalizacaoDocumento18 páginasResolucao Dos Desafios e Exercicios Unibta Displina Arte e MusicalizacaoDORINEIA NASCIMENTO SANTOSAinda não há avaliações
- Revisão de Artes - Avaliações Contínuas Ii - I Etapa - 7º Ano - 2024Documento11 páginasRevisão de Artes - Avaliações Contínuas Ii - I Etapa - 7º Ano - 2024LetíciaAinda não há avaliações
- Esteticas TecnologicasDocumento6 páginasEsteticas TecnologicascarlosmusashiAinda não há avaliações
- Patrimônio Cutural Imaterial - para Saber MaisDocumento34 páginasPatrimônio Cutural Imaterial - para Saber MaisKellen Dorileo LouzichAinda não há avaliações
- Ficha-T-Cnica TROX GrelhasDocumento1 páginaFicha-T-Cnica TROX GrelhasDaniel Dos SantosAinda não há avaliações
- História Do Cinema e AudiovisualDocumento5 páginasHistória Do Cinema e AudiovisualCarol LinsAinda não há avaliações
- Millôr Definitivo - A Bíblia Do CaosDocumento778 páginasMillôr Definitivo - A Bíblia Do CaosPedro FeitozaAinda não há avaliações
- BADARÓ, Cláudia - GotescoDocumento198 páginasBADARÓ, Cláudia - GotescoMateus DukeviczAinda não há avaliações
- SEI 00071319537 PortariaDocumento17 páginasSEI 00071319537 PortariaMonica SantosAinda não há avaliações
- A Reinvenção Musical Do Nordeste (Trotta, 2010)Documento56 páginasA Reinvenção Musical Do Nordeste (Trotta, 2010)Douglas BritoAinda não há avaliações
- Apostila 101 Atividades para Bera A-Rio e Mat ErnalDocumento190 páginasApostila 101 Atividades para Bera A-Rio e Mat ErnalAna Paula Braga86% (28)
- Coluna Martha Medeiros - em Que Mundo Tu Vive - DonnaDocumento2 páginasColuna Martha Medeiros - em Que Mundo Tu Vive - DonnaIvanicskaAinda não há avaliações
- Silo - Tips - Primus Boa Companhia PDFDocumento12 páginasSilo - Tips - Primus Boa Companhia PDFValdo De BaráAinda não há avaliações
- Do Espiritual Na Arte e Na Pintura em Particular by Wassily KandinskyDocumento69 páginasDo Espiritual Na Arte e Na Pintura em Particular by Wassily KandinskyNatalia Martini Uliana100% (1)
- Ficha Individual de Acompanhamento Ano 2023Documento2 páginasFicha Individual de Acompanhamento Ano 2023Kelin SouzaAinda não há avaliações
- Festa Das FloresDocumento30 páginasFesta Das FloresFellipe IMRAinda não há avaliações
- Fundamentos Do Design (19.12.2022 - 28.01.2023)Documento27 páginasFundamentos Do Design (19.12.2022 - 28.01.2023)MarinaAinda não há avaliações
- Exercícios de LiteraturaDocumento4 páginasExercícios de LiteraturaLuciana Faria0% (1)
- Episódios para Download - Fansub - Página1Documento4 páginasEpisódios para Download - Fansub - Página1davidcorrAinda não há avaliações
- 41) Costa ,: FILHO ODYLO Graça Aranha e Outros Ensaios. Rio e - D Janeiro 1934Documento10 páginas41) Costa ,: FILHO ODYLO Graça Aranha e Outros Ensaios. Rio e - D Janeiro 1934PedroAinda não há avaliações
- Pergunte Ao Po - John FanteDocumento9 páginasPergunte Ao Po - John FanteHelio HoyamaAinda não há avaliações
- 4º Ano - ArtesDocumento55 páginas4º Ano - ArtesJosiane De CamargoAinda não há avaliações
- O Assassinato Do Comendador - Vol. 2 by Haruki MurakamiDocumento234 páginasO Assassinato Do Comendador - Vol. 2 by Haruki MurakamiLuiz Alfonso Diaz Bernal NetoAinda não há avaliações
- Simulado OpenDocumento9 páginasSimulado OpenLíngua SustentávelAinda não há avaliações
- Coaching Communication: Aprenda a falar em público e assuma o palestrante que há em vocêNo EverandCoaching Communication: Aprenda a falar em público e assuma o palestrante que há em vocêNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (8)
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Manual de física e proteção radiológicaNo EverandManual de física e proteção radiológicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Espanhol ( Espanhol Fácil ) Verbos Espanhóis Mais Comuns: De A até Z, os 100 verbos com tradução, texto bilingue e frases de exemploNo EverandEspanhol ( Espanhol Fácil ) Verbos Espanhóis Mais Comuns: De A até Z, os 100 verbos com tradução, texto bilingue e frases de exemploNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- Como ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralNo EverandComo ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralAinda não há avaliações
- POLÍTICAS EDUCACIONAIS, CURRÍCULO E DOCÊNCIA: DEBATES CONTEMPORÂNEOSNo EverandPOLÍTICAS EDUCACIONAIS, CURRÍCULO E DOCÊNCIA: DEBATES CONTEMPORÂNEOSNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: Percepção de Docentes e DiscentesNo EverandSIMULAÇÃO REALÍSTICA NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: Percepção de Docentes e DiscentesAinda não há avaliações
- Inglês - Inglês para todos, Inglês simples e divertido: 50 textos curtos bilingues e ilustrados para aprender inglês de forma divertidaNo EverandInglês - Inglês para todos, Inglês simples e divertido: 50 textos curtos bilingues e ilustrados para aprender inglês de forma divertidaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- RISCOS, VULNERABILIDADES E CONDICIONANTES URBANOSNo EverandRISCOS, VULNERABILIDADES E CONDICIONANTES URBANOSAinda não há avaliações
- Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNo EverandAnálise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)