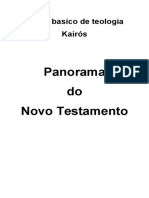Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ética
Ética
Enviado por
Simone Fábio Wilhelm0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações30 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações30 páginasÉtica
Ética
Enviado por
Simone Fábio WilhelmDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 30
ADELA CORTINA / EMILIO MARTINEZ
2
Etica
(Tradugao do espanhol por Silvana Cobucci Leite)
Resumo Prof. Dr. Roque Junges.
Sao Paulo: Ed. Loyola, 2005.
I. OAMBITO DA FILOSOFIA PRATICA.
itica como Filosofia moral.
A &tica ov a filosofia moral tem como objetivo explicar o fendmeno moral, dar
conta racionalmente da dimensao moral humana.
A ética 6 indiretamente normativa. A moral € um saber que oferece orientagées
para agdes em casos concretos, enquanto que a ética é normativa em sentido indireto, pois,
no tem uma incidéncia direta na vida cotidiana, quer apenas esclarecer reflexivamente 0
campo da moral
Para entender o tipo de saber que constitui a ética, é importante lembrar a
distinggo aristotélica entre saberes tedricos, poiéticos © préticos. 1) Os primeiros
dedicam-se a compreender a realidade. Bles sio saberes descritivos, porque mostram 0
que existe, 0 que € ¢ 0 que acontece. Eles tém como referéncia o ser ow a esséncia das
coisas. 2) Os segundos servem de guia para elaborar algum produto, artefato ou obra
caracterizado por sua utilidade ou beleza. As técnicas e as artes fazem parte dos saberes
poiéticos. 3) os saberes préticos sdo aqueles que orientam sobre o que se deve fazer para
conduzir a vida de uma maneira boa e justa para alcangar a felicidade. Hles abarcam nao
86a ética, mas também a economia (bom governo da casa) ¢ a politica (bom governo da
cidade.
Hoje fazem parte da filosofia pritica a ética ou filosofia moral, a filosofia politica,
a filosofia do diteito e a reflexao filos6lica sobre a religido em perspectiva ética.
termo “moral” aqui ¢ agora.
0 termo moral pode ser usado como substantivo. 1) Num primeiro sentido refere~
se ao conjunto de principios, preceitos, comandos, sendo a moral um sistema de
conteiidos sobre comportamentos. 2) Num segundo sentido pode referir-se ao c6digo de
conduta pessoal de alguém (Fulano tem uma moral muito rigida ou carece de moral). 3)
Num outro sentido compreende as diferentes doutrinas morais ou a ciéncia que trata do
bem em geral e das agdes humanas marcadas pela bondade ou maldade moral. As
doutrinas morais sistematizam um conjunto de contetidos morais, enquanto que as teorias
@ticas tentam explicar o fenémeno moral. 4) Num quarto sentido moral refere-se a uma
boa disposicdo de espirito, ter o moral bem elevado, estar com 0 moral alto. Aqui moral
ngo é um saber nem um dever, mas uma atitude ou caréter. 5) Um diltimo sentido de
‘moral como substantivo compreende a dimensio moral da vida humana que & a ambito
das ages e das decisdes.
0 termo moral pode também ser usado como adjetivo. 1) Moral no sentido de
posto & imoral, como sindnimos de moralmente correto ou incorreto. 2) Moral
significando o oposto de amoral, isto é, que nao tem nenhuma relagao com a moralidade,
13. 0 termo “moralidade”.
Embora moralidade refira-se muita veres a algum cédigo moral concreto (p. ex.
quando se diz duvido da moralidade de seus atos ou fulano é um defensor da moralidade
€ dos bons costumes), o termo pode ter outros significados. 1) Moralidade serve para
distinguir de legalidade ¢ de religiosidade, referindo-se 4 dimensio moral da vida
humana, a essa forma comum das ages humanas para além das diversas morais
concretas, isto 6, independente dos contetidos morais. Por isso existe a distingao em
relagdo a legalidade referida & lei e A religiosidade referida ao sagrado. 2) Moralidade
pode também ser distinguida de eticidade no sentido que serd visto mais adiante.
O termo “ética”
A palavra ética vem do grego ethos, originalmente tinha o sentido de “morada”,
“lugar em que se vive” e posteriormente significou “carder”, “modo de ser” que se vai
adquirindo durante a vida. O termo moral procede do latim mores que originariamente
significava “costume” ¢ em seguida passou a significar “modo de ser’, “caréter’
Portanto, as duas palavras tém um sentido quase idéntico.
No obstante, no contexto académico, o termo “ética” refere-se & filosofia moral,
isto € ao saber que reflete sobre a dimensio da ag4o humana, enquanto que “moral”
denota os diferentes cédigos morais concretos. A moral responde & pergunta “O- que
devemos fazer?” ¢ a ética, “Por que devemos?”
14.1 A ética nfo é nem pode ser neutra.
A tica nao se identifica com nenhum cédigo moral, mas isso nao significa que
la seja neutra diante dos diferentes cédigos, pois ela é critica dos costumes morais,
1.4.2 Fungies da ética.
A @tica tem uma tripla fungdo: 1) esclarecer 0 que & a moral, quais sdo seus tragos
especificos; 2) fundamentar a moralidade, ou seja, procurar averiguar quais so as razdes,
que conferem sentido ao esforco dos seres humanos de viver moralmente; 3) aplicar aos
diferentes Ambitos da vida social os resultados obtidos nas duas primeiras fungdes, de
‘maneira que se adote uma moral critica em ver da subserviéncia a um cédigo.
1.4.3 Os métodos préprios da ética.
A. moral dogmatiza com seus cédigos, enquanto que a ética argumenta
ctiticamente. Nao ha (otalitarismo em exigir argumentagao, mas é totalitério 0
dogmatismo da meta autoridade, das pretensas evidéncias, das emogdes ¢ das metitforas.
Filosofar ¢ argumentar. Este é 0 modo de proceder da filosofia moral. Os métodos para
argumentar podem ser muitos: empfrico-racional (Axtist6teles), empirista e racionalista
(era moderna}, transcendental (Kant), dialético-absoluto (Hegel), dialético-materialista
(Marx), genealégico-desconsirutivo (Nictszche), fenomenolégico (Husserl, Scheler),
anéilise da linguagem (Moore, Stevenson, Ayer), neacontratualista (Rawls).
15. 0 termo “ameta-ética”
Meta-ética refere-se aos autores da andlise da linguagem. Ela é uma
metalinguagem ocupada em esclarecer os problemas tanto lingiifsticos como
epistemolégicos da ética. Ela tenta discemir a cientificidade, a suficiéncia, os caracteres
formais, a situagao epistemol6gica da ética
Tl. _ EM QUE CONSISTE A MORAL?
ILL Diversidade de concepcdes morais
F necessério distinguir entre a forma comum da moralidade (ética) os contedidos
das concepgées morais (moral), Assim é afirmada a universalidade da moral quanto a
forma, ao passo que os contetidos estdo sujeitos as variagdes de espaco e de tempo das
concepgdes morais. Trata-se de examinar critérios para distinguir nas diferentes
concepgdes quais s2o as que melhor encarnam a forma moral.
11.2. Diferentes maneiras de compreender a moral
Para a filosofia antiga ¢ medieval, centrada no ser, a moralidade era entendida como uma
dimensio do ser humano. A filosofia modema tem como referéncia nao mais o set, mas a
consciéncia e a moralidade € uma forma peculiar de consciéneia, No século XX com a
virada lingifstica, a moral comega a centrar-se na linguagem moral.
11.2.1 A moralidade como aquisi¢ao das virtudes que conduzem a felicidade.
Para a Grécia concebe-se @ moral como busca da felicidade ou como vida boa. Ser
‘moral é sinénimo de aplicar o intelecto para descobtir os meios oportunos para alcangar a
vida plena, feliz e globalmente satisfat6ria. Por isso € necessdria uma correta deliberaga0
ou seja um uso da racionalidade prudencial que discorre sobre os meios e estratégias que
conduzem ao fim para 0 qual todos tendem: méximo de felicidade. Arist6teles distingue
claramente entre racionalidade moral prudencial (aplicada para os meios adequados para
atingir 0 fim dltimo de todos) e racionalidade técnica calculista (aplicada para usar
‘meios em vista de fins pontuais), Entre os gregos houve divergéncias sobre 0 modo de
entender a felicidade: hedonistas defendiam a felicidade como prazer e os eudaimonistas,
a felicidade como auto-realizagao. Para os hedonistas a razio moral é calculista pois se
trata de calcular prazeres.
11.2.2. A moralidade do carter individual: uma capacidade para enfrentar a vida
sem “desmoralizagiio”
A felicidade como auto-realizagao recebeu destaque na obra de Ortega y Gasset ¢
‘Aranguren através da sua ética que insiste na formacio do caréter individual, de tal modo
que 0 desenvolvimento pessoal permita que cada um enfrente desafios da vida com um
estado de espirito forte e poderoso, Trata-se manter © moral alto, 0 contrétio de sentr-se
desmoralizado, Isso significa ter um projeto vital de auto-realizagao e uma boa dose de
auto-estima,
2.3. A moralidade do dever. A moral como cumprimento de deveres para com 0
que é fim em si mesmo.
Trata-se de sistemas morais que colocam o dever em um lugar central do discurso
Gtico. J4 0s estdicos colocavam a “ei natural” como centro da experiéncia moral
Moralidade consiste em ajustar a propria intengo ¢ conduta aos preceitos universais da
azo que a natureza a todos proporcionou. Kant segue esta linha superando a perspectiva
naturalista, porque a moralidade & justamente ir além das tendéncias da natureza. Nesse
sentido a moralidade € nao seguir a lei do prego que troca algo pelo valor cortespondente.
‘Os humanos so seres situados para além da lei do prego. Se o ser humano & aquele que
tem dignidade e nio prego, isso se deve ao fato de ser capaz de se subtrair a ordem
natural, de auto-legislar, de ser autGnomo. Isso significa que a maior grandeza do ser
humano reside em agir segundo a lei que ele se impde a si mesmo. A moralidade tem 0
seu foco na autonomia que significa dignidade, isto, fim em si mesmo.
1.24. A moralidade como aptidao para a solugao pacifica dos conflitos.
Nos paises democriticos abre-se a perspectiva de pensar a moral no Ambito social.
Por isso, a moralidade é um problema que pertence mais a filosofia politica. Nao faltam
indicios para essa perspectiva a partir do conceito de “reino de fins” de Kant ¢ de
‘vontade geral” em Rousseau, M. Mead propde a categotia de “reconhecimento
recfproco” como central para a compreensio da moralidade e como base para a solugio
dos conflitos na sociedade. Todas essas propostas esto unidas a virada lingiifstica que iré
determinar a concepeao de moralidade a partir da linguagem que é sinal da
intersubjetividade. Assim a moralidade esté situada na soluga0 dos conflitos de aio
através do didlogo.
11.2.5 A moralidade como pratica solidaria das virtudes comunitarias,
‘Trata-se da proposta comunitarista que se opde As propostas individualistas do
liberalismo. Ela compreende que um ser humano s6 chega a amadurecer enquanto tal,
quando se identifica com uma comunidade concreta, porque sé pode adquirit sua
personalidade pelo pertencimento a ela e s6 desenvolve as virtudes que a comunidade
exige, virtudes que constituam a visio que a comunidade tem em relagao as exceléncias
humanas. O positivo desta proposta é que ela insiste que toda pessoa precisa de uma
comunidade concreta para desenvolver-se; que a comunidade & a detentora das
concepgées de virtudes ¢ normas que configuram as pessoas, por fim necessério que
elas deitem raizes neste himus das tradigdes morais. © problema desta visio € a sua
petspectiva particularista, quando precisamos dar conta de uma solidariedade
universalista, Precisamos remeter-nos a uma moralidade da comunidade universal
11.2.6. A moralidade como cumprimento de principios universais.
Essa concepgio refere-se a teoria do desenvolvimento moral de L. Kohlberg que
concebe 0 amadurecimento moral como progresso de um nfvel convencional, para 0 qual
‘moralidade ¢ identificar-se com as normas concretas da comunidade, para um nivel pés-
convencional, no qual a pessoa é capaz de distinguir entre normas comunitarias
cestabelecidas convencionalmente ¢ principios universais de justiga.
113, Contraste entre mbito moral ¢ outros Ambitos.
A dimensao normativa da ética ¢ a prescritiva das morais concretas leva a certa
confuso entre normas morais e normas de outros ambitos da ago humana
113.1. Moral e direito
direito refere-se a um cédigo de normas destinadas a orientar as agdes dos
cidadaos, que emana das autoridades politicas e conta com o respaldo coativo da forga
fisiea do Estado para fazer com que sejam cumpridas. Estas normas estabelecem 0
Ambito da legalidade.
Existem algumas semelhangas entre as normas da legalidade e da moralidade: a)
aspecto prescritivo; b) referéncia a atos voluntétios; c) o conteido em ambos os tipos de
prescrigdes pode ser o mesmo.
‘Mas, por outro lado, existem diferengas: a) normas morais conotam uma
obrigagio interna ¢ as juridicas impdem obrigagdes extemas; b) as normas morais sio a
instincia ttima de obrigagdo para a consciéncia pessoal ¢ os comandos legais sio
ptomulgados por organismos legislativos do Estado; c) as ptescrigdes morais exibem um
cardter universalizavel, isto 6, elas tém uma pretensao de universalidade que os preceitos
juridicos nao possuem, pois afetam, pela organizagao juridica, o territério de um Estado
determinado.
113.2. Morale religiao
‘Um cédigo de normas pode ser religioso (prescrigdes fundadas na divindade ou
no magistério hicrérquico das autoridades religiosas) ou moral (normas fundadas na
consciéncia ¢ exigiveis de todas as pessoas enquanto tais © no enquanto pertencendo a
tal comunidade religiosa), A moral comum exigivel de todos (crentes de diferentes ctedos
€ nao crentes) nao pode ser uma moral confessional nem tampouco belicosamente laica,
isto 6, oposta & livre existéncia dos tipos de moral de expressio religiosa. Ela precisa ser
simplesmente laica, isto é, independente das crencas religiosas, mas nio oposta a elas.
Trata-se da moral civica dos principios comumente partilhados, tipica da sociedade
pluratista, que permite a convivéncia de diferentes concepgGes morais de
abrangente.
1.3.3 Moral e normas de convivéncia social
Existem normas meramente sociais identificadas com costumes que apresentam uma
obrigatoriedade externa ¢ normas propriamente morais que obrigam em consciéncia, O
tribunal das normas morais é a propria conscigncia ¢ as agdes contra as regras de
convivéncia social sio julgadas pela sociedade circundante através da reprovagdo grupal.
113.4. Moral e normas de tipo técnico
fim da técnica € a produgao de bens tteis e belos ¢ o fim da moral é a agao boa
por si mesma. Uma coisa € agir eficazmente ¢ outra agit moralmente bem, Notmas
técnicas tém por meta gerar bens particulares e as morais apontam para a consecugao do
maior bem prético possivel para 0 ser humano. Prescrigées técnicas tomam as pessoas
habeis no manejo de meios (ferramentas, utensilios, procedimentos) para alcancar fins
particulares, normas morais orientam meios (agGes) que so fins em vista de um fim
‘timo € supremo. Presctigdes técnicas s4o imperatives hipotéticos, porque sua execucao
esté condicionada “se vocé quer x tem que fazer y". As normas morais s2o imperativos
categéricos tendo como tinica condigao que, no fundo, ndo € condigo porque significa
negar-se como ser humano: “se vocé quer se comportar como um ser verdadeiramente
racional, entio deve.
I, BREVE HISTORIA DA ETICA
ILLA ins éti
iversidade de t
Os diferentes sistemas ou doutrinas morais oferecem uma orientagdo imediata &
concreta para a vida moral das pessoas. As teorias éticas nao pretendem responder &
pergunta “o que devemos fazer?” ou “de que modo deveria organizar-se a sociedade",
mas refletem sobre “por que existe moral?” “quais motivos justificam 0 uso de
determinada concepgao moral para orientar a vida?”. As teorias éticas querem dar
conta do fendmeno moral. Existem diferentes leituras do fendmeno moral,
2.8
ica das era do ser
IIL.2.1. Sécrates: a exceléncia humana se revela pela atitude de busca da verdade
Isso significa abandonar_atitudes dogmiéticas ¢ céticas e assumir a atitude critica que
86 se deixa convencer pelo melhor argumento, A verdade habita no fundo de nés
mesmos ¢ podemos atingi-la pela introspeccio e 0 didlogo. Embora a verdade
encontrada pelo método maiéutico (parto de idéias) é sempre proviséria, ela é um
achado que ultrapassa simplesmente as fronteiras da comunidade que se vive
Socrates professa o intelectualismo moral, pois quem conhece 0 bem sente-se
impelido a agir bem e quem age mal porque é um ignorante.
11.2.2. Platao: propée uma utopia moral no livro A Repiiblica, O Estado perfeito &
constituido por diversos estamentos com fungées determinadas: a) os governantes tem
a fungdo de administrar, vigiar ¢ organizar a cidade; b) os guardifes ¢ os defensores
militares), de defender a cidade; c) os produtores (camponeses, artesios),
desenvolver as atividades econdmicas. Cada estamento tem uma virtude especifica: a)
os governantes realizam sua tarefa pela prudéncia e sabedoria; b) os guardies pela
fortaleza ou coragem; c) os produtores, pela modera¢io ou temperanca. Estes trés
estamentos correspondem as trés espécies ou dimensdes da alma: a) a racional que é 0
elemento superior ¢ excelso dotada de autonomia e de vida propria, caracterizando-se
pela capacidade de raciocinar; b) alma irascivel que é a sede da decisao ¢ da coragem
nos quais predomina a vontade, fundamentando-se na forga interior colocada em agao
quando existe conflito entre os instintos ¢ a razao; ¢) apetite ou parte concupiscivel
que corresponde aos desejos e as paixdes. A virtude correspondente da alma racional
€ a prudéncia e a sabedoria; da alma irascivel é a fortaleza e o valor, da parte
concupiscivel do apetite, a virtude da moderacio. A virtude da justiga harmoniza as
diferentes virtudes tanto na cidade quanto na alma,
11.2.3. Aristateles: F 0 primeiro fil6sofo a elaborar tratados sistemdticos de ética
como a Etica a Nicémaco. Ele se pergunta “Qual é o fim wltimo de todas as
atividades humanas?” Este fim nao pode ser outro que a eudaimonia (felicidade como
auto-tealizagao), a vida boa ¢ feliz. A partir daf investiga o que é a felicidade. a) Ela
deve ser um bem perfeito que se busca por si mesmo € nao com meio para outra
coisa; b) o fim tiltimo deve ser auto-suficiente, desejével por si mesmo © que
possuindo-o nao deseje outra coisa; c) deve consistir em alguma atividade peculiar de
cumho excelente.
Qual é essa atividade? A felicidade perfeita para o ser humano reside no exercicio da
inteligéncia teérica, isto é, a contemplagao € compreensio dos conhecimentos. Mas
esse nao € nico caminho, pois também se pode ter acesso a felicidade pelo exercicio
do entendimento prético que consiste em dominar as paixdes e conseguir uma relagao
amavel ¢ satisfatéria com o mundo natural ¢ social. Nesta tarefa, o ser humano tem a
ajuda das virtudes capitaneadas pela prudéncia (sabedoria pratica) que permite obter 0
equilfbrio entre o excesso ¢ a falta ¢ é a guia de todas outras virtudes. Por exemplo, a
virtude da coragem € 0 equilfbrio entre a covardia ¢ a temeridade, Mas uma pessoa
virtuosa precisa viver numa sociedade regida por boas leis, porque o logos nao s6 nos
capacita para a vida intelectual teérica ¢ a vida pessoal pritica, mas também para a
vida social, pois a ética nao pode desvincular-se da politica
I1.24, Eticas do perfodo helenista: Destruida a confianga na polis, 0 sébio sera
aquele que vive de acordo com a natureza, Mas epicuristas e estdicos divergem
quanto maneira de entender o conceito de natureza e, por isso, também nao esto de
acordo sobre o ideal do ser humano sabio.
Epicurismo é uma ética hedonista, isto é uma explicagio da moral como busca de
felicidade entendida como prazer, como satisfagio de cardter sensivel. Essa escola foi
fundada por Epicuro de Samos (341-270 A.C), Para ele, 0 sabio € aquele que for
capaz de calcular corretamente quais atividades proporcionam maior prazer e menor
sofrimento, Trata-se de calcular a intensidade ¢ a duragao dos prazeres. Portanto as
duas condig6es para saber ser sabio e feliz so prazer € 0 entendimento reflexivo
para ponderat estes prazetes.
Estoicismo agrupa um grupo de autores gregos e romanos. Zendo de Citio é 0
fundador, mas teve como protagonistas a Posidénio, Séneca, Epicteto e o imperador
romano Marco Aurélio. Eles indagaram pela ordem do universo como orientagio para
© comportamento humano. Para eles deve existir uma razao primeira, comum, que é,
ao mesmo tempo, a lei do universo. A razdo césmica € a lei universal a qual tudo esta
submetido, Esta razao césmica € o logos providente que cuida de tudo, Sabio € aquele
que vive segundo esta lei universal do cosmo. Esta atitude cria liberdade interior
quanto aquilo que depende de nés ¢ imperturbalidade quanto a0 exterior que nio
depende de nés, mas segue uma lei universal previdente,
1125. As Fticas medievais: Os conteddos da moral antiga serio reelaborados tendo
como referéncia a matriz judaico-crista.
Agostinho de Tagaste: Para cle, os fildsofos gregos estavam certos ao afirmar que a
moral deve ajudar a conseguir uma vida feliz, mas eles nfo souberam encontrar a
chave da felicidade humana que se encontta no encontro amoroso com Deus Pai. A
felicidade nao esté em conhecer como pensavam os gregos, mas em amar, em
desfrutar de uma relago amorosa com quem nos criou como seres livres. A moral &
necesséria, porque precisamos encontrar o caminho de volta para a Cidade de Deus
dda qual nos extraviamos por ceder as tentagdes egoistas. Para nos libertar do pecado,
Deus nos enviow uma ajuda decisiva, a sabedoria encarnada que é 0 proprio Jesus
Cristo que, pelos seus ensinamentos e pela sua graga, nos reconduz de volta a Cidade
de Deus.
‘Tomés de Aquino: Ele tenta conciliar as principais contribuigdes de Arist6teles com
a revelagdo judaico-crista contida na Biblia. Da prosseguimento as éticas
eudaimonistas numa perspectiva teoldgica, Para Tomés, a felicidade perfeita est em
contemplar a verdade que se identifica com o proprio Deus. Esta verdade divina
identifica-se com a lei eterna que rege providencialmente o universo e se expressa nos
contetidos da lei natural. Esta lei contém o primeito principio imperative: “Faze 0
bem e evite 0 mal”. Mas em que consiste o bem ¢ o mal? Em primeiro lugar nos
ditames da Recta ratio, porque ela é a propria lei natural no ser humano. Em segundo
lugar identifica-se com as inclinagdes naturais que a lei divina colocow na natureza
humana, A sindérese, uma espécie de consciéncia moral fundamental, é a intuigao ou
© hébito que contem os preceitos da lei natural, A aplicagao destes preceitos as
circunstincias concretas de cada ago particular acontece no juizo formulado pela
consciéncia situada. A aplicagao ndo pode ser mecénica, mas criativa ¢ razodvel.
Aqui entra o papel das virtudes, principalmente a virtude intelectual da prudéncia ¢ a
10
virtude teoldgica da caridade que s4o os habitos operativos do bem para encontrar a
agdo adequada & pessoa ¢ ao contexto.
eas da era da “conseiéncia”: A partir dos séculos XVI ¢ XVII a moral entra
numa nova etapa. A revolugio cientifica, as guerras de religiéo, a crise cultural fazem
centrar a moral na consciéncia,
© sentimento moral: Hume.
Ele compreende 2 raz30 ou 0 entendimento como uma faculdade exclusivamente
cognoscitiva, cujo Ambito termina onde deixa de existir a questo da verdade ou da
falsidade de juizos, os quais s6 podem ser referidos ao ambito da experiéncia sensivel. A
moralidade é alheia & experiéncia sensivel que diz respeito a fatos, enquanto que a moral
esti referida a sentimentos subjetivos de agrado ou desagrado.
0 papel da razio no terreno moral conceme unicamente a0 conhecimento do
dado, mas € totalmente insuficiente para produzir efeitos priticos. Hume delega as
fungées morais a outras faculdades menos importantes que a razao, as paixdes ¢ 0
sentimento. raziio ndo esté encarregada de estabelecer juizos morais. Para ele, as agdes
morais se produzem em vittude das paixdes orientadas pata atingir fins propostos nao
pela razio, mas pelo sentiment.
Nesse sentido, a bondade e a maldade das agdes dependem dos sentimentos de
agrado ou desagrado que provocam em nés. Por isso, o fundamento das normas ¢ dos
juizos morais é a utilidade ¢ a simpatia. Hume critica também quem quer extrair jutzos
morais de juizos ffcticos, concluindo um “deve” a partir de um “é”. Ele chama esta
atitude de faldcia naturalist
1IL.3.2 A ética formal de Kant.
Ele parte de uma distingao tipica em Aristételes: 0 Ambito teérico que trata do que
corte de fato no mundo ¢ o Ambito pritico que corresponde ao que ocorre por vontade
livre dos seres humanos. No ambito prético, ponto de partida é um fato de razio: os
seres humanos tém consciéncia de comandos que eles experimentam como
incondicionados, isto é como dever ou imperatives categéticos. Aqui existe uma virada
copernicana, pois o ponto de partida da ética nio € mais 0 bem que desejamos como
criaturas naturais (a felicidade), mas o dever que reconhecemos como criaturas racionais.
Isto significa que o dever nao é dedutivel do bem, mas o bem especifico da moral é 0
cumprimento do dever.
Os imperativos categéricos sio aqueles que mandam incondicionalmente, Esto a
servigo de um valor absoluto que so as pessoas, Dizem respeito & moral. Os imperativos
hipotéticos dependem de uma condigao: “se voeé quer x, entido fara y”. Os imperativos
categéricos sio uma experiéncia da vida cotidiana de convivéncia entre pessoas. A
missio da ética € descobrir as caracteristicas formais que (ais imperativos devem ter pa
que exista neles a forma da razao e, portanto, sejam normas morais.
Essas caracteristicas, expressas em maéximas, so as seguintes: a) universalidade
“Aja de tal maneira que o teu agir possa ser lei universal”, b) referit-se aos seres
humanos como fins em si mesmo: “Aja de tal maneira que voeé trate a humanidade
tanto em ti como em qualquer outro, sempre come um fim em si mesmo e nunca apenas
u
* c) valer para uma legislag%o universal em um reino de fins: “Aja por
‘mdximas de um membro legislador universal em um possivel reino dos fins
‘A chave para comandos morais auténticos & que possam ser pensados como se
fossem leis universalmente cumpridas sem que isso implique em nenhuma incoeréncia,
Em outras palavras, a0 obedecer a estes comandos se esti obedecendo a sua propria
consciéncia autGnoma. Essa liberdade como autonomia é a razo de reconhecer aos seres
humanos um valor absoluto. Esse € 0 sentido de os seres humanos nao terem prego, mas
dignidade, porque nao podem ser trocados por algo equivalente.
Assim a liberdade toma-se um postulado da razdo pratica, isto 6, um postulado
que nio procede da ciéncia, mas é compativel com o que ela nos ensina. Somos capazes
de decidir por nés mesmos, autonomamente, nao levados pelos instintos biol6gicos, as,
forgas sociais ¢ os condicionamentos. Cada pessoa tem 0 poder da soberania racional
sobre si mesmo. Por isso © proprio da moral € uma boa vontade, ou seja, a disposicao
permanente de conduzir a prépria vida obedecendo a imperativos categéricos € nao as
tendéncias da natureza,
Portanto o bem moral ndo reside na felicidade como defendiam as éticas
tradicionais, mas em conduzir-se com autonomia, construir corretamente a propria vida,
Mas o bem supremo nio se identifica simplesmente com o bem moral. Ele s6 pode ser
alcangado com a uniao entre o bem moral (possivel pela boa vontade autonoma) © a
felicidade que aspiramos por natureza, Mas a razio humana nao oferece nenhuma
garantia de que se possa alcangar este bem supremo. A tinica que pode fazer isso é a {6
religiosa. Assim a existéncia de Deus é um outro postulado da razio que ndo se pode
provar como também a imortalidade da alma como seu correlato.
113.3. A ética material dos valores: Scheler.
No inicio do século XX, Scheler opde-se a Kant na sua obra O formalismo na
ética e a ética material dos valores. Ele critica a existéncia de apenas duas faculdades: a
razio pela qual se atinge a universalidade © a incondicionalidade (a priori) © a
sensibilidade que capacita a conhecimentos particulares ¢ condicionados (a posteriori)
Scheler propde uma terceira faculdade que € a “intuigdo emocional” que tealiza atos nao
dependentes do pensamento racional nem da sensibilidade, mas que alcangam o estatuto
do conhecimento a priori, caracteristico do conhecimento moral. Scheler defende 0
abandono da identifica¢ao kantiana do a priori incondicional com a racionalidade ¢ do
‘material com a sensibilidade, Por isso conjuga a formalidade da ética com a materialidade
dos valores
a) Nao se pode perguntar o que sao os valores, porque eles ndo sdo, mas valem ou
pretendem valer. Dizer que nao so nao significa que sao ficgGes, mas que se identificam
com as maneiras de ser das coisas. b) Também nao é correto identificar os valores com 0
agradavel ou 0 desejavel, que sio realidades variéveis em sua intensidade, enquanto que
© valioso nao depende de oscilagdes, nem com o til, pois mesmo sendo eis, os valores
nio se esgotam na utilidade, pois eles sao um tipo. c) Os valores sto qualidades dotadas
de contetido, independentes tanto de nossos estados de espitito subjetivos como das
coisas, as quais so bens portadores de qualidade (valor) que o sujeito dotado de intuicao
emocional capta
12
Scheler afirma uma cincia pura dos valores (axiologia pura) que se custenta em
tués principios: 1) Todos os valores sio negativos ou positives; 2) Valor e dever estio
relacionados; 3) Nossa preferéncia por um valor ¢ ndo por outro verifica-se porque nossa
intuigo emocional (estimativa moral) capta os valores ja hierarquizados,
11.3.4. 0 utilitarismo.
Trata-se de uma versio renovada anglo-saxGnica do hedonismo elissico, mas com
‘uma perspectiva social. Procura conjugar a busea do prazer com os sentimentos sociais,
entre os quais, a simpatia que faz perceber que os outros também desejam alcangar 0
prazer. O objetivo da moral volta a ser a felicidade identificada com o maior prazer para
(© maior miimero de seres vivos. E necessério optar pela agdo que proporcione a maior
felicidade 20 maior niimero.
Quem primeiro formulou esse principio foi o jurista Cesare Beccaria, mas os
cléssicos do utilitatismo foram Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-
1876) e Henry Sigdwick (1838-1900). Bentham prope uma aritmética dos prazeres, pois
eles podem ser medidos e comparados. Mill rejeita essa idéia, dizendo que os prazeres
no so uma questio de quantidade, mas de qualidade, de modo que existem prazeres
superiores ¢ inferiotes, sendo preferiveis os prazeres intelectuais © morais. Mill
supervaloriza os sentimentos sociais como fonte de prazer
Nas ttimas décadas apareceu a distingao entre “utilitarismo do ato” que julga os
diferentes atos pelas conseqiiéncias previsiveis ¢ 0 “utilitarismo da norma” que defende
que € necessario ajustar as agGes As regras habituais que ja mostraram sua utilidade geral
pelas conseqtiéncias.
I1L.3.5 Eticas do movimento socialista.
No inicio do século XIX, Saint-Simon, Owen e Fourier, defensores do socialismo
utdpico, denunciaram as condigées de miséria da classe opersria, apelando a consciéncia
moral de todas as pessoas propondo reformas profundas na maneira de organizar a
economia, a politica ¢ a educagio. Para chegar a uma sociedade justa € préspera é
necessétio aproveitar os avangos da técnica e eliminar as desigualdades sociais. Insistem
em abolir ou ao menos restringir a propriedade privada dos meios de produgao, mas nao
aceitam a rebelio violenta, Reivindicam 0 didlogo social eo testemunho moral de
experiéncias justas ¢, sobretudo, a necessidade de uma educacdo justa.
Os socialistas libertérios (Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Abade de
Santillén) opuseram-se aos socialistas ut6picos, defendendo o anarquismo cuja tese
principal é a aboligZo do estado. E necessétio abolir todo tipo de opressio e explorago
cuja fonte € 0 estado, Defendem uma sociedade solidéria, autogestionada e federalista,
‘O marxismo quer superar tanto 0 socialismo ut6pico como 0 andrquico, propondo
uum socialismo cientifico (Materialismo dialético ¢ historico). Apesar de que Marx nio
quis propor uma ética, 0 seu legado principal € moral pela sua provocagao em pro! da
justiga, Marxismo prega um progresso moral dependente da superagio das contradigdes
sociais e a mudanga das condigdes histéricas. Identifica os interesses morais com os
interesses objetivos e sociais. As dificuldades do materialismo, professado pelo
marxismo, sio tanto 0 postulado da necessidade mecanicista da evolugdo histérica que
impede a liberdade como o modo de acesso & verdade moral pregado pelo materialismo
dialético.
TIL4 Eticas da era da linguagem
TIL4.1. A desconstrugo da moral: Nietzsche
Nietzsche faz um estudo histérico € psicolégico da moral, abordando, ao mesmo
tempo, uma critica da linguagem moral, tendo como base uma histéria dos conceitos
morais, Para ele, existem trés perfodos da histéria humana: pré-moral, moral ¢ extra
‘moral, dependendo de que as ages sio julgadas pelas consequéncias, pela procedéncia
{inteng0) ou pelo nao-intencionado. Para Nietzsche, 0 dltimo é o decisivo para avaliar as,
ages, significando uma auto-superacao da moral. Tendo presente essa intuicao, ele segue
(© método da suspeita em sua genealogia moral, relativizando © caréter absoluto dos
valores morais. Assim 0 moral nasce do imoral ou do extra-moral: a vontade poténcia.
Moral identifica-se com o imoral, 0 que promove a vontade poténcia dos
individuos. A moral européia e principalmente o cristianismo alimentaram o instinto de
rebanho, o ressentimento nos medjocres para que a vontade de poténcia nio triunfasse. O
cristianismo continuou a rebelido dos escravos, a vit6ria dos plebeus contra os nobres &
contra o dominio dos valores nobres. Com essa moral, o animal ¢ © instinto brutal que
existe no ser humano continua a atuar, pois, sentindo-se inibido em sua vontade poténcia,
vinga-se eriando a m4 consciéncia e a culpa
Nietzsche afasta-se de todas as propostas anteriores de moral a0 opor-se &
interpretagao teleol6gica (finalista) de toda atividade pritica do ser humano: a) Dissolve a
fendmeno da intencionalidade prética em proceso fisioldgico-quimico; b) Rejeita a fé na
liberdade da vontade, pois tudo provém dos instintos naturais; c) Nega qualquer
teleologia, pois nao somos donos de nossas ages ¢ por isso no podemos conferit-Ihe
fins.
Assim, a necessidade e o determinismo dominam 0 mundo ¢ a tinica saida 6 0
fatalismo: o destino no sentido da condicionalidade vital. Essa reflexao leva 20 nticleo do
pensamento nictzscheano: © eterno retorno do mesmo. Assim 0 eterno retomo toma-se
‘um prinefpio prético supremo. Nao é ficil entender o significado moral do eterno retorno
E necessério conjuga-lo com a vontade poténcia, Assim é preciso conjugar o fatalismo do
eterno retomo e a autonomia da vontade poténcia
‘Com a vontade poténcia existe uma reabilitagao da individualidade na construcao
da vida, significando autarquia, a coincidéncia entre o querer € o poder, entre o ter € 0 ser
que se identifica com a suprema auto-realizagio, Assim o vigor substitui a virtude. A
liberdade do individuo € colocada no centro e tem o direito de se afitmar diante de todas
as exigéncias morais,
‘A justiga consistird em dar a cada um, 0 que é seu, pondo cada coisa sob uma
nova luz. Esta justica da vontade poténcia supera a idéia de moral do dever, ou seja,
querer sobrepor-se & outra individualidade com uma pretensio universal. Justica é querer
realizar a individualidade de cada um e deixar cada um ser ele mesmo. Trata-se da justiga
absolutéria que reconhece cada individualidade sob nova luz. E 0 reconhecimento da
diferenga de cada um. Isso s6 6 possivel abolindo a moral do dever que se impde aos
outros como algo universal. Moral no é seguir normas por dever, mas reconhecer os
outros em seu ser individual. Entio comeca a verdade, Isso significa transformar a ética
14
em estética da vida. Nio existe uma fundamentagdo ética da vida, mas antes uma
jusificagdo estética da existéncia.
11.4.2. Emotivismo
Desde o final do século XIX, a linguagem toma-se principal centro de interesse
da filosofia ¢ da ética em especial. O primeiro pensador que faz eco dessa virada foi G. E.
Moore com a sua obra Principia Ethica (1903). Esclatece as questoes fundamentais da
Gtica, analisando a linguagem moral, principalmente © termo “bom”, gerador de muita
confuséo. O “bom” s6 pode ser apreendido por uma intui¢ao pois é uma nocio
indefinivel, nao sendo demonstravel.
‘A posigdo de Moore foi definida de intuicionista. Ela apresenta duas dificuldades: a) nao
explica o fato da argumentagdo moral que ocorre apesar do intuicionismo; b) nao explica
porque os termos morais impelem a agir. O emotivismo do século XX foi uma resposta a
essas dificuldades.
‘0 emotivismo de A. J. Ayer e Ch. L. Stevenson afirma que os enunciados morais
so enunciados aparentes, pois nao inserem nenbuma comprovagio, expressam apenas
aprovagio ou desaprovagio. Esses pseudo-enunciados tém uma dupla fungio: a)
expressam emogdes subjetivas ou sentimentos; b) influenciam os interlocutores com a
pretensio de que adotem a atitude aprovada, Portanto, nao pretendem descrever
ituagdes, mas provocar atitudes.
mm.
Prescritivismo
Iniciado por R. M. Hate com a sua obra A linguagem da moral (1952) afirma
contra 0 emotivismo que alguns termos morais tém validade universal, A linguagem
‘moral € uma linguagem valorativa para a qual interessa no tanto o que se consegue com
la, mas 0 que fazemos, quando a empregamos, dada a diferenga em relagdo 8 linguagem
da propaganda.
a) A primeira caracteristica da linguagem valorativa & que prescreve uma conduta
com base a razes originadas do assunto do qual trata, podendo ser expressa por meio da
linguagem descritiva, b) Essa conexao entre enunciados valorativos e desctitivos &
denominada de superveniéncia, dependendo do que os interlocutores consideram como
bom. c) Outra caracteristica dos enunciados morais é o fato de serem universalizdveis,
significando duas coisas: se algo é bom, entao tudo que tem as mesmas caracteristicas
também deve set bom; a razao que justifica que algo é bom, justifica também a obrigagio
para todas pessoas nas mesmas circunstancias. Isso leva ao prinefpio da imparcialidade
de todo juizo moral que se identifica com a objetividade.
mm.
0 formalismo dialégico: as éticas procedimentais
John Rawls: a justiga como imparcialidade.
No livro Uma teoria da justica (1970), Rawls propde uma definigao dos
princfpios morais basicos da justiga como se fssem o produto de um hipotético acordo
tundnime entre pessoas iguais ¢ racionais que se achassem numa situagio especial,
chamada por ele, de posigao original, na qual poriam entre paréntese os seus interesses
particulates, tendo toda informagao geral necesséria para adotar principios de justica
1s
adequados & convivéncia social atual. Assim se chegaria a convicgies basicas que todos
compartilham. Tais conviegdes configuram o “senso comum” em questdes morais,
Na escolha destes principios bésicos de justica possibilitados pela posiga0
original, Rawls propée que imaginemos pessoas afetadas por um véu de ignorncia que
as impede de conhecer as suas préprias caracteristicas naturais ¢ sociais, isto é
descomhecem 0s tragos fisicos, psicol6gicos ¢ sociais, as crencas ¢ projeto de vida que
terdo. Além disso, nio sto capazes de dominar ou coibir uns aos outros ¢ detém amplos
conhecimentos getais necessérios.
Nessa situagao ideal e originétia, eles adotariam os seguintes prineipios: 1) Toda
pessoa tem direito a um esquema plenamente adequado de liberdades iguais compativel
com um esquema similar de liberdade para os outros (principio de liberdades iguais); 2)
As inevitaveis desigualdades econdmicas e sociais tém que satisfazer duas condigdes para
serem aceitas: a) elas devem estar associadas a cargos ¢ posigGes abertas a todos em
condigdes de eqtitativa igualdade de oportunidades (principio de justa igualdade de
‘oportunidades), b) devem obter o maximo beneficio aos membros menos privilegiados
(principio de diferenga)
A ética do discurso: Habermas e Appel
Nascida na década de 70, ela pretende encamat na sociedade os valores da
liberdade, da justiga e da solidariedade por meio do diélogo como tinico procedimento
capar. de respeitar tanto a individualidade das pessoas como a sua dimensio solidéria,
Nao qualquer dislogo ajudaré a distinguir o socialmente vigente ¢ 0 moralmente vilido.
Por isso a ética do discurso tentaré mostrar como funciona o procedimento dialégico.
‘A Etica do discurso contempla duas partes: fundamentago do principio ético ¢ a
@tica aplicada
Kant assume como ponto de partida 0 fato racional da consciéncia do dever, a
Atica discursiva procura descobrir os pressupostos que tornam racional a argumentagao.
Qualquer pessoa que queira argumentar seriamente sobre normas morais deve pressupor:
) que todos os seres capazes de se comunicar sio interlocutores vilidos, ou seja,
pessoas ¢, portanto, quando se discutem normas que as afetam, seus interesses devem ser
Ievados em consideragao; (2) que nem todo didlogo permite descobrir qual norma &
correta, mas s6 aquele que respeita certas regras que definem as condigdes de simetria
entre os interlocutores; (3) que, para comprovar se uma norma é correla, € preciso aler-se
a dois prinefpios: a) 0 principio de universalizagdo: quando todos os afetados pela norma
possam aceitar as conseqiléncias € os efeitos dela; b) principio da ética do discurso: s6
podem ter validade as notmas aceitas por todas todos os afetados como participantes de
tum discurso pratico,
Portanto, a meta da negociagdo € © pacto dos interesses particulares
(racionalidade instrumental); a meta do didlogo € a satisfagio de interesses
universalizéveis (racionalidade comunicativa). A ética do discurso esta fundada na
racionalidade comunicativa
Esta fundamentagao € o discurso ideal que serve de idéia reguladora, ow seja,
meta para os didlogos reais e um critério para criticé-los, quando nao se ajustam a esse
ideal. Por isso, urge, na esfera da vida social, a idéia de que todos sao interlocutores
validos, levados em conta para que possam patticipar do didlogo em condigées de
16
simettia, sendo que as decisdes vilidas néo so aquelas fruto da maioria numérica, mas as
que todos podem se reconhecer.
111.45. Comunitarismo.
Difundiu-se no mundo anglo-saxio, desde a década de 80, como uma reagio as
conseqtiéncias individualistas da ética do liberalismo. Os autores mais importantes so A.
Macintyre, Ch. Taylor, M. Sandel, M, Walzer, B. Barber. Eles tém as suas diferengas,
‘mas se unem nas criticas ao individualismo contemporaneo e na insisténcia nos vinculos
comunitérios como fonte de identidade pessoal.
© comunitarismo € uma réplica aos efeitos indesejéveis do liberalismo:
individualismo nao-solidério, desapego afetivo, desvalorizagao dos lagos inter-pessoais,
petda identidade cultural, Muitas dessas criticas dos comunitaristas foram aceitas pelo
liberalismo. Um exemplo é 0 caso da teoria da justiga de Rawls. Segundo Walzer, os
comunitaristas apresentam dois principais argumentos contra o liberalismo: 1) consagra
um modelo associal de sociedade, pois compreende a sociedade como um ajuntamento de
individuos radicalmente isolados, egoistas racionais ¢ divididos em direitos inaliendveis;
2) a teoria liberal desfigura a vida real, pois 0 mundo nao € assim como pregam os
liberais, individuos desvinculados. de qualquer lago social, literalmente sem
compromissos.
primeiro argumento é consistente, a0 menos, nas sociedades ocidentais, onde os
individuos se separam sempre mais pela mobilidade geogréfica, social, matrimonial ¢
politica. © liberalismo seria um respaldo deste fato sociocultural da mobilidade. O
segundo também é verdadeiro, porque certos vinculos permanecem apesar da mobilidade,
Mas o comunitarismo esquece que a tradigao liberal utiliza o vocabulério dos direitos
individuais como uma reagio a opressio do social.
Nesse sentido, para Walzer, o liberalism é uma doutrina auto-subversiva, por
engendrar conseqiiéncias negativas, exigindo periodicamente a corregdo comunitarista,
Nenhum dos dois modelos tem atrativo por si mesmo, Um serve de corretive ao outro.
Por isso, € necessétio evitar extremismos: (1) certas verses do liberalismo apresentam
tum individu sem compromissos com a communidade como se fosse possivel uma
identidade pessoal sem lagos comunitirios; (2) 0 outro extremo sio certos tipos de
coletivismos veiculados a) ou por posigdes etnocéntricas que absolutizam uma
comunidade cultural particular b) ou por posigies coletivistas que consagram
determinada visio excludente do mundo social e politico.
IV. AS CLASSIFICACOES ETICAS
IV.1. ClassificagGes éticas como estruturas Iégicas da agio moral
‘A vatiedade de enfoques na ética tem sua origem na diversidade dos métodos
filoséficos empregados para entender 0 fendmeno moral ou pela contraposigao a teorias
Gticas anteriores. Desses confrontos surgem varias classificagdes. Respondem a diversos
modos légicos de entender 0 moral, destacando mais um aspecto do fendmeno moral. Por
7
isso, cada uma delas, corresponde a uma vertente do fendmeno total da moralidade. As
classificagdes ajudam a se aproximar da logica da ago moral.
IV.2. Descrigao ou prescri¢ao como fundamento classificatério.
Durante algumas décadas csteve difundida a classificagdo entre éticas
normativas ¢ descritivas. Alguns filésofos morais descrevem como as pessoas se
comportam de fato em relagio a assuntos morais, outros apontam para © modo como as
pessoas devem comportar-se. O primeiro considera a moral como um fendmeno a ser
descrito e explicado e 0 segundo como um conteddo a ser recomendado. Hoje essa
distingdo 6 criticada, porque a dimensdo normativa faz. essencialmente parte da moral,
embora diferentemente sob o ponto de vista cotidiano imediato ou sobre a perspectiva da
filosofia moral que explica ¢ fundamenta o fenémeno moral.
IV.3. Eticas naturalistas e ndo-naturalistas
Esta lassificagao foi proposta por Moore com o objetivo de mostrar que a moral
nio se identifica com fendmenos naturais que afetam a vida humana, Daf que éticas que
reduzem a moral ao prazeroso ou a busca da felicidade seriam naturalistas, enquanto que
aquelas que concebem a moral como um Ambito auténomo, irredutfvel a outros
fendmenos, seriam éticas nao naturalistas,
IV.4. Fticas cognitivistas ¢ nao-cognitivistas
Diz respeito & possibilidade de cnunciados morais suscetiveis de verdade ou
falsidade. Assim as primeiras consideram a moral como mais um Ambito do
conhecimento cujos enunciados podem ser vetdadeiros ou falsos. As nio-cognitivistas
negam que se possa falar de verdade ow falsidade com respeito & moral, concebendo-a
como algo alheio ao conhecimento, Hoje 0 cognitivismo moral aparece sob outra forma
em que a questio nao é a verdade ou falsidade de enunciados morais, mas a possibilidade
de argumentar racionalmente para chegar a normas morais. A questo nao é légica, mas,
dial6gica. Este € 0 caso da ética do discurso.
Eticas de motivos e éticas de fins
‘Ambas encaram a natureza humana como uma pauta para a conduta, mas chegam
a cla por caminhos diferentes. A ética de motivos realiza a investigago empitica das
causas das agdes. Pretende ver quais motivos efetivamente determinam a conduta
hhumana, © bem ou o fim moral responde a aspiragoes afetivas. Desta vertente € 0
epicurismo ¢ o utilitarismo. © problema desta ética € 0 subjetivismo dos motives como
fundamentacéo da moral. A ética dos fins supera este problema, investigando nao tanto 0
que motiva, mas em que consiste o aperfeigoamento ¢ a plenitude humana, porque nisto
reside o bem do ser humano. Assim 0 acesso & natureza nao € empirico, como 6 0 caso da
primeira, mas tentara chegar & esséncia do ser humano, Nesta linha estao os gregos € 05
medievais, © positive € a sua objetividade, mas o problema sio as diferentes
interpretagoes da esséncia humana
Ws
IV.6. Bticas de bens e de fins
[As éticas de bens consideram que o bem moral consiste na realizagio de um fim
subjetivo, isto & na obtencio de um bem desejado. Algumas priorizam 0 conjunto dos
18
bens sensiveis, outras fazem uma selegio. As éticas de fins defendem que 0 bem moral
reside no cumprimento de um fim objetivo independente do desejo do sujeito, Este fim
pode ser 0 aperfeigoamento do individuo ou da sociedade.
Eticas materiais e éticas formais
A classificagdo procede de Kant. As éticas materiais afirmam que 0 critério de
moralidade para avaliar ages, so 0s enunciados com conteddo, pois existem bens e
valores moralmente determinados. Aqui o fundamento da moral € definido pela
ontologia, teologia, sociologia ou psicologia empitica, mas nao a partir da propria
moralidade. A fundamentagio proposta por Kant foi uma revolugdo em relagao a esse
modo de fundar a moral, pois aposta na autonomia ¢ nio na heteronomia,
As éticas formais dizem que o bem moral nao depende de um contetdo, mas da
forma de alguns comandos. Normas que assumem determinada forma sao validas, porque
assumem a forma da razio. Essa forma evidencia-se quando se adota a perspectiva da
igualdade (em um mundo de pessoas empiricamente desiguais) € da universalidade (em
um mundo com individuos, dotadas de preferéncias subjetivas). A vontade que adota
essas perspectivas atua autonomamente, racionalmente ¢ humanamente, pois cria um
‘mundo humano (moral, juridico, politico, religioso) em meio a um mundo empirico. Ela é
abase da moralidade.
IV.8. fticas substancialistas e procedimentalistas
As éticas procedimentais (Habermas, Appel, Kohlberg) seguem o formalismo
de Kant, substituindo alguns elementos criticéveis, Defendem que a ética nao tem como
tarefa recomendar contetidos morais concretos, mas apenas descobrir procedimentos que
possam legitimar ou deslegitimar normas procedentes da vida cotidiana. O procedimento
basico é a racionalidade prética no sentido Kkantiano, isto é, 0 ponto de vista de uma
vontade racional universalizével. O que a razio propde como obrigatério ndo pode
identificar-se com o que de fato se deseja ou o que subjetivamente convém, mas o que
qualquer pessoa desejaria adotar na perspectiva da igualdade e da universalidade, porque
este é 0 ponto de vista moral
‘Uma limitagao do formalismo kantiano era a concepsio monolégica da razio. Os
procedimentalistas propdem uma visio dialégica da razdo. Isso aparece na ética de
Rawls, na ética do discurso ¢ na teoria de Kohlberg,
As éticas substancialistas afirmam que € impossivel falar de normas sem ter como
pano de fundo uma concepeao partilhada do que é uma vida moralmente boa. Para eles, a
principal questo, no Ambito da moral, no s4o as normas morais justas, mas os fins, os
bens, as virtudes comunitariamente vividos num contexto vital concreto. Eles criticam os
procedimentalistas por no serem capazes de criar lagos de coesao social ¢ de terem uma
visio abstrata € vazia.
IV.9. Eticas teleolégicas e deontolégicas
‘Alguns distinguem entre éticas que prestam atengio as conseqiiéncias
identificadas com as teleol6gicas (teleos designa em grego o fim), ¢ éticas que nao as
levam em consideragio, pois estio centradas no dever, sendo denominadas de
19
deontolégicas (dedn em grego é dever). Mas essa distingio ndo ¢ mais ttl, porque
nenhuma teoria ética hoje desconsidera as consequéncias.
Seguindo Frankena, Rawls propée outra definigao mais adequada. Fricas
teleol6gicas ocupam-se em discemnir © que 0 bem nao moral antes de determinar 0
dever, considerando moralmente boa a maximizagio do bem nio moral. Eticas
deontolégicas definem 0 ambito do dever antes de se ocupar do bem, s6 considerando
bom o que é adequado ao dever.
IV.10. Eticas da intengao ¢ éticas da responsabilidade
A distingZo foi introduzida por Max Weber no seu trabalho sobre a
Politica como vocagao. Para 0 politico apresentam-se duas atitudes possiveis: seguir a
4tica absoluta incondicionada ou a ética da responsabilidade. Para a primeira, importam a
convicgio interna, a pureza de intengio, a corre¢do da religifo. A segunda, ao contritio,
atende aos efeitos das agdes pelos quais assume a responsabilidade.
0 eticista da convicgao ou da intengao fundamenta a sua ag40 na convicgao do
racionalismo césmico-ético. O eticista da responsabilidade se apdia na justificagao dos
meios pelo fim. O principal defeito da ética da intengio é 0 mal nio desejado como
conseqiiéncia da agio bem intencionada, enquanto que o da ética da responsabilidade é 0
mal aceito como meio para o fim, Weber propde que as duas devem complementar-se.
TV.11 Eticas de maximos e éticas de minimos
‘Muitos autores propdem a distingdo entre 0 justo ¢ 0 bom dentro do fendmeno
global da moralidade. Os dois se complementam, pois nao posso definir 0 justo sem ter
alguma idéia de vida boa, nem posso esbogar um ideal de felicidade sem considerar os
elementos da justiga, Apesar disso € importante distingui-los, porque justo € aquilo que é
exigivel de todos, tendo presente interesses universalizveis. A justiga refere-se a0 que é
exigivel no fendmeno moral, além de ser exigivel para qualquer ser racional que queira
pensar moralmente. Portanto justo é aquilo que satisfaz os interesses universalizveis,
atingidos por um dilogo entre todos os afetados em condigdes de simetria
‘Ao contritio, quando falamos que algo é bom ou que proporciona felicidade néo
podemos exigit que qualquer ser racional o considere como bom, porque essa é uma
‘opeao subjetiva, Por isso ganha espago hoje a distingao entre éticas de minimos (éticas da
justiga) ¢ éticas de méximos (éticas de felicidade). As primeiras ocupam-se da dimensio
universalizavel do fendmeno moral, isto é, daqueles deveres exigiveis de qualquer ser
racional, identificadas com as exigéncias minimas. As éticas de felicidade oferecem
ideais de vida boa, possiveis de hierarquizagao, para atingir a maior felicidade, Trata-se
de éticas de méximos que aconselham modelos morais que dependem de uma opgi0
subjetiva, ndo sendo exigiveis para qualquer ser racional. Nesse campo existe um
pluralismo axiolégico de modelos (axios = valor).
V. ARGUMENTAGAO MORAL E FUNDAMENTACAO ETICA
v.1. A linguagem moral
(Os juizos morais empregam a linguagem emocional, a linguagem religiosa ou a
linguagem factual das ciéncias empiticas. Expressées morais constituem um discurso
20
especifico diferente de qualquer outro? Como diferenciar 0 discurso moral dos outros
discursos? Essa preocupagdo é fruto da virada lingUistica que acontece na filosofia ©
atingiu também a moral, © ponto de partida da reflexao filoséfica nao € mais o ser nem a
consciéncia, mas o fato lingifstico
V.1.1. As trés dimensoes das expressies lingitisticas.
1) Dimensdo sintatica: tefere-se & relagio entre uma expresso ¢ as outras
expressées num mesmo sistema linglistico, Trata-se das regras sintéticas que
estabelecem como uma expressio deve ser construida para que seja aceitével numa
determinada lingua ou c6digo lingitistico. A construgio sintética correta é uma condicio
indispensdvel para uma comunicagao fluida entre falantes. Para que uma expressio tenha
valor intersubjetivo deve respeitar regras sintiticas.
2) Dimensao seméntica: evidencia que em toda linguagem natural se estabelecem
certas telagdes entre os signos (palavras) ¢ 0s significados a que se referem esses signos.
Estes significados funcionam como regras para a construgao de frases com sentido. Por
exemplo, a frase: “Este roubo amarelo chove” é sintaticamente correta, mas
semanticamente inadequada. A observincia das regras seménticas é necesséria para a
comunicagio efetiva
3) Dimensdo pragmética: refere-se & relagdo entre expressoes lingiiisticas ¢ os
seus usudrios, Uma mesma expressio pode ser usada com sentidos diversos dependendo
da entonagio do falante, do contexto ou da situago em que € emitida ou segundo o papel
social de quem a emite. Por exemplo, a expressio “Aqui se vai rachar lenha” pode ter
varios significados dependendo da entonacio, do contexto, etc. A partir deste ponto de
vista pode-se falar de regras pragméticas que regem o significado das expressdes
dependendo do contexto em que sio emitidas. Isso significa que nao se pode ter 0
significado de uma expressao, enquanto nao se dispde da informagao sobre a dimensao
pragmatica de tal expresso.
V.1.2. Os enunciados morais como prescrigées.
A anélise Iégica da linguagem moral permite esbogar algumas caracteristicas
ptprias do discurso moral, Trata-se de presctigdes que servem de guia para a conduta;
referem-se a atos livres e, portanto, responsdveis e imputaveis como as prescrigdes
juridicas; so uma instancia tiltima da conduta como a religiio; em contraposicao aos
imperativos dogméticos, as prescrigdes morais devem apresentar um cardter de
razoabilidade, isto é, devem incluir as razSes do seu comando. Por isso, as prescrigdes
morais tém as seguintes caracteristicas: a) auto-obrigagao; b) universabilidade dos juszos
‘morais; c) caréter de incondicionalidade; d) proibigao de deduzir enunciados prescritivos
‘a partir de emunciados factuais.
V.2. Estratégias de argumentacao mor:
Umma das caracterfsticas do fenémeno moral é a argumentagao para justificar ou
ctiticar atitudes, agdes ou juizos morais, tanto préprios quanto alheios. Argumentar &
expor as razes pertinentes para corroborar ou desqualificar uma atitude, uma ago ou um.
juizo.
Annemarie Pieper distinguiu seis tipos de estratégias argumentativas destinadas a
mostrar boas razes'
a
1) Referéncia a um fate: acontece, quando se diz. que se ajudou alguém, porque €
nosso amigo. Mas, neste caso o fato refere-se a uma norma que diz. que se
deve ajudar os amigos. A alusdo a fatos s6 pode ser considerada um
argumento valido se esta subjacente uma norma correta, Para que uma norma
seja correta algumas condigdes so exigidas dependendo da teoria ética: estar
de acordo com a pritica de uma virtude (Aristotelismo); promover maior bem
para o maior néimero (utilitarismo); defender interesses universalizéveis
‘kantismo).
2) Referéncia a sentimentos: justifica-se uma atitude, ago ou jutzo mediante 0
recurso aos préprios sentimentos ou aos do interlocutor. Ele é totalmente
insuficiente, porque apenas explica as causas psicolégicas, mas nio é
suficiente para justificar uma ago como moralmente correta. Mais uma vez. €
preciso recorrer & andlise de uma norma dada nesta situagao, que esta por tras
do sentimento, O sentimento surge, porque a consciéncia se remete a uma
norma.
3) Referéneia a possiveis consegiiéncias: Para a ética uiilitarista é 0 nico
critério relevante e definitivo. Mas a teoria ética utiitarista nao esté restrita a0
puro ato, engloba igualmente o “utilitarismo da regra”, defendendo que o
cumprimento de normas historicamente comprovadas ¢ eficazes para produzit
beneficios também deve ser levado em consideragao como conseqtiéncia.
Hoje nenhuma teoria ética pode desconsiderar as conseqiiéncias a serem
responsavelmente assumidas.
4) Referéncia a um cédigo moral: A maneira mais comum de justificar uma ago
€ aduzir uma norma determinada, considerada obrigatéria, nesse caso
concreto, Notmas fazem parte de cédigos morais mais amplos. Para que esse
recurso seja vilido & necessario verificar a) se a norma efetivamente faz parte
desse cédigo moral para que a interpretagao nao seja incongruente; b) se 0
proprio cédigo esté suficientemente fundamentado para ser racionalmente
obrigatério
5) Referéncia @ competéncia moral de certa autoridade: O recurso & autoridade
de uma pessoa ou de uma instituigao pode ser aduzido como argumento que
justifica uma ago, Esta razio é sumamente frégil, pois a confiabilidade de
‘uma norma nao vem de quem a dita, mas da sua validade racional.
6) Referéncia @ consciéncia: Em principio, esse tipo de argumentagio goza de
grande prestfgio na tradigio moral do ocidente, Mas logo € necessétio dizer
que a consciéncia nao € infalivel, pois se pode recorrer a ela para justificar
caprichos ou seguir ditames dados por autoridades que influenciaram 0
processo de socializagao dessa pessoa. Por isso, os ditames da consciéncia
precisam ser submetidos a normas racionalmente vélidas.
Y.3. Fundamentar a moral nos afasta do fundamentalismo,
‘Alguns autores rejeitam a necessidade da fundamentagao, porque a acusam de
fundamentalismo. Ao contrério, tentar fundamentar liberta do fundamentalismo, porque
fondamentar é argumentar, oferecer razdes bem articuladas para esclarecer porque se
prefere tais valores ¢ nao outros, certas teorias éticas e nao outras, determinados critétios
2
morais ¢ ndo outtos. Assim foge-se da arbitrariedade ¢ previne-se o fanatismo da crenga
cega e da adesdo incondicional. Muitas teorias éticas procuram fundamentar o fendmeno
dda moralidade, partindo do ser, da consciéncia ou do fato lingifstco. sta fundamentaga0
deve assumir a forma racional, pois precisa argumentar, fornecendo as razdes, Contudo
nem todas as filosofias abrem espago para a fundamentagao, retendo que ela é impossivel
(Cientificismo, racionalismo critico), desnecesséria (pragmatismo radical) ou até
ultrapassada (pés-modemnos)
V.4, Posicies de rejei¢ao da tarefa de fundamentacio.
V.4.1. 0 cientificismo.
Defende que a racionalidade pertence unicamente a0 ambito dos saberes
ciemtifico-técnicos, ficando os demais ambitos humanos, inclusive 0 moral, na esfera do
inracional. Seguindo Weber, essa mentalidade defende a neutralidade axiolégica como
condigao para a objetividade cientifica, unicamente possivel no conhecimento cientifico-
técnico. Assim, exclui-se toda valoragio por consideré-la subjetiva, abrindo um abismo
entre a teoria e a praxis, entre o conhecimento e a decisio, ficando a ética reduzida a uma
petspectiva psicolégica, sociolégica ¢ genética, perdendo 0 seu carter racional ©
normativo.
Neste sistema, a vida piblica é 0 espaco entregue aos especialistas, seguindo leis
da racionalidade cientifico-téenica para as suas avaliagdes, ¢ a esfera privada é 0 espago
do predominio das decisdes da consciéncia, consideradas irracionais, porque subjetivas.
Para Weber, a racionalizago cientifica levou ao desencantamento que significa a
dissolugio da ordem de valores ¢ da visto de mundo vigente, levando a um politefsmo
axiol6gico pelo qual cada um tem o seu “deus” ¢ os seus valores, sendo impossivel 0
acordo intersubjetivo.
Este cientificismo foi duramente criticado por varias correntes: a) as decis6es nao
devem ficar imunes & critica; b) a ciéncia no pode prescindir de um fundamento
reflexivo, pois do contrério vira ideologia que encobre interesses; c) a propria
possibilidade da ciéncia exige a moral, porque normas que tegem o trabalho cientifico
so normas morais; d) se a moral nao é racional, as prescrigGes nao repousam na
universalidade e incondicionalidade, mas no sentimento subjetivo, tomando impossivel a
convivéncia social; c) se a convivéncia publica se mantém, para cientificismo, em
convengdes sociais, mesmo nesse caso necessita de uma base moral, pois essas
convengdes necessitam de confiabilidade.
V.4.2. Racionalismo critica.
Defendido por K, Popper e H. Albert, afirma que a fundamentagio esta fadada a0
fracasso, porque incorre em “becos sem saida”, pois se pedimos um fundamento para
tudo precisamos remontar fundamento do fundamento, levando a trés_alternativas
inaceitaveis: a) um regresso ao infinito, 0 que nao é possivel; b) um cfrculo I6gico na
dedugdo, quando se recorre a enunciados necessitados também de fundamentagao; c) uma
imterrapgio do procedimento num ponto determinado, implicando a suspensio da
necessidade da fundamentagio. Como parece que s6 a tiltima é aceitével se cairia no
dogmatismo,
23
© ponto frégil da argumentagio de Albert é que ele se enreda no préprio
decisionismo dogmético que denuncia. Se fosse perguntado a ele porque optamos pela
racionalidade, ele diria que ¢ uma decisio de ordem superior como base da ciéncia e da
ética,
'V.4.3. O pensamento débil ou pés-moderno (neo-individualismo em uma época pés-
moral).
Esta linha de pensamento tem algumas propostas comuns: a) rentincia ao que ela
chama de razo total, a ilusio de um pensamento sistemstico; b) perda do sentido
emancipador da hist6ria, desmitificagao da idéia de progresso e o abandono de qualquer
constructo social utépico, substituindo-as por propostas parciais; c) cultivo de valores
estéticos em detrimento de valores éticos; d) olhar irGnico ¢ humoristico sobre todos os
temas, relativizando qualquer afirmagao; e) neo-individualismo ¢ 0 cultivo do corpo, do
Ambito privado, abandonando o piiblico nas maos de especialistas
A critica a essa corrente é 0 seu conformismo, conservadorismo © sua
consegtiente falta de capacidade critica, impossibilitando qualquer ética.
'V.44. 0 etnocentrismo ético como realidade irrefutavel.
Essa corrente € perceptivel nos trabalhos do neo-pragmatista americano R. Rorty,
Para ele nao existe fundamentagio da moral, porque 0 etnocentrismo 6 uma realidade
insuperavel. O universalismo ético é uma ilusio. A contingéncia é a categoria central da
vida humana. Nascemos contingentemente numa familia ¢ vivemos numa comunidade
concreta, falamos contingentemente a partir de um vocabulirio especifico e vivemos
numa tradigao particular que nos socializa, O pragmatismo de Rorty tem fortes raizes
comunitaristas. Para ele, Iutar por uma fundamentagio numa sociedade democritica de
tradigio liberal € continuar num mundo encantado em detrimento do principio da
tolerincia.
A citica seria perguntar a Rorty, se, por acaso, nfo € preciso escolher entre
diferentes tradicdes que se entrecruzam na sociedade em que se nasce, ¢ se, por acaso,
nao € necessério algun critério que ajude a realizar essa escolha, Para que essa escolha
seja racional é necessério algum critério, com pretensio de validade, que esteja acima da
tradigo particular.
y. incia e dificuldade de fundamentar racionalmente uma moral universal
Segundo K-O. Appel vivemos hoje uma situagao paradoxal: por um lado, nunca
foi tio urgente a necessidade de uma moral universal obrigatoria para toda a humanidade
4 que as agdes humanas, potencializadas pelas meios cientifico-técnicos, tem
repercussées planetérias, mas, por outro, nunca pareceu tio dificil a tarcfa da
fundamentacao dessa moral universal ¢ a dificuldade deve-se ao préprio desenvolvimento
técnico-cientifico, porque veio acompanhado de uma mentalidade cientifica que reduz a
Gtiva & esfera do subjetivo e itracional.
5.
V.5.1. Duas nogdes de fundamentagao.
Desde Aristételes distinguem-se dois paradigmas de justificagao argumentativa:
a) pela racionalidade matematica que muitos pretendem identificar como modelo tinico
24
para qualquer outra justificagao; b) pela racionalidade filosdfica que nao repousa em
principios evidentes, mas aponta para aqueles pressupostos necessariamente verdadeiros,
se si quer chegar a argumentos intersubjetivamente vélidos. Fundamentagao de
argumentos significa descobrir aqueles pressupostos. sem os quais_nenhuma
argumentagdo é possivel. Encontrar tais pressupostos € auto-reflexao. Assim, seguindo
Appel, o problema da fundamentacio esta na busca das condigdes transcendentais da
validade intersubjetiva da argumentagio que podem encontrar-se na Iégica (Kant), no
sistema coerente (Hegel), na semintica (Peirce) ou na pragmitica (Habermas € Appel).
Em todos eles trata-se de um modelo de fandamentagao que nao prescinde da dimensao
pragmatica do signo linguifstico,
V.5.2. Niveis logicos da nocio de fundamento.
Fundamentar a moral nao. significa chegar a um primeiro principio
indemonstravel a partir do qual se possa deduzir um conjunto de normas morais, mas,
mum sentido holista, estar atento totalidade das condigdes que tornam possivel 0
fendmeno a ser fundamentado. Trata-se de esclarecer as condigées e assinalar as
categorias que tornam o discurso moral um fato coerente. Isso. significa, segundo
Leibnitz, chegar a0 “Princfpio de razao suficiente”. Para Hegel, existem trés modelos de
fundamentagao, podendo-se chegar a tr tipos de ética
1) 0 fundamento formal pelo qual o fendmeno fundado encontra-se no mesmo
nivel que o fundamento aduzido, produzindo-se uma tautologia de nivel, sem
produgio de verdadeiro conhecimento. As teorias éticas do hedonismo ¢ do
utilitarismo encontram-se neste nivel de fundamentacao da moralidade, pois
6s argumentos que aduzem para justificar a forma moral estio no mesmo nivel
da existéncia empfrica e féctica dos jufzos morais
2) © fundamento real expressa uma escolha arbitréria de alguma das
determinagdes do fenémeno a ser fundamentado, alegando que tal
determina¢ao constitui o fundamento. Isso leva a uma visio unilateral do
fendmeno a ser fundamentado. A fundamentagio néo pode usar nenhum
elemento do fendmeno como base.
3) A auténtica fundamentagdo precisa ter uma base mais consistente que as
anteriores. A tinica que responde a essa exigéncia € a razdo suficiente que
contempla também as causas finais, pois deve dar conta nao sé das causas que
atuam no ambito da necessidade, mas também aquelas que pertencem & ordem
da liberdade, A auténtica fundamentagao da moralidade € aquela que oferece
‘umn conjunto logicamente conectado das determinagGes que tornam possivel a
moralidade. Encontram-se neste modelo todas as teorias éticas que se
reportam ao kantismo.
'Y.5.3. Um exemplo de fundamentacio da moral.
Os autores dao um exemplo de fundamentagao a partir de uma versio atualizada
da proposta kantiana, Existe moral, porque temos seres que tem valor absoluto, nao
devendo ser tratados como instrumentos. Existe moral, porque todo ser racional é fim em
si mesmo nio meio para outra coisa. Existe moral, porque as pessoas sio seres
absolutamente valiosos. Se tudo 0 que existe fosse meio para satisfazer nossas
necessidades € desejos, se para tudo fosse possivel encontrar um equivalente em preco
2s
no haveria obrigagdes morais. Mas no caso de existirem seres valiosos por si mesmos,
entdo eles nao tem prego, mas dignidade. As pessoas tém dignidade, porque sio livres.
Existe moral, porque os seres humanos tém dignidade, tendo dignidade porque estao
dotados de autonomia, O reconhecimento de toda pessoa como um valor absoluto é 0
fundamento de toda moral
Existem comandos negativos ou proibigGes que sio deveres perfeitos, porque sio
contundentes e precisos em suas ordenagdes, dizendo claramente o que nao se pode fazer,
por exemplo, o comando de nao matar. Os comandos positives sao deveres imperfeitos,
porque so menos contundentes, nao apontando com preciso 0 que é preciso fazer, por
exemplo, a norma de ser honesto. Dio recomendagées que a consciéncia necesita
precisa.
Os deveres positivos sio ages supererogatsrias porque indicam comportamentos
que excedem aquilo que pode ser exigido de todos. Ao contritio, as proibigdes estio
relacionadas com agdes intrinsecamente més, que, em prinefpio, nao admitem gradaga0
nem excegio, As vezes podem acontecer conflitos entre deveres negativos ¢ em outros
‘um comando positivo pode sobrepor-se a um negativo. Neste caso, precisamos consideré-
los como principios, chamados prima facie, isto 6, séo obrigatérios nas situagdes normais,
‘mas quando entram em conflito, é necessério ponderar os elementos da situagdo concreta
para dar priotidade & algum deles. Isto significa que nao € possivel estabelecer a priori
uma ordem de prioridade entre os comandos, pois é a propria pessoa que, na situagao
concreta, vai priorizé-los quando entram em conflito,
‘Os comandos morais apontam para aspectos da dignidade da pessoa, os quais se
identificam com os valores. Tomando em consideracdo estes valores alguns deveres
prima facie que tepresentam valores mais bésicos devem ter prioridade diante de outros
‘menos bisicos. Mesmo neste caso podem acontecer situagdes em que & necessétio aceitar
‘um mal menor.
Dizer que os valores ndo podem ser priorizados numa hierarquia rigida ndo
significa cair no relativismo, porque algumas coisas so consideradas justas em qualquer
situago. A consciéncia moral atual esté desembocando numa moral universal para as
questdes de justiga. Trata-se de um vniversalismo moral minimo, no qual todos se
reconhecem intersubjetivamente. Este universalismo engloba os valores necessdrios a0
reconhecimento e respeito da dignidade de toda pessoa humana,
VI. ETICA APLICADA
VI. Em que consiste a ética aplicada?
A ética no tem como tarefa apenas 0 esclarecimento e a fundamentagio do
fendmeno da moralidade, mas também a aplicagio de suas descobertas aos diferentes
Ambitos da vida social. Ao lado da tarefa de fundamentagdo existe a tarefa da aplicagao
que consiste em averiguar como os princfpios ajudam a orientar os diferentes tipos de
atividade,
Contudo nao basta refletir sobre como se aplicam os prinefpios em cada ambito
concreto, & preciso levar em conta a especificidade de cada atividade com suas préprias
exigéncias morais ¢ scus proprios valores. Trata-se de averiguar quais sio os bens
internos que cada tipo de atividade deve trazer para a sociedade e quais sio os valores €
26
habitos que & preciso incorporar para alcangé-los. Para chegar a isso, os eticistas devem
trabalhar interdisciplinarmente junto com os especialistas de cada area. Mas € necessério
também ampliar a visio ética para a moral civica que rege o tipo de sociedade em que
VI2. Trés modelos posstveis, mas insuficientes
‘VL2.1. Casuistica 1: 0 ideal dedutivo
A casuistica 1 consiste na arte de aplicar qualquer tipo de principios morais
disponiveis aos casos concretos, j4 que considera estes casos concretos uma
particularizagao dos prinefpios gerais. Ela destaca valor da teoria, da deducio ¢ da
busca da certeza moral. Historicamente estava identificada com o silogismo prético cuja
premissa maior era a lei, cuja premissa menor 0 caso concreto © cuja conclusio
identificava-se com o juizo moral da consciéncia,
© problema deste modelo dedutivo € que a) seria necessério contar com prinefpios
‘materiais universais, 0 que nenhuma ética hoje pode oferecer; b) as situagdes concretas
no so mera particularizagao de prinefpios universais.
‘VL2.2. Casuistica 2: uma proposta indutiva.
Ela caracteriza-se por usar um procedimento indutivo, Foi proposta por A. Jonsen
€ St. Toulmin na obra The abuse of casuistry. Eles querem substituir os principios por
mdximas, entendidos como critérios sdbios ¢ pradentes de atuacao pritica com os quais a
maioria dos especialistas concorda. As mdrimas sio o resultado da sabedoria pratica,
mais valiosos para tomar decisdes do que os pretensos princfpios universais. Trata-se de
um método de aplicagdo de caréter retérico € pritico, Retorica € a arte de buscar
argumentos para chegar a juizos provaveis sobre situagdes concretas. Os conflitos nio
io solucionados com a aplicagio de axiomas formulados a priori, mas pelo critério
convergente de pessoas de bom senso moral, expressos em méximas de atuagao.
Pode-se levantar como critica a este modelo: a) 0 fato de que nao é certo de que
ngo existe nenhum principio universal, pois, por certo nio existe um principio material
universal, mas, 0 menos, existe o principio procedimental que & universalizavel. b) O
que fazer quando as méximas préticas entram em conflito, mostrando que nao € verdade
de que nao existe nenhum principio universal, porque alguns so necessérios para sair do
impasse
VL3. Mais além da deducio e da indugao: aplicagao do prine{pio procedimental da
ética do discurso (Habermas e Appel).
Este terceiro modelo analisado identifica-se com a ética do discurso de K.O.
Appel ¢ J. Habermas. Ele oferece um fundamento moral que transforma o principio
formal kantiano da autonomia da vontade, entendido individualmente, num principio
ptocedimental dialégico que reza: mio se pode renunciar a nenhum interlocutor € a
nenhuma de suas contribuigdes virtuais para a discussao,
Nesta perspectiva dialégica, Appel reconstréi os conceitos de pessoa e igualdade,
Pessoa é um interlocutor vélido reconhecido por todos participantes da comunidade de
falantes. Igualdade significa que nenhum interlocutor pode ser excluido da argumentacio
quando se discute algo que o afeta
2
Appel ¢ Habermas concordam de que a ética tem a tarefa de fundamentar
dimensio normativa da moral. Mas Appel, diferente de Habermas, distingue duas partes
na ética do discurso. A parte “A” ocupa-se da fundamentagao racional da corregao das
normas, A parte “B” procura desenhar um quadro racional de principios que permitem
aplicar na vida cotidiana os principios descobertos na parte “A”. A parte “A” orienta-se
pela idéia de fundamentagio ¢ a parte “B” pela de responsabilidade. Uma coisa é
descobrir © principio ético ideal ¢ outra em aplicé-lo a contextos concretos. Assim, a
miéxima ideal seria: “Age sempre como se fosses membro de uma comunidade ideal de
comunicagdo” (Parte “A”) transforma-se em “Age sempre de tal modo que a tua acdo se
encaminhe para assentar as bases, na medida do posstvel, de uma comunidade ideal de
comunicagao” Parte “B”)
‘Aqui Appel inclui a ética da responsabilidade na ética do discurso, pois faz. uso da
racionalidade estratégica com duas metas: a) a conservagao do sujeito falante € de todos
os que dele dependem na comunidade de comunicagao: b) o estabelecimento de bases
materiais e culturais para que algum dia seja possfvel atuar comunicativa e
dialogicamente na solugdo dos conflitos morais. Assim a ética do discurso, acusada de
inrealista por sua fundamentago no ideal da comunidade comunicativa (racionalidade
dial6gica) adquire mais realismo pela introdugdo da racionalidade estratégica que tenta
ctiar as condigdes materiais para que esta comunidade seja possivel.
Mas o necessério uso de estratégias nao € um fator necessério em todos os
Ambitos como, por exemplo, o da bioética. Nos campos em que a estratégia é importante,
por exemplo, na empresa, ela ndo pode ser o tinico critério, pois existem os valores que
orientam esta atividade especifica; a distingdo entre as partes “A” ¢ “B” mostra que uma
vez descoberto o principio é necesséio criar 0 quadro para a aplicagao ao caso concreto.
YI4. Proposta de um novo modelo de ética aplicada como hermendutica critica
(Adela Cortina).
YVL4.1. 0 quadro deontolégico (O momento kantiano)
‘0 modelo proposto por Adela Cortina nfo ¢ dedutivo nem indutivo, mas desfruta
da citcularidade hetmenéutica, Portanto nao se trata de aplicar princfpios universais nem
de induzir méximas praticas, mas descobrir, nos diferentes Ambitos da atividade, a
modulagio peculiar do principio comum. Cada campo da atividade humana tem a sua
especificidade ou melodia propria, obrigando a uma perspectiva interdisciplinar. Nao
existe mais alguém com uma visio sistémica do conjunto, que possa oferecet sozinho, a
otientacao, E necessério consultar os especialistas de cada érea para ver quais sdo os
principios de aleance médio e quais sao 0s valores correspondentes daquela atividade.
principio procedimental da ética do discurso é apenas uma orientagio que
precisa também ser complementada com outras tradiges éticas. Levar em consideracao
6s diferentes modelos de ética, tendo, como elemento coordenador, a ética do discurso,
pois esta oferece o modo de argumentar eticamente pela ago comunicativa,
‘Como descobrir em cada campo de atividade quais os valores ¢ as méximas
cexigidos. Diversas respostas so possiveis, mas todas elas precisam superar a perspectiva
da ética individual, pois a boa vontade pessoal pode ter conseqiiéncias ruins para
28.
coletividade. Por isso é mais importante a inteligéncia do que a vontade ¢, por outro, é
necessério assumir a légica da atividade coletiva, ou seja, ver a moralidade das préticas
desenvolvidas nas instituigbes e organizagdes. Todos os ambitos da ética aplicada tratam
de atividades sociais. Mas nao se trata tanto de refletir eticamente sobre as instituigdes ©
organizagées, pois estas sio cristalizagies de agdes humanas realizada por sujeitos
humanos. Trata-se de refletir sobre as préticas institucionais ¢ organizativas, examinando
as atividades cooperativas ¢ sociais realizadas pelos sujeitos humanos. Para desenvolver
moralmente uma atividade na sociedade modema € preciso atender a cinco pontos de
referéncia:
1). Ver quais sao as metas sociais que dio um sentido a esse tipo de atividade, Elas
identificam-se com os bens internos deste campo de atividade. Eles conferem um
sentido ¢ legitimidade social s ages. Portanto, as diferentes atividades sociais
caracterizam-se pelos bens que se obtém por meio delas, pelos valores que
inspiram a busca desses fins pelas virrudes que apontam para as atitudes
necessérias na busca dos bens. As diferentes éticas averiguam quais valores e
virtudes permitem alcangar os bens alcangdveis através daquela atividade social.
Por exemplo, o bem interno buscado pela atividade do profissional da satide é 0
beneficio do paciente. Que valores e virtudes devem pautar a busca desde bem?
2) Para alcancar os bens intemnos de cada atividade é preciso contar com mecanistnos
especificos dessa sociedade, em nosso caso, a sociedade moderna. Por exemplo,
para alcangar a meta social ou produzir o bem interno que a empresa se propée, a
bbusca do lucto € um meio que tem legitimidade social na sociedade moderna,
Contudo quando esse meio torna-se um fim, a atividade fica desmoralizada.
3) Por outto lado, a legitimidade de qualquer atividade social deve ater-se a
legislagao juridica vigente que define as regras do jogo naquela sociedade
Contudo a legalidade nao esgota a moralidade, a) porque a legislagao é dinmica,
necessitando de interpretagao e b) porque a legislagao nunca consegue submeter
‘uma atividade totalmente & sua jurisdigao.
4) Por isso, & importante ter como referéncia também a ética civil ow a consciéneia
‘moral cfvica, alcangada naquela sociedade. Ela identifica-se com 0 conjunto de
valotes que os cidadaos de uma sociedade pluralista jé compartilham,
independente de suas concepgdes morais e religiosas. Em linhas gerais trata-se de
levar a sério os valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade.
5) O puro nivel da moralidade nao basta, porque interesses espuirios podem difundir
‘uma moralidade difusa que condena, como imorais, agdes inspiradas na justiga,
nos direitos humanos ¢ na dignidade humana, Por isso, € preciso uma moral
critica, que aponte os valores ¢ os direitos a serem racionalmente respeitados.
V4.3. Processo de tomada de decisées nos casos concretos.
f indispensével tomar em considerago of seguintes aspectos ao decidir:
1) Determinar a fim specific ou o bem interno que dé sentido ¢ legitimidade social
aquela atividade,
2) Averiguar quais meios so adequados para produzir esse bem numa sociedade
moderna.
3) Indagar quais virtudes e valores é preciso incorporar para alcangar esse bem interno.
29
4) Ver quais sio 0s valores da moral civica da sociedade que afetam 0 exercicio dessa
alividade,
5) Averiguar quais valores de justiga, préprios de uma moral critica universal, permite
por em questo normas vigentes,
6) Deixar a tomada de decisio a cargo dos que sdo afetados por esse processo.
VLS. Alguns Ambitos da ética aplicada
‘Os &mbitos mais desenvolvidos e promissores da ética aplicada s4o os seguintes:
V5.1. Bioética
No inicio, a bioética surgiu como uma “macroética” que enfoca a ética a partir da
vida ameagada, Mas ao definir 0 seu ambito de abrangéncia, ela foi sendo reduzida as
questdes relacionadas com as ciéncias da satide e com as bioteenologias. Existe um
consenso de que o micleo da bioética so os principios da autonomia, benefieéncia ©
Justia propostos pelo Relatério Belmont em 1978 nos Estados Unidos. Para os autores,
68 prineipios so vilidos, mas convém fundamenté-los por meio de um conceito de
pessoa, como interlocutor vélido, para apreciar plenamente sua validade intersubjetiva
VI5.2. Gen-ética
(Os avangos cientificos da engenharia genética provocam esperancas ¢ reccios.
Pela primeira vez a humanidade pode alterar o patriménio genético das geragdes futuras.
Essa possibilidade apresenta questdes éticas que ndo se pode evitar: Até onde vao os
processos de mudanga? Quais sao os fins dltimos das manipulagoes genéticas? Quem esté
legitimado a tomar decisdes nesses assuntos? A resposta a essas questdes deve situar-se
no contexto da racionalidade ética que se move no terreno do didlogo, da
interdisciplinaridade e da busca cooperativa de respostas para os desafios éticos.
VIS3.
fitica da economia e da empresa
E necessério distinguir entre “ética econdmica” que é uma reflexao ética sobre os
diferentes sistemas econdmicos globalmente considerados e “ética empresarial” que faz a
consideragdes éticas sobre a gestio ou diregdo dos negécios ¢ das empresas. Quanto a
primeira, existiu muito tempo um divércio entre ética © economia, como se fosse
impossivel conciliar a eficiéncia econdmica com os valores morais da eqiiidade ¢ da
Justia, Mas se cada setor precisa definir qual 0 fim ¢ o sentido da sua atividade, qual a
‘sua contribuigdo para a sociedade, entao a economia nao pode ser moralmente neutra. A.
dtica dos negécios esta se difundindo, porque se quer restaurar o valor da confianca que
as empresas ndo podem perder ¢ hoje se introduz 0 conceito de responsabilidade social
das empresas.
Entre os especialistas de ética ecolégica existe, por um lado, consenso sobre a
necessidade de adotar urgentemente um modelo de desenvolvimento sustentavel © de
tomar todo tipo de medidas eficazes para fazer frente aos diferentes sinais da crise
ambiental, mas, por outro, as concepgdes éticas discordam quanto as razies pelos quais é
30
necessétio levar a sério os problemas ecolégicos. Existem éticas antropocétricas que
defendem atitudes de conservacio ¢ preservagio da natureza, pensando nos interesses dos
seres humanos (geragdes futuras). Pelo contrétio, as éticas biocéntricas considera
moralmente relevantes os interesses de todos os seres vivos, nfo s6 dos humanos.
problema ecolégico néo é de cardter técnico, mas moral ¢ cultural. Por outro lado, a
questo fundamental dos problemas ecoldgicos é a injustiga econdmica que padece a
maioria da humanidade.
. Ktica da educagéo moral democritica
0s educadores, em geral, preocupam-se com as habilidades técnicas ¢ sociais de
seus alunos, mas & impossivel construir uma sociedade autenticamente democritica,
contando apenas com individuos capacitados técnica e socialmente, porque tal sociedade
precisa fundamentar-se em valores para os quais a racionalidade instrumental & ccga,
valores como a autonomia ¢ a solidariedade. © processo educative ndo pode pautar-se
pela racionalidade instrumental que busca a aquisigaio de puras habilidades técnicas ©
aponta para um modelo de pessoa que busca apenas o seu proprio bem-estar. E necessitio
buscar a formagio de pessoas auténomas com desejo de auto-realizagdo © com a
capacidade para a interagdo solidéria. Por isso a educagao precisa suscitar nos jovens a
competéncia para a autonomia e a solidariedade bases para uma sociedade democritica,
Isso 86 & possivel através de métodos dialdgicos de educagao moral que superam 0
dogmatismo dos métodos doutrinérios ¢ estao para além do relativismo dos métodos do
puro esclarecimento dos valotes,
(Resumido por José Roque Junges, professor e pesquisador de Ftica ¢ Bioética do
Programa de pés-graduacao em Satide Coletiva da UNISINOS).
Você também pode gostar
- As Letras Hebraicas-1 - Cabala, Mística HebraicaDocumento492 páginasAs Letras Hebraicas-1 - Cabala, Mística HebraicaSimone Fábio Wilhelm100% (14)
- A Existencia de Deus - GrudemDocumento60 páginasA Existencia de Deus - GrudemSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Apostila HomileticaDocumento29 páginasApostila HomileticaSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Panorama Do N.T.Documento71 páginasPanorama Do N.T.Simone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- ACFrOgDdjdpUcbizQIjt PBz49VXy63IZkiZj9unQ P1x76sikuEV99lkvxFgy ZdyAQd3XCnIwKa072MMVgfvL17FssigPeHxkcU3PvhQO0jFH2i7pGZj9 6RUCTQdr VmQaEJypTGw8eQp5aDGDocumento2.563 páginasACFrOgDdjdpUcbizQIjt PBz49VXy63IZkiZj9unQ P1x76sikuEV99lkvxFgy ZdyAQd3XCnIwKa072MMVgfvL17FssigPeHxkcU3PvhQO0jFH2i7pGZj9 6RUCTQdr VmQaEJypTGw8eQp5aDGSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- O Chamado Ao PastoradoDocumento20 páginasO Chamado Ao PastoradoSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Etica MinisterialDocumento15 páginasEtica MinisterialSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- 1 - Unidade I Nocões Introdutorias Sobre A ExegeseDocumento29 páginas1 - Unidade I Nocões Introdutorias Sobre A ExegeseSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Camelot Book PortDocumento24 páginasCamelot Book PortSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Psicologia Da AprendizagemDocumento4 páginasPsicologia Da AprendizagemSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Politica e ReligiaoDocumento119 páginasPolitica e ReligiaoSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- Resumo Celebrando As 12 Disciplinas Espirituais Richard J Foster Emilie GriffinDocumento2 páginasResumo Celebrando As 12 Disciplinas Espirituais Richard J Foster Emilie GriffinSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações
- 95 Perguntas e Respostas Sobre EscatologiaDocumento9 páginas95 Perguntas e Respostas Sobre EscatologiaSimone Fábio WilhelmAinda não há avaliações