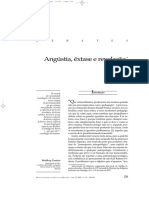Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Metafísica - Desidério Mucho
Metafísica - Desidério Mucho
Enviado por
fydel0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
32 visualizações55 páginasTítulo original
Metafísica_Desidério Mucho
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
32 visualizações55 páginasMetafísica - Desidério Mucho
Metafísica - Desidério Mucho
Enviado por
fydelDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 55
PEDRO GALVAO
ORGANIZACGAO
_
as
OC
Y)
CO
=
aa
UMA INTRODUGAO
POR DISCIPLINAS
LOGICA
RICARDO SANTOS
METAFISICA
DESIDERIO MURCHO
EPISTEMOLOGIA.
CELIA TEIXEIRA
ETICA
PEDRO GALVAO
FILOSOFIA POL{TICA
JOAO CARDOSO ROSAS,
MATHIAS THALER E INIGO GONZALEZ
FILOSOFIA DA RELIGIAO
AGNALDO CUOCO PORTUGAL
FILOSOFIA DA CIENCIA
ANTONIO ZILHAO
FILOSOFIA DA LINGUAGEM
TERESA MARQUES
E MANUEL GARCIA-CARPINTERO.
FILOSOFIA DA MENTE
SARA BIZARRO
FILOSOFIA DA ACGAO.
SUSANA CADILHA E SOFIA MIGUENS
ESTETICA E FILOSOFIA DA ARTE
AIRES ALMEIDA
Titulo original:
Filosofia. Uma Introduedo por Discplinas
Preficio: © Pedro Galvao e Edides 70, 2012
Logica: © Ricardo Santos e Edigdes 70, 2012
Metafisica: © Desidério Murcho e Edigées 70, 2012
Bpistemologia: © Célia Teixeira e EdigGes 70, 2012
Etica: © Pedro Galvio ¢ Edicbes 70, 2012
Filosofia Politica: © Joao Cardoso Rosas, Mathias Thaler, Inigo Gonzélez e Edigdes 70, 2012
Filosofia da Religito: © Agnaldo Cuoco Portugal e EdigGes 70, 2012
Filosofia da Cigneia: © AntOnio Zilhiao ¢ Edigdes 70, 2012
Filosofia da Linguagem: © Teresa Marques, Manuel Garcia-Carpintero ¢ Edigées 70, 2012
Filosofia da Mente: © Sara Bizarro e Edigbes 70, 2012
Filosofia da Acgio: © Susana Cadilha, Soffa Miguens ¢ Pdigbes 70, 2012
Estética e Filosofia da Arte: © Aires Almeida e EdigGes 70, 2012
Capa: EBA
Depésito Legal n? 348242/12
Biblioteca Nacional de Portugal - Catalogagdo na Publicagao
FILOSOFIA
Filosofia : uma introdugao por dscipinas / Pedro
Galvdo... etal - (Extra-coleceo)
ISBN 978-072-44-1708-6
1 GALVAO, Pedro
cou 101,
Paginagao:
My
Impressio e acabamento:
PENTAEDRO, LDA.
para
EDIGOES70,LDA.
Setembro de 2012
Direitos reservados para todos os pafses de lingua portuguesa
por Bdigbes 70
EDIGOES 70, Lda.
‘Rua Luciano Cordeiro, 123 ~ I? Esq? ~ 1069-157 Lisboa / Portugal
Telefs: 213190240 ~ Fax: 213190249
e-mail: geral@edicoes70.pt
www.edicoes70,pt
Esta obra esti protegids pela lei. Nao pode ser reproduzida,
no todo ou em parte, qualquer que seja o modo utilizado,
Incluindo forocdpia e xerocépia, sem prévia autorizagao do Editor.
‘Qualquer transgressio & lef dos Direitos de Autor sera passivel
de procedimento judicial,
Dy
Metafisica
DESIDERIO MURCHO
troducao
metafisica é a disciplina que se ocupa dos problemas filoséficos mais gerais
@natureza da realidade. As outras disciplinas filoséficas também incluem
metafisicos (na filosofia da arte, por exemplo, pergunta-se o que é uma
usical), mas de menor generalidade: metafisica aplicada, poder-se-ia dizer.
© que ciéncias como a fisica se ocupam de problemas muitissimo gerais
natureza da realidade; contudo, nao se ocupam de problemas flloséficos
snatureza da realidade, pelo menos principalmente: Um problema é filos6-
ndo sé pode ser adequadamente abordado usando metodologias filoséfi-
inclui a teorizacao e argumentagio a priori, a andlise conceptual, ¢ a
io logicamente disciplinada.
fronteiras da metafisica nao s4o rigidas, havendo zonas de sobreposi¢io
m outras disciplinas filoséficas quer com ciéncias como a fisica. Quanto 20
9450, os problemas do livre-arbitrio e da identidade pessoal, por exemplo,
tafisicos, mas sao por vezes abordados em ética, outras vezes em filosofia da
Se anatureza e existéncia de divindades séo problemas metafisicos, mas s40
ordados sobretudo em filosofia da religiao. Quanto ao segundo caso, a natu-
ma do tempo, por exemplo, é um topico importante da metafisica e tam-
fisica. Contudo, alguns problemas filosdficos sobre a natureza do tempo
is intimamente relacionados com as teorias da fisica (Sklar 1992); outros
gerais ¢ independentes delas (Murcho 2006).
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
Apesar de as fronteiras da metafisica nao serem rigidas, é muitissimo impor-
tante ver claramente se visamos esclarecer um aspecto metafisico de um dado
conceito ou problema, ou um aspecto nao metafisico. Um exemplo dbvio é 0 con-
ceito de verdade. Entregamo-nos a uma investigacdo metafisica quando queremos
saber o que torna verdadeira uma frase que, por hipétese, seja verdadeira, ou
quando queremos saber se hé realmente verdades. Isto contrasta fortemente com
a investigagio epistemolégica a que nos entregamos quando queremos saber se
14, da nossa parte, genuino conhecimento de verdades, e, caso haja, em que con-
digdes ocorre e como o distinguir da iluso de que 0 temos, Da hipétese de que
nunca podemos conhecer verdades nao se segue trivialmente que nao hé realmente
verdades, ainda que se possa argumentar nessa direceao, ao passo que ¢ trivial que
se nao ha verdades, nenhumas verdades podem ser conhecidas.
1.1, Ontologia
A ontologia é uma disciplina da metafisica ¢ visa estabelecer uma teoria das
categorias. Uma teoria das categorias visa descrever ¢ explicar as categorias mais
gerais da realidade, o que nos dir se afinal existem realmente mimeros, por exem-
plo, ou universais ~ e, caso existam, se existem no mesmissimo sentido em que
existem drvores, por exemplo.
Uma teoria das categorias poderé ter o seguinte aspecto (Lowe 2002: 16):
as entidades dividem-se, exaustiva e separadamente, em universais e particulares.
No que respeita aos universais, tanto podem ser propriedades (como a propriedade
de ser redondo) como relagdes (como a relagio de amizade).
Quanto aos particulares, estes podem ser coneretos ou abstractos. Os parti-
culares abstractos so entidades que nao tém localizagao espacio-temporal, como
0s nlimeros ou as proposigdes. Os particulares concretos tém localizagao espacio-
~temporal, e dividem-se em coisas (como dryores e zebras) e acontecimentos
(como a segunda guerra mundial). Finalmente, as coisas podem ser substancias,
como os seres humanos e as pedras, ou nfo substancias, como os buracos e as
sombras: entidades cuja existéncia depende continuamente de outras.
Este é apenas um exemplo muitissimo breve das categorias mais gerais que
uma teoria ontoldgica pode estabelecer; evidentemente, outras teorias ontoldgicas
estabelecerao categorias diferentes. Muitas vezes, contuds, filésofos que nao
desenvolvem pormenorizadamente uma teoria geral das categorias preocupam-se
com alguns casos problematicos, perguntando-se, por exemplo, em que sentido
existem as entidades légicas e matemticas, como os conjuntos e os ntimeros, se é
que existem em qualquer acepgao robusta do termo (Quine 1948 ¢ 1960: Cap. VI).
Uma ontologia minimalista tentara excluir do dominio do ser (que por vezes se
distingue do dominio da existéncia, que abrange apenas os seres com localizagao
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
icio-temporal) tudo 0 que nao for objecto de percepgao, por exemplo;
poder aceitar entidades que nao sejam objecto de percep¢ao directa, mas
sejam necessérias para explicar a nossa percepgao directa de outras enti-
des.
Neste contexto, invoca-se muitas vezes a chamada navalha de Ockham, dando
fase 8 ideia de que nao devemos incluir entidades, sem qualquer razo, na nossa
tologia. Curiosamente, no temos qualquer registo histérico em que Guilherme
Ockham formule explicitamente 0 principio entia non sunt multiplicanda praeter
messitatem: nao se deve multiplicar entidades sem necessidade. Do que conhece-
ps da sua filosofia, tendia a eliminar entidades que outros filésofos aceitavam,
nao invocava um principio geral para o fazer: antes argumentaya em particular
a cada tipo de entidade que rejeitava (Kenny 2005),
A navalha de Ockham pode ser posta em causa, alegando que também nao
os eliminar entidades, sem qualquer razo, da nossa ontologia, dando énfase
ia de que o que conta ¢ ter razGes, sendo indiferente se s40 raz6es para elimi-
ou para incluir entidades (Williamson 2002: 249).
1.2. Filosofia primeira
Num certo sentido, a metafisica foi a primeira das disciplinas filosdficas,
indo na origem do impulso cientifico e filoséfico dos gregos da antiguidade.
0 «metafisica», contudo, nao era usado pelos metafisicos da antiguidade,
o Parménides, Heraclito, os atomistas, Platio ou Aristételes. Muitos deles
m As suas obras o titulo genérico «Sobre a Natureza», ¢ as reflexes que con-
bam estavam na intersec¢ao do que hoje vemos como teorizacio fisica e espe-
cio metafisica (Kenny 2004).
‘O termo «metafisica» foi um acidente histérico, ocorrido ou na Biblioteca de
dria, ou aquando da edigdo das obras de Aristételes no mundo romano por
ironico de Rodes. Era necessario organizar tematicamente as obras de Aristé-
¢ decidir onde pér uma estranha obra diyidida em catorze livros, com refle-
5 sobre aspectos fundacionais da realidade, do conhecimento, da ldgica e da
guagem. A essa obra foi dada uma designagio grega que significa «o que vem
is da fisica», e essa designacdo inclui uma expresso que se tornou na nossa
a «metafisica». A ideia, pois, era que a metafisica era aquela obra que se
a Fisica de Aristoteles, eventualmente por ter com esta algumas conexdes.
0 prdprio Aristételes chamava-lhe apenas «filosofia primeira».
Deste modo, o termo «meta» tem em «metafisica» um papel semantic muito
te do mesmo termo tal como ocorre em «metalinguagem, por exemplo.
te caso, trata-se de uma linguagem que tem por objecto outra linguagem. Mas
etafisica nao é uma fisica da fisica.
"7
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
Otermo «meta» no tem também em «metafisica» o papel que tem em «meta-
&tica»; neste caso, o termo indica um estudo sobre a propria ética, uma teoria sobre
os fundamentos da ética. Mas a metafisica nao € uma teoria sobre os fundamentos
da fisica, ainda que se ocupe de alguns temas que sio também tratados em fisica.
Na verdade, a teorizacao sobre os fundamentos da fisica é hoje feita sobretudo em
filosofia da ciéncia, e nao em metafisica.
1.3. Breve historia
Apesar da rejeigao da teorizacao metafisica por parte dos cépticos da antigui-
dade e do desinteresse aparente de Sécrates por matérias que nao se relacionassem
mais de perto com a vida humana, a metafisica continuou a florescer no periodo
helenistico da filosofia grega e depois no mundo medieval. Ainda que tenha por
vezes adquirido um perfil mistico, nomeadamente com Plotino e pseudo-Dionisio
o Areopagita, readquiriu o seu perfil original com os escolisticos, voltando a cons-
tituir-se como uma reflexdo sobre a natureza mais geral da realidade e afastando-
-se do misticismo.
A partir do séc. xvimt, com David Hume e sobretudo com Immanuel Kant, a
possibilidade da metafisica comecou a ser posta seriamente em causa. Chegou
assim ao séc. xx com ma fama, por duas raz6es principais. Primeiro, porque, como
se queixa Kant na Critica da Razio Pura,
A Metafisica (...] nfo foi até agora de tal modo favorecida pelo destino que Ihe
permitisse entrar no rumo certo da ciéncia, ainda que seja a mais antiga das ciéncias,
© apesar de que continuaria em existéncia mesmo que todas as outras fossem devoradas
por um barbarismo voraz, (B XIV; cf. A VIII)
Segundo, porque Hume foi muito persuasivo ao defender que sé empirica-
mente podemos saber seja o que for sobre questoes de facto e de existéncia - ea
metafisica, apesar de tratar explicitamente das mais gerais questdes de facto e de!
existéncia, nao é uma disciplina empirica. Assim, apesar de alguns dos mais impor-
tantes fildsofos do séc. xx, como Bertrand Russell, G. E. Moore ¢ Gottlob Frege,
terem explorado com muita perspicdcia importantes problemas metafisicos, a dis
ciplina continuava a ser vista como um paradigma do que nao se deve tentar fazer!
em filosofia; isto é particularmente evidente em alguns empiristas légicos, assim
como em Ludwig Wittgenstein, que tendiam a ver a metafisica como uma activi
dade mistica.
Porém, depois do abandono da ideia de que a actividade filoséfica consist
exclusivamente na anilise da linguagem, ateorizacao metafisica voltou a floresce
Hoje, os problemas tradicionais da metafisica sao novamente discutidos com
METAFISICA DESIDERTO MURCHO
fe integrante e normal da investigacio filosdfica (Lowe 2002b, 2001b; Louxe
fimmerman 2003b; Loux 2006b).
1.4. Metafisicae linguagem
Apesar de ser das mais antiges disciplinas fllos6ficas, estando presente desde
Sorigens da filosofia ~e sendo talvez a sua mie ~ a metafisica é ao mesmo tempo,
mo que contraditoriamente, uma disciplina recente, no sentido em que sé hd
ico tempo foi reabilitada. Por essa raz4o, nao ha no estudo da metafisica um
'senso to alargado quanto aos seus temas centrais quanto o ha na ética, por
mplo. Nos varios livros recentes de introdugao & metafisica - nomeadamente,
2006a, Lowe 2002a, Jubien 1997, Carroll e Markosian 2010, Conee e Sider
80S, Hales 1999, van Inwagen 2009 ~ nao se encontra unanimidade na escolha
temas, apesar de se encontrar alguma sobreposigao.
Nao se reivindica, pois, o estatuto de centralidade consensual para os temas
olhidos neste capitulo para apresentar a metafisica, Procurou-se, contudo, que
temas fossem 1) exemplificativos da natureza da disciplina e do que hoje se faz
a, 2) com fortes conexdes com a filosofia clissica, 3) que ilustrassem a intima
exdo entre a metafisica, a légica ea linguagem ¢, finalmente, 4) que incluissem
ceitos e disting6es instrumentais para dar os primeiros passos no estudo da
isica,
O terceiro aspecto merece um esclarecimento. Precisamente porque subsiste
vezes uma ideia historicamente distorcida da metafisica, esta nao é vista como
disciplina de rigor, mas antes de delirio, ou perto disso, sendo por isso vista
mo uma antitese de quaisquer sdbrias reflexes sobre a légica ou a linguagem.
eatudo, ainda quea metafisica possa ter conhecido, ao longo de mais de dois mil
inhentos anos de especulacdo, momentos menos comedidos, conheceu tam-
© principalmente um elevado rigor conceptual e ldgico. Mas 0 mais impor-
€ que, historicamente, a metafisica nasce e alimenta-se de reflexes légicas
guisticas. Parménides, com o seu toon ¢ a ideia de que sé o ser pode ser dito e
ensado, é um exemplo flagrante; mas Aristételes néo o é menos, assim como
tos fildsofos ao longo da histéria da metafisica. Assim, chegados ao séc. xx, 0
tascimento da investigacio metafisica ocorre precisamente, em grande parte,
ido a desenvolvimentos cruciais da légica e da filosofia da linguagem.
Hé uma enorme diferenca entre usar instrumentos linguisticos e l6gicos para
metafisica, e reduzir os problemas metafisicos problemas linguisticos e a
tividade metafisica & andlise da linguagem. Nenhum fisico hoje rejeitaré a cen-
dade instrumental da matemética na sua actividade, mas rejeitard sem titubear
a fisica consista meramente em anélise matematica. Analogamente, 0 uso
nso de instrumentos logicos ¢ linguisticos foi significativo ao longo da histéria
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
da metafisica; mas se considerarmos que os problemas metafisicos s4o meras con-
fusGes linguisticas, paramos pura e simplesmente de fazer metafisica, dado que
nesta disciplina queremos conhecer ou pelo menos especular com rigor sobre a
natureza ultima da realidade — 0 que certamente inclui a linguagem, mas nao como
uma das suas categorias fundamentais.
1.5. A equivocidade do ser
A distingao entre a realidade e a aparéncia é um dos temas transversais nao
apenas da metafisica, mas também da ciéncia e das religides; ¢ defensével que se
trata de uma distingdo crucial para agentes cognitivamente sofisticados e episte-
micamente faliveis, No caso da metafisica, esta distingfo diz respeito & difereng2
entre a genuina natureza dos aspectos mais gerais da realidade e a sua aparéncia.
Esta diferenca manifesta-se crucialmente nos diferentes usos do verbo «ser».
As afirmagGes seguintes, apesar de parecidas entre si, encerram diferengas meta-
fisicamente cruciais:
1) Sécrates é humano,
2) Anténio Gededo é Rémulo de Carvalho.
3) Aestétua de D. José é de bronze.
4) Aristoteles é (ou existe).
O verbo «ser» ocorre em todas as afirmagées, na forma «é>. E em algumas
Kinguas, como o inglés eo grego, usa-se de novo o mesmo verbo onde em portugués
‘usamos o verbo «estar»: «Teeteto esta sentado» exprime-se nessas e noutras linguas
de novo com 0 verbo «ser». Deste modo, se entendermos a metafisica como uma
disciplina que se ocupa do ser, seré uma boa ideia esclarecer pelo menos alguns
dos diversos sentidos em que algo pode ser:
1) No sentido predicativo, o verbo «ser» atribui uma propriedade a algo; no
nosso caso, atribui a Sécrates a propriedade de ser humano. Sécrates €
humano no sentido em que tem essa propriedade.
2) Nosentidoidentitativo, o verbo «ser» identifica algo com o que se poderia
pensar que era outra coisa; no nosso caso, identifica Anténio Gedeao com
Romulo de Carvalho. Anténio Gededo é Rémulo de Carvalho nao no sen-
tido de ter tal propriedade, mas antes de ser 0 mesmo que Rémulo de
Carvalho.
No sentido constitutivo, o verbo «ser» explicita aquilo de que algo ¢ feito;
no nosso caso, explicita que uma dada estatua ¢ feita de bronze. A estatua
referida é de bronze nio no sentido de ter, estritamente falando, a pro~
METAFISICA DESIDERIO MURCHO.
Priedade de ser bronze, nem no sentido de ser idéntica ao bronze, mas
antes no sentido de ser feita de bronze.
4) Nosentido existencial, o verbo «ser» afirma a existéncia de algo; no nosso
exemplo, de Aristoteles, Nao se trata de identificar Aristételes seja com 0
que for, nem de explicitar a sua constituiggo, nem de lhe atribuir uma
Propriedade comum, mas antes de afirmar que existe.
Ao longo deste capitulo, exploraremos alguns problemas metafisicos relacio-
“ados com estas quatro maneiras diferentes de falar do que algo é ou do ser
de algo.
2. Universais
Quando usamos o verbo «ser» na acepeio predicativa estamos aparentemente
eatribuir a algo uma propriedade, Na afirmagio 1 anterior, atribuimos a Sécrates,
enotado pelo seu nome préprio, a propriedade de ser humano, 0 que fazemos
usando 0 predicado «é humano». Hi aqui pelo menos dois aspectos metafisica-
mente importantes,
Em primeiro lugar, estamos a pressupor uma distin¢&o metafisica entre o
Particular Sécrates e a propriedade de set humano. Trata-se de uma distingao
metafisica no sentido em que as duas entidades parecem pertencer a diferentes
Categorias furndamentais da realidade, ao passo que Sécrates e Aristételes perten-
cem ambos a mesma categoria fundamental.
‘Mas ndo estamos apenas a pressupor uma distingZo; estamos também aafirmar
Juma relagio, que nao € simétrica, entre 0 particular Sdcrates e a propriedade de
ser humano: nomeadamente, o particular é 0 que tem a propriedade, nfo é a pro-
Priedade que tem o particular. Claro que ha propriedades de propriedades ~ ser
azul é uma propriedade que tem a propriedade de ser uma cor ~ mas nenhur
Particular parece poder ser tido por qualquer outra coisa, no mesmo sentido em
ue os particulares tém propriedades, eno sentido em que também as proprieda-
des tém propriedades.
mas antes que
ibe grande parte das Propriedades mais distintivas de Sécrates.) E caracteriza-
mos as propriedades como osatributos ou caracteristicas que tanto os particulares
Omo as propriedades podem ter. Tudo isto ¢ ainda preliminar e vago.
Em segundo lugar, os particulares nao sao ubiquos, ao passo que as proprie-
dades parecem ubiquas, no sentido em que tanto Sécrates, como Platio ¢ muitos
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
outros tém, todos eles, a mesma propriedade: sio humanos. Mas Sdcrates nao é
ubiquo, no sentido em que nao pode estar em dois lugares diferentes ao mesmo
tempo, ao passo que misteriosa propriedade de ser humano parece estar exem-
plificada em varios lugares a0 mesmo tempo: est exemplificada onde quer que
esteja um ser humano.
Assim, somos levados a crer que as propriedades so universais: entidades ubi-
quas ou espalhadas no espaco. Mas como pode uma mesma coisa estar em lugares
diferentes ao mesmo tempo? Se for um particular, parece que nfo pode. Mas um
universal é, precisamente, uma entidade que, por definicao, pode estar em lugares
diferentes ao mesmo tempo, Mais estranhamente ainda, os universais parecem
estar inteiramente presentes em lugares diferentes a0 mesmo tempo: afinal, Sécra-
tes nao tem uma parte apenas da propriedade de ser humano, tendo Platéo outra
parte diferente da mesma propriedade. Pelo contrério, ambos parecem tera mesma
propriedade, na mesma acepcio, ¢ parecem té-la inteiramente.
Uma breve reflexéo sobre afirmagoes predicativas torna plausivel considerar
que as propriedades sdo universais, e que os universais sio entidades metafisica-
‘mente muitissimo diferentes dos particulares. Aquilo a que se chama tradicional-
mente o problema dos untversais seria mais adequadamente denominado o problema
das propriedades, pois o conceito de universal é jé uma primeira resposta ao problema
da natureza das propriedades.
2.1. Relagées
Considere-se as seguintes afirmagoes:
1) Sécrates é humano.
2) Sécrates é marido de Xantipa.
tém, mas estes nao a tém em fungo de uma relago com outros particulares: cadal
particular que é humano é-o sem que isso envolva qualquer relagdo com qualquer
Particular. Mas isso é precisamente o que nao ocorre com a relagao de ser marido!
neste caso, 0 que esta em causa é precisamente a relacdo que existe entre certo
Particulares. Ao passo que cada particular tem as propriedades que tem sem q
para isso tenha de manter qualquer relagao com qualquer outro particular - nem
ticulares (ou entre propriedades), ainda que possam também ocorrer entre um
particular ¢ ele mesmo.
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
Uma das relacées que levanta problemas metafisicos peculiares ¢ a identidade,
10 veremos, Esta ¢ uma relacdo que sé ocorre entre um particular e ele mesmo.
kpesar disso, a identidade ¢ uma relacao ¢ nao uma propriedade comum, no
entido em que diz respeito 4 relagdo que um particular tem consigo mesmo,
no tem com qualquer outro particular; mas nao diz respeito ao particular
m si, independentemente dessa relagao, como acontece com as propriedades
muns.
Um dos argumentos famosos da metafisica do séc. xx envolve o recurso a rela
es e foi proposto por Russell (1912). Quando comegamos a reflectir sobre as
ropriedades, somos levados a crer em universais. Contudo, as campainhas de
1¢ podem comegar a soar, pois parece que estamos a admitir entidades mis-
Gosas demasiado rapidamente - os universais - para explicar uma coisa tao banal
no o facto de varias entidades serem humanas.
Afirmar a existéncia de universais enfrenta além disso a dificuldade adicional
+, aparentemente, escasso poder explicativo: dado que os universais parecem
ax fora do tempo € do espago, nao poderao ter qualquer papel causal; mas se ndo.
em qualquer papel causal, como poderao explicar seja o que for? Além disso,
ado comegamos a pensar seriamente no que ¢ isso de um particular exempli-
um universal, a conversa torna-se demasiado misteriosa: os universais pare-
centidades etéreas, fantasmas que descem simultaneamente em varios lugares,
mpletamente em cada um deles, para dar qualidades ou atributos aos particu-
for estas € outras razSes, muitos fildsofos tentaram ou rejeitar a existéncia de
is, ou ter uma concepgdo menos problematica deles. Uma das tentativas
inar universais é defender que a propriedade da brancura, por exemplo,
de modo algum uma entidade, além dos particulares, que teria o papel de
ear o que ¢ isso de ser branco. Deste ponto de vista, sé ha particulares brancos,
universal da brancura, E 0 que ocorre ¢ que, porque esses varios particu
o semelhantes entre si, dizemos que sio brancos.
sell objectou a este argumento chamando a atengio para o uso que nele se
relacdo de semelhanga. Tome-se dois particulares brancos. Segundo esta
9, ndo precisamos do universal da brancura, que seria misteriosamente
ficado em ambos; apenas precisamos dos dois particulares e da relagao de
.ca que tém entre si. Contudo, Russell argumenta que a relacao de seme-
ie esses dois particulares brancos tém entre si ¢a mesma relago de seme-
quaisquer outros dois particulares tém entre si, se forem semelhantes;
a mesma, ent isso quer dizer que a prépria relagio de semelhanga é um
=i: uma mesma entidade espalhada ao longo do espago, mas inteframente
em cada caso. Assim, tentar eliminar os universais recorrendo & relagio
anga pressup6e que a semelhanga ¢ um universal; a eliminagao foi mal
53
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
E Russell foi ainda mais longe: imagine-se que insistimos, perante esta objec-
40, que afinal a semelhanca que hd entre dois particulares brancos nao é a mesma
telago de semelhanga que hé entre outros quaisquer particulares. Nesse caso,
diremos que ¢ outra relagio, e néo amesma. Mas como parece haver algo de comum
entre a relagio de semelhanga que tém dois particulares brancos ¢ a relacéo de
semelhanca que tém dois particulares azuis, teremos de dizer que essas duas rela-
es de semelhanga, apesar de nio serem uma s6, so semelhantes. O que parece
Jangar-nos numa regressdo infinita pouco promissora,
2.2. Propriedades particulares
Apesar desta objeccao, podemos continuar a insistir que nao ha universais, ¢
que pensar que hé ¢ ser vitima de uma ilusdo linguistica, devido a0 modo como
categorizamos a realidade. Deste ponto de vista, insiste-se que nada hi realmente
de comum entre dois particulares brancos: cada qual tem a sua prdpria brancura,
Acontece apenas que classificamos as duas propriedades da brancura como se fosse
uma $6, porque nao ¢ relevante falar de duas brancuras, a0 passo que é relevante
falar dos dois particulares e nao de um apenas. Chama-se teoria dostroposa um certo
modo de desenvolver este ponto de vista.
Inicialmente, este parece um ponto de vista. ontologicamente econémico, por
Tejeitar essas entidades estranhas que sao os universais, Mas 0 proprio conceito de
economia ontolégica nao ¢ isento de dificuldades. A diferenga entre uma teoria
dos tropos e uma teoria dos universais é aqui ilustrativa. Tome-se dois particulares
brancos. O defensor dos universais afirma que estamos perante trés entidades, ¢
ndo duas— dois particulares e um universal. Isto poder parecer extravagante, mas
teoria dos tropos nao se Ihe fica atras, pois o seu defensor afirma que estamos
perante quatro entidades: dois particulares e duas propriedades. Qual das duas
teorias é mais econémica?
A teoria dos universais compromete-se com menos entidades, mas 0 prego a
Pagar ¢ comprometer-se com entidades de diferentes categorias ontolégicas: par-
ticulares ¢ universais. A teoria dos tropos compromete-se com mais entidades, mas
todos pertencem a mesma categoria ontoldgica: todas as entidades sao particulares.
Oconceito de tropo obriga.a rever a caracterizagio apresentada de particular;
afinal, um tropo é uma propriedade particular, mas nao é um particular no sentido
€m que Sécrates o é. Ao caracterizar um particular como algo que 1) pode ter
Propriedades mas nao pode ser propriedade de seja 0 que for ¢ 2) nao é ubiquo,
misturémos dois conceitos diferentes. O primeiro aspecto capta as entidades que
sto objecto de predicacao mas nio podem predicar; o segundo aspecto capta a
repetibilidade ou irrepetibilidade de umaentidade. Ora, nada parece impedir-nos,
conceptualmente, de cruzar 0 dois aspectos e defender que ha, ou poderia haver,
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
itidades com a caracteristica 1 mas sem a 2, € vice-versa; na verdade, a teoria dos
‘topos afirma que as propriedades tém a caracteristica 2, ainda que nao tenham a
caracteristica 1.
O que significa que podemos insistir que a distingao crucial entre particulares
universais confunde a discussio, que comeca com a tentativa de compreender
porrectamente quais séo as condigGes metafisicas da predicagio — quais sio as cate-
ias de entidades envolvidas. Usar 0 par conceptual particular/universal € ver a
edicagao jd de um certo ponto de vista teérico, em que as propriedades se carac-
izam nao crucialmente por predicar, mas antes por serem repetiveis, ¢ os parti-
alares se caracterizam nao crucialmente por serem objecto de predicagao ultima,
por nao serem repetiveis.
2.3. Conjuntos de particulares
Considere-se o conjunto de todos os particulares brancos. O defensor da teo-
dos universais defende que, além de todos esses particulares, esta envolvida
entidade: a propriedade da brancura, que é comum a todos esses particulars.
maneira de rejeitar esta posicio ¢ insistir que a unica coisa de comum a todos
es particulares é pertencerem ao conjunto a que pertencem: o conjunto dos
lares brancos. A pertenca a este conjunto € um facto bruto e sem qualquer
(cdo: afinal, as explicagdes tém de parar algures.
A vantagem deste ponto de vista ¢ nao precisar de universais nem de topos:
isa de particulares e conjuntos. Ora, os conjuntos sio entidades exaustiva-
re especificadas pela teoria dos conjuntos (que pode ser entendida como um
da matemitica ou da légica), pelo que nao sao de modo algum um mistério,
‘0s universais ou 0s tropos.
Uma dificuldade desta teoria € que os membros de um conjunto parecem per-
er por vezes a uma categoria ontolégica diferente do conjunto em si. Pois
eum conjunto de cinco bananas; cada uma das bananas é um particular com
Bacio espacio-temporal, o que significa que podemos comé-las, por exemplo,
etém cor. Maso conjunto das bananas nao pode, aparentemente, ser comido,
rem cor, aparentemente. Daqui parece seguir-se que o conjunto das bananas
icamente diferente das bananas. Se isto for verdadeiro, talvez a economia
ica da teoria que elimina as propriedades a favor dos conjuntos de particu-
ja menos dbvia do que poderia parecer.
ma dificuldade mais séria é 0 problema da direccao da explicacdo, que parece
nesta teoria. A explicagado mais natural para a pergunta «Por que razio
em todos os objectos brancos ao conjunto dos objectos brancos?» é que
sncos: parece que é 0 facto de serem brancos que explica a sua pertenca a0
<0 dos particulares brancos. Mas esta teoria pretende explicar as coisas a0
35
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
contrario, afirmando que o que explica que tais particulares sejam brancos é a sua
pertenga ao conjunto dos particulares brancos. Quem quiser objectar a esta teoria
poderd deitar mao a esta dificuldade.
Finalmente, podemos formar os conjuntos que nos apetecer, como o conjunto
formado pelo dedo mindinho esquerdo de Sécrates, a buzina do meu carro, a galé-
xia mais populosa do universo e um atomo de hélio. Ora, ou este conjunto é uma
propriedade, ou nao. Se for, qualquer conjunto dos mais dispares particulares cons-
titui uma propriedade, o que ¢ pelo menos surpreendente. Se nao, a teoria nao foi
bem-sucedida ao usar conjuntos para eliminar as propriedades ¢ os universais, pois
pressupée primeiro que hé a propriedade e o universal da brancura, por exemplo,
para depois formar o conjunto de todos os particulares que sio brancos: sem tal
pressuposto, forma-se conjuntos que nao constituem propriedades.
2.4. Predicados e propriedades
Outra linha de ataque 2 teoria dos universais é por em causa a ideia de que
qualquer predicado exprime uma propriedade genuina, A ideia ¢ que é algo ingé-
‘uo pensar que hé propriedades genuinas, quanto mais universais, corresponden-
tes a cada um dos predicados que usamos ou podemos usar. Os predicados so
demasiado baratos e podemos fazer os mais estranhos predicados, tantos quantos
quisermos; mas no é muito promissor pensar que todos exprimem propriedades
genuinas.
Para tomar um caso dbvio, o predicado «sem propriedades», enquanto predi-
cado, é tao legitimo quanto o predicado «sem arestas», Mas revelaria pouca saga-
cidade nossa supor que a propriedade de nao ter propriedades existe sé porque
podemos formular tal predicado. Se aceitarmos que nem todos os predicados que
usamos exprimem propriedades, teremos de comecar por explicar quais sio os
predicados que exprimem as propriedades que constituem universais, a menos que
aceitemos a existéncia de universais ridiculos como o de estar a ser pensado por
um inexistente alto.
2.5. Verdul
Além disso, parece haver alguma arbitrariedade linguistica nos nossos predi-
cados. Isto poderd fazer-nos pensar que a nobre categoria metafisica dos universais
no passa de condensacao de vapor linguistico. O exemplo famoso de Goodman
(1954) é 0 predicado artificioso «ser verdul», que hoje podemos definir da seguinte
maneira: algo é verdul se, e s6 se, for visto pela primeira vez, antes do ano 2100 e
for verde, ou for visto pela primeira vez depois do ano 2100 ¢ for azul. Assim,
METAFISICA DESIDERTO MURCHO
indo esta definicao, todas as coisas a que até hoje chamamos «verde» sio
srduis, mas chegaré um momento, no ano 2101, em que chamaremos «verde» a
sas que no sio verduis.
A primeira reacgdo a um predicado destes € dizer que é artificioso, nao expri-
Bndo por isso qualquer propriedade genuina: é uma mera construcao logica.
patudo, tanto podemos definir o predicado «ser verdul» usando a linguagem do
erde, como podemos fazer o inverso. Neste tiltimo caso, define-se 0 predicado
+ verde» do seguinte modo: algo é verde se, e s6 se, for visto pela primeira vez
s do ano 2100 e for verdul, ou for visto pela primeira vez depois do ano 2100
or azerde. (E, claro, a definigao de azerde é facil de adivinhar. )
O que isto parece mostrar é que se pensdmos que o predicado «ser verdul>nao
sprime qualquer propriedade por ser artificioso, teremos de pensar que também
predicado «ser verde» nao exprime qualquer propriedade, pois também é artifi-
90 ~ nao na nossa linguagem, mas na linguagem do verdul. Porque um predicado
numa linguagem ¢ artificioso nao o é noutra, nao podemos usar o grau de
icio como critério para distinguir entre os predicados que exprimem proprie-
des e os que nao o fazem.
2.6. Universais aristotélicos
No entanto, os predicados mais sébrios ~ nomeadamente os usados na fisica,
imica, biologia e outras ciéncias de imenso sucesso ~ parecem captar algo de
mportante na realidade, pois permitem fazer teorias muitissimo bem-sucedidas,
© passo que os predicados como «ser verdul> dariam a origem a teorias que seriam
mplamente refutadas em 2101. Um defensor dos universais poderé entdo usar este
acesso dos predicados cientificos e defender que alguns predicados exprimem
ropriedades genuinas — nomeadamente os cientificos — apesar de nem todos 0
erem, pelo que ha menos universais do que predicados.
Esta abordagem dos universais é certamente mais sdbria; e, baseando-se na
deia de que as nossas teorias mais bem-sucedidas pressupdem a existéncia
certos universais, d4-nos uma razio admissivel para aceitar que os universais
azem parte da realidade, ndo sendo mera condensacio de vapor linguistico.
as podemos insistir que os universais nao habitam um reino etéreo, estando antes
os particulares. Assim, a brancura nfo seria uma entidade sem localizacao espa-
sio-temporal; ao invés, seria uma entidade repetivel, com vidrias localizagdes
espicio-temporais.
Esta Ultima ideia é admitidamente bizarra, mas menos bizarra do que se a
ancura existisse num reino etéreo, sem localizacao espacio-temporal. E que,
esse caso, seria muito dificil explicar como algo invisivel e sem localizagdo no
=spago poderia fazer um particular ser visivelmente branco numa dada localizacao
57
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
espacial: afinal, o universal da brancura dever4 ser responsével, supostamente, pela
brancura do particular.
Chegémos a uma posicao quanto aos universais que é mais sdbria, e a que se
chama aristotelismo, por oposigao 20 platonismo, Ambas aceitam que as propriedades
so universais, mas a primeira insiste, contra a segunda, que estes nfo existem num
reino do outro mundo, mas antes neste mesmo mundo, nos préprios particulares
que tém as propriedades em causa.
Esta posigao implica que caso nao existissem particulares brancos, nao haveria
© universal da brancura, e que a propriedade da brancura pode existir sem que
exista 0 universal da brancura. Imagine-se 0 momento em que surgiu o primeiro
particular branco; segundo esta teoria, nesse mesmo momento passou a existir no
uma entidade, mas duas. Porém, a segunda entidade ainda nao ¢ efectivamente um
universal, dado que é uma propriedade de um tinico particular: nao esta repetida
‘no espaco, como 0s universais. Mas quando surge um segundo particular branco,
a propriedade da brancura torna-se o universal da brancura. E 0 universal da bran-
cura volta a desaparecer de cena quando todos os particulares brancos desapare-
cerem (ou todos menos um). E evidente que esta concepeao de universais viola a
ideia de Platdo de que os universais, a que ele chamava formas ou idetas, so eternos.
‘Mas isso nfo é uma boa razo para pensar que est4 errada.
Ha pelo menos uma maneira de evitar que a brancura possa ser primeiro uma
mera propriedade e depois um universal, quando surgem mais particulares bran-
cos. Essa maneira ¢ definir 0 conceito de universal de tal modo que seja uma pro-
priedade repetivel, sendo irrelevante se esta de facto repetida ou néo. Assim, a
brancura é um universal mesmo que exista apenas um objecto branco, pela simples
razao de que poderia haver mais objectos brancos. Mas Sécrates nao é um univer-
sal porque ¢ irrepetivel: nd poderia haver mais de um Sécrates ~ para alivio dos
seus concidadaos, que se viram livres do tinico que existiu, condenando-o 4 morte
assim que tiveram oportunidade.
3. Particulares
«Sécrates é humano» atribui uma propriedade a Sécrates. E, como é dbvio,
poderiamos atribuir-lhe correctamente muitas outras propriedades, como ate-
niense, grego, marido de Xantipa, professor de Plato, etc. Mas onde acaba o «ete
¢ onde encontramos o particular que tem todas essas propriedades? A perplexi-
dade & que se pensarmos em qualquer particular e fizermos a lista das suas pro-
priedades, nada parece sobrar.
‘Vejamos um caso mais simples: um cubo de ago. Se lhe retirarmos a proprie~
dade de ser um cubo, ser de ago e ter uma certa dimenséo, massa ¢ cor, nada pare!
sobrar. Onde est entao o particular que tem todas essas propriedades?
METAFISICA DESIDERIO MURCHO.
© nosso problema agora é a imagem de espelho do problema anterior com as
priedades. Uma saida para esta perplexidade é aceitar que as coisas sio mesmo
m, € que nao ha particulares: estes so meras iluses da nossa parte. Esta saida
€ aceitavel para quem nfo aceitar universais, pois o modo mais ébvio de a
lar é defender que os particulares so apenas feixes de universais. Supondo
as perplexidades e dificuldades com 0 conceito de universal foram resolvidas,
nos usé-lo agora para analisar o conceito de particular. Assim, Sécrates nao é
Eo para 14 de todos os universais que exemplifica: se eliminarmos todos esses
ersais, nada resta.
3.1. Identidade numérica
Uma primeira dificuldade com esta abordagem é que as condigGes de identi-
dos particulares parecem diferentes das condigées de identidade de feixes de
sais. Ha dois conceitos distintos de identidade: a numérica ¢ a qualitativa.
sio relag6es, mas a primeira sé ocorre entre um particular e ele mesmo, a0
© que a identidade qualitativa pode ocorrer entre dois particulares (ainda que
cra também, evidentemente, entre um particular e ele mesmo).
A identidade numérica é tal que uma afirmacao como «Antonio Gededo é
aulo de Carvalho» sé é verdadeira porque, alm de Anténio Gedeao ter todas
opriedades que tem Rémulo de Carvalho e vice-versa, néo estamos perante
mas antes um particular apenas. Compare-se com uma afirmacio como
Jacinto ¢ igualzinho 20 Mario», quando estamos a falar de dois gémeos verda-
6s, acabados de nascer: estes, por muito iguais que sejam, no so rigorosa-
Ente iguais, precisamente por serem dois ¢ ndo um apenas. (Curiosamente, na
gua portuguesa usa-se por vezes «igual» para falar da identidade estrita, reser-
do-se «idéntico» para a mera semelhanga: «é idéntico», diz-se, «mas nao &
>.)
Todavia, se pensarmos bem, ndo parece haver estrita identidade qualitativa
quaisquer dois particulares numericamente distintos. Certamente que duas
as to iguais quanto possivel nao sao realmente iguais, num sentido rigoroso
srito. Por exemplo, nao foram ambas feitas exactamente do mesmo pedaco de
eira, pois se 0 tivessem sido, o mesmo pedaco de madeira exactamente estaria
supar dois lugares diferentes ao mesmo tempo; mas é defensavel que nenhum.
0 de madeira pode ocupar dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Além
9, nenhuma das cadeiras ocupa o mesmo lugar que a outra, 20 mesmo tempo.
Torna-se por isso plausivel defender, como Wilhelm Gottfried Leibniz (1790:
9), que dados quaisquer hipotéticos particulares, se estes tiverem exactamente
mas propriedades, entao nao estivamos perante dois particulares mas antes
‘s6. Usando a notagao légica habitual, temos 0 seguinte:
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
Vx Vy VE [(Er> Fy) > x=]
A este princfpio chama-se por vezes lei de Leibniz ou principio da identidade
dos indiscerniveis. Ao principio converso, lendo a condicional da direita para a
esquerda, chama-se indiscernibilidade de idénticos, e & isso que define a identidade
numéric:
> (r= B)]
O que esta formula quer dizer é que, dados quaisquer dois particulares hipo-
téticos e dada qualquer propriedade, se os dois particulares nao sao afinal dois mas
um s6, entao tém exactamente as mesmas propriedades.
Os dois principios séo bastante plausiveis, a partida, apesar de ser mais facil
ver maneiras de resistirao primeiro. Se juntarmos 0s dois, concluimos que nenhuns
particulares exactamente com as mesmas propriedades diferem numericamente ¢
nenhuns particulares numericamente idénticos diferem em propriedades. Ou seja,
concluimos que sempre que temos identidade qualitativa estrita temos identidade
numérica, e vice-versa,
Podemos desejar distinguir, entao, a identidade qualitativa estrita, que acaba
por conduzir a identidade numérica, se aceitarmos o principio da identidade dos
indiscerniveis, da identidade qualitativa lata: dois particulares, numericamente
distintos, sd qualitativamente idénticos em termos latos se, se s6 se, tem um
grande numero de propriedades salientes em comum, como ocorre com duas
cadeiras que dizemos informalmente serem iguais.
3.2. Condigées de identidade
Aceitemos, a titulo de hipdtese, que nao hé identidade qualitativa estrita sem
haver identidade numérica, Se voltarmos agora a ideia de que os particulares sia
apenas feixes de universais, vemos que nada parece impedir que dois universai
digamos, sejam co-exemplificados conjuntamente varias vezes, sem que hajs
qualquer diferenga qualitativa entre essas varias exemplificagées. Por exempla
nada parece impedir que os universais da brancura e da triangularidade sejam
co-exemplificados varias vezes, sendo sé eles exemplificados em cada uma des
vezes. Mas isto significaria que teriamos dois particulares numericamente distin
tos, dois triangulos brancos, por exemplo, endo um s6, se contarmos os partic:
res directamente; mas teremos um sé particular se tudo o que conta para cont
particulares é a natureza dos universais por eles exemplificados. Afinal, temos ut
ou dois triangulos quando ambos exemplificam exactamente os mesmos uni
versais?
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
Uma maneira de responder a esta dificuldade ¢ insistir que a localizacio no
paco e no tempo ¢, em si, uma propriedade (ainda que relacional) dos parti-
lares, Podemos insistir que o contra-exemplo anterior ignorava que para que os
ersais da triangularidade e da brancura possam ser exemplificados mais de
vez, terfio de o ser em diferentes lugares ou diferentes momentos. Mas isso
fica que o primeiro triangulo branco nao tem as mesmas propriedades do
do triangulo branco, pois a sua localizacao espacio-temporal, que éuma pro-
dade como outra qualquer, € diferente. Deste modo, a objecgio parece ficar
ulada: afinal, as condig6es de identidade dos feixes de universais parecem coin-
lir com as condig6es de identidade dos particulares.
3.3, Tempo e identidade
Se aceitarmosa ideia de que a prépria localizagdo no tempo é uma propriedade
Slacional) que os particulares tém, e se aceitarmos também o principio da indis-
mibilidade de idénticos, parece seguir-se que nenhum particular é idéntico a
quer particular que nao exista exactamente no mesmo momento do primeiro.
Pois considere-se Sdcrates as cinco da tarde; se considerarmos que ele tem a
priedade de estar localizado nesse momento do tempo, ento o Sécrates das
£0 ¢ dez nao s6 nao tem essa propriedade, como tem outra:a de estar localizado
© momento do tempo. Mas o principio da indiscernibilidade de idénticos é
condicional: se néidéntico am, entdo nem tém as mesmissimas propriedades.
© Sécrates das cinco ¢ 0 das cinco e dez nao tém as mesmas propriedades.
», por modus tollens, nao se trata do mesmo particular.
Note-se que o problema nio diz respeito a Sécrates enquanto pessoa, 0 que
ce complexidades préprias; antes diz respeito a qualquer particular, incluindo
tomo de hélio.
Parece entio razoavel defender que as seguintes afirmagGes sao inconsistentes:
2) Cada particular ¢ idéntico ao longo do tempo;
2) O principio da indiscernibilidade de idénticos ¢ verdadeiro;
3) A localizacio temporal é uma propriedade como outra qualquer.
Para sustentar a primeira ideia, que parece muitissimo razoavel -e, além disso,
para fazer ciéncia - teremos de abandonar uma das outras duas. Dada a
sibilidade da segunda, a opgio mais promissora é abandonar a terceira. Veja
como se pode argumentar nessa direccao — sem argumentar circularmente
falsa porque desse modo nao temos de abandonar as outras.
FILOSOFIA UMA INTRODUCAO POR DISCIPLINAS
3.4. Mudanga de Cambridge
Considere-se um atomo de hidrogénio, na galixia de Andromeda, tranquila-
mente a fazer a sua vidinha. Surpreendentemente, acabou de ganhar a propriedade
relacional de ficar 4 distancia d, do leitor, quando hé apenas dois segundos estava
A distancia d, do leitor ~s6 porque o leitor deu dois passos em frente. Eo niimero
de propriedades relacionais deste género que esse étomo est4 continuamente a
ganhar ea perder é gigantesco. O mesmo se pode dizer das propriedades relacio-
nais que o leitor acabou de ganhar e perder desde que comecou aller este paragrafo,
algumas das quais envolvem esse mesmo étomo, outras envolyem pessoas que o
eitor nunca iré conhecer porque eram Astecas ¢ outras envolvem quarks que emer-
giram um microssegundo depois do Big Bang.
O que esta em causa ¢ semelhante a0 problema anterior («sera que todos os
predicados exprimem propriedades genuinas?»), 36 que agora nao se trata de saber
Se sio genuinas as relagbes expressas por estes predicados relacionais - parecem
perfeitamente genuinas, e no meras construgoes linguisticas ~ mas antes se tais
relag6es constituem, em algum sentido metafisicamente relevante, atributos dos
particulares envolvidos: serao propriedades intrinsecas, ou extrinsecas?
Podemos pensar que as propriedades relacionais, s6 por serem relacionais sio
extrinsecas e que as propriedades nao relacionais, s6 por isso, so intrinsecas. Mas
ha razdes para por em causa estas duas ideias. A segunda ideia foi posta em causa
como caso do verdul; quanto a primeira, considere-se a propriedade que Nicémaco
tem de ser filho de Aristételes. Esta é uma propriedade relacional, mas de mode
algum parece extrinseca; efectivamente, parece uma propriedade crucial de Nicé-
maco, sem a qual ele nao existiria.
Assim, perante uma propriedade, seja ela relacional ou nio, falta-nos aind
saber se é intrinseca ou nio. Vimos que pelo menos algumas propriedades relacio
nais talvez sejam intrinsecas; mas sé-lo-do todas elas? Eis uma razio para pensa
que nao,
Considere-se a seguinte definigao: um particular sofre uma mudanga se, ¢ sé
se, ganha ou perde quaisquer propriedades, relacionais ou nao. Se aceitarmos esta
definigao, entdo temos aquilo a que Geach (1969) ironicamente chamou «mudanga)
de Cambridge»: este era o modo como (Geach afirma que) alguns filésofos de
Cambridge (Bertrand Russell e J. M. E. McTaggart) entendiam 0 conceito met:
fisico de mudanga, com respeito aos particulares. E 0 problema ¢ que esta concep
fo nao distingue entre genuina mudanga, que certamente obedece a este critério
© a «mera mudanga de Cambridge», que obedece ao critério mas nao parece de
modo algum constituir uma mudanca genuina. Eo caso das mudangas que o dtome
acima mencionado (no) sofre em funcao de o leitor dar dois passos em frente,
das mudangas que o leitor (nao) sofre em fungao do que acontece aos quarks p
mordiais. Assim, talvez nem todas as propriedades relacionais sejam propriedades
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
intrinsecas, propriedades com qualquer relevancia metafisica para os particulares
envolvidos.
Imagine-se que temos boas razGes para aceitar a ideia, que parece bastante
intuitiva, de que nem todo o processo de perder e ganhar propriedades relacionais
~ ainda que sejam genuinas propriedades relacionais ¢ no meras projecgoes lin-
‘guisticas—gera mudancas genuinas nos particulares envolyidos. Nesse caso, temos
também razoes para levar a sério a hipétese de que a propriedade relacional de
estar localizado num dado momento do tempo nao tenha, sé por si, qualquer rele-
cia metafisica no que respeita 8 natureza do particular em causa — ainda que se
te de uma propriedade genuina.
Deste modo, teremos uma razio independente para rejeitar que a localizagao
iporal seja uma propriedade como outra qualquer ~ se acaso temos em mente
propriedades responsiveis por mudangas genuinas nos particulares. Pelo contr4-
, temos razbes para pensar que as propriedades relacionais sao, por vezes, res-
onsiveis por meras mudangas de Cambridge: mudangas que ndo so genuinas.
im, o simples facto de um particular estar sempre a perder e a ganhar proprie~
ides relacionais quanto a sua posigéo no tempo nao é relevante para pér em causa
‘sua identidade ao longo do tempo.
3.5. Feixes, identidade e tempo
Retomemos a ideia original de que um particular nao é senao um feixe de
tiversais; a objec¢4o mencionada é que nada parece impedir os universais da
ngularidade e da brancura de serem repetidamente exemplificados. Mas, neste
9, terjamos varios particulares, com diferentes localizagoes espacio-temporais,
um mesmo par de universais co-exemplificados isoladamente. Dado que uma
s2 nao pode ser duas, parece que os particulares no podem ser apenas feixes
iversais.
A resposta a esta objecgao envolvia considerar a propriedade relacional de
localizado num dado momento do tempo como uma propriedade cuja posse
séncia seria relevante para a identidade; mas temos razées independentes
Pensar que isto é falso. Logo, temos razGes independentes para pensar que a
posta 4 objeccdo nao é promissora,
Além disso, a resposta a objecgao era tal que tornava impossivel a identidade
alquer particular ao longo do tempo. Uma breve discussio localizou o pres-
sto oculto na argumentagio: a ideia de que a propriedade relacional de estar
izado num dado momento do tempo era uma propriedade relevante para a
nga genuina. Ora, temos razdes independentes para pensar que isto é falso.
temos razes independentes para pensar que a resposta 4 objeccao nao é
ora.
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
Neste ponto, contudo, o defensor da ideia de que os particulares nada sao}
senao feixes de universais tem uma resposta promissora. Ao argumentar contra a
sua resposta 4 nossa objeceao, defendemos que a localizacao temporal nao é rele
vante para a identidade, no sentido em que se um particular se limitar a persistir}
‘no tempo, sem sofrer qualquer outra mudanca, é 0 mesmo particular que era.
Ora, o defensor da teoria dos feixes pode agora fazer notar que se a mer:
mudanga no tempo nao é, s6 por si, uma mudanca genuina, e se aceitarmos o
mesmo quanto & mudanga de localizacdo no espaco, o que parece razoavel, enti
nao temos raz6es para afirmar que co-exemplificagdes dos mesmos dois universais
de triangularidade e brancura que ocorram em momentos diferentes do tempo 0%
em lugares diferentes do espaco no podem constituir exactamente o mesmo par-
ticular, numericamente o mesmo, sé por terem diferentes localizagbes espaci
-temporais. Afinal, n e m nao sio numericamente o mesmo se, e sé se, um del
tiver propriedades que o outro no tem. Mas se a tnica diferenga de propriedad
entre eles é uma diferenga de propriedades relacionais quanto a localizagao espé
cio-temporal, ¢ se concordarmos que estas propriedades relacionais podem limi
tar-se a introduzir mudangas meramente de Cambridge, mas nao mudaneas met:
fisicamente genuinas, entio precisamos de algo mais para afirmar que n e m na
sio numericamente idénticos. E se acaso forem numericamente idénticos, a obje
(40 & ideia de que um particular é apenas um feixe de universais ndo colhe.
Esta resposta, contudo, tem uma consequéncia estranha: poderfamos cont:
dois triangulos brancos ao passar algures, porque estariam em lugares diferent:
apesar de, numericamente, ser apenas um triangulo branco. Por esta ¢ out
razes, poderemos desejar explorar alternativas que nos permitam compreend
anatureza dos particulares.
3.6. Substincia
Talvez exista efectivamente algo que seja o fundamento ontolégico tltimo
toda a predica¢ao, aquilo sem o qual os universais nao poderiam ser exemplificad
Chamemos-lhe substéncia.
Podemos defender ideias diferentes quanto & substancia, em parte em fun
do que visamos explicar. Se tudo o que queremos explicar ¢ 0 fundamento m¢
fisico da predicagao, podemos insistir que a substancia ¢ apenas o substrato de t.
a predicacao, Esta concepgao de substancia ¢ compativel com a ideia de q
nenhuma substdncia existe sem propriedades: nesta acepcdo, a substincia nao}
um individuo, uma entidade completa, iltima, ou, como por vezes se diz,
«tomo filoséfico»,
Consequentemente, o partidério desta concepcio de substincia concorda q
quando, em pensamento, retiramos uma a uma todas as propriedades de um p:
METAFISICA DESIDERIO MURCHO.
ular, nada parece sobrar. Nada sobra, efectivamente, porque um individuo €
Ipre uma substéncia com uma ou mais propriedades, e nfo apenas uma subs-
ia isolada. Nesta acepgdo minimalista de substincia, nao se esta obrigado a
mnsiderar que a substéncia é uma entidade subsistente por si mesma.
Uma alternativa é conceber a substancia como um individuo que subsiste por
mesmo, com ou sem propriedades, a0 passo que as propriedades so entidades
existéncia independente. Isto parece fazer da substincia um particular n
na entidade completamente desprovida de propriedades, mas que pode receber
opriedades. Como seria possivel, neste caso, distinguir as substdncias entre si,
como poderfamos defender que ha uma tinica substancia, é algo que nao pode-
9s explorar aqui.
3.7, O barco de Teseu
Considere-se o barco de Teseu. Sendo inteiramente constituido por pranchas
madeira, é periodicamente reparado, substituindo algumas daquelas pranchas.
tamente que quando substituimos uma dessas pranchas nao dizemos que 0
de Teseu deixou de existir. Mas ao longo do tempo vamos substituindo varias
pranchas, até chegar a um ponto em que todas as pranchas originais do
de Teseu foram substituidas. Estamos ainda perante 0 barco de Teseu?
Se respondermos que sim, teremos uma dificuldade. O nosso vizinho foi guar-
outras do as pranchas velhas que fomos retirando do barco de Teseu. Agora que j4 as
eender itodas, reconstruiu o barco. Por que razaio nao ¢ este 0 barco de Teseu, em vez
psso? E se é, como podem dois particulares compostos de matéria diferentes
m € o mesmo ¢ ter diferentes localizagoes espécio-temporais?
tespondermos que nao, teremos de explicar quando deixou o barco de
de existir e porqué. E implausivel dizer que substituir uma prancha num
aniquila o barco original. Nesse caso, qual foi a prancha cuja extraccao ani-
‘ barco original? Ou quantas precisamos extrair para aniquilar 0 barco ori-
das motivagdes para ter uma teoria da substancia é precisamente explicar
tidade dos particulares ao longo do tempo. Explicariamos a identidade de
ao longo do tempo, por exemplo, apelando para uma mesma substancia
varias alteracées ao longo do tempo. E poderfamos argumentar que nem
particulares sao substncias: em alguns casos, trata-se de aglomerados de
, Caso em que as suas condicdes de identidade sfo diferentes das con-
identidade para substancias.
m, o barco de Teseu nio seria uma substancia, mas antes um aglomerado
ancias. E as condigGes de identidade de aglomerados de substancias s4o
parte convencionais: dependem dos nossos interesses. Mas no caso de
6s
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
Socrates, ou da égua, a identidade ao longo do tempo é uma questo de haver umal
mesma substancia que vai ganhando e perdendo propriedades de um certo género,
mas nao de outro: vai perdendo e ganhando propriedades acidentais, mas retém
todas as suas propriedades essenciais.
3.8. Propriedades essenciais
Considere-se 0 caso da égua. Uma propriedade essencial da agua é, aparente
mente, a sua composigio quimica: ser H,O. Se uma dada porgio de Agua for real:
mente H,O, nao poderia, aparentemente, nao ser ‘HO; mas se estiver fresca, pod
tia evidentemente nio 0 estar, e se estiver em Lisboa, poderia evidentemente nia
© estar, Estas tiltimas sao propriedades acidentais da agua. Uma substincia ters
uma propriedade acidental quando pode perdé-la, sem deixar de ser a mesm
substincia; ao passo que tem uma propriedade essencial quando nao pode deixar}
dea ter sem deixar de ser o que é.
Caso um particular perca propriedades essenciais, muda a substincia: perde-
a identidade ao longo do tempo. Uma porgao de gua, por exemplo, pode certa
mente softer uma transformagao, sendo consumido o seu oxigénio e restando ape
nas 0 hidrogénio. Neste caso, a porcao de 4gua desapareceu, transformando-se
noutra coisa: nao é jé uma porgdo de agua, mas antes uma porcao de hidrogénio.
Por outro lado, quando a porgdo de agua ganha e perde varias propriedades
acidentais, continua a ser 4gua desde que retenha as suas propriedades essenci:
neste caso, desde que continue a ser H,O.
Algumas propriedades essenciais sao individuadoras, outras nao. A proprit
dade essencial que a 4gua tem de ser H,O é individuadora, se for verdadeiro q
86 adgua é H,O e que tudo o que for H,O é égua. Mas, admitindo que a propriedada
que Sécrates tem de ser humano ¢ essencial, esta nao é uma propriedade essenci
individuadora, dado que hé muitos outros seres humanos. E nem o cédigo genéticd
de Sécrates é uma propriedade essencial individuadora, porque dois irmaos gémea
verdadeiros tem o mesmo eédigo genético, mas sio dois particulares e nio um.
Um critico poder objectar que nao precisamos do conceito de substancia pa
dar conta da identidade dos particulares ao longo do tempo: bastam as proprieda
des essenciais individuadoras. Deste ponto de vista, bastaria um particular mantel
as suas propriedades essenciais individuadoras ao longo do tempo para manter
sua identidade.
um particular nada mais é do que um feixe de universais co-exemplificados. Poi
imagine-se que realmente Sécrates nada mais é do que um conjunto de propri
dades individuadoras. A menos que tenhamos uma concepgéo especial de proprie
dades, nada parece impedir que estas mesmas propriedades pertencam a mais d
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
m object, se os contarmos em termos de localizagao no tempo e no espaco, ainda
todos esses particulares fossem numericamente o mesmo. Sem 0 conceito de
bstincia para garantir que cada particular seja irrepetivel, as propriedades, ainda
essenciais e individuadoras, nao desempenham adequadamente esse papel, a
10s que tenhamos delas uma concepgio especial.
3.9. O problema da composi¢ao
Consideremos de novo a afirmagao «A estitua de D. José é de bronze». Neste
, nfo estamos a fazer uma predicacdo como a que ocorre em «Sécrates é
ynano». Estamos a falar, ao invés, da constituicao da estétua, da matéria de que
a. Mas que relagao existe exactamente entre a matéria de que é feitaa estatua
estatua?
Parece razoavel pensar que a matéria de que ¢ feita a estétua ¢ uma condicao
ria da identidade da estatua: esta nfo seria a estatua que é, ainda que tivesse
esma aparéncia, caso fosse feita de ceramica, ou de um pedago diferente de
. Mas a matéria de que ¢ feita a estatua nao é uma condigio suficiente da
Jdentidade, dado que antes de a estatua ter sido feita jé existia o pedago de
. A estétua nao 6, pois, idéntica a0 pedaco de bronze de que ¢ feita. Nesse
quantos particulares afinal existem quando estamos perante a estatua de
ze? Um ou dois?
considerarmos que diferentes condigdes de identidade determinam dife-
es particulares, parece que concluiremos que estamos perante dois particula-
estatua ¢ o pedaco de que é feita. Mas isto parece violar o princfpio intuitivo
nenhuns dois particulares podem ocupar o mesmo espaco a0 mesmo tempo.
ontudo, é defensivel que nem todos os particulars sao substancias e que s6
ailtimas estao impedidas de, sendo diferentes, ocupar 0 mesmo espaco a0
e tempo. Pois considere-se de novo 0 caso da agua. Nenhumas duas porgdes
distintas ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo; mas talyez uma estétua
ja uma substancia, mesmo que a matéria de que é feita seja uma substancia.
tua poder ser uma configuragao de uma dada substancia- 0 bronze, no
caso. Deste ponto de vista, 0s escultores nao fazem estituas, no sentido de
em substéncias; o que fazem é dar uma certa configuragao a uma dada subs-
‘ou agregado de substincias.
0. Existéncia
msidere-se as afirmages «Aristételes existe» e «Sherlock Holmes existe».
nos oferece dizer, sem grande reflexio, é que a primeira é verdadeiraea
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
segunda falsa, se entendermos que em ambos os casos queremos dizer que existe
ou existiu. Mas ¢ se quisermos incluir em «existe» o sentido futuro de «existiré»?
Poder Sherlock Holmes vir a existir, apesar de nunca ter existido? Aqui, j4 hesi-
tamos sobre 0 que dizer.
Uma das dificuldades é que Sherlock Holmes é uma personagem de ficgio
literaria, criada por Sir Arthur Conan Doyle. Podera uma personagem de ficgao
literéria, que nunca existiu na mesma acepgao em que oleitor existe ou Aristételes
existiu, vir a existir? Como seria tal coisa?
Pelo menos a primeira vista, parece que o aparecimento de alguém, daqui a
uma semana, que obedecesse a todas as descrigdes de Sherlock Holmes (excepto
as que dizem respeito 4 sua localizacao temporal) nao seria um caso 6bvio em que
dirfamos que era realmente Sherlock Holmes; dirfamos antes, talvez, que por uma
coincidéncia curiosa tinha aparecido alguém muito parecido com uma personagem
de ficgdo, mas que essa pessoa real nao era a tal personagem de ficedo. Afinal,
argumentarfamos talvez, uma pessoa real e uma personagem ficcional néo podem:
ser numericamente idénticas, pois tém propriedades incompativeis. Por exemplo,
as pessoas reais s40 criadas por outras pessoas, biologicamente; ao passo que as
personagens ficcionais s4o criadas por outras pessoas, nao biolégica mas antes nar-
rativamente, por exemplo, ou pictoricamente. Ora, nem as pessoas reais so criadas
Por outras pessoas narrativamente, nem as personagens de ficcdo sao criadas por
outras pessoas biologicamente. Os dois géneros de propriedades parecem nao ape-
nas bastante distintos, como incompativeis.
Contudo, é perfeitamente razoavel dizer que Sherlock Holmes existe, numa
certa acepcio do termo. Talvez nao exista na mesma acepcao em que Aristételes
existiu, ou em que o leitor existe, mas se nao existisse Sherlock Holmes como:
poderfamos dizer verdades sobre ele? E hd muitas verdades que podemos dizer
sobre ele, nomeadamente que é uma criagio literdria de Conan Doyle, que, nas
histérias por este criadas, morava em Baker Street, que era muitissimo bom a racio-
cinar e que tinha um amigo médico chamado «Watson». Tudo isto parece perfei-
tamente verdadetro, e tudo isto parece dizer respeito a Sherlock Holmes. Mas se!
este nfo existe, como poderia tudo isto ser verdadeiro?
Que talvez algo esteja errado neste raciocinio torna-se patente assim que nos
damos conta que podemos usar o mesmo género de raciocinio para defender que
para podermos negar a existéncia seja a0 que for temos primeiro de supor que
existe, Por exemplo, imagine-se que comeco a falar de Asdribal da Cunha Filho,
que tem a caracteristica interessante de no existir, nunca ter existido ¢ nunca vi
a existir. Teremos de aceitar que ele existe para eu poder dizer que nao existe?
Algo parece errado aqui. Mas 0 qué?
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
3.11. Modos de existéncia
Os nomes préprios sao fonte de perplexidade metafisica porque muitas vezes
acionam apenas como etiquetas atribuidas ostensivamente; dado parecer ébvio
nao podemos por etiquetas ostensivamente excepto no que existe, parece que
um nome proprio é pressupor que algo existe que seja a referéncia do nome.
verdade, a légica classica pressupde que todo o nome usado na sua linguagem
ere algo. A formula seguinte é uma verdade légica na légica classica:
ar
n
Seja «1 0 nome que for, esta formula afirma que existe isso que tal nome
cia. Como seria de esperar, muitos légicos ¢ filésofos rejeitam que esta formula
uma verdade légica, e propdem ldgicas alternativas, Certamente que numa
gem artificial, como é 0 caso da légica, podemos exigir que se use apenas
s que tenham referentes. Mas na linguagem corrente parece evidente que
nos muitos nomes de particulares que nao existem, pelo menos na mesma
do em que o leitor existe.
‘Tmagine-se que todos os nomes préprios foram introduzidos ostensivamente.
€, evidentemente, uma imagem simplista do modo como funciona a lingua-
mas poder ajudar-nos a compreender melhor o enigma dos nomes sem refe-
Se todos os nomes foram introduzidos ostensivamente, isso quer dizer que
ante Aristételes o nome «Aristételes» foi introduzido na linguagem, por
splo; e assim para todos os nomes.
smo nesse caso, o nome «Sherlock Holmes» poderia ser introduzido, ainda
em rigor, nao fosse ostensivamente, mas antes descritivamente: é como se
an Doyle nos dissesse que «Sherlock Holmes» é 0 nome daquela personagem
idescreve nas suas narrativas. E quase uma ostensao, mas a diferenca est no
objecto da ostensao: nao uma pessoa real, mas uma personagem de ficcio,
ra narrativa. Mas isto parece implicar que afinal Sherlock Holmes existe
nao é uma pessoa real. Poder haver diferentes acepcdes de existéncia?
um certo sentido, ja vimos que hé diferentes acepgdes de existéncia: quem
de que ha universais, por exemplo, poder defender que estes nao existem
10 sentido em que existem os particulares, ainda que ambos existam
cia nao é univoca, poder-se-ia dizer.
nossa hesitagao com o caso de Sherlock Holmes deve-se talvez ao facto de
=starmos perante um nome que carega em absoluto de referente, mas antes
te um nome que refere uma entidade de fic¢ao, Dai que tenhamos inclinagao
lizer que numa certa acepgao Sherlock Holmes nao existe, mas existe noutra.
aceitar isto nao implica aceitar que a férmula acima da logica classica é
ite uma verdade ldgica; pelo contrario, podemos insistir que a sua negagdo
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
(Wa-= n) é verdadeira, em alguns casos de alguns nomes. Pois imagine-se que
estipulo que «Afranio» é © nome do primeiro ser humano capaz de viajar mais
depressa do que a luz. Imagine-se ainda que ninguém pode viajar mais depressa
do que a uz. Parece entao que Afrinio nao existe, nem sequer ficcionalmente. Eis
tum m tal que, como afirma a formula entre parénteses, dado qualquer particular,
esse particular nao é n. E nao temos de aceitar absurdamente que Afranio existe
Para que possamos dizer que nao existe.
Contudo, olhe-se de novo Paraa formula que afirmamos verdadeira, dizendo
respeito an. Bis uma maneira errada de explicar por que razio é ela verdadeira, na
situagdo que imaginamos: dado que nao hé qualquer n, a fSrmula & verdadeira :
Porque afirma que qualquer coisa que tomemos ndo sero referente de «n», Que
isto estd errado vé-se assim que nos damos conta de que a formula nada diz real-
mente acerca do nome «n»; na verdade, limita-se a falar de n,
E, como é 6bvio, é muito diferente falar de um nome de usa
«Aristételes» tem letras, mas Aristételes ndo tem letras,
mOes, mas «Aristételes» nao tem pulmées.
Assim, a formula nada afirma, de facto, sobre o nome «rm; 0 que a formula faz
€ afirmar que nada do que existe ¢ idéntico an. Mas agora nao é assim tZo dbvio
gue no tenhamos de admitir que n tem uma certa realidade para que possamos
dizer que nao existe no sentido em que as outras coisas existem. Ou seja, parece
que tem de existir para poder ser objecto de afirmagées. Nesse caso, contudo, a
Ségica clissica esta correcta, ao asseverar que todos os nomes introduzem um exis-
tente no discurso;
€ esta posigdo € mais plausivel se tivermos em conta que nao
implica que tudo o que existe na acepgao de ser objecto de discurso existe na
mesma acep¢io em que Aristételes ou o leitor existem.
endo do nome «n».
rum nome: o nome
e Aristételes tinha pul-
4. Necessidade
A necessidade, possibilidade e contingéncia so conceitos centrais da metafi-
Sica, ¢ de tal modo importantes que ¢ dificil ver como poderfamos pensar sem os
usar, ainda que ao fazé-lo nao nos apercebamos disso.
Annecessidade, possibilidade e contingéncia sio modalidades aléticas (do
grego aletheia, «verdade»):modos da verdade. Ou seja, uma afirmagio é verdadeira
no modo da necessidade, da possibilidade ou da contingéncia,
Uma afirmagao é uma verdade necessaria quando, além de verdadeira, nao
Poderia nao ser verdadeira: é 0 caso da afirmagio «cinco mais sete é doze», Uma
afirmagao ¢ uma verdade contingente quando poderia nao ser verdadeira: é 0 caso
de «Sccrates nasceu em Atenas», se acaso ele poderia ter nascido noutro lugar.
Quanto possibilidade, ¢ apenas anegagao da necessidade da negagao: afitmar
que ¢ possivel que esteja a chover é afirmar que nao é necessirio que nfo esteja a
METAFISICA DESIDERIO MURCHO.
ver. Simetricamente, a necessidade é a negacao da possibilidade da negagio:
emar que um dado triangulo tem necessariamente trés lados é afirmar que nao
ossivel que esse triangulo nao tenha trés lados.
Qs casos mais dbvios de verdades necessirias so as verdades da légica e da
ematica, assim como as verdades analiticas. Estas ultimas so afirmagSes que
os saber que so verdadeiras exclusivamente com base no conhecimento
temos do significado dos termos envolvidos na frase, juntamente com a sua
utura sintactica: o exemplo dbvio é «nenhum solteiro é casado», o que contrasta
a «nenhum solteiro ¢ feliz», que obviamente nao é analitica. Contudo, havera
dades necessarias que nao sejam légicas, matematicas ou analiticas?
4.1. Necessidade metafisica
‘Chama-se necessidade meramente metafisica &s hipotéticas verdades necessirias
‘nao sio verdades ldgicas, nem matemiticas nem analiticas. Uma diferenga
al entre as necessidades do primeiro grupo, a que chamaremos conceptuais, €
sramente metafisicas é que estas tiltimas nao so estabelecidas com base no
io puro, como acontece com as primeiras.
Pois tome-se 0 caso da Agua, j4 mencionado: a tese de que a 4gua é essencial-
H,O nao pode ser estabelecida com base no raciocinio puro porque inclui
de que a igua é realmente H,O, que é algo que sé podemos saber pela expe-
cia. E se a tese empirica de que a Agua ¢ H,O for falsa, a tese de que a 4gua é
encialmente HO é também falsa. Assim, o raciocinio tipico do essencialista €
jodus ponens:
Se a Agua for H,O, serd essencialmente HO.
Ora, a 4gua é realmente H,O.
Logo, é essencialmente H,0.
‘A segunda premissa sé pode ser conhecida pela experiéncia; se sé pudermos
er a conclusio por meio de um raciocinio semelhante, entao sé poderemos
er a conclusio pela experiéncia, pois teremos sempre de invocar algo como
nda premissa.
Este género de raciocinio aplica-se a outros casos:
Se Anténio Gededo for Romulo de Carvalho, entéo Anténio Gededo no
poderia nao ser Romulo de Carvalho.
Ora, Antonio Gededo é Rémulo de Carvalho.
Logo, Anténio Gededo nao poderia nao ser Romulo de Carvalho.
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
‘Uma vez mais, a segunda premissa s6 pode ser conhecida pela experiéncia. Isto
significa que sé pela experiéncia podemos saber que a conclusao é verdadeira. Mas
a conclusao, como no caso anterior, ¢ uma tese essencialista. Dai que se possa
chamar naturalizado a este género de essencialismo.
‘Mas que razGes temos para pensar que a primeira premissa de ambos os tipos
de raciocinio, a premissa condicional, é verdadeira?
4.2. Necessidade da identidade
Segundo a tese da necessidade da identidade, as identidades verdadeiras, como
«Anténio Gededo é Rémulo de Carvalho», sio necessariamente verdadeiras.
Exprime-se, como acima, com uma condicional, mas geral:
Se o particular n for idéntico ao particular m, entao necessariamente n é
idéntico am.
Eis um breve argumento a favor desta tese. Comegamos com uma aplicagéo do
principio da indiscernibilidade de idénticos: se n ¢ idéntico am, entao se o primeiro
tem uma dada propriedade, o segundo também a tem. O segundo passo é afitmar
a tese trivial da necessidade da auto-identidade: dado que as verdades légicas sao
verdades necessarias ¢ dado que € logicamente verdadeiro que rn é idéntico a n,
segue-se que n é necessariamente idéntico a n. Ora, isto significa que ntem a pro-
priedade de ser necessariamente idéntico an. Pelo principio da indiscernibilidade
de idénticos, m, dado ser idéntico a n, tem as mesmas propriedades que tem 1,
nomeadamente, tem a propriedade de ser necessariamente idéntico an. Conclui-
mos, pois, o que queriamos: supondo que n é idéntico a m, concluimos que n
necessariamente idéntico a m.
Esta é uma versio informal de um raciocinio que pode ser demonstrado logi-
camente (Kripke 1971). Trata-se, pois, de um teorema simples da légica. Se adop-
tarmos o principio de que os resultados cientificos devem ser aceites em filosofia
a menos que tenhamos fortes razes contrarias, este é um resultado que deve ser
aceite a menos que tenhamos fortes raz6es contrarias.
Dado que a premissa condicional é a parte do argumento a favor da existéncia
de necessidades meramente metafisicas que mais obviamente pode ser posta em
causa, e dado que temos uma demonstracao ldgica da sua verdade, temos boas
razes para aceitar que ha necessidades meramente metafisicas.
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
. Objeccdes
necessidades meramente metafisicas nao enfrentam todas as mesmas difi-
. A necessidade da identidade é bastante menos problemética do que
necessidades meramente metafisicas, como 0 caso mencionado da agua.
meio caso, temos uma demonstragio légica da sua condicional crucial; no
do, nao. Assim, é possivel resistir as necessidades meramente metafisicas do
do tipo, ainda que aceitemos as do primeiro tipo.
e argumento poders haver, contudo, para resistir a todas as necessidades
mente metafisicas, isto é, para defender que as tnicas verdades necessérias
aceptuais, € nio meramente metafisicas? O argumento nao poderé consistir
‘em insistir que sé as verdades conceptuais podem ser necessirias, pois isso
mente © que esta em causa. Argumentar que nfo hé necessidades mera-
metafisicas porque estas nao sao verdades conceptuais é como argumentar,
XIX, que as mulheres nao devem ter direitos politicos porque sao mulheres.
tra mancira pouco promissora de argumentar contra a existéncia de verda-
essirias que nao sejam conceptuais é insistir que quando conhecemos algo
ricamente, sem scr pelo pensamento apenas, sabemos que isso € de tal ¢ tal
mas nao sabemos se ¢ ou nao necessariamente de tal ¢ tal modo. Assim,
os pela experiéncia que a 4gua é H,O, por exemplo, mas nao sabemos pela
ncia que a agua ¢ necessariamente HO; e como certamente nao o sabemos
pensamento apenas, segue-se que nao o sabemos de todo em todo.
maneira de argumentar pouco promissora porque defender que néo
mos que ha extraterrestres ndo prova que nao hé extraterrestres, epesar dea
ser trivialmente verdadeira: se nao hd realmente extraterrestres, no sabe-
i¢ ha extraterrestres. Analogamente, mesmo que se prove que nao temos
quer conhecimento de verdades necessirias que nao sejam verdades concep-
dai nio se segue trivialmente que tais verdades nao existem. Podemos tentar
mentar nessa direcgo, mas a implicagao est longe de ser trivial.
Uma objeccao mais moderada aceitard a existéncia de algumas necessidades
lente metafisicas, como a necessidade da identidade, mas nao outras, como
o da agua. E a razao, como vimos, ¢ que no primeiro caso temos uma demons-
p légica da condicional crucial, o que nao temos no segundo. Como nao temos
demonstragio ldgica da condicional «Se a 4gua for H,O, ser essencialmente
nao temos qualquer razo para a aceitar.
A resposta a esta objeccao é que também nao temos demonstragGes légicas das
da fisica, mas nem por isso as abandonamos. Muitas vezes temos razbes indi-
a favor da verdade de uma dada tese, aceitando-a pelo seu poder explicativo,
exemplo. No caso da agua, se esta nio tiver propriedades essenciais excepto as
podermos demonstrar logicamente que tem, torna-se dificil explicar que os
micos se tenham interessado por um certo tipo de propriedades, e nao por
B
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
outro. Afinal, a 4gua tem um mimero infinito de propriedades, mas sé alguma:
delas sdo reveladoras da sua natureza.
O que oessencialista afirma é que essas sao as propriedades essenciais da ag
40 passo que as outras sao acidentais; mas s6 pela experiéncia aprendemos a des
tringar umas das outras. Tudo 0 que trazemos para a investigagio da gua, aind
antes de conhecermos a sua natureza, é que algumas propriedades serao acidentai
© outras essenciais; mas é por experiéncia, por tentativa ¢ erro, que as vamos dis-
tinguindo entre si.
4.3. Indugao e deducao
Se houver necessidades meramente metafisicas, 0 que se segue dai? Podemo
raciocinar sobre isto, mesmo que nao saibamos se ha ou nfo tais necessidades.
Em primeiro lugar, considere-se as verdades cientificas fundamentais. Se fo
verdadeiro que a agua é essencialmente H,O, entao nao se segue, do simples facte
de uma verdade cientifica ser logicamente contingente, que é realmente conti
gente. Assim, se o tinico argumento a favor da ideia de que a velocidade da luz
contingente, por exemplo, € o facto de esta niio ser estabelecida légica nem mate
maticamente, nao temos boas razdes ainda para pensar que a velocidade da luz.
contingente.
O mesmo acontece com qualquer argumento indutivo. Uma maneira de entem
der o problema da indugao é afirmar que, ao contririo do que ocorre no ca:
dos argumentos dedutivos, a verdade das premissas das indugées nao excl
logicamente a falsidade das suas conclusdes. Por exemplo, a verdade das pre
missas da indugao com base nas quais concluimos que todas as porgdes de 4gua sa
0, apesar de sé termos analisado um pequeno ntimero delas, nao exclui logics
mente a falsidade de que todas as porgdes de égua sio H,O. Mas se a agua fo
essencialmente HO, a verdade das premissas da nossa induedo exchui afinal a fa
sidade da sua conclusio, ainda que tal exclusio no seja estabelecida por meia
l6gicos,
Assim, talvez muitas verdades cientificas sejam necessarias ainda que seja
logicamente contingentes, e talvez muitas conclusdes indutivas sejam bastant
mais fortes do que tendemos a pensar.
Em segundo lugar, considere-se a prépria nogio de validade ldgica. A noga
intuitiva de validade (que as nogGes técnicas visam captar) é a seguinte:
argumento dedutivo é valido se, 86 se, € impossivel que a sua concluséo sej
falsa ¢ as suas premissas verdadeiras. Mas se houver verdades necessérias que
sejam logicamente necessérias, temos raz6es para pensar que esta definigao d
validade esta errada, e que a nossa compreensio da validade ldgica precisa de
revista.
METAFISICA DESIDERIO MURCHO
Pois considere-se a afirmagio «Antonio Gededo ¢ Rémulo de Carvalho». Se
seitarmos que esta é uma verdade necesséria, entao o argumento «Anténio
ledo é simpatico; logo, Rémulo de Carvalho é simpatico» obedece & definigao
de validade dedutiva, dado que é impossivel ter premissa verdadeira e con-
iso falsa. No entanto, o argumento no é vilido: quem nao souber que Anténio
leao é Rémulo de Carvalho ¢ rejeitar a conclusao, ainda que aceite a premissa,
© estari a cometer um erro de raciocinio. Compare-se com uma pessoa que
ie a conclusio de que Anténio Gedeio é portugués, apesar de aceitar a pre-
sa de que Anténio Gededo e Fernando Pessoa séo portugueses: esta pessoa est
ente a raciocinar mal, pois a conclusio segue-se logicamente da premissa.
‘O que nao temos, no caso do primeiro argumento, é uma rota epistémica
ington 2004) entre a premissa e a conclusio, apesar de ser metafisicamente
possivel a premissa ser verdadeira e a conclusao falsa. Mas, na realidade, ja é
possivel que a premissa seja verdadeira e a conclusao falsa—apenas nao hé como
er disso por meios linguisticos apenas, sem recorrer 4 experiéncia.
Duas hipéteses resultam de tudo isto: primeiro, que a definigao de dedugao
da, para ser correcta, falta uma cldusula epistémica. Nao basta que seja impos-
alter premissas verdadeiras e conclusio falsa para que uma dedugio seja valida;
ciso, além disso, que possamos saber de tal coisa sem recorrer & experiéncia,
meios exclusivamente logicos.
egundo, que é devido & natureza da realidade extramental e extralinguistica
éimpossivel que uma deducio valida tenha premissas verdadeiras € conclusio
endo devido 8 linguagem, i légica ou ao pensamento. Mas porque num argu-
so dedutivo valido descobrimos essa impossibilidade pelo pensamento apenas,
ps tendéncia para confundir as coisas € pensar que os meios linguisticos que
-rmitem saber dessa impossibilidade séo igualmente responsiveis por ela.
esta hipétese estivesse correcta, nenhum raciocinio poderia haver em que
impossivel as suas premissas serem verdadeiras e a sua conclusio falsa, sem
> soubéssemos por meios linguisticos apenas; mas ha raciocinios desses, como
s; logo, esta hipétese nfo esta correcta.
4. Possibilia
fittgenstein nunca teve filhos, mas poderia ter tido; nao ha qualquer espécie
aideos verdes, mas poderia haver. Estas duas afirmagées parecem perfeita~
indcuas, e nao apenas no sentido em que compreendemos perfeitamente 0
izem: parecem verdadeiras, ou pelo menos plausiveis. Contudo, ha um resul-
imples da logica que parece atestar a sua falsidade.
pdemos alargar a conhecida légica classica acrescentando dois operadores, a
1) c o diamante (©), que simbolizam respectivamente os operadores
FILOSOFIA UMA INTRODUGAO POR DISCIPLINAS
«necessariamente» e «possivelmente». Numa das maneiras de o fazer, contudo
rapidamente nos deparamos com a seguinte verdade légica:
dt Ex dx OFx
Esta formula é um resultado simples que nao parece depender de quaisqu
suposi¢6es ou principios que tenhamos razées para por em divide, No entanto,
seu significado parece colidir directamente com a nossa intuigao de que, apesar de
Wittgenstein nunca ter tido filhos, poderia ter tido.
O que a formula afirma é que se for possivel que exista algo que seja F (po
exemplo, que seja filho de Wittgenstein), entio existe algo que € possivelmente
Poderd parecer um mero trocadilho, mas nao é. Pois considere-se alguém qi
defende que Wittgenstein poderia ter tido um filho. Esta pessoa supostaments
pensa que apesar de nao haver qualquer pessoa que seja filha de Wittgenstein
poderia hayer essa pessoa. Mas no pensa que ha realmente alguém que poderi
ser filho de Wittgenstein. E é esta ideia que parece incompativel com a form!
acima.
‘Chama-se possibilia, em filosofia, ao que nao existe, mas poderia existir - com
ofilho de Wittgenstein. E 0 problema ¢ que temos um resultado simples da 16;
que afirma nao haver possibilia, o que parece contrariar frontalmente uma ideia qi
de outro modo nao teriamos razio para por em causa.
E claro que podemos rever a nossa Idgica, de modo a evitar a formula acini
(a que se chama formula de Barcan, pois é um caso particular do axioma-esquer
LU apresentado em 1946 por Ruth C. Barcan no artigo «A Functional Calculus
First Order Based on Strict Implication», Journal of Symbolic Logic 11: 1-16). Mas
modo de o fazer parece artificioso e sem qualquer razao independent excep
nosso desejo de nao contrariar uma conviegio comum, Nao podera tal convice’
estar errada?
Considere-se 0 que temos realmente em mente quando pensamos que Wi
genstein poderia ter tido um filho, ainda que nfo 0 tenha tido. Estaremos a pe:
numa circunstancia em que ha mais entidades fundamentais no universo do q
as que efectivamente ha? A resposta é que nao: estamos apenas a pensar que
entidades fundamentais poderiam estar combinadas de outro modo. Analo;
mente, quando alguém faz uma casa, essa pessoa nada acrescentou ao mundo,
termos de entidades fundamentais: apenas combinou as coisas de maneira diff
rente. Quando alguém faz uma casa, o que constitui a casa j4 existia antes dea
ter sido feita. E o mesmo acontece quando duas pessoas geram uma crianga: 0g
constitui essa crianga ja existia antes. Nem a casa nem a crianga vieram do na
antes sao resultados de processos de transformagao de coisas que jé existiam.
Tendo isto em mente, podemos interpretar a formula de Barcan dizendo g
esta $6 afirma que se for possivel que exista algo que seja filho de Wittgenstel
MBTAFISICA DESIDERIO MURCHO
hé algo que poderia ser filho de Wittgenstein ~ mas nao nos compromete
na ideia de que esse algo tem ja uma dada configuracao, nomeadamente, no
compromete com a ideia de que esse algo ¢ ja uma pessoa. E és6 porque lemos
compromisso, erradamente, que a formula parece tio contra-intuitiva.
Efectivamente, quando pensamos que Wittgenstein poderia ter tido um filho,
pensamos que uma das pessoas que hoje existe poderia ter sido filha de Witt-
in. O que pensamos é que poderia existir uma pessoa, que nao existe, que
filha de Wittgenstein. Ora, quando lemos a formula como se nos comprome-
com a ideia de que se Wittgenstein poderia ter tido um filho, entao existe
Pessoa que poderia ser filha dele, ficamos perplexos. Mas nada nos obriga a
formula desse modo. A formula s6 nos compromete com a ideia de que na
mstancia em que Wittgenstein tem um filho as entidades fundamentais do
esto combinadas de um modo diferente do que efectivamente esto; e isto
ecisamente o que aparentemente pensamos, se reflectirmos cuidadosamente.
ontudo, as coisas nao séo assim tao simples. Pois uma pessoa pode muito bem
nentar que nao ha qualquer razao para pensar que nao poderia haver mais
des fundamentais do que ha. Imagine-se que ha um gaziliao (um numero
cabei de inventar) de entidades fandamentais; por que razao afinal nao pode-
cer dois gazilides de entidades fundamentais? Aparentemente, nenhuma
Jha para rejeitar esta hipotese. Mas esta hipdtese é incompativel com a for-
de Barcan. Logo, essa formula esté errada ¢ nao é uma verdade légica.
ote-se que quem assim argumenta nao esté comprometido com a ideia de
ederia realmente haver mais entidades fundamentais do que h4; tudo 0 que
pa precisa defender é a possibilidade Idgica de haver mais entidades funda-
ais do que h4, pois a formula de Barcan, a ser verdadeira, é uma verdade logica.
edo semelhante, para negar que «Esta a chover» é uma verdade ldgica, nao
amos de provar que nao esta a chover, mas antes que ¢ logicamente possivel
o esteja a chover, mesmo que esteja a chover.
do, que razGes temos a favor da ideia de que poderia haver mais entida-
damentais do que ha? Nao pode ser a ideia de que Wittgenstein poderia ter
filho, pois j4 vimos que ¢ defensavel que isso é compativel com a formula
Todos pensamos que podemos fazer uma casa, mas nao pensamos que
plica criar ex nihilo entidades fundamentais, mas antes, ¢ tio-sd, combinar
ita diferente entidades j4 existentes. A tinica razdo que temos a favor da
que poderia haver mais entidades fundamentais do que ha é que isso nos
Jogicamente possivel, sem grande reflexao. Mas esta nao é uma razio forte.
depois de construir cuidadosamente um sistema explicito de légica, ha um
o que nega tal aparéncia, ¢ esse resultado nao depende de quaisquer pres-
obviamente duvidosos, entao o resultado em si é uma razao para pensar
‘éncia inicial era uma ilusao. Afinal, talvez a quantidade de entidades
itais do universo seja, surpreendentemente, uma necessidade légica.
Você também pode gostar
- A História Ou A Leitura Do TempoDocumento7 páginasA História Ou A Leitura Do TempofydelAinda não há avaliações
- Filosofia Da Linguagem - Teresa Marques e Manuel Garcia PDFDocumento60 páginasFilosofia Da Linguagem - Teresa Marques e Manuel Garcia PDFfydelAinda não há avaliações
- Filosofia Política - João Rosas e Mathias Gonzalez PDFDocumento41 páginasFilosofia Política - João Rosas e Mathias Gonzalez PDFfydelAinda não há avaliações
- Ética - Pedro Galvão PDFDocumento34 páginasÉtica - Pedro Galvão PDFfydelAinda não há avaliações
- Sociologia e o Mundo ModernoDocumento21 páginasSociologia e o Mundo ModernofydelAinda não há avaliações
- BOEHLER, Genilma. O Erótico em Adélia Prado e Marcella Althaus-Reid PDFDocumento208 páginasBOEHLER, Genilma. O Erótico em Adélia Prado e Marcella Althaus-Reid PDFfydelAinda não há avaliações
- Estética e Filosofia Da Arte - Aires Almeida PDFDocumento39 páginasEstética e Filosofia Da Arte - Aires Almeida PDFfydelAinda não há avaliações
- Universidade Católica PortuguesaDocumento197 páginasUniversidade Católica PortuguesafydelAinda não há avaliações
- REDE, Marcelo. A Bíblia Pode Ser Considerada Um Documento Histórico - Jornal Da USPDocumento3 páginasREDE, Marcelo. A Bíblia Pode Ser Considerada Um Documento Histórico - Jornal Da USPfydelAinda não há avaliações
- Angústia, Êxtase e RevelaçãoDocumento8 páginasAngústia, Êxtase e RevelaçãofydelAinda não há avaliações
- A Liturgia Como Linguagem Da Religião No Imaginário AnglicanoDocumento22 páginasA Liturgia Como Linguagem Da Religião No Imaginário AnglicanofydelAinda não há avaliações
- ARTHUR BARBOSA A COMPETENCIA DO MUNICIPIO PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE Versao FinalDocumento158 páginasARTHUR BARBOSA A COMPETENCIA DO MUNICIPIO PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE Versao FinalfydelAinda não há avaliações
- Biblia Literatura e RecepcaoDocumento14 páginasBiblia Literatura e RecepcaofydelAinda não há avaliações
- SILVA, Avacir. Escrituras e Artes - Formas Simbólicas Religiosas EspaciaisDocumento27 páginasSILVA, Avacir. Escrituras e Artes - Formas Simbólicas Religiosas EspaciaisfydelAinda não há avaliações
- BRUNA DIEDRICH DisDocumento174 páginasBRUNA DIEDRICH DisfydelAinda não há avaliações
- Jonathan Luís HackDocumento282 páginasJonathan Luís HackfydelAinda não há avaliações
- O Acontecer Da Compreensao e o Esforco DDocumento32 páginasO Acontecer Da Compreensao e o Esforco DfydelAinda não há avaliações