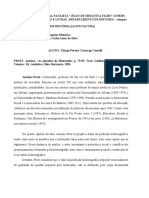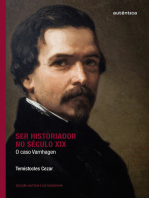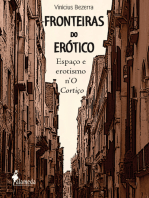Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A História Ou A Leitura Do Tempo
Enviado por
fydelDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A História Ou A Leitura Do Tempo
Enviado por
fydelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A história ou a leitura do tempo 227
A HISTÓRIA OU A LEITURA DO TEMPO
Mário Martins Viana Júnior*
CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2009.
Um dos principais estudiosos da História Cultural chega aos seus 64
anos em plena produção intelectual, revisitando temas e propondo novas
perspectivas de abordagem em relação a problemáticas caras à História. É assim
que podemos observar a biografia de Roger Chartier que alcança, no ano de
2009, o seu décimo livro publicado no Brasil. Nascido em Lyon, no seio de
uma família operária, esse historiador teve importantes passagens pela Escola
Normal Superior de Saint Cloud e pela Universidade de Sorbone, tornando-se
mestre conferencista e diretor de pesquisas da Escola de Altos Estudos em
Ciências Sociais. Atualmente, é professor titular no Collége de France, além de
atuar nas Universidades de Harvard e da Pensilvânia.
Esse breve comentário nos auxilia a perceber a influência e o alcance
dos escritos desse intelectual na produção historiográfica que, desde os anos
80, vêm marcando uma geração de historiadores conhecida como A Nova
História Cultural.1 Sob a influência dos estudos da hermenêutica, os estudiosos
aguçaram suas sensibilidades dando ênfase aos aspectos subjetivos, aos detalhes
como elementos reveladores em suas pesquisas, trazendo o eu significante
para a História e, portanto, se esquivando dos condicionamentos sociais,
mediante a interpretação e a atenção destinada às produções de sentido realizadas
pelos indivíduos. Em um estreitamento de relações com a Antropologia e com
a Linguística, a História Cultural pensada por Chartier é aquela que permite
analisar a realidade social como construção, isto é, como uma realidade dada
a ler.
* Doutorando em Historia Cultural na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
E-mail: mario_ufc@hotmail.com
228 Revista Esboços, Florianópolis, v. 17, n. 24, p. 227-233, dez. 2010
Possibilitando uma variedade de objetos, métodos e abordagens essa
vertente seria marcada por questões próprias. A articulação entre as obras
singulares e as representações comuns, por exemplo, seria uma problemática
fundamental para Chartier evidenciada na passagem Do social ao cultural
(capítulo 3), à medida que são deslocadas as delimitações sociais para se observar
o processo pelo qual os leitores dão sentido aos textos dos quais se apropriam;
aspecto observado contrariamente à negação da importância de qualquer aspecto
extratextual nos estudos do texto feita pelos adeptos do New Criticism.2 Para
esse historiador o primordial seria a aproximação e a articulação daquilo que a
tradição ocidental separou: os discursos e a materialidade; através da
compreensão de como as invenções dos leitores se articulam e dependem dos
usos e das convenções impostas.
Todavia, os efeitos e os alcances dessas transformações no âmbito
historiográfico no qual Chartier estava inserido foram amplos e diversos e,
ainda hoje, estão longe de apontar para uma resolução harmônica. Ademais,
talvez esta situação de instabilidade e confronto sobre as diferentes formas de
produção do conhecimento histórico seja salutar para a disciplina, à medida
que há uma intensidade de debates e discussões de caráter reflexivo. Retomando
a questão o autor faz a seguinte pergunta: estaria a história em crise? Da maneira
peculiar como operam os historiadores culturais, isto é, partindo dos objetos
para se entender as práticas sociais, Roger Chartier, como especialista da história
da leitura, retoma neste livro-ensaio a temática de uma possível “crise da
história”, que foi abordada inicialmente em À beira da falésia, além de convidar
o leitor a refletir sobre as influências da cultura digital na história de longa
duração da cultura escrita.
O título do primeiro capítulo já aponta a direção da discussão em que se
pensa uma “crise da história”. Em A história, entre relato e conhecimento, o
autor busca observar os efeitos da evidenciação das dimensões retórico e
narrativa na escrita da história, a partir de três importantes obras dos anos 70:
Paul Veyne (Como se escreve a história - 1971), Hayden White (Meta-história
- 1973) e Michel de Certeau (A escrita da história - 1975). Tais livros trouxeram
preocupações e colocaram em alerta muitos historiadores, visto que por muito
tempo a disciplina esteve enraizada na tradição historicista e teve laços estreitos
com uma concepção de ciência que se acreditava imparcial e plenamente objetiva.
A crise, então, seria oriunda desse choque epistemológico, momento em que a
narrativa e a retórica passaram a ser reconhecidas como elementos inerentes à
história, propiciando uma perda de cientificidade.
Como se chegar a um conhecimento científico mediante a retórica e
estruturas narrativas que também são as da ficção? O historiador estaria
trabalhando com o real ou com a ficção? Para responder a estas questões,
A história ou a leitura do tempo 229
Chartier realiza um trabalho ousado de aproximação entre dois autores.
Inicialmente recorre a Carlo Ginzburg (com quem ele mais dialoga por todo o
texto) para quem prova e retórica não seriam antinomias, mas, antes, estariam
interligadas; e, em seguida, traça um paralelo com Michel de Certeau ao afirmar
que para este “a história é um discurso que produz enunciados ‘científicos’” (p.
16). Na releitura das obras desses historiadores a problemática seria deslocada
pela transformação do entendimento do que seria ciência. A história ao
reconhecer a associação, e não a oposição, entre saber crítico e narração,
conhecimento e relato, retórica e prova, daria mostras de uma profícua, salutar
e responsável mudança epistemológica.
Em seu segundo capítulo, A instituição histórica, Roger Chartier dá
continuidade à caracterização das transformações no âmbito historiográfico a
partir da “nova história da ciência”, além da atenção ao “lugar social” na
produção do conhecimento. Para a primeira noção, retoma autores como
Lorraine Daston e Mario Biagioli e para a questão do “não dito” trabalha
novamente com de Certeau, além de observar a categoria de “campo” de Pierre
Bourdieu. Dessa forma, o autor enfatiza a importância da observação das
restrições e das determinações nos meios acadêmicos bem como do caráter
subjetivo o que, paradoxalmente, não apontaria para um relativismo cético. A
história é vista assim como uma das diferentes modalidades de relação que as
sociedades têm com o passado o que aponta a necessidade de marcar suas
fronteiras e diferenças em relação a outras formas, tais como: a memória e a
ficção.
Dialogando com Paul Ricoeur, o autor sinaliza as diferenças entre história
e memória. Enquanto a primeira seria um “saber científico” e estaria ligada aos
documentos, à natureza indiciária, ao exercício crítico e à construção da
explanação histórica com intenção de verdade, a segunda estaria atrelada aos
testemunhos, à necessidade de confiança e credibilidade, observada no
imediatismo da reminiscência e na aparente fidelidade. Ainda que interligadas e
interdependentes, história e memória guardariam, assim, diferenças
fundamentais.
Outro modo de relação com o passado seria a ficção que, distante do
objeto real, não teria problemas com o campo histórico. Todavia, a força cada
vez mais poderosa das obras literárias nas moldagens das representações sobre
o passado e o abandono do “verossímil” por algumas vertentes literárias através
de “notações concretas” em suas fábulas propiciou um ofuscamento da distinção,
antes tão clara, entre história e ficção. O apoderamento do passado acrescido
da utilização de documentos e técnicas da historiografia denotava a intenção
da produção de um discurso histórico ilusório que, submetido à crítica, estaria
repleto de incertezas, imprecisões e, sobretudo, anacronismos.
230 Revista Esboços, Florianópolis, v. 17, n. 24, p. 227-233, dez. 2010
Para Chartier, portanto, a “suposta crise da história”, bem como a
confusão entre história, memória e ficção, seria superada a partir da reflexão
dos critérios e das condições de produção do discurso histórico e da crítica a
essas outras formas de relação com o passado. Não que a literatura, por exemplo,
não possa ser trabalhada com e pela história. Os insights possibilitados à
“imaginação histórica”, como recentemente foi lembrado3, não devem ser
descartados, bem como os detalhes, os “restos” de outros tempos que as obras
literárias nos permitem pôr em destaque desde que, claro, façamos a crítica
histórica como lembrou Sidney Chalhoub ao interpretar...
[...] os romances de Machado de Assis, em busca do sentido
das mudanças históricas do período, segundo a visão dele, e
conforme sua intenção, ou arrepio dela.
Ao fazer isso, o bruxo realizou o objetivo, todo seu, de dizer
as verdades que bem quis sobre a sociedade brasileira do
século XIX.
Ou seja, a literatura busca a realidade, interpreta e enuncia
verdades sobre a sociedade, sem que para isso deva ser a
transparência ou o espelho da matéria social que representa
e sobre a qual interfere.4
Essa postura reflexiva levaria também a uma discussão em torno da
concepção de cultura, evidenciando os problemas inerentes à separação entre
Discursos eruditos e práticas populares (capítulo 4). Fazendo uma crítica a
Peter Burke e aproximando-se de Natalie Zamon Davis, Chartier afirma que
mais importante do que “[...] datar o desaparecimento irremediável de uma
cultura dominada [é] compreender como, em cada época, tecem-se relações
complexas entre formas impostas, mais ou menos restritivas, e identidades
salvaguardadas, mais ou menos alteradas” (p. 46), onde há sempre brechas
para resistências e apropriações e onde a imposição sempre é negociada com
as representações arraigadas. Desse modo, o interessante é observar os
mecanismos que fazem com que os indivíduos interiorizem sua inferioridade e
as lógicas que permitem a preservação de uma cultura dominada.
O problema então que se coloca para a História Cultural é o da
possibilidade de articulação entre práticas e discursos. Reconhecidas as
contribuições do “giro linguístico”, ao afirmar que a realidade não preexistia
ao discurso, sendo construída na e pela linguagem, Roger Chartier apóia-se em
Michel Foucault e Bourdieu (de certo, surpreendentemente para muitos
historiadores) para pensar a irredutibilidade da experiência ao discurso e para
precaver contra o uso descontrolado do texto, isto é, o “imperialismo do texto”5,
ao chamar a atenção para as limitações materiais das construções da linguagem.
A história ou a leitura do tempo 231
Nessa busca de articulação, a noção de representação advinda das ciências
sociais torna-se fundamental na medida em que possibilita engendrar uma
história das representações, isto é, compreender, ao mesmo tempo, como os
discursos constroem as relações de dominação e como eles mesmos dependem
dessas relações assimétricas.
Preocupado com outras formas de articulação, Roger Chartier propõe
uma reflexão sobre a Micro-história e globalidade (capítulo 5), isto é, quanto
à possibilidade de articular o local e o global no conhecimento histórico. Seria
possível uma história global? De acordo com ele, sim e não. Sim, se forem
consideradas as variações de escalas da história tal como apontou Paul Ricoeur;
e não, se essa história global, em uma postura de superioridade epistemológica,
rejeita a micro-história e a compreende de forma unívoca e limitada.
Tal como Maria Lígia Prado6, Roger Chartier recorre a Serge Gruzinski
para criticar o modelo de história comparada de caráter eurocêntrico e, dessa
forma, baseado em dualismos. As propostas desses três autores confluem no
sentido delineado por Sanjay Subrahmanyam: o de histórias conectadas.
Todavia, para Prado não haveria exclusão entre comparação e conexão, na
medida em que ela entende que é possível se fazer história comparada pensada
de outra forma. Assim, essas perspectivas seriam complementares, ao invés de
excludentes. Sua idéia de história comparada é retomada, modificada e
relacionada com as histórias conectadas.
Em Chartier, ainda que pesem as caracterizações européias e os
binarismos, a história comparada a ser trabalhada é aquela entendida
principalmente sob o viés morfológico de outro autor não presente na análise
de Prado (Marcel Détienne); perspectiva interpretada como a ausência de
certificação dos contatos culturais entre os parentescos de diferentes formas
(estéticas, rituais, ideológicas, etc.). Mesmo assim, partindo de ideias ao mesmo
tempo semelhantes e distantes de história comparada, a sugestão de ambos os
autores aponta no sentido das conexões, comparações e interligações entre o
local e o global. Tomados em paralelo, há uma dupla-ressignificação: tanto da
história comparada, como da história global que, inclusive, pode aparecer sob
o termo de “glocal” para indicar com mais ênfase a união indissociável entre as
duas esferas.
No penúltimo capítulo, A história na era digital, o autor nos convida a
refletir sobre os efeitos do ingresso na era da textualidade eletrônica. Mais do
que os problemas iniciais evidenciados na história serial e quantitativa com a
introdução do computador, os desafios atuais se colocam no sentido de pensar
as novas formas de construção, publicação e recepção dos discursos históricos.
Através do formato eletrônico há uma influência mútua sobre o escritor
e o leitor. Ao primeiro multiplicam-se as possibilidades de demonstração e
232 Revista Esboços, Florianópolis, v. 17, n. 24, p. 227-233, dez. 2010
articulação aberta graças às ligações hipertextuais, enquanto que ao leitor é
conferido um poder inaudito de comprovação daquilo que foi dito pelo escritor,
através da consulta de livros e documentos indicados nos textos eletrônicos.
Altera-se, portanto, o pacto de confiança entre historiador e leitor. Mas não
apenas isso. Modificam-se mesmo “[...] as técnicas da prova e as modalidades
de construção e validade dos discursos de saber” (p. 61).
De fato, as possibilidades abertas pelo livro eletrônico talvez impliquem
em uma postura mais crítica e comprometida do historiador, além de oferecerem
ao leitor recursos que o formato impresso não dispõe. Seria uma saída viável às
diferentes crises de edição? Certamente. Entretanto, o autor chama a atenção
para o descompasso existente muitas vezes na história da leitura entre as
mudanças de ordem prática e as revoluções técnicas, isto é, para a real
capacidade desse novo livro encontrar ou produzir leitores. Como implicitamente
anunciado no início desse capítulo, há uma brecha entre a revolução eletrônica
e a realidade das práticas de leitura. O apego majoritário ao objeto impresso é
patente. O virtual ainda não é real. Certamente um choque de temporalidades.
E é justamente para essa concepção de diferentes temporalidades, que
perpassa todo o livro, à qual Roger Chartier se detém mais especificamente no
último capítulo (Os tempos da história). Revisitando e superando as três
dimensões temporais sugeridas por Fernand Braudel (factual, conjuntural e
estrutural), o autor reafirma que os aspectos micro e macro não são
irredutivelmente diferentes, são articulados e articuláveis na escritura histórica.
Dialogando mais uma vez com Foucault, aponta ainda para uma noção
diferenciada de acontecimento (factual) que, ao invés de ser visto como uma
decisão consciente, como um resultado, seria relação de forças: aleatório,
violento e inesperado apontaria para rupturas e quebras fundamentais em vez
de continuidades.
O tempo, ou melhor, as diferentes temporalidades não seriam aspectos
envoltórios objetivos dos fatos sociais, mas construções operadas em relações
de poder que asseguram benefícios a uns e a desesperança a outros e que
permitem que o presente seja como é. Assim, ao historiador cabe a leitura do
tempo, como anunciado no título da obra, ou melhor, as leituras das diversas
temporalidades, a desnaturalização que na maioria das vezes o presente parece
estar imerso.
Em suma, ao entender os acontecimentos como rupturas, Chartier remete
seu olhar tanto para aqueles eventos ocorridos dentro do campo da disciplina e
da teoria da história (“crise da história”), como para a prática historiográfica,
para as questões levantadas pela História Cultural na atualidade (“global e
local”). Encara e reflete sobre as mudanças (“a era digital”) e as formas como
as sociedades vêm se relacionando com o passado (história, memória e ficção).
A história ou a leitura do tempo 233
Trata-se, portanto, do estudo de períodos que ainda não estão encerrados e de
uma proximidade temporal ou de uma unidade temporal do sujeito e do objeto
em que há a capacidade de intervir. Por todos esses elementos e ao “pensar o
tempo presente como um tempo pertinente à disciplina da História”7, este livro-
ensaio de Roger Chartier, além de uma reflexão sobre os estudos culturais, nos
aparece como uma contribuição direta, ainda que não explicitada pelo autor, à
história do tempo presente.
NOTAS
1
HUTT, Lynn. A Nova História Cultural. São Paulo: Martins Fontes, 2001. Neste livro, Roger
Chartier aparece ao lado de vários estudiosos como E. P. Thompson, M. Foucault, T. Laqueur, entre
outros, com o trabalho intitulado “Textos, impressão, leituras”.
2
“O New Criticism é um movimento da teoria literária surgido nos anos 20 nos Estados Unidos.
Propõe a separação do texto e do autor a fim de que o texto seja objeto em si mesmo. Rompe
com biografismo da crítica de então, mas rejeita também a análise literária a partir de contextos
sociais ou culturais. Um dos conceitos mais conhecidos o de Leitura Atentiva, leitura analítica e
minuciosa do texto, preconizada por T. S. Eliot” (p. 59). Ver: CHEMELLO, Maurício. O efeito como
fim: guias da composição. RS, 116 p. Dissertação (Mestrado em Letras da Pontifica Universidade
Católica do Rio Grande do Sul).
3
Ver: KRAMER, Lloyd S. Literatura, crítica e imaginação histórica: O desafio literário de Hayden
White e Dominick LaCapra. In: HUNT, Lynn. op cit.; ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz
de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. São Paulo: EDUSC, 2007.
4
CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
p. 9, 12, 92 e 93.
5
LACAPRA, Dominick. Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. New Yorque,
1983. p. 19.
6
PRADO, Maria Lígia Coelho. Repensando a História Comparada na América Latina. Revista de
História. São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, n° 153, 2° semestre de 2005. p. 11-34.
7
PORTO JR., Gilson. História do tempo presente. São Paulo: Edusc, 2007. p. 17.
Você também pode gostar
- A representação do mundo segundo ChartierDocumento3 páginasA representação do mundo segundo ChartierJulio Larroyd100% (1)
- Historiasincriveisedicaodigitalreduzida SEMIMAGENS PDFDocumento65 páginasHistoriasincriveisedicaodigitalreduzida SEMIMAGENS PDFDownFlat IconAinda não há avaliações
- Desafios da História CulturalDocumento5 páginasDesafios da História CulturalAllan Kardec PereiraAinda não há avaliações
- joceley,+a09n121+-+cópiaDocumento6 páginasjoceley,+a09n121+-+cópiaticoticoaqui2Ainda não há avaliações
- Artigo Nietzsche, Deleuze e Guattari, BourdieuDocumento27 páginasArtigo Nietzsche, Deleuze e Guattari, Bourdieurafael_virgilio_carvalho665Ainda não há avaliações
- 1 SM PDFDocumento10 páginas1 SM PDFRodrigo BastosAinda não há avaliações
- Fichamento PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. 2. Ed. 1. Reimp. Belo Horizonte, 2005.Documento2 páginasFichamento PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. 2. Ed. 1. Reimp. Belo Horizonte, 2005.Emely AlmeidaAinda não há avaliações
- A História Entre A Narrativa e o ConhecimentoDocumento12 páginasA História Entre A Narrativa e o ConhecimentoFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Resenha À Beira Da Falésia ChartierDocumento7 páginasResenha À Beira Da Falésia ChartierLeandro Goncalves De MedeirosAinda não há avaliações
- Um historiador sobre teoria e metodologiaDocumento7 páginasUm historiador sobre teoria e metodologiaLídio CabralAinda não há avaliações
- O Renascimento da HistóriaDocumento6 páginasO Renascimento da HistóriaCristiele MariaAinda não há avaliações
- HANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedDocumento13 páginasHANCIAU, Nubia Jacques. Confluências Entre Os Discursos Histórico e Ficcional - UnlockedAna KlockAinda não há avaliações
- Avelar Alexandre Figurac3a7c3b5e Da Escrita Biogrc3a1ficaDocumento19 páginasAvelar Alexandre Figurac3a7c3b5e Da Escrita Biogrc3a1ficaSilvano FidelisAinda não há avaliações
- 20lourenco ResendeDocumento7 páginas20lourenco ResendeGiovanni Luigi RamosAinda não há avaliações
- Conhecimento histórico e historiografia brasileiraDocumento20 páginasConhecimento histórico e historiografia brasileiraJuliana Wendpap BatistaAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur e A Ciência: Uma Contribuição Hermenêutica Ao Debate Sobre o Conhecimento Científico - Saulo Costa Val de GodoiDocumento16 páginasPaul Ricoeur e A Ciência: Uma Contribuição Hermenêutica Ao Debate Sobre o Conhecimento Científico - Saulo Costa Val de Godoitemporalidades100% (2)
- Trabalho FinalDocumento6 páginasTrabalho FinalAlyne nAinda não há avaliações
- CHARTIER, Roger - A - Historia Ou A Leitura Do Tempo.Documento47 páginasCHARTIER, Roger - A - Historia Ou A Leitura Do Tempo.LeoMenezAinda não há avaliações
- (Atividade) Oficina Da EscritaDocumento3 páginas(Atividade) Oficina Da EscritaAdrian MarceloAinda não há avaliações
- História e Outras DisciplinasDocumento4 páginasHistória e Outras DisciplinasCarla OdaraAinda não há avaliações
- DOSSE, François - História IntelectualDocumento10 páginasDOSSE, François - História IntelectualCésar De Oliveira GomesAinda não há avaliações
- Fichamento T.M.H II - PesaventoDocumento3 páginasFichamento T.M.H II - PesaventoDouglas Herculano da CruzAinda não há avaliações
- Ampelope Eleusis AlmeidaDocumento49 páginasAmpelope Eleusis AlmeidaAndinho SevenAinda não há avaliações
- Hayden White - O Texto Histórico Como Artefato LiterárioDocumento10 páginasHayden White - O Texto Histórico Como Artefato LiterárioDarcio RundvaltAinda não há avaliações
- RESUMO HISTORIOGRÁFICADocumento2 páginasRESUMO HISTORIOGRÁFICAafservicosmultiplosAinda não há avaliações
- Identidade, território e memória na História CulturalDocumento5 páginasIdentidade, território e memória na História CulturalGlaucer FerreiraAinda não há avaliações
- Historicismo Resumo para Apresentacao de 30 A 45 MinDocumento8 páginasHistoricismo Resumo para Apresentacao de 30 A 45 MinBianca MaszulakAinda não há avaliações
- Definindo HistóriaDocumento4 páginasDefinindo HistóriaCristiane AquinoAinda não há avaliações
- História e Literatura PDFDocumento15 páginasHistória e Literatura PDFWodisney Cordeiro Dos SantosAinda não há avaliações
- História & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaDocumento9 páginasHistória & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaJessica Caroline TaveirasAinda não há avaliações
- AVELINO, Yvone Dias FLÓRIO, Marcelo. História CUltural - O Cinema Como Representação Da Vida Cotidiana e Suas Interpretações PDFDocumento18 páginasAVELINO, Yvone Dias FLÓRIO, Marcelo. História CUltural - O Cinema Como Representação Da Vida Cotidiana e Suas Interpretações PDFVinicius Giglio UzêdaAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do Peter BurkeDocumento5 páginasResenha Crítica Do Peter BurkeGiovana Ramos FanelliAinda não há avaliações
- O conceito de ciência histórica dos AnnalesDocumento7 páginasO conceito de ciência histórica dos AnnalesJoão NetoAinda não há avaliações
- História & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaDocumento19 páginasHistória & Literatura: Uma Velha-Nova HistóriaStephano Evaristo CezarAinda não há avaliações
- A relação entre História, Cultura e AntropologiaDocumento5 páginasA relação entre História, Cultura e AntropologiaGustavo RodriguesAinda não há avaliações
- A biografia como escrita da História: possibilidades, limites e tensõesDocumento16 páginasA biografia como escrita da História: possibilidades, limites e tensõescandidaAinda não há avaliações
- Moraes 2008Documento9 páginasMoraes 2008Luiz Paulo MagalhaesAinda não há avaliações
- Efcarvalho,+14 Flávio+José+Dalazona+e+Heitor+Alexandre+Trevisani+Lipinski+ +312 334+Documento23 páginasEfcarvalho,+14 Flávio+José+Dalazona+e+Heitor+Alexandre+Trevisani+Lipinski+ +312 334+Renan AlbinoAinda não há avaliações
- Fontes HistóricasDocumento23 páginasFontes HistóricasWesley GarciaAinda não há avaliações
- Diálogo entre Literatura e HistóriaDocumento14 páginasDiálogo entre Literatura e HistóriaElivelton MeloAinda não há avaliações
- Uma morfologia das formas da História AntigaDocumento0 páginaUma morfologia das formas da História AntigaNatália MeiraAinda não há avaliações
- JENKINS K A Historia Repensada PDFDocumento111 páginasJENKINS K A Historia Repensada PDFitalogdesalesadvAinda não há avaliações
- O Novo Romance HistóricoDocumento12 páginasO Novo Romance HistóricoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- O que é História? Concepções de historiadoresDocumento4 páginasO que é História? Concepções de historiadoresGuilherme Basso Dos ReisAinda não há avaliações
- A História Hoje. Dúvidas, Desafios, Propostas - ChartierDocumento12 páginasA História Hoje. Dúvidas, Desafios, Propostas - ChartierCássia CostaAinda não há avaliações
- A Narrativa Realista No Romance e Na Historiografia, de Ana Luiza Marques BastosDocumento10 páginasA Narrativa Realista No Romance e Na Historiografia, de Ana Luiza Marques BastosMirianMarquesAinda não há avaliações
- História & Literatura - Uma Velha-Nova HistóriaDocumento10 páginasHistória & Literatura - Uma Velha-Nova HistóriaLiana MafraAinda não há avaliações
- Encontros e Desencontros Entre A Literatura e A HistóriaDocumento15 páginasEncontros e Desencontros Entre A Literatura e A HistóriaCílio LindembergAinda não há avaliações
- A escola metódica e o ensino de História no século XIXDocumento27 páginasA escola metódica e o ensino de História no século XIXELIEZER GONCALVESAinda não há avaliações
- Entre A História e A Literatura - Múltiplos Olhares...Documento9 páginasEntre A História e A Literatura - Múltiplos Olhares...Cílio LindembergAinda não há avaliações
- Meu TrabalhoDocumento6 páginasMeu TrabalhoBryan WindsonAinda não há avaliações
- ARTIGO6 SECAO LIVRE Deise ZandonaDocumento14 páginasARTIGO6 SECAO LIVRE Deise ZandonaJoão Rafael S. RebouçasAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur e A Escrita Da HistóriaDocumento9 páginasPaul Ricoeur e A Escrita Da HistóriaJoachin AzevedoAinda não há avaliações
- VICENTE, Marcos Felipe. História Indígena:um Caminho Possível Entre A Etno-História e A Micro-HistóriaDocumento14 páginasVICENTE, Marcos Felipe. História Indígena:um Caminho Possível Entre A Etno-História e A Micro-HistóriaMarcos Felipe VicenteAinda não há avaliações
- PROST, Antoine. As Questões Do Historiador (Fichamento)Documento10 páginasPROST, Antoine. As Questões Do Historiador (Fichamento)Thiago Pereira Camargo ComelliAinda não há avaliações
- FALCON, Francisco. História e Cidadania. in História e Cidadania.Documento28 páginasFALCON, Francisco. História e Cidadania. in História e Cidadania.EllocopablitoAinda não há avaliações
- Fronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoNo EverandFronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoAinda não há avaliações
- Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaNo EverandSobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaAinda não há avaliações
- Educação religiosa e diálogo inter-religiosoDocumento197 páginasEducação religiosa e diálogo inter-religiosofydelAinda não há avaliações
- Formação da ideia de cidadeDocumento21 páginasFormação da ideia de cidadefydelAinda não há avaliações
- Teologia Feminista no Diálogo entre Poesia e ReligiãoDocumento208 páginasTeologia Feminista no Diálogo entre Poesia e ReligiãofydelAinda não há avaliações
- REDE, Marcelo. A Bíblia Pode Ser Considerada Um Documento Histórico - Jornal Da USPDocumento3 páginasREDE, Marcelo. A Bíblia Pode Ser Considerada Um Documento Histórico - Jornal Da USPfydelAinda não há avaliações
- Competência municipal para legislar sobre meio ambienteDocumento158 páginasCompetência municipal para legislar sobre meio ambientefydelAinda não há avaliações
- Angústia, Êxtase e RevelaçãoDocumento8 páginasAngústia, Êxtase e RevelaçãofydelAinda não há avaliações
- A Liturgia Como Linguagem Da Religião No Imaginário AnglicanoDocumento22 páginasA Liturgia Como Linguagem Da Religião No Imaginário AnglicanofydelAinda não há avaliações
- A Tora ComentadaDocumento16 páginasA Tora ComentadafydelAinda não há avaliações
- UntitledDocumento297 páginasUntitledfydelAinda não há avaliações
- Biblia Literatura e RecepcaoDocumento14 páginasBiblia Literatura e RecepcaofydelAinda não há avaliações
- Espaço sagrado e simbologias religiosas nas Folias de ReisDocumento27 páginasEspaço sagrado e simbologias religiosas nas Folias de ReisfydelAinda não há avaliações
- Medusa e as (re)interpretações do femininoDocumento174 páginasMedusa e as (re)interpretações do femininofydelAinda não há avaliações
- Jonathan Luís HackDocumento282 páginasJonathan Luís HackfydelAinda não há avaliações
- A experiência estética em Gadamer e JaussDocumento32 páginasA experiência estética em Gadamer e JaussfydelAinda não há avaliações
- 2011 VanessaGenerosoPaes VRevDocumento556 páginas2011 VanessaGenerosoPaes VRevestranhoAinda não há avaliações
- Seara de Asclépio - LivroDocumento553 páginasSeara de Asclépio - LivroRita Lameirão100% (3)
- Memorias Fluminenses 4 Miolo Versao-Inferior Final-25-07 SiteDocumento268 páginasMemorias Fluminenses 4 Miolo Versao-Inferior Final-25-07 SiteAndy PinheiroAinda não há avaliações
- Plano anual de ensino de Língua PortuguesaDocumento13 páginasPlano anual de ensino de Língua PortuguesaMeire SantanaAinda não há avaliações
- Kurt Schilling - Historia Das Ideias SociaisDocumento402 páginasKurt Schilling - Historia Das Ideias SociaisBrenno ArrudaAinda não há avaliações
- TESE - MUNAKATA - Produzindo Livros Didaticos e ParadidaticosDocumento20 páginasTESE - MUNAKATA - Produzindo Livros Didaticos e ParadidaticosFlademir DantasAinda não há avaliações
- Apreciação do próprio corpoDocumento194 páginasApreciação do próprio corpoLeandro Paiva100% (1)
- Recuperação de habilidades históricas do 3o anoDocumento2 páginasRecuperação de habilidades históricas do 3o anoVeronica MendesAinda não há avaliações
- A Fé Cristã e a Revolução CientíficaDocumento45 páginasA Fé Cristã e a Revolução Científicaagnonfabiano100% (1)
- Elementos Texto NarrativoDocumento6 páginasElementos Texto NarrativoadaoAinda não há avaliações
- A ANTIGUIDADE CLÁSSICA: AS CIVILIZAÇÕES GREGA E ROMANADocumento3 páginasA ANTIGUIDADE CLÁSSICA: AS CIVILIZAÇÕES GREGA E ROMANAmarciobrigeiro986150% (2)
- Terapia Daseinsanalítica na Era da TécnicaDocumento3 páginasTerapia Daseinsanalítica na Era da TécnicaAline MedeirosAinda não há avaliações
- Resistindo à violência arquivísticaDocumento6 páginasResistindo à violência arquivísticaRicardo RochaAinda não há avaliações
- Os estudos etnográficos no IHGBDocumento20 páginasOs estudos etnográficos no IHGBMarcos Felipe VicenteAinda não há avaliações
- O Mito de Frankeinstein: Imaginário & EducaçãoDocumento229 páginasO Mito de Frankeinstein: Imaginário & EducaçãoBeatrix AlgraveAinda não há avaliações
- Guia para montar uma escaleta de filmeDocumento2 páginasGuia para montar uma escaleta de filmeManoel LimaAinda não há avaliações
- A experiência de adoção no Lar Antônio de PáduaDocumento272 páginasA experiência de adoção no Lar Antônio de PáduaCelsoLuizAinda não há avaliações
- Exercícios de Revisão Com Respostas - 5º Ano PDFDocumento11 páginasExercícios de Revisão Com Respostas - 5º Ano PDFLíviaAlbuquerqueAinda não há avaliações
- EJA Geografia e História bimestres 1 e 2Documento7 páginasEJA Geografia e História bimestres 1 e 2Manoel JoãoAinda não há avaliações
- Citações jurídicas em história do direitoDocumento3 páginasCitações jurídicas em história do direitofabiobellanAinda não há avaliações
- ATIVIDADE DE HISTÓRIADocumento1 páginaATIVIDADE DE HISTÓRIAJunior AlvesAinda não há avaliações
- Fotografias e Conhecimentos Do Lugar Onde Se ViveDocumento21 páginasFotografias e Conhecimentos Do Lugar Onde Se ViveRosangela DoinAinda não há avaliações
- Fichamento Literário de Apologia Da História (Marc Bloch)Documento17 páginasFichamento Literário de Apologia Da História (Marc Bloch)Bruna GonçalvesAinda não há avaliações
- Tese - O Nó e o Ninho - Família Escrava ESDocumento229 páginasTese - O Nó e o Ninho - Família Escrava ESAxe Artigos ReligiososAinda não há avaliações
- Culturas em movimentoDocumento18 páginasCulturas em movimentotathiromaneloAinda não há avaliações
- HistoriaDocumento104 páginasHistoriaMatheus Hamada100% (1)
- Simulado 1Documento2 páginasSimulado 1PetrustnAinda não há avaliações
- Fazendo Justiça - E.. P. Thompson o Crime e o DireitoDocumento9 páginasFazendo Justiça - E.. P. Thompson o Crime e o DireitoInaldo ValõesAinda não há avaliações
- História AntigaDocumento9 páginasHistória AntigaJanete NevesAinda não há avaliações